2015
Boletim Historiar. São Cristóvão, n.9, 2015.
Artigos
- Mianmar e o Desafio da Segurança Humana
- Liz Carolina da Silva Simões
- O Modus Operandi do Capital Imperialista e sua Influência nos Golpes de Estado na América Latina no Cenário da Guerra Fria: uma análise a partir da trajetória política de alguns protagonistas desse processo
- Luiz André Maia Guimarães Gesteira
- Formação do estado moderno holandês: apogeu e queda da República das Províncias Unidas
- Arlindo Palassi Filho
- O curso de Ciências Contábeis: um breve relato histórico de sua criação no Estado de Sergipe e a construção da identidade de seus docentes (1956 –1971)
- Gilvânia Andrade do Nascimento, Gleidson Santos da Silva
- O Papel do Observador na Interação Social: Investigando o altruísmo e as normas sociais
- Camylle Christiane Azevedo Santos, José Uanderson Nery
Resenhas
- A Era Chávez por Rafael Araujo e Karl Schurster
- Anailza Guimarães Costa
- A criação de um Estado Islâmico e a reorganização do Oriente Médio
- Katty Cristina Lima Sá
Publicado: 2015-08-17
Revista Latino-Americana de História. São Leopoldo, v.4, n.13, 2015.
Dossiê Identidades e Representações Sociais
Expediente
- Expediente
- RLAH Editores | PDF
Apresentação do Dossiê
- Apresentação do Dossiê
- RLAH Editores | PDF
Dossiê
- El activismo cultural de los catalanes en Buenos Aires y el devenir de una institución musical (Argentina, primeras décadas del siglo XX)
- Josefina de Irurzun | PDF
- ¿Pasión romántica, locura moral o cuestión de honor? El saber médico y los motivos del suicidio, Buenos Aires, 1875-1905
- Julián Arroyo | PDF
- La competencia política en la campaña de Buenos Aires Comandantes de la Guardia Nacional y caudillos locales en las elecciones legislativas nacionales del 1 de febrero de 1874
- Leonardo Cancini | PDF
- Negociação e soberania: os deputados eleitos pela província de Minas Gerais às cortes de Lisboa e sua permanência no Brasil
- Luana Melo e Silva | PDF
- Os Alves da Conceição e as muitas faces do compadrio
- Hermes Uberti | PDF
- A ferro e fogo: a tutela indígena até a Constituição Federal de 1988
- Fernanda Elias Zucarelli Salgueiro | PDF
- A Trajetória de um padre negro e o Mundo do Trabalho na Província do Amazonas no Oitocentos
- Tenner Abreu | PDF
- Tercermundismo y tercerismo en el campo intelectual uruguayo (de los años cincuenta a los noventa)
- Germán Fuschini | PDF
Artigos
- As Missões Sociais da era Chávez como alternativa ao neoliberalismo
- Anatólio Arce | PDF
- Negociação e resistência dos trabalhadores rurais do Vale do Rio Doce na década de 1950
- Michelle Morais | PDF
- Os sentidos da História ensinada: interlocuções entre o prescrito e a apropriação
- Geane Kantovitz | PDF
- Ambientalización de conflictos, ecología política y justicia ambiental: aportes brasileños al análisis de conflictos ambientales en Argentina
- Lucrécia Wagner | PDF
- Expectativas em torno da Lei Afonso Arinos (1951): a “nova Abolição” ou “lei para americano ver”?
- Walter de Oliveira Campos | PDF
Resenhas Críticas
- Na linha do tempo: da abolição ao pós-emancipação no Brasil
- Edvaldo Alves de Sousa Neto | PDF
- Agua y Territorio: uma revista interdisciplinar sobre a gestão das águas
- Juan Manuel Matés-Barco | PDF
Publicado: 2015-08-09
Revista de Economia Política e História Econômica. São Paulo, n.34, ago. 2015.
- Ouro como moeda, ouro como commodity
- Luiz Jardim Wanderley
- Uma análise econômica da saúde pública: para além dos fatos epidêmicos
- Ivan Ducatti
- Cana-de-açúcar na economia brasileira: uma panorâmica evolutiva
- Patricia Veloso Francisco
- O discurso do Banco Mundial sobre o desenvolvimento e sua política de empréstimos (1946-1987)
- Caio Rennó José
- Thiago Fontelas Rosado Gambi
- A lógica excludente do “novo” capitalismo: análises dos muitos discursos e narrativas
- Roney Gusmão do Carmo
- Ana Elizabeth Santos Alves
- Breves notas sobre a atuação dos investidores institucionais nas finanças capitalistas e suas implicações distributivas
- Vivian Garrido Moreira
- Mudanças de regime econômico na história do Brasil: transformações estruturais, evolução institucional
- Paulo Roberto de Almeida
RESENHA: FERGUSON, Niall. A grande degeneração: a decadência do mundo ocidental. São Paulo: Planeta, 2013.
Espaços fechados e cidades: insegurança urbana e fragmentação social / Maria Encarnação B. Sposito
O livro, “Espaços fechado e cidades: insegurança urbana e fragmentação socioespacial”, lançado no ano de 2013 é resultado de um trabalho interdisciplinar desenvolvido pelas professoras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Presidente Prudente – SP, Maria Encarnação Beltrão Sposito (Geografia) e a Eda Maria Góes (História), em parceria com outras ciências como a Sociologia e a Antropologia. A partir da perspectiva de que o “espaço não é mero coadjuvante”, mas faz parte das construções sociais, as autoras buscaram analisar a segregação socioespacial por meio do estudo dos espaços residenciais fechados, ou seja, os condomínios particulares. Sob essa baliza, Sposito e Goés procuram compreender as matizes nas fragmentações estruturais do espaço urbano e as implicações enquanto segregação social.
Antes de adentrarmos nas abordagens metodológicas da obra, é importante frisar que o livro em questão no ano de 2015 recebeu o prêmio, “Ana Clara Torres Ribeiro”, laureado pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR, o que colocou em destaque acerca das mais recentes discussões sobre as problemáticas do espaço urbano. A obra foi resultado de um trabalho intenso e de fôlego que vem sendo desenvolvido através do conjunto de analises desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais (GAs-PEERR), o qual reúne amplo leque de perspectivas do olhar sobre o objeto urbano.
As autoras analisaram três cidades médias do interior paulista, Marília, Presidente Prudente e São Carlos. A escolha foi parte da metodologia, pois, assume a ideia de sair da seara das metrópoles como objetos centrais dos estudos do urbano no Brasil. Entretanto, a pesquisa se preocupou em compreender o contexto urbano brasileiro das grandes cidades e compor associações de contrastes e pontos em comum entre as escalas urbanas. Para o desenvolvimento da pesquisa, as autoras fizeram uso de entrevistas, tanto com moradores dos espaços residenciais fechados, meticulosamente escolhidos, em cada das três cidades abordadas, bem como realizaram entrevistas com os habitantes de diferentes localidades dos referidos municípios. Desse modo, as autoras enfatizam que por meio dessa lógica, puderam compreender a visão de dentro e de fora dos espaços privados.
O livro está organizado em três partes que se distribuindo em onze capítulos. Cada parte possui um tema central que se desmembra em capítulos, onde a pesquisa se aprofunda. Nessa resenha procuramos organizar as ideias do livro a partir de cada parte que se organiza a obra, para que possamos compreender um aspecto geral do trabalho das autoras e ao mesmo tempo apresenta-lo de modo mais dinâmico.
A parte inicial do livro recebe o título de “O tema e a pesquisa” e abrange os três primeiros capítulos. No capítulo 1 as autoras procuraram de modo enfático, apresentar os referencias teóricos que embasaram as abordagens que serão contempladas ao longo do trabalho, sobretudo, apontando alguns conceitos essências que deram forma à pesquisa.
Primeiramente, as autoras compreendem o espaço urbano como um elemento ativo nas relações de sociabilidades. Assim, o espaço não se resume a um “palco”, pelo contrário, a partir dos fundamentos de Ana Fani Alessandri Carlos, as relações sociais são entendidas como relações espaciais. Outro aspecto que cerca o em torno da pesquisa foi o fator violência e cidade. De acordo com autores como Zygmund Bauman e Yves Pedrazzini, a obra mergulha nessa estreita relação compreendida entre o espaço urbano e o medo/violência.
A partir de Pedrazzini, as autoras se fundamentam no termo da “estética do medo” e/ou “urbanismo do medo”, concepções elaboradas para análise de uma política urbana social para explicar as demarcações do espaço urbano de acordo com as valorizações e desvalorizações desses a partir de uma caracterização da violência. Desse modo, contrapontos como “periferia x centralidade”, são analisados no livro, levando o leitor a rever as naturalizações de tais conceitos de clivagens e compreender as novas concepções estruturais das cidades contemporâneas.
Com base nas análises de perfil de cidades internacionais, metrópoles nacionais, bem como, as cidades médias trabalhadas no livro, as autoras puderam traçar uma constante relacionada ao crescimento de espaços residenciais fechados. A partir da metodologia de compreender a visão dos moradores desses espaços, assim como o lugar desses espaços dentro do contexto social de cada cidade abordada, foi possível traçar considerável número de semelhanças, mesmo considerando, as particularidades de cada espaço residencial fechado e os municípios de Presidente Prudente, Marília e São Carlos.
Assim, as autoras compreenderam que esses espaços residenciais foram legitimados na concepção da oferta de segurança, por meio do fomento do discurso da violência urbana e a partir desse constructo, a construção de muros, sistemas de controle de acesso dos de fora para dentro, bem como monitoramento do espaço com câmeras e vigilância permanente, formulam empreendimentos imobiliários, que vendem a ideia de segurança, ao mesmo tempo em que alimentam um mercado de habitações particulares de luxo “longe” dos problemas urbanos. Ao se fundamentarem em autores como Guénola Capron, pode-se compreender os espaços fechados como formadores e legitimadores de clivagens, aonde as fronteiras vão sendo construídas e fragmentando os espaços dos ricos e dos pobres.
Na segunda parte, o livro se desdobra para questões relacionadas às diferentes estruturas urbanas, intitulada “O que é central, o que é periférico e suas múltiplas escalas”. Nesse sentido, o leitor passa a compreender o processo de desenvolvimento da malha urbana de cada município analisado, o modo com que as cidades foram tomando forma dentro dos enquadramentos de espaços residenciais para as diferentes classes, bem como, a construção – sob as particularidades dos residenciais e seus municípios – dos condomínios particulares.
Além disso, Sposito e Góes procuram justificar a escolha de cidades médias e o leitor é convidado a problematizar as questões de escalas pouco visitadas, considerando que as cidades metropolitanas acabam por tomar considerável espaço nas análises do urbano e pouco se estuda acerca de estruturas de cidades médias ou pequenas. Sob esse aspecto é que as autoras tomam esses enclaves como “habitats urbanos”. É por meio da aproximação das realidades de Presidente Prudente, Marília e São Carlos que as autoras puderam realizar um detalhamento criterioso sobre as novas redefinições espaciais, sobretudo, no que toca a dicotomia “centro x periferia”.
Em busca da ideia de segurança e exclusividade, as construtoras implantaram seus projetos em localidades mais afastadas do que as autoras entendem como centro, ou seja, regiões com espaços urbanos mais estruturados1. Assim, percebe-se o deslocamento de famílias com poderes aquisitivos mais elevados às residenciais fechados, localizados nas fimbrias dos perímetros urbanos dos municípios. Por meio de entrevistas com moradores desses locais, foi possível compreender mais do que as construções, no que compete às composições físicas desses espaços, há um engendramento de sociabilidades particulares, onde o discurso se alinha com base na busca pela segurança.
Para Sposito e Góes, tais empreendimentos extrapolam os muros desses espaços fechados, pois, fomentam a estruturação de uma realidade urbana de segregação, atingindo a população externa, colocando assim uma ordem, dos de dentro e os de fora. Especificamente no capítulo 5 as autoras destinam um espaço para as particularidades de implantação desses espaços residenciais fechados, considerando o quadro urbano de cada município. Posteriormente, o leitor é convidado a acompanhar o desenvolvimento de problematizações acerca das reconfigurações das espacialidades urbanas, a partir de novas perspectivas sobre as “periferizações seletivas”, ou seja, esses espaços residenciais fechados promovem o surgimento de “novos habitats” resultando em novas concepções de segregação espacial.
O capítulo 6 revela o cerne da pesquisa, sob o título “Novos habitats, novas formas de separação social”. Por meio de entrevistas com corretores imobiliários, foi possível perceber que os condomínios residenciais fechados, ao se instalarem nas regiões periférico-fronteiriças da cidade, acabam por se aproximar das periferias tradicionais, ou seja, daquelas regiões desestruturadas, como favelas e bairros com condições precárias.
Entretanto, é na estruturação física que esses espaços fechados, munidos de muros altos, portões de alta segurança, entre outros fatores já citados, reforçam as fronteiras socioespaciais, determinando o lugar de cada classe e sua posição urbana e social. No mesmo capítulo são aprofundadas questões como interesses privados de geração de capital proveniente às especulações imobiliárias, as implicações de distância desses espaços fechados de redes de serviços, bem como as especificidades de cada cidade média em relação aos empreendimentos residenciais fechados. É interessante destacar que houve um forte investimento, por parte das autoras em representar os espaços das cidades estudadas com uso de mapas, tabelas e fotos, o que deixa a leitura mais compreensiva e próxima à realidade do objeto estudado.
A terceira e última parte do livro, se concentra na temática da violência e insegurança na cidade, conceitos que foram ressaltados como importantes condutores nas reorganizações espaciais no meio urbano. Sposito e Góes buscaram com base nas entrevistas um viés da violência a partir do “olhar do outro”. Nesse sentido, as autoras compreendem a violência como um conceito polissêmico. Ao se fundamentarem em Michel Misse, para estudar a violência urbana, entendem que nesse contexto a “realidade, envolve uma pluralidade de eventos, circunstâncias e fatores que têm sido, por um lado, imaginariamente unificados num único conceito e, por outro, representados como um sujeito difuso que está em todas as partes” (SPOSITO & GÓES, 2013: 164).
Outro ponto abordado pelas atoras foi à representação da violência, assim como a violência da representação. Nesse ponto, a pesquisa procura analisar a fundo o modo com que a violência passa a adquirir um aspecto simbólico forte de modo a sustentar o discurso pela busca de segurança, sobretudo, por parte dos moradores dos espaços fechados, questão fomentada pela mídia e manipulações de interesses políticos balizam esse imaginário da violência.
Sposito e Góes, ao trazerem abordagens com diferentes olhares da ciência proporcionam compreender como cada vez mais os interesses particulares passaram a modificar as paisagens urbanas, sobretudo, no que tange ao fomento da fragmentação socioespacial. Os espaços residenciais fechados ao buscarem homogeneizar padrões de convívio, dinamizam as práticas de interesses econômicos no âmbito imobiliário, mas legitimam cada vez mais as heterogeneidades para os que estão do lado de fora dos muros.
A leitura dessa obra é importante porque nela as autoras revisitaram conceitos clássicos, como centralidade e periferia, criminalidade, violência e segurança urbana, espaços residenciais fechados, elementos muitos pautados em pesquisas, bem como fenômenos de moradia – como os residenciais habitacionais fechados – que nos leva a revisitar e refletir sobre as constantes mudanças no espaço da cidade. Além, da valiosa contribuição metodológica, utilizando entrevistas, respeitando os diferentes pontos de perspectiva e mapeando as novas formulações do espaço urbano enquanto um meio ativo é vívido na construção das sociabilidades.
Daniela Reis Moraes – Mestranda junto ao programa de História e Sociedades, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Campus Assis-SP. Bolsista CAPES. E-mail: moraes.danielareis@gmail.com.
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; GÓES, Eda Maria. Espaços fechados e cidades: insegurança urbana e fragmentação social. São Paulo: Editora da Unesp, 2013. Resenha de: MORAES, Daniela Reis. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.27, p.160-164, ago./dez., 2015. Acessar publicação original. [IF].
A festa de N. S. do Carmo em Boa Vista/Roraima Vandeilton F. Silva
A obra resenhada é o resultado de uma tese de mestrado em História Social realizado por Vandeilton Francisco da SILVA, que é licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba (atual Universidade Federal de Campina Grande), especialista em Relações Fronteiriças pela Universidade Federal de Roraima, é também mestre em História Social pela Fundação Severino no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor concursado da Secretaria Estadual de Educação no Estado de Roraima, onde atua na Educação Básica com o componente curricular História no Ensino Médio. Como jovem pesquisador é dedicado aos estudos de questões regionais de Roraima especificamente temáticas relacionadas às relações de poder e ao catolicismo. Silva não faz parte de uma tradição de historiadores, mas se lança se como possibilidade e insere no movimento de produção e pesquisa histórica na área da história cultural. Suas publicações, ainda que incipientes, perfazem um roteiro promissor para a contribuição de uma história regional crítica.
O leitor poderá perceber que Silva, comedido nas palavras de cunho ideológico, é bastante cuidadoso para não direcionar seus escritos a uma concepção redundante dos fatos históricos. De modo bastante acadêmico deixa as fontes “falarem” por si só, no entanto, não deixa de tecer uma interpretação contextualizada e analítica, acrescentado sua criticidade em relação aos fatos narrados. É bastante equilibrado em termos de construção de sentidos na história.
O ponto de partida de Silva é a abordagem política da festa religiosa de Nossa Senhora do Carmo, em Boa Vista, Rio Branco, hoje Estado de Roraima, entre os anos de 1892 a 1927, frente aos vários interesses sociais, econômicos, políticos e também religiosos das classes dominantes da época pesquisada. Os objetivos do autor com relação ao seu objeto de pesquisa é compreender os porquês da festa tenha tornado alvo de conflitos e disputas entre os fazendeiros e os religiosos; analisar as relações políticas existentes e o jogo de interesses e também entender as motivações da introdução do culto a santa na região.
Para explicitar o objeto de pesquisa, Silva levanta uma hipótese que a festa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo representava para os fazendeiros locais (Boa Vista-RR – séc.XIX e início do século XX), um instrumento de exibição e poder. Os meios políticos, econômicos, coerção física, cargos públicos por si só não legitimava o poder e a prepotência dos fazendeiros era necessária o elemento religioso, através da festa como status. Já para os monges Beneditinos a festa era uma forma de assegurar “a retomada das atividades eclesiásticas a viabilizariam desenvolver no Rio Branco, parte da reestruturação econômica pretendida pela Ordem no Brasil” (SILVA, 2012, p. 20).
Contexto histórico ao qual Silva concentra sua pesquisa é região do Rio Branco, onde o poder político foi marcada pelas organizações num sistema de hierarquia, subserviência, dependência, lealdade e proteção, além de muitos outros elementos se constituíram como parte de determinados pactos estabelecidos entre fazendeiros e seus aparentados e amigos, que ficou conhecido como coronelismo, que durante a primeira República “(…) o governo Central em troca do apoio das lideranças regionais, geralmente estruturadas nas organizações políticas lideradas por um grande proprietário (latifundiário, fazendeiro etc.), oferecia favores políticos, recurso públicos, além de outros interesses como poderes regionais, todos advindos do poder central”. (SILVA, 2012, p. 99).
Os fundamentos teóricos que orientam as suas afirmações sobre relações de poder fundamenta-se em Michel Foucault, afirmando que “Este defende que o exercício do poder não se legitima apenas pela repressão, pois do contrário dificilmente conseguiria alcançar ou obter o que há de produtor no poder, bem como dificilmente seria obedecido pela sociedade em que ele é exercido” (SILVA, 2012, p. 46). Acrescenta que poder pode ser definido como definido como algo múltiplo que se mantém. Assim, portanto, o poder “é reconhecido e aceito justamente por não se usufruído apenas como força negativa e repressiva, mas por permear, produzir coisas, induzir ao prazer, formar saber e produzir discurso”. (IDEM, IBIDEM).
Quanto a opção metodologia utilizado na pesquisa de Silva está diretamente vinculada ao aprofundamento da hipótese levantada sendo uma mescla de: documental, exploratória, bibliográficas e metodologia da história oral “Durante o ano de 2005, tive o privilégio de entrevistar um grupo de pessoas moradoras da parte velha da cidade de Boa Vista, hoje histórica” (SILVA, 2012, p. 21). Diz Melo que: “A opção teórica e a adoção de dados pressupostos argumentativos têm uma relevância fundamental na escolha do método”. Silva com muita habilidade consegue correlacionar opção teórica e hipótese com metodologia e método da pesquisa.
Apresentadas as questões iniciais quanto aos aspectos metodológicos, a hipótese, contexto do autor, opção teórica vamos ao que é essencial o resultado da pesquisa de Silva, isto é, as ideias centrais da obra, a tese defendida pelo autor. Primeiramente, apenas para situar o leitor, o livro está dividido em três capítulos.
No primeiro capítulo, que foi divido em seis tópicos, é apresentado o contexto histórico dos cultos devocionais, da origem da festa de Nossa Senhora do Carmo.. Silva descreve a presença dos missionários (monges) carmelitas na região da bacia do rio Branco responsáveis pela entronização do culto mariano a Nossa Senhora do Monte Carmelo, de origem do Oriente Médio, como também o contexto político. O autor aborda o culto a partir das relações políticas e religiosas acontecidas nos aldeamentos envolvendo os padres Carmelitas e os grupos de poder instalados na região. Silva faz uma longa discussão, talvez desnecessária, sobre a Ordem Carmelita e sua presença na Amazônia, descrevendo em detalhes as cronologias dos fatos envolvendo os missionários aos acontecimentos ligados ao dito “processo evangelizador”, que culminou com a expulsão dos mesmos. Também, nesse capítulo, recebe destaque especial à origem da formação dos grandes latifúndios roraimenses, com a introdução do gado, irá marcar a origem dos conflitos e as relações de poder e interesses na região. Silva finaliza o primeiro capítulo a criação da Paróquia de Nossa Senha do Carmo e o início das mudanças festivas, preparando o leitor para o segundo capítulo, já que deixa bem claro “quem é manda na região”.
O segundo capítulo talvez o mais importante, a meu ver, condensa o desdobramento da hipótese levantada por Silva de que a festa realizada em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, no Rio Branco, foi objeto de manipulação utilizado como instrumento para beneficiar os grandes projetos políticos, econômicos e também religiosos, que envolveram fazendeiros de um lado e missionários do outro.
Afirma Silva que “(…) a organização do evento festivo foi aos poucos passando ao domínio de alguns fazendeiros locais, que a moldaram para fins de interesse políticos e econômicos, contribuindo para transformar a festa em um instrumento de legitimação da hegemonia política local” (2012, p. 76). Ao longo do capítulo é apresentado o principal foco de interesse dos grupos políticos pela festa da santa “(…), pois através dela os fazendeiros ligados ao partido Republicano Amazonense e à Loja Maçônica do Rio Branco procuravam condicionar a realização da festa à presença e importância dos mesmos na região” (p. 72). Silva considera nesse capítulo que o controle das festividades mariana pelos fazendeiros foi determinante para imposição de poderio na região pela classe política, que a partir de um pretexto, a organização da festa, colocava em prática a realização de projetos maiores como a expansão dos latifúndios, o avanço da pecuária e controle políticos na região, como forma de legitimação dos interesses em apenas os grupos de poder. Enfatiza Silva que:
“(…) os fazendeiros do Rio Branco estavam mais interessados em consolidar uma estrutura dominadora, bem como chamar para si a atenção das autoridades políticas estaduais como forma de garantir legitimidade política e conseguirem privilégios locais, bem como pressionar as lideranças do Partido Republicano Amazônico na distribuição de cargos, verbas e na regulamentação de terras públicas adquiridas de forma irregular” (2012, p. 83).
Assim o que é central no capítulo segundo compreender as formas de concentração de poder político no Rio Branco. O poder de mando constituído a partir de grupos reinantes buscava aumentar suas influências se utilizando dos eventos religiosos, ao que nos parece, na leitura de Silva, havia pouca determinação religiosa para a constituição de uma devoção festiva autônomo independe das lideranças políticas. O culto a santa passou a ser manipulável conforme os projetos disposto no tabuleiro do jogo de interesses.
O último capítulo o autor destaca a presença da Ordem de São Bento na região da bacia do rio Branco com pretensão não apenas religiosa, mas também empreendedora com projetos voltados ao desenvolvimento local. Os conflitos voltam à cena, pois os projetos dos religiosos e da elite política formada por fazendeiros são divergentes e distintos em suas naturezas. O coronelismo predominante na região confronta diretamente com os religiosos beneditinos. Impondo à força através de agressões físicas e ameaças os fazendeiros (coronéis) impõem medo a todos aqueles que não se integravam aos seus projetos. Conta Silva que certa vez por ocasião da recusa dos monges em celebrar o batizado de uma criança filho de um fazendeiro, membro da loja maçônica, levou o Coronel Bento Brasil durante a missa ameaçar de morte os religiosos além de proferir palavras furiosas no sentido de afirmar quem realmente detinha o poder de mando na Vila, acrescenta Silva:
“Poder este que credenciava a seu possuidor fazer aberrações contra qualquer pessoa e, caso os monges não entendessem, se recusando a contrariar os interesses dos fazendeiros locais, sentiriam as consequências, pois era inconcebível a qualquer um, que recém-chegado à região, se achasse no direito de recusar a atender a um pedido de alguém ligado ao grupo maçônico”. (2012, p. 129).
A Igreja também teve o seu poder de mando na região buscou alianças com a elite do Rio Branco com objetivos de assegurar os seus interesses de seus bens materiais na região. Diz Silva que a Igreja não possuía um empenho profundo na evangelização ou na dimensão espiritual. As fontes utilizadas por Silva nos levam a crer que a Igreja, marcada pela presença beneditina, mais do que “salvar almas” tinha como missão ampliar o poder terreno pela conquista material.
Conclusão
O ponto de partido da obra resenhada foi satisfazer uma curiosidade do autor em relação aos conflitos e disputa de poder no final do século XIX e início do XX. Como resultado de uma tese de mestrado a obra percorreu uma trilha científica com situação-problema, hipótese, tese, metodologias, fontes de pesquisa e conclusões chegadas pelo autor. A obra é coerente internamente todos os argumentos estão relacionados a hipótese e a tese, os capítulos e subtítulos então correlacionados em si. É uma obra relevante, muito embora outros autores já tenham abordado a temática da presença beneditina no Rio Branco, contudo Silva consegue desenvolver uma peculiaridade, que ainda não havia sido explorada, discutir relações de poder e disputas em torno da festa de Nossa Senhora do Carmo. Talvez, uma das fraquezas da obra, foi deixar à margem discussões presença dos indígenas, tão significativa na região estudada pelo autor.
Referências MELLO, Ricardo Marques de. Como escrever uma resenha historiográfica: considerações teórico-metodológicas. Revista Em Tempo em Histórias, Nº. 19 (2011) Brasília. Disponível em: http://seer.bce.unb.br/index.php/emtempos/article/view/6753. Acessado em: 11 out. 2012
Paulo Sérgio Rodrigues Silva – Mestrado na Universidade Federal de Roraima. E-mail: psergio04@gmail.com.
SILVA, Vandeilton Francisco da. A festa de N. S. do Carmo em Boa Vista/Roraima: conflitos e disputas de poder – 1892-1927. Campina Grande: Editora da UFCG, 2012. Resenha de: SILVA, Paulo Sérgio Rodrigues. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.27, p.165-170, ago./dez., 2015. Acessar publicação original. [IF].
A grande degeneração: a decadência do mundo ocidental | Niall Ferguson
Niall Ferguson, em “A Grande Degeneração” traz mais uma tese polêmica acerca da crise no mundo Ocidental. Professor da Universidade de Harvard, além de associado ao Instituto Hoover e à Universidade de Stanford, Ferguson é um dos mais renomeados historiadores do mundo, com uma vasta coleção de livros e prêmios, como o Benjamin Franklin Prize for Public Service e o Hayek Prize for Lifetime Achievement, rotineiramente lembrado pelas teorias sobre o Ocidente e a decadência do modelo tanto econômico quanto político vigente deste lado do mundo.
“A Grande Degeneração” não poderia ser diferente. Publicada em 2013, a obra trata de temas já tratados pelo autor em outras obras, nas quais defende a tese de que o Ocidente e suas instituições estão fadados ao declínio. Contudo, nesta obra, Ferguson teme que esse declínio se torne uma degeneração, ou seja, um evento mais radical em proporção e intensidade e, sobretudo, irreversível. Leia Mais
Nietzsche e a arte de decifrar enigmas: treze conferências europeias – MARTON (CN)
MARTON, Scarlett. Nietzsche e a arte de decifrar enigmas: treze conferências europeias. São Paulo: Edições Loyola, 2014. Resenha de: PIMENTA, Olímpio. Cadernos Nietzsche, v.36 n.1 São Paulo jan./jun. 2015.
Tornar legível a obra de Friedrich Nietzsche e, com isso, fazer com que os pensamentos nela expressos possam ser experimentados por quem os lê é um compromisso dos mais altos no que toca a nós, seus estudiosos brasileiros. Afinal, não obstante a ampla difusão de seus livros e ideias, correlata ao amadurecimento dos estudos nietzschianos no país, resta muito ruído em torno da sua recepção, inclusive nos meios acadêmicos. A responsabilidade filosófica do pensador alemão é ainda hoje contestada; também se discute em que medida as principais formulações que compõem a variadíssima paisagem teórica de seus escritos podem ser consideradas filosoficamente consequentes.
As dificuldades se multiplicam ao se ter em conta que os fins visados pela obra, mas também os meios mobilizados para alcançá-los, são muito diferentes dos que se reconhece como aqueles que legitimam uma filosofia. Não há ali uma ordenação conceitual sistemática, não se persegue a verdade nos termos convencionais, se está sempre a uma distância segura de doutrinas constitutivas de uma dogmática. Não parece assim proveitoso ler Nietzsche como um filósofo entre outros, como um filósofo qualquer.
Programaticamente inteiradas disso, as treze conferências que integram este “Nietzsche e a arte de decifrar enigmas” constroem, com grande felicidade, toda uma rede de caminhos alternativos para a frequentação da obra a que se referem. Se seu propósito é priorizar a análise de como ganham vida as proposições que veiculam os assim chamados conteúdos do pensamento nietzschiano, o perspectivismo que anima as investigações em curso se encarrega de viabilizá-lo de forma muito acertada. Pois um dos aspectos mais notáveis do conjunto desses textos, a par da excelente recensão bibliográfica em que se apoiam, é exatamente a fecundidade heurística do manejo de perspectivas que neles se exercita.
Por si só um tour de force, o tratamento de todos os títulos que compõem a obra preparada para a publicação pelo filósofo produz, assim, resultados estimulantes, principalmente em função dos ângulos escolhidos para a sua abordagem. A evidente familiaridade da autora com o corpus nietzschiano e sua fortuna crítica permitiu-lhe circular no âmbito de cada livro e nos intervalos entre eles através de passagens invisíveis a um olhar menos experimentado. Assim, a tematização de quase tudo o que confere interesse ao universo visado é oferecida ao leitor segundo uma inspiração nitidamente afim à que nele vigora. Por meio da exposição clara e da argumentação rigorosa que acompanham as articulações propostas são iluminadas questões cujo entendimento não é propriamente simples, dado seu caráter enigmático. Na intenção de esboçar possíveis roteiros de leitura, sugerimos a seguir algo a respeito do repertório consolidado pelos estudos reunidos no volume.
Para saber a que aspira o projeto filosófico nietzschiano em sua vertente propositiva, o mais recomendado é começar pela leitura dos capítulos 6 e 11, dedicados respectivamente a Assim falava Zaratustra e Crepúsculo dos ídolos. Tendo como norte o problema da transvaloração dos valores, isto é, as perguntas a respeito de se e como uma filosofia afirmativa da existência é viável e pode intervir nos rumos da civilização, estes dois capítulos indicam os elementos centrais para discutir o encaminhamento para elas elaborado pelo filósofo. O horizonte da transvaloração surge, assim, como bastidor mais abrangente para a inscrição da visada geral da obra em sua totalidade, funcionando como ponto de convergência das melhores expectativas que se pode alimentar quanto ao uso autorizado da filosofia de Nietzsche.
Em contrapartida, se se quer perceber sob que condições e em confronto com o quê Nietzsche esgrimiu seu pensamento, cabe examinar as observações feitas nos capítulos 2, 9 e 11 a propósito das Considerações extemporâneas, de O caso Wagner e de O anticristo. Nesta revisão da vertente crítica do projeto nietzschiano, destacam-se a denúncia ao filisteísmo cultural, feição ostensiva da barbárie moderna e sintoma de um tipo de sensibilidade mórbida cujo nome genérico é wagnerianismo; a análise da corrupção dos instintos que domina a psicologia dos homens modernos, genealogicamente vinculada à debilidade afetiva típica de uma espiritualidade educada pelo cristianismo; e por último uma minuciosa restituição das práticas que permitem ao indivíduo manter ou recuperar sua saúde a partir do exercício da leitura.
Para fazer jus à prosa das conferências, assinalemos de passagem que, nelas, os temas vêm à baila longe da forma esquemática que lhes emprestamos aqui. Deve-se considerar sua apresentação como algo mais parecido com a atividade de jogar com um caleidoscópio: embora os mesmos elementos estejam sempre presentes, o que conta para o efeito são as combinações que, nos casos em vista, impressionam muito bem.
Outro grupo de estudos que mantém entre si uma espécie de ar de família é aquele que remete a Humano, demasiado humano, Aurora e A gaia ciência, capítulos 3, 4 e 5. Em comum, partilham a adoção de estratégias mistas de acesso às fontes. Associa-se o cuidado com a letra dos aforismos, patente na restituição muito plausível do encadeamento de determinadas sequências deles, à remissão às influências mediatas e imediatas que atuavam sobre o filósofo à época da redação dos livros.
Quanto a Aurora, a análise se volta para a explicitação das relações entre a epígrafe e as discussões desenvolvidas sob sua égide. Contesta com sucesso alegações posteriores do próprio filósofo a respeito da consumação da transvaloração dos valores, neste livro ainda em processo preparatório. O exame do trecho que vai do anúncio da aliança entre filosofia, história e ciências naturais até o diálogo com a pintura “Transfiguração” de Rafael é deveras fecundo no sentido de estabelecer a contestação mencionada.
Quanto a Humano, demasiado humano, tratou-se de distinguir com precisão as vozes do moralista e do iluminista que nele se ouvem, na esteira da influência de Pascal e Voltaire. O mais curioso, porém, é o arranjo que tornou isso possível. Tomando como fio de ouro o contraste entre duas circunstâncias da condição feminina, as mulheres na órbita doméstica e as mulheres emancipadas, procurou-se aferir a qual dos predecessores caberia remeter o que é dito em certos aforismos, sob a clivagem definida por essas rubricas. O saldo aponta, não sem alguma ambivalência, para um Nietzsche partidário da exclusão feminina do espaço público.
Entretanto, e isto é o que confere um interesse específico ao capítulo, encontra-se também nele uma discussão metodológica assaz desafiadora. Uma vez que diversas declarações de Nietzsche, citadas em conexão com o debate sobre o feminino, parecem pressupor uma base sobretudo biográfica, a autora defende, sem hesitação, que contextualizações dessa natureza não se prestam a iluminar textos filosóficos. Tal posição assegura a Nietzsche o benefício da dúvida em relação ao partido por ele tomado, mas traz consigo um inconveniente ponderável. Afinal, muito do que é demonstrado alhures a favor da vertente construtiva do seu pensamento decorre da admissão do nexo constitutivo entre vivências e reflexão. É certo que, nos exemplos que o capítulo propõe, fica decidido que uma correspondência mecânica entre vida e obra não é um procedimento inteligente, e que tampouco a psicologização de um pensamento ou de uma teoria ajuda a esclarecê-los. Mas isto é pouco diante do grande número de oportunidades em que variações do recurso repudiado são mobilizadas com proveito. De mais a mais, chega a ser muito engraçado, por exemplo, que a solene enunciação cosmológica do eterno retorno apareça temperada pela evocação de certos parentes como principal obstáculo à sua vivência.
Quanto a A gaia ciência, tem-se uma retomada bem sutil da questão do feminino a partir de sua luminosa conexão com a recusa do essencialismo. Seja à moda do realismo positivista, que estipula a existência de fatos naturais evidentes, seja à moda do realismo metafísico, que estipula a existência de verdades eternas evidentes, a idealização de algo como a “mulher em si” deve ser finalmente superada. Em seu lugar, compete prestar atenção aos processos complexos e particulares que ocorrem junto a mulheres em situações e papéis típicos, de modo a que o conhecimento então obtido tenha alguma chance de ser verdadeiro. Aliás, em sendo a verdade mulher, vale estender o procedimento a tudo quanto o que se deseja saber, caso se pretenda ultrapassar as mentiras do saber dogmático. Sob esta luz, talvez faça mais sentido a restrição metodológica manifestada, pois é incrível que um pensador dotado de tamanha perspicácia possa se revelar um pobre misógino.
É digno de registro que, apesar de termos reunido num mesmo grupo os livros do chamado período intermediário, isso não reflete qualquer opção tomada pela obra em tela. Muito ao contrário, os recortes da periodização costumeira são pulverizados pela reflexão que ali se efetua. Embora úteis, de um ponto de vista didático, por demarcarem uma tópica que livra o leitor iniciante da perplexidade, eles são substituídos pela reconstrução genealógica do percurso filosófico do próprio pensador, procedimento muito mais elucidativo.
Nos capítulos 7, 12 e 13 concentram-se ocorrências exemplares do bom uso da implicação entre pensamentos e vivências. Cuidando de esclarecer o modo como Nietzsche propõe uma reformulação dos móveis tradicionais da filosofia em bases experimentais, a investigação sobre Para além de bem e mal firma as vantagens cognitivas e epistêmicas da reflexão atenta à fisiopsicologia. Diante da alegação de uma oposição fundamental entre os valores, própria dos credos hegemônicos no Ocidente, importa menos a obsessão dialética em esgotar as razões a favor e contra sua crença do que investigar a que tipos humanos ela serve. Vê-se na discussão de Nietzsche contra Wagner que são tipos humanos antípodas de Nietzsche, num sentido decisivo: para viver, precisam de forjar crenças estáveis, já que sofrem por suas carências; ao passo que ele deseja criar, à revelia de qualquer fé, por sofrer de modo muito diverso, em função da abundância de interesses, disposições afetivas e recursos que o habitam. Tais colocações suscitam, de direito, a pergunta: mas, afinal, quem é este Nietzsche? Como esclarece a leitura de Ecce homo, não se trata de um sujeito substancial duplicado, como o que responde pelas páginas biográficas do “Discurso do método”, nem tampouco de um eu que dramatiza em si a existência, como o que figura nas “Confissões”. Mais provavelmente, está-se ali às voltas não com um personagem, mas com um topos, um lugar em que se desenrolam toda sorte de vivências, estimuladas pelos mais variados afetos, sob circunstâncias experimentais também proteiformes. Diferentemente do que acontece na seara do dogmatismo, um espetáculo como esse tende a atrair para si os favores da verdade, cumprindo dessa forma inaudita os mais veneráveis desígnios da filosofia.
Tamanha abertura ao que é plural na ordem da investigação demanda uma contrapartida à altura no que diz respeito ao registro e à transmissão do pensamento. Cabe evitar que as ideias convertam-se em dogma, o que só se alcança mediante um uso singular do discurso filosófico. Mais um enigma se esclarece: por fazer parte de um mundo destituído de características cristalizadas, um filósofo precisa de esvaziar sua enunciação de qualquer traço identitário generalizante, o que só se obtém quando se domina a arte de perspectivar os acontecimentos a partir de sua mais enxuta particularização. O texto, então, enquanto comunica um determinado pathos, nada fala da pessoa de seu suposto autor. Ganha o máximo de objetividade na proporção inversa de seu apelo universal. Nessa mesma medida, seleciona seu leitor, evitando que a condição especial das vivências nele tornadas pensamento seja confundida com qualquer lição doutrinal ao alcance de todos.
Os estudos dedicados a O nascimento da tragédia e à Genealogia da moral, capítulos 1 e 8, organizam-se em torno do exame de hipóteses de leitura imanentes relativas às duas obras. Dotados de uma dicção mais marcadamente acadêmica, argumentam, quanto ao primeiro, contra a presença estruturante de uma dialética ascendente no curso do desenvolvimento da exposição; e, quanto ao segundo, contra a impressão de que a exposição teria caráter linear e demonstrativo, constituindo uma espécie de extrato das concepções nietzschianas acerca dos fenômenos morais. Pelas características assinaladas, e também por cuidarem de restituir o principal das posições teóricas expressas pelo filósofo em ambos os livros, funcionam como boas introduções às suas respectivas problemáticas.
Leitor de Scarlett Marton desde a publicação do seminal “Nietzsche: uma filosofia a marteladas” (São Paulo: Brasiliense, 1982), desejo arrematar essa conversa lançando um olhar de sobrevôo ao movimento desenhado por seus escritos mais recentes. Se já havia ficado contente com “Nietzsche, filósofo da suspeita”(São Paulo: Casa da Palavra, 2010), graças à liberdade que se respira ali, considero ter reencontrado agora essa mesma liberdade, acrescida de um elemento novo, que distingue um intérprete original: a invenção.
Olímpio Pimenta Professor da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, Brasil. E-mail: olimpix@ig.com.br.
Ultramares. Maceió, n.8, v.1, ago./dez., 2015.
DOSSIÊ – ANTIGO REGIME PORTUGUÊS
- Título Régio, Rituais e Cerimônias Políticas no Antigo Regime: Império e Governo no reino e no Ultramar luso
- Title Regal, Rituals and Ceremonies Policies in the Old Regime: Empire and Government in the kingdom and overseas Portuguese
- Francisco Carlos Cosentino
- Antigo Regime da Saúde Pública entre o Reino e o Brasil
- The Old Regime of Public Health Between the Kingdom and Brazil
- José Subtil
- A Economia das Mercês: Apontamentos sobre Cultura Política no Antigo Regime Português
- Economy of Favors: Notes about Political Culture in Portuguese Ancient Regime
- Estevam Henrique dos Santos Machado
- Perspectivas Letradas e sua Circularidade
- Literature Outlook and your Circularity
- Sheila Conceição Silva Lima
ARTIGOS
- “Em uma das noites do mês de junho”: Mulheres não brancas e a justiça luso-brasileira. Comarca das Alagoas, 1721-1727
- “In one of june nights”: no-white women and Luso-Brazilian justice. District of Alagoas, 1721-1727
- Anne Karolline Campos Mendonça
- O “Terço de Henrique Dias” na Bahia Setecentista: Construindo uma “tradição”
- The “Henrique Dias’s Troop” in Bahia eighteenth century: Building a “tradition”
- Célio de Souza Mota
- “Eu, já defunto, deixo para meus herdeiros…” Estudo das hierarquias sociais, hábitos e costumes de Sergipe D’El Rey nos Testamentos Judiciais setecentistas
- “I, already dead, I leave to my heirs.” Study of social hierarchies, habits and customs of Sergipe D’el Rey in eighteenth-century Legal Wills.
- Janaína Cardoso de Mello
- O Império e Jaime Nogueira Pinto: As Direitas Radicais e a Descolonização em África
- The Empire and Jaime Nogueira Pinto: The Radical Right and the Decolonization in Africa
- Tiago Rego Ramalho
RESENHA
- O Fazer Historiográfico é uma guerra?
- Is producting historiography war?
- Carmen Margarida Oliveira Alveal
- FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Brasil Colonial – Volume 1, 1443-1580. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, 586p.
- SOBRE OS AUTORES
Como se constrói um santo: a canonização de Tomás de Aquino | Igor Salomão Teixeira (R)
 Igor Salomão Teixeira | Foto: AracneTV |
Igor Salomão Teixeira | Foto: AracneTV |
O fenômeno de santidade, marcado pela sua complexidade e pelo ânimo que alimenta a espiritualidade cristã ocidental, traz consigo toda a densidade que o comporta no que tange ao seu processo de desenvolvimento. Sendo o santo o expoente máximo, cuja vivência terrena lhe confere o acesso irrestrito ao plano sagrado, seu caráter intercessor o torna um importante elemento mediador entre a instância divina e o fiel.
Pensando-o como construção, isto é, imergindo mais profundamente em seu caráter sócio-cultural de concepção, ele é o produto de um intento individual ou coletivo. Nessa linha de raciocínio, ele segue um sentido de ser, encontrando seu delineamento a partir de determinados interesses. O santo reúne em si uma confluência de elementos característicos que ocupam, na lógica social na qual tem origem, finalidades específicas.
Levando em conta o acima exposto, trabalhar o processo de construção de um santo não se torna um exercício de simples execução, dado as múltiplas dimensões que envolvem seu desenvolvimento. Nesse sentido, Igor Salomão Teixeira encontra em sua empreitada um espinhoso, mas interessante caminho de buscar entender como se deu o processo de canonização de Tomás de Aquino e seus consequentes interessados.
Publicado no ano de 2014, o livro de Teixeira traz como objeto de pesquisa o desenvolvimento do processo de canonização de Tomás de Aquino, levado a cabo no papado de João XXII, bem como os possíveis interessados na santificação do dominicano. Trabalhando com o conceito de tempo de santidade (intervalo compreendido entre a morte da personalidade e sua efetiva canonização, de modo retroativo), o autor analisa comparativamente tais lapsos entre figuras contemporâneas e/ou próximas a Tomás de Aquino, buscando realçar semelhanças e diferenças entre elas e possíveis motivações ao resultado obtido no processo.
Sete questões norteiam o desenvolvimento da proposta: quem seriam os interessados na canonização de Tomás? Qual a santidade de Tomás de Aquino entre os dominicanos? Os interrogados conheceram Tomás de Aquino? Que relação tiveram com o candidato a santo? Qual a atuação do papa João XXII no processo? Ao final, canonizado, que santo é Tomás de Aquino? Como se deu a operação da construção narrativa que resultou na Ystoria? O que a canonização de Tomás de Aquino explica sobre o período e sobre as pessoas envolvidas? Outras tantas questões, de cunho secundário, são apresentadas, servindo de pontos de apoio para progressões mais detalhadas que auxiliam na costura do todo.
Procurando alicerçar seu posicionamento, buscando base no alinhamento ou refutação do que a bibliografia viabiliza ao tema, Teixeira estabelece diálogos com autores, como, por exemplo: Sylvain Piron, Andrea Robiglio, Roberto Wielockx, Isabel Iribarren, André Vauchez, etc. Em relação ao último, seu conceito de santidade seria contestado por Teixeira a partir da reflexão por ele feita tomando por base a noção de tempo de santidade, identificando com isso o que o processo de Tomás de Aquino carregaria de mais singular.
O livro se desenvolve basicamente em três capítulos, sendo cada um deles responsável por uma parte relevante na composição argumentativa do autor. O primeiro, voltado aos Inquéritos efetuados em 1319 e 1321, destaca, entre outros, uma não aproximação de João XXII com os dominicanos, dado sua negativa em iniciar o processo do também dominicano Raimundo de Peñafort, o que poderia indicar um possível favorecimento à Ordem. Nele também é destacada a predileção por um teólogo a um jurista, assim como era Peñafort. O alcance da santidade de Aquino é apresentado como sendo circunscrito ao local de seu sepultamento, assim como também é realçado o fato de as Ordens religiosas não comporem o corpo massivo nas oitivas, sendo os Pregadores inclusive menos numerosos que os cistercienses.
O segundo capítulo é direcionado para a questão da santidade de Tomás de Aquino em relação à Ordem dos dominicanos. Nele, Teixeira conclui que não havia uma unanimidade no que diz respeito ao posicionamento da Ordem em relação a Tomás de Aquino, sendo as variações produto dos diversos momentos experimentados pelos Pregadores. Nesse sentido, ganha ênfase o fato de no contexto da canonização nem todos estarem de acordo com os posicionamentos de Aquino. Em linhas gerais, por mais que o resultado comparativo efetuado entre as hagiografias de Pedro Mártir, Domingos de Gusmão e Tomás de Aquino indicassem um alinhamento deste ao propósito dominicano, assim como os demais, a carência de milagres e o desenvolvimento de um culto na Sicília dariam indícios de uma canonização que excede os interesses dominicanos.
Já no terceiro capítulo, trilhou-se o caminho de trabalhar o reconhecimento papal da santidade de Aquino a partir de aspectos teológicos. Havia, segundo Teixeira, um interesse, por parte do papado, em promover a canonização do dominicano em virtude da disposição existente entre ambos em relação à questões teológicas pontuais que favoreciam João XXII.
As necessidades alimentadas por um contexto turbulento (século XIV), no qual a autoridade papal se via em meio a constantes reviravoltas, fez com que João XXII, ao assumir um trono vacante (desde a morte de Clemente V, em 1314), iniciasse uma série de reformas, o que teria elevado as finanças papais. As diretrizes centralizadoras implementadas por ele, expropriando bens, aumentando taxas, aumentariam ainda mais o patrimônio eclesiástico. Para Teixeira, a canonização de Tomás de Aquino seria motivada dada a posição do teólogo em relação à pobreza radical da Igreja, sendo ele contrária a ela. Tal linha de pensamento, alinhada aos interesses de João XXII, teria feito com que este, buscando legitimação de suas ações, promovesse o processo de reconhecimento da santidade de Aquino.
Em linhas conclusivas, respondendo às questões principais de seu livro, destaca o autor que três seriam os possíveis interessados na canonização de Tomás: os dominicanos, sua família de nobres da região de Nápoles e o Papa João XXII, sendo o último o que de fato a procedera. Em relação à santidade de Aquino junto aos dominicanos, o autor percebe um posicionamento discreto destes no processo de canonização, com certa divergência dentro do grupo acerca das linhas de pensamento tomistas. No que diz respeito ao processo de canonização, poucos foram, dos que participaram do Inquérito, os que tiveram contato com Tomás de Aquino em vida.
A rapidez da canonização de um teólogo e não de um jurista, entre outras posições, desponta como resposta à atuação do papa João XXII no processo. Ao que se relaciona ao santo que é Aquino, bem como à construção narrativa que originou a Ystoria (sua hagiografia, de Guilherme de Tocco), destaca Teixeira que o santo tinha todos os caracteres dos demais santos da “Igreja Católica” (castidade, virgindade, virtuosidade, etc.), sendo a obra elaborada a partir de uma inserção de seu autor, Guilherme de Tocco, na própria narrativa, destacando os elementos que dariam conta de confirmar a santidade em proposta.
No que tange ao que a canonização de Aquino explica sobre o período e as pessoas envolvidas, o autor destaca as tensões existentes entre o papado e as Ordens religiosas, e mesmo entre estas, nos séculos XIII-XIV. Explica que a criação de uma crença e seu devido reconhecimento leva em conta um emaranhado complexo de elementos de ordem política, social, doutrinária, etc. Tais elementos formariam uma conjuntura que favorece os posicionamentos tomados para o desenvolvimento do processo e para a canonização.
O livro de Igor Salomão Teixeira, ao trabalhar os liames que envolveram a canonização de Tomás de Aquino, levando em conta os interesses envolvidos, traz a necessidade de pensar o próprio processo não unicamente como fonte para o estudo da santidade, mas primeiro como peça jurídica dentro de uma lógica que transcende exclusivamente esta questão. Só assim, os interesses envolvidos no reconhecimento da santidade puderam ficar evidentes, dando noção dos intentos que poderiam mover os agentes em tais processos.
Assim, ao trabalharmos com o fenômeno de santidade, seja através do estudo dos inquéritos desenvolvidos, ou das produções hagiográficos em si, entre outros, levando em conta o sentido dado a partir da construção discursiva, a necessidade de considerar as múltiplas dimensões que envolvem a constituição do santo se fará presente. Nesse sentido, pensar a densidade que os estudos hagiográficos, por exemplo, possam conter, considerando-os também como um elemento que compõe a peça jurídica, elevam em importância o teor narrativo que a obra traz consigo, demandando do pesquisador um fôlego a mais para além da pura santificação.
Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira – Mestrando PPGHC-UFRJ/Bolsista Capes. E-mail: Jonathas_hist@yahoo.com.br
TEIXEIRA, Igor Salomão. Como se constrói um santo: a canonização de Tomás de Aquino. Curitiba: Prismas, 2014. Resenha de: OLIVEIRA, Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.15, n.2, p. 229-233, 2015. Acessar publicação original [DR]
Rumos da História. Vitória, v.1, n.2, ago. 2015 a fev. 2016.
- Carta do Editor
- Leonardo Bis dos Santos
Artigos
- Agostinho de Hipona: tolerância e uso da força física no discurso anti-maniqueu (5-25)
- Joana Paula Pereira Correia
- A plenitude do poder em Marsílio de Pádua: conflitos entre o poder espiritual e o poder temporal (26-44)
- Roney Marcos Pavani
- Muito além do choque de civilizações: conflito e o fundamentalismo religioso na cristandade através da História (45-69)
- Bruno Schwabenland Ramos e Diones Augusto Ribeiro
- O poder dos discursos nas interações humanas (70-87)
- Álvaro José Maria Filho
- A supremacia do método científico e a negação do outro: caminhos para pensar alguns conflitos (88-102)
- Weksley Pinheiro Gama
- Conflitos políticos no Espírito Santo na Era Vargas: a ação integralista brasileira e a repressão policial (103-130)
- Diego Stanger
- Aspectos sociais e históricos das experiências transgêneras entre nós e os outros (132-155)
- Hugo Felipe Quintela , Ivan Luiz Resende e Diones Augusto Ribeiro
Rumos da História. Vitória, v.1, n.2, ago. 2015 / fev. 2016.
- Carta do Editor
- Leonardo Bis dos Santos
Artigos
- Agostinho de Hipona: tolerância e uso da força física no discurso anti-maniqueu (5-25)
- Joana Paula Pereira Correia
- A plenitude do poder em Marsílio de Pádua: conflitos entre o poder espiritual e o poder temporal (26-44)
- Roney Marcos Pavani
- Muito além do choque de civilizações: conflito e o fundamentalismo religioso na cristandade através da História (45-69)
- Bruno Schwabenland Ramos e Diones Augusto Ribeiro
- O poder dos discursos nas interações humanas (70-87)
- Álvaro José Maria Filho
- A supremacia do método científico e a negação do outro: caminhos para pensar alguns conflitos (88-102)
- Weksley Pinheiro Gama
- Conflitos políticos no Espírito Santo na Era Vargas: a ação integralista brasileira e a repressão policial (103-130)
- Diego Stanger
- Aspectos sociais e históricos das experiências transgêneras entre nós e os outros (132-155)
- Hugo Felipe Quintela , Ivan Luiz Resende e Diones Augusto Ribeiro
Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas. Londrina, v. 16, n.2, 2015.
Artigos
- A Mídia e a TIC no Contexto Escolar | Adauto Luiz Carrino, Maria de Fátima Silva Costa Garcia Mattos | |
- A Escola como Espaço de Formação Múltipla e Contínua | Jacqueline Hartmann Armindo, Graziele Maria Freire Yoshimoto, David da Silva Pereira | |
- Autorregulação da Aprendizagem de Alunos de Cursos a Distância em Função do Sexo | Marilza Aparecida Pavesi, Paula Mariza Zedu Alliprandini | |
- Podcast Sobre Variação Linguística Para Aulas de Língua Portuguesa | Alessandra Dutra, Givan Ferreira, Jéssica Bell’Aver, Sônia Naufal | |
- Desvendando as Informações Implícitas em Gêneros Multimodais | Ana Paula Pinheiro da Silveira, Antonio Lemes Guerra Junior, Eliza Adriana Sheuer Nantes, Juliana Fogaça Sanches Simm | |
- Arte, Tecnologia e Leitura de Imagem: Uma Proposta de Formação Continuada de Professores das Escolas Municipais com Jornada Ampliada na Cidade de Londrina | Laura Célia Sant’Ana Cabral Cava, Okçana Batini | |
- Piaget e Vigotski: Contribuições para as Relações Interpessoais no Ensino-Aprendizagem do Século XXI | Adolfo Hickmann, Araci Asinelli-Luz, Tania Stoltz | |
- Ensino de Literatura em uma Perspectiva Dialógica e Conectada | Aline de Mello Sanfelici, Samira Fayes Kfouri | |
- Ensino de Jovens e Adultos e as Novas Tecnologias: a Perspectiva Discente | Anderson Teixeira Rolim, Marcelo Francisco de Araújo | |
- Gestão da Sala de Aula na Educação Básica: Estratégias Docentes para Viabilizar o Ensino | Fábio Luiz da Silva, Fabiane Taís Muzardo, Tatiane Mota Santos Jardim | |
Publicado: 2015-07-27
Frontera selvática – GÓMEZ GONZÁLEZ (RH-USP)
GÓMEZ GONZÁLEZ, Sebastián. Frontera selvática: Españoles, portugueses y su disputa por el noroccidente amazónico, siglo XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 2014. 399p. Resenha de: BASTOS, Carlos Augusto. Fronteiras e impérios na Amazônia ibérica. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
A historiografia brasileira sobre a região amazônica, de um modo geral, ainda privilegia uma visão centrada na dimensão local ou regional desse espaço, ignorando as dinâmicas históricas em curso nas zonas limítrofes no extremo norte da América do Sul. Com relação ao período colonial, no entanto, uma visão mais atenta para a produção acadêmica sobre as outras “Amazônias” (áreas sob a administração de espanhóis, franceses, holandeses e ingleses) permite traçar comparações com processos políticos, econômicos, sociais e culturais que ocorriam no lado português. Além de comparações, abordagens historiográficas para além dos limites imperiais/nacionais podem ensejar pesquisas sobre as inter-relações e conexões existentes entre os diferentes empreendimentos coloniais que dividiram essa vasta fronteira sul-americana.
Uma obra que desenvolve tal enfoque com excelência é o livro Frontera selvática, do historiador colombiano Sebastián Gómez González, professor do Departamento de História na Universidad de Antioquia, Colômbia. A obra é uma versão levemente alterada de sua tese de doutorado intitulada La frontera selvática. Historia de Maynas, siglo XVIII, defendida em 2012 no programa de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras da Universidad Autónoma de México (Unam), sob a orientação do prof. dr. Antonio García de León. Publicado em 2014, o livro recebeu o prestigioso Premio Nacional a la Investigación en Historia, outorgado pelo Ministério da Cultura da Colômbia e pelo Instituto Colombiano de Antropología e História (ICANH).
Em sua investigação sobre as fronteiras amazônicas (o noroccidente, segundo denominação mais comum para o período) do novo Reino de Granada no século XVIII, Sebastián Gómez coletou farta documentação primária em arquivos na Colômbia, Equador, Espanha, Itália e Portugal, lançando mão ainda de um conjunto amplo de fontes cartográficas e impressas. Além de um trabalho de fôlego no levantamento e análise da documentação, o autor abarcou uma produção historiográfica considerável sobre as possessões espanholas e portuguesas na Amazônia no período colonial, bem como estudos gerais sobre os impérios ultramarinos espanhol e luso, dialogando com obras consagradas e trabalhos mais recentes publicados nos países de língua espanhola, em Portugal e no Brasil. Deve-se ainda destacar a análise que Gómez realiza da literatura acadêmica sobre fronteiras, tema que recebeu atenção de diferentes áreas das ciências sociais e produziu estudos referenciais no campo da história.
O estudo de Sebastián Gómez enfoca a Província de Maynas, área na bacia amazônica fronteiriça aos domínios portugueses, a qual fez parte da Audiência de Quito (e, por conseguinte, do Vice-Reino de Nova Granada) do século XVI ao início do XIX, quando então essa circunscrição territorial foi incorporada ao Vice-Reino do Peru. Dentro de uma produção acadêmica que privilegia os espaços andinos e litorâneos, o trabalho de Gómez González sobre o noroccidente amazônico da América espanhola preenche uma lacuna historiográfica, inserindo esta região de fronteira em debates e questões que orientavam as políticas coloniais para outras partes do ultramar hispânico. Trata-se, de fato, de uma fronteira ainda pouco visitada pelos historiadores que se dedicam ao mundo colonial hispano-americano, se compararmos a historiografia sobre a bacia amazônica sob a jurisdição espanhola com a volumosa bibliografia disponível sobre as fronteiras platinas ou o norte do Vice-Reino da Nova Espanha, por exemplo. Em sua análise, o autor, ao tratar de uma área tradicionalmente considerada como um “vazio” e de importância marginal, objetiva entender os impactos de questões geopolíticas mais amplas dos impérios ultramarinos na fronteira amazônica, o que significa também lançar novas luzes sobre o enorme conjunto de territórios incorporados à Coroa espanhola.
As políticas das autoridades espanholas para essa zona limítrofe foram marcadas por avanços e recuos, pressionadas pelas incursões militares e comerciais de portugueses, por rebeliões locais de indígenas e pelas difíceis condições físicas que a topografia amazônica impunha ao sucesso dos projetos defensivos e econômicos coloniais. A análise dos diferentes (e, em grande medida, frustrados) projetos de incorporação de Maynas ao restante dos domínios hispano-americanos leva o autor a adotar um enfoque de longa duração em seu trabalho. O recorte temporal do estudo compreende principalmente o período de 1700 a 1777, ressaltando-se nesta cronologia alguns marcos fundamentais, como o início da Monarquia dos Bourbons no alvorecer dos Setecentos, o Tratado de Madri de 1750 e o de Santo Ildefonso no ano de 1777, enfatizando-se a inserção da fronteira luso-espanhola de Maynas nesse quadro geral. Ao mesmo tempo em que situa as demandas e interferências mais amplas das disputas imperiais nessa fronteira, Sebastián Gómez chama a atenção para as dinâmicas mais locais, isto é, as estratégias dos sujeitos que habitavam a Província de Maynas no sentido de sustentar as pretensões territoriais que opunham espanhóis a portugueses. Nesse sentido, o jogo de análise adotado pelo autor, entrelaçando na mesma narrativa a exposição do quadro geral e a interpretação das ações e posicionamentos dos sujeitos locais, constitui um dos grandes méritos do trabalho.
A divisão dos capítulos do livro segue recortes cronológicos menores, procurando entender conjunturas específicas da fronteira luso-espanhola em questão. O capítulo primeiro da obra, de fato, antecede o recorte principal do estudo, abordando os primeiros passos da incorporação da área amazônica da Audiência de Quito aos domínios espanhóis e a organização inicial da Província de Maynas. Este capítulo introdutório apresenta as primeiras expedições de conquista das selvas setentrionais ao oriente dos Andes, no século XVI, uma região inóspita e apartada dos principais estabelecimentos coloniais representados por cidades como Cusco, Lima, Quito, Popayán e Santa Fé. A expansão das frentes coloniais de penetração e incorporação territorial logo se viu contida por revoltas de populações indígenas da selva, com destaque para os índios jívaros, criando assim obstáculos a largo prazo para a fundação de povoações espanholas e a concretização de expectativas de exploração econômica daquelas terras.
No começo do século XVII, essas zonas permaneciam praticamente como espaços desconhecidos para as autoridades espanholas da América meridional. Apenas em 1618 a Província de Maynas, território que compreendia a fronteira oriental com as terras portuguesas no vale amazônico, teve seu primeiro governador nomeado. No entanto, as décadas iniciais desse século foram marcadas pelas primeiras incursões bem sucedidas de portugueses sobre a fronteira, tema este explorado por uma historiografia mais tradicional que exalta a penetração lusa no vale amazônico a despeito da subordinação de Portugal a Castela durante a União Ibérica (1580-1640).1 Em contraposição aos movimentos portugueses rumo às proximidades das terras andinas, Gómez destaca a ação missioneira como a mais efetiva medida de defesa dos interesses da Monarquia hispânica na região,2 o que deixava à mostra as tensões e contradições existentes na União Ibérica, as quais reverberavam com força nas fronteiras amazônicas. A partir da década de 1640, com a restauração da Monarquia portuguesa, ganha força o discurso de fechamento daquela fronteira aos avanços e contatos com os súditos portugueses, medidas que, na verdade, foram muito pouco efetivas. Igualmente frustrados foram os projetos espanhóis de incorporação daquela região a rotas comerciais mais dinâmicas, as quais supostamente fariam de Maynas um ponto estratégico da ligação dos Andes ao Atlântico através dos rios amazônicos. Outras expectativas nutridas por autoridades laicas e eclesiásticas que serviam em Maynas, como inversões de recursos na defesa militar contra os portugueses, também não foram realizadas, o que contribuía para fragilizar a presença dos missionários que estavam em Maynas a serviço de sua majestade católica.
O segundo capítulo inicialmente situa os conflitos nos limites luso-espanhóis na bacia amazônica no conjunto dos choques que envolveram Portugal e Espanha durante a Guerra de Sucessão (1701-1713). Nesse sentido, Sebastián Gómez insere a zona fronteiriça de Maynas com a América lusa no marco das disputas diplomáticas e militares que envolviam Portugal e Espanha, deixando claro que não se tratava de uma parte desconectada das tensões internacionais que abarcavam os dois impérios. As penetrações portuguesas em Maynas ganham fôlego nos anos iniciais do XVIII, ao passo que as missões espanholas se firmam como a medida mais efetiva de defesa da soberania de Castela na área. Ao longo desse século, a produção documental dos padres nas missões é particularmente rica para a análise da situação da fronteira e das rivalidades imperiais, contestando as pretensões jurídicas de Portugal sobre a fronteira norte e revelando os temores de uma iminente invasão portuguesa. Nas considerações de muitos religiosos estabelecidos em Maynas, o avanço de embarcações vindas da América lusa não representava um risco apenas pela prática do contrabando, escravização de índios e destruição dos estabelecimentos missionais. Mais do que isso, essas investidas poderiam colocar em risco a soberania espanhola na parte amazônica e mesmo nas cobiçadas terras andinas contíguas, dadas as vantagens militares e comerciais que os lusitanos usufruíam a partir daquela fronteira, o que poderia alterar drasticamente a correlação de forças das coroas ibéricas no continente. Nas interpretações gestadas a partir de Maynas, fazia-se necessário ter acesso a informações do lado português da fronteira por meio da espionagem, bem como sobre o movimento dos ingleses, aliados de Portugal, em outros pontos da América, de modo a prever uma possível ação conjunta direcionada para aquela fronteira. Em 1711, uma invasão portuguesa se concretizou, desprotegendo os espanhóis nos limites noroccidentales ao desmantelar estabelecimentos missionários em Maynas, deixando a fronteira em um estado absolutamente móvel no início do século XVIII, como observa o autor.
Segundo Sebastián Gómez, as incursões vindas da parte portuguesa da fronteira evidenciavam a fragilidade das defesas militares espanholas em Maynas. A fundação de uma casa forte portuguesa no rio Napo na década de 1730 significou um passo a mais a favor da presença lusa na área, funcionando como um enclave militar e comercial direcionado para as terras hispano-americanas. Essas medidas visavam concretizar não apenas o avanço territorial, mas também a manutenção de redes de comércio ligando a cidade portuária de Belém às cidades andinas por meio do contrabando na bacia amazônica, alimentando o sonho dos portugueses de abertura de novas rotas de acesso à prata espanhola. Os projetos das autoridades espanholas, em contraposição às ameaças vizinhas, objetivavam incorporar Maynas a rotas comerciais com zonas andinas e fundar povoações em pontos estratégicos para defesa, medidas que não se concretizaram em virtude das dificuldades de comunicação com a fronteira e de reunião da população indígena em novos estabelecimentos. Na conjuntura da década de 1730, o autor destaca que as tensões surgidas na faixa fronteiriça não estavam diretamente relacionadas à situação diplomática experimentada pelas duas coroas ibéricas. Esse foi um período, na verdade, de relativa estabilidade das relações luso-espanholas, indicando assim que as interações mantidas pelos sujeitos no espaço da fronteira não podem ser entendidas como reflexos diretos ou imediatos de determinações metropolitanas, mas que continham, de fato, expectativas e interesses locais.
O último capítulo cobre a conjuntura dos principais tratados diplomáticos firmados por Espanha e Portugal na segunda metade do século XVIII, os quais repercutiram diretamente no desenho territorial das fronteiras amazônicas. As preocupações de ordem defensiva continuaram sendo um tópico recorrente da produção documental das autoridades radicadas em Maynas. Esses receios não eram apenas em relação aos avanços portugueses, mas igualmente contra distúrbios internos à América espanhola, como a rebelião indígena liderada por Juan Santos Atahualpa3 no Peru nos primeiros anos da década de 1740, temendo-se que tal levante atingisse a fronteira. A consciência da vulnerabilidade militar e precariedade econômica da Província de Maynas, insistentemente denunciada por religiosos, oficiais militares e autoridades civis locais, foi enfocada também por viajantes ilustrados, a exemplo de Charles Marie de La Condamine, que percorreu terras espanholas e portuguesas na América meridional. A partir de suas expedições na bacia amazônica, La Condamine também apontou a possibilidade de haver uma conexão fluvial entre o Amazonas e o Orinoco, o que significaria a existência de outras rotas de penetração portuguesa nas terras espanholas. As históricas investidas portuguesas, as possíveis novas rotas de penetração, somadas à “inoperancia estructural” (p. 212) da administração da fronteira formavam o cenário de insegurança da jurisdição espanhola sobre Maynas.
A busca de uma resolução dos conflitos territoriais luso-espanhóis foi um dos aspectos centrais do Tratado de Madri de 1750, objetivando-se, a partir desse acordo, como salienta o autor, imprimir uma nova lógica de controle territorial e aproveitamento econômico dos espaços coloniais (p. 231). No caso dos limites luso-espanhóis ao norte, as novas delimitações propostas deveriam se guiar pelos principais rios da região, como o Caquetá/Japurá, Javari e Negro, estipulando-se ainda proibições ao contrabando e à circulação de pessoas entre as áreas portuguesa e espanhola da América. Mais uma vez, como destaca Sebastián Gómez, as determinações das cortes não encontravam amparo nas relações tecidas no espaço da fronteira, de maneira que as proibições estipuladas pelo tratado não poderiam ser efetivadas em uma zona marcada pela circulação de pessoas e pela prática rotineira do contrabando. Em relação aos limites luso-espanhóis do extremo norte, a anulação do Tratado de 1750 pelo Tratado de El Pardo (1761) apenas regulamentou um estado já vigente de inoperância local das regulamentações e controles determinados pelo Tratado de Madri.
Os ânimos belicistas novamente se levantaram com os ecos locais do conflito mundial representado pela Guerra dos Sete Anos (1756-1763), quando as autoridades lusas e espanholas das partes amazônicas se colocaram em prontidão para enfrentar uma possível guerra na fronteira. Nesse ponto, deve-se ressaltar a atenção de Sebastián Gómez para as formas de circulação de informações políticas na fronteira e sua importância para a conexão das remotas áreas amazônicas com as dinâmicas globais dos conflitos imperiais. Ainda na década de 1760, um impacto mais duradouro vivenciado em Maynas foi a expulsão da Companhia de Jesus. Em um prazo curto de tempo, na avaliação do autor, a saída dos jesuítas de Maynas facilitou as penetrações portuguesas em uma zona militarmente desprotegida, comprometendo ainda mais os interesses da Coroa espanhola naquele espaço.
Um esforço militar de maior envergadura para Maynas só viria a ser ensaiado nos anos de 1776-1777, em um contexto de conflitos imperiais no espaço atlântico e de enfrentamentos bélicos envolvendo espanhóis e portugueses em pontos limítrofes da América meridional. No mês de fevereiro de 1777, o vice-rei do Peru, Manuel Guirior, enviou uma ordem ao presidente da Audiência de Quito, Joseph Diguja, instando-o a organizar uma grande expedição militar destinada a Maynas. A chamada Expedição de Maynas deveria expulsar os portugueses das terras vizinhas, resolvendo definitivamente a favor da Espanha as pendências territoriais que há muito marcavam a bacia amazônica. Tratava-se de uma ação de grande porte pela logística militar e pelos recursos que consumiria (um valor estimado em mais de um milhão de pesos), mas que não foi concretizada em razão da chegada das notícias sobre as negociações luso-espanholas que redundariam no Tratado de Santo Ildefonso, assinado em outubro de 1777. O Tratado de Santo Ildefonso marcaria uma nova fase em Maynas, bem como um novo ímpeto aos projetos políticos e econômicos para as fronteiras do espaço amazônico, muito embora os trabalhos luso-espanhóis de demarcação nas décadas finais do século XVIII não tenham resolvido as pendências territoriais e as situações de conflitos de soberania.4
As fronteiras selváticas ao oriente dos Andes, limítrofes aos domínios luso-americanos, continuariam a representar uma barreira aos anseios estatais espanhóis de controle e modificação do espaço e de seus habitantes. As disputas mais amplas ocorridas no mundo atlântico repercutiam naquela distante zona de contato dos impérios ibéricos, ao mesmo tempo em que as relações tecidas propriamente no ambiente fronteiriço ditavam suas próprias regras e condições. De modo convincente, Sebastián Gómez González insere as remotas zonas noroccidentales nas lógicas imperiais do século XVIII.
Há pontos, porém, que permanecem como desafios aos pesquisadores que se dedicam ao estudo de uma área como a analisada pelo autor. Ainda é necessário entender, de maneira mais aprofundada, as percepções e os posicionamentos das comunidades indígenas na fronteira norte sobre as contendas e os jogos diplomáticos envolvendo os poderes monárquicos ibéricos. Alguns estudos mais recentes, referentes a outras áreas limítrofes na América ibérica, trazem contribuições significativas para a análise dessas questões, atentando para as aproximações e alianças estabelecidas entre indígenas e autoridades coloniais na construção das políticas imperiais para as fronteiras. Como exemplos, pode-se citar a pesquisa de Elisa Frühauf Garcia sobre a inserção dos indígenas nas disputas imperiais na fronteira meridional5 e o estudo de Francismar Alex Lopes de Carvalho sobre os nativos e as políticas luso-espanholas para a fronteira entre Mato Grosso, Mojos, Chiquitos e Paraguai.6
No caso da obra de Gómez González, o autor traz uma análise documental embasada sobre as políticas tecidas e discutidas para a fronteira a partir da visão de militares, autoridades eclesiásticas e laicas que serviam na região, tanto do lado português quanto do espanhol. Contudo, o posicionamento dos índios ainda segue como uma questão a merecer maior atenção. Os indígenas certamente deveriam construir suas interpretações e suas expectativas políticas levando em consideração as relações imperiais que tinham aquela área como um dos seus mais problemáticos palcos de disputa. Claro que se trata de um assunto muito mais desafiador para o historiador, na medida em que a análise nesse caso deve recorrer a indícios por vezes esparsos disponíveis nos documentos sobre a região. Sobre a interseção de expectativas indígenas e imperiais na fronteira entre Maynas e a América lusa, algumas análises já foram desenvolvidas por Carlos Gilberto Zarate Botía, como em seu estudo sobre os índios Ticuna e suas relações com portugueses e espanhóis.7
Em todo caso, a obra de Sebastián Gómez González figura como um estudo de fôlego e, mais do que isso, um avanço para a compreensão mais complexa das relações tecidas pelos impérios ultramarinos no século XVIII. Para os pesquisadores da América espanhola, Gómez González coloca no mapa da produção historiográfica mais atual uma região tradicionalmente ignorada pelas grandes análises sobre a experiência de colonização espanhola do Novo Mundo. Para os historiadores brasileiros, por sua vez, sua obra ajuda a romper com paradigmas exageradamente regionalistas sobre a Amazônia.
Referências
CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Lealdades negociadas: Povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII). São Paulo: Alameda, 2014. [ Links ]
ESPINOZA, Waldemar. Amazonía del Perú: História de la Gobernación y Comandancia General de Maynas (Hoy regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Provincia de Condorcanqui). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007. [ Links ]
GARCIA, Elisa Frühauf. As diversas formas de ser índio. Políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009. [ Links ]
LUCENA GIRALDO, Manuel. La delimitación hispano-portuguesa y la frontera regional quiteña, 1777-1804. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia. Quito: Corporación Editora Nacional, n. 04, 1993, 21-39. [ Links ]
MARTIN RUBIO, Maria del Carmen. Historia de Maynas, un paraíso perdido en el Amazonas. Madri: Ediciones Atlas, 1991. [ Links ]
NEGRO, Sandra. Maynas, una misión entre la ilusión y el desencanto. In: NEGRO, Sandra & MARZAL, Manuel. Un reino en la frontera: Las misiones jesuitas en la América colonial. Quito: Abya-Yala, 2000, p. 185-20. [ Links ]
PORRAS P., Maria Elena. Gobernación y Obispado de Mainas, siglos XVII-XVIII. Quito: Ediciones Abya-Ayala, Taller de Estudios Historicos, 1987. [ Links ]
REIS, Arthur Cezar Ferreira. A política de Portugal no vale amazônico. Belém: Secult, 1993. [ Links ]
RÍO SARDONIL, José Luis del. Don Francisco Requena y Herrera: una figura clave en la demarcación de los límites hispano-lusos en la cuenca del Amazonas (s. XVIII). Revista Complutense de Historia de América. Madri, 2003, n. 29, 51-75. [ Links ]
ROSAS MOSCOSO, Fernando. Del rio de la Plata al Amazonas: El Perú y el Brasil en la época de la dominación ibérica. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2008. [ Links ]
SANTOS GRANERO, Fernando. Anticolonialismo, mesianismo y utopía en la sublevación de Juan Santos Atahuallpa, siglo XVIII. In: Idem (compilador). Opresión colonial y resistencia indígena en la Alta Amazonía. Quito: Flacso-Sede Ecuador, 1992, p. 103-134. [ Links ]
TORRES, Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: Demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de doutorado em História Social, PUC-SP, 2011. [ Links ]
VARESE, Stefano. La sal de Los Cerros: Notas etnográficas e históricas sobre los campa de la selva del Perú. Lima: Universidad Peruana de Ciencias y Tecnologia, 1968. [ Links ]
ZÁRATE BOTÍA, Carlos Gilberto. Movilidad y permanencia Ticuna en la frontera amazónica colonial del siglo XVIII. Journal de la Societé des Américanistes, 1998 (1), p. 73-98. [ Links ]
1Conferir REIS, Arthur Cezar Ferreira. A política de Portugal no vale amazônico. Belém: Secult, 1993.
2O protagonismo missionário na ocupação da fronteira amazônica da América espanhola tem sido ressaltado por outros estudos, bem como as dificuldades enfrentadas na região pelos religiosos frente às investidas luso-americanas. Sobre esta produção historiográfica, conferir: ESPINOZA, Waldemar. Amazonía del Perú: História de la Gobernación y Comandancia General de Maynas (Hoy regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Provincia de Condorcanqui). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007; MARTIN RUBIO, Maria del Carmen. Historia de Maynas, Un paraíso perdido en el Amazonas. Madri: Ediciones Atlas, 1991; NEGRO, Sandra. Maynas, una misión entre la ilusión y el desencanto. In: NEGRO, Sandra & MARZAL, Manuel. Un reino en la frontera: Las misiones jesuitas en la América colonial. Quito: Abya-Yala, 2000, p. 185-203; PORRAS P., Maria Elena. Gobernación y Obispado de Mainas, siglos XVII-XVIII. Quito: Ediciones Abya-Ayala, Taller de Estudios Historicos, 1987; ROSAS MOSCOSO, Fernando. Del rio de la Plata al Amazonas: El Perú y el Brasil en la época de la dominación ibérica. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2008.
3Sobre a rebelião de Juan Santos Atahualpa, conferir: SANTOS GRANERO, Fernando. Anticolonialismo, mesianismo y utopía en la sublevación de Juan Santos Atahuallpa, siglo XVIII. In: Idem (compilador). Opresión colonial y resistencia indígena en la Alta Amazonía. Quito: Flacso-Sede Ecuador, 1992, p. 103-134; VARESE, Stefano. La sal de Los Cerros: Notas etnográficas e históricas sobre los campa de la selva del Perú. Lima: Universidad Peruana de Ciencias y Tecnologia, 1968.
4Sobre as demarcações luso-espanholas determinadas pelo Tratado de Santo Ildefonso na fronteira norte, ver os seguintes trabalhos: LUCENA GIRALDO, Manuel. La delimitación hispano-portuguesa y la frontera regional quiteña, 1777-1804. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia. Quito: Corporación Editora Nacional, n. 04, 1993, p. 21-39; RÍO SARDONIL, José Luis del. Don Francisco Requena y Herrera: una figura clave en la demarcación de los límites hispano-lusos en la cuenca del Amazonas (s. XVIII). Revista Complutense de Historia de América. Madri, n. 29, 2003, p. 51-75; TORRES, Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: Demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de doutorado em História Social, PUC-SP, 2011.
5GARCIA, Elisa Frühauf. As diversas formas de ser índio. Políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009.
6CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Lealdades negociadas: Povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII). São Paulo: Alameda, 2014.
7ZÁRATE BOTÍA, Carlos Gilberto. Movilidad y permanencia Ticuna en la frontera amazónica colonial del siglo XVIII. Journal de la Societé des Américanistes, 1998 (1), p. 73-98.
Carlos Augusto Bastos – Doutor em História pela Universidade de São Paulo em 2013. Professor de História da América na Universidade Federal do Amapá – Unifap. carlobastos@unifap.br.
Língu@ Nostr@. Vitória da Conquista, v.3, n.1, 2015.
Apresentação
- Apresentação da 4ª Edição
- Ronei Guaresi, Alceu Vanzig | PDF
Artigos – Dossiê
- O ensino de língua portuguesa e os universais musicais: uma amostragem de prática interpretativa
- Emanuela Francisca Ferreira Silva, Hugo Mari | PDF
- O sentido da palavra “poeta” no poema “autopsicografia” de Fernando Pessoa
- Joyce Maria Sandes-da-Silva, Adilson Ventura da Silva | PDF
- Análise dos artefatos metafóricos discursivos na elaboração da mística do MST
- João Rodrigues Pinto | PDF
- Uso da estratégia cloze na avaliação e intervenção em leitura: uma revisão sistemática de literatura
- Lays Santana de Bastos Melo | PDF
- A leitura na perspectiva escolar: algumas considerações
- Gizelle Macedo, Karina Dias, Ângela Maria Gusmão Santos Martins | PDF
- Advantages and disadvantages of using skype for educational purposes Vantagens e desvantagens de usar o skype para fins educacionais
- Anastasiia Melnyk | PDF
- O livro didático de português como instrumento mediador para o letramento
- Gizelle Macedo, Ronei Guaresi | PDF
- Uma proposta de ensino-aprendizagem da ortografia do português brasileiro
- Fernanda Taís Brignol Guimarães, Vinícius Oliveira de Oliveira | PDF
- A língua brasileira de sinais no processo de inclusão dos surdos: o caso de Teixeira de Freitas/Ba
- João Rodrigues Pinto, Sarys Fernandes da Silva Capeleiro | PDF
- Processo de subjetivação do professor de língua portuguesa: uma leitura discursiva
- Claudio Gonçalves Gomes | PDF
Resenhas
- A revolução dos homens
- Gláuber Clinton Brito de Sá | PDF
- Como estrelas na terra: uma abordagem das dificuldades e desafios enfrentados por uma criança com dislexia na aquisição da leitura e da escrita
- Por Ronilson Souza Matos | PDF
Entrevista
- Neurociência e educação Entrevista com Felipe Pegado
- Ronei Guaresi | PDF
Relatório
- Relatório – Letramento e gêneros textuais no ensino de língua materna Relatório de projeto de letramento
- Charleni Araújo de Lima, Roseli Pereira de Almeida, Ilma Dias dos Santos | Letramento e recesso junino Relatório de aplicação de um projeto
- Jaqueline Santos de Sousa, Juliana de Souza Amaral |
Publicado: 2019-07-05
Revista de Ensino de Geografia. Uberlândia, v. 6, n. 11, jul./dez. 2015.
APRESENTAÇÃO
ARTIGOS
- USO DE GEOPROCESSAMENTO EM PROJETOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
- Samuel Ferreira da Fonseca | Gustavo Lino Mendonça
- CRIAÇÃO, EXPANSÃO E DESATIVAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA MESORREGIÃO OESTE DO PARANÁ | Anderson Bem | Maria das Graças de Lima
- O PROFESSOR É, A PRIORI, RESPONSÁVEL PELA MOTIVAÇÃO DO ALUNO EM SALA DE AULA
- Elaine Cristina Soares Surmacz | Rosana Cristina Biral Leme
- ENSINAR PELA PESQUISA: A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E O PAPEL DO PROFESSOR-PESQUISADOR |
- André Quandt Klug | Adriana Dal Molin | Liz Cristiane Dias
- O USO DO VÍDEO NO ENSINO DA GEOGRAFIA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Fernanda Borges Neto | Vânia Rúbia Farias Vlach |
- ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA: A QUESTÃO DA REPROVAÇÃO ESCOLAR | Susana Aparecida Fagundes de Oliveira | Aline da Costa Gonçalves | Carla Silvia Pimentel
- O PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA PERSPECTIVA DO PROFISSIONAL COMUNICATIVO-TRANSFORMATIVO | Francisco Kennedy Silva dos Santos
- LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA, SU PRACTICA ESCOLAR COTIDIANA Y LA FORMACION DEL CIUDADANO EN SU COMUNIDAD | José Armando Santiago Rivera
- O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO POSSIBILIDADE INTERVENTIVA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA CONTEMPORANEIDADE
- Miqueias Virginio da Silva
- CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DE ENSINO EM GEOGRAFIA A PARTIR DA PEDAGOGIA HISÓTICO-CRÍTICA
- Márcia Cristina de Oliveira Mello | Juliana de Fátima Zanchetta
RELATOS DE EXPERIÊNCIA E PRÁTICA
- EDUCAÇÃO E AFRICANIDADES NA ESCOLA: GEOGRAFIA E INTERDISCIPLINARIDADE | | Celso Rodrigues Cardoso Filho
- PENSANDO A CIDADE NA ESCOLA: DOS PROBLEMAS URBANOS À REPRESENTAÇÃO DA CIDADE “IDEAL”
- Leandro Lemos de Jesus | Adriane Martinhuk Kutzmy
- O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MINHA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA
- Alan Roberto dos Santos
- PEDAGOGIA DA EXISTÊNCIA GEOGRÁFICA: UM RETORNO (OU: COMO “DE REPENTE SINTO A FALTA DE TODOS”) | Carlos Roberto Bernardes de Souza Júnior
Imprensa italiana no Brasil, séculos XIX-XX – TRENTO (RBH)
TRENTO, Angelo. Imprensa italiana no Brasil, séculos XIX-XX. São Carlos: Ed. UFScar, 2013. Zaidan, Roberto. 276p. Resenha de: BIONDI, Luigi. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.70, jul./dez. 2015.
Décadas de pesquisa sobre o tema da imigração italiana, que renderam algumas das obras mais referenciais nesse âmbito historiográfico, levaram Angelo Trento, da Universidade de Nápoles “Istituto Orientale”, a aprofundar um dos aspectos centrais para a compreensão do mundo dos imigrantes no Brasil no livro Imprensa Italiana no Brasil, séculos XIX-XX, tradução para o português da edição italiana La costruzione di un’identità collettiva. Storia del giornalismo in lingua italiana in Brasile (Viterbo: Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana, 2011).
Na sua obra La dov’è la raccolta del caffè, publicada no Brasil com o título Do outro lado do Atlântico (São Paulo: Studio Nobel, 1989), ainda hoje a obra mais completa sobre a história dos italianos no Brasil, na qual a imprensa produzida por eles tomava um espaço temático próprio em alguns capítulos embora atravessasse o livro inteiro como fonte principal, Trento inseriu um apêndice com mais de quatrocentos periódicos italianos publicados no país. Esses foram o ponto de partida para pesquisas sucessivas que levaram Trento, nos últimos anos, a centrar a análise sobre a história dos impressos periódicos em língua italiana no Brasil, durante o século XIX e até a década de 1960. Aquela antiga lista se enriqueceu de mais títulos, encontrados nos arquivos do Brasil, Itália, Holanda e França, e se tornou o corpus documental que fundamenta agora, no seu livro Imprensa italiana no Brasil, uma história exaustiva da expressão escrita, em jornais, pelos imigrantes italianos.
Trento não se limita a tratar essa imprensa como formadora de representações de uma coletividade de imigrantes, indaga sobre os fundamentos sociais dos impressos periódicos e de seus grupos editores e sobre a relação destes com as redes de assinantes, os leitores e a comunidade italiana imigrada em geral. O jornal, além de ser o veículo intencional de transmissão de informações, configura-se como porta-voz e ao mesmo tempo articulador de grupos específicos, utilizando e forjando redes de imigrantes, polo agregador de sua intervenção na nova sociedade. A imprensa étnica como mediadora da transnacionalidade, na qual Trento enfatiza, na melhor tradição historiográfica italiana, suas dinâmicas políticas.
Essa imprensa é estudada também como construtora e expressão de identidades: a nacional – a italianidade – e as regionais, políticas e de classe, todas em suas diferentes e muitas vezes conflitantes versões, todas passando pela via da comum origem num Estado-nação de recente formação. O ser e sentir-se italiano numa experiência de migração por meio da imprensa, declinado em uma miríade de identificações complementares, parece ser o fio condutor de uma trajetória que o autor concentra entre o período da “grande imigração” (1885-1915 aproximadamente) e meados dos anos 1960, quando o longo processo de integração e os fluxos migratórios dos italianos terminam.
Trento dedica mais de metade da obra ao período entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, com dois capítulos iniciais: o primeiro para a imprensa como um todo e o segundo para a imprensa operária. É nessa época que o periódico impresso se configura não somente como órgão de informação, mas também como polo agregador dos próprios imigrantes italianos que chegam em massa ao Brasil. É o período do protagonismo político, comercial e industrial do Brasil urbano, quando o diário em língua italiana Fanfulla, a “joia da coroa” da então colônia ítalo-paulista, narra as vicissitudes da experiência migratória de cerca de um milhão de italianos – e não somente os de São Paulo, pois esse diário, assim como outros periódicos étnicos, era lido para além das fronteiras estaduais. Trento não se limita a estudar o fenômeno migratório nas suas amplas dimensões paulistas, também lança um olhar para as coletividades nos outros estados, para a imprensa italiana desde o Pará até os centros gaúchos e sulinos em geral, nestes bastante difusa.
Nesses dois capítulos, Trento explica a difusão extraordinária de alguns jornais, como os diários Fanfulla e La Tribuna Italiana, e das publicações explicitamente políticas como La Battaglia (anarquista) e Avanti! (socialista), e ao mesmo tempo analisa os vários periódicos que tiveram uma vida difícil, mas que, tomados em conjunto, tornam a expressão escrita da imprensa dos ítalo-brasileiros nesse período importante e significativa, a par de outras como as da Argentina ou dos Estados Unidos.
A separação dessa fase da “grande imigração” em duas esferas temáticas, ao longo de dois capítulos, pretende destacar o papel político da imprensa. No capítulo 1, a grande imprensa e os periódicos culturais, de notícias e multitemáticos, são analisados não somente nos seus aspectos gerais estruturais e representativos, supostamente neutros, mas também nas suas atenções ao mundo da grande massa dos imigrantes, incluindo o surgimento de um jornalismo investigativo étnico, que indaga sobre as condições materiais da coletividade, seus anseios e suas expressões políticas. O subcapítulo final introduz uma pesquisa pioneira sobre a imprensa de língua italiana durante a Primeira Guerra Mundial, num momento em que o nacionalismo italiano e a construção da identidade nacional no exterior vivenciam, por causa da guerra, uma intensificação extraordinária, enquanto os imigrantes experimentam novas tensões derivadas da radicalização das lutas operárias.
A “Outra Itália” de esquerda é o tema do capítulo 2, onde o foco é completamente voltado para entender a vida da imprensa em língua italiana que foi expressão de tendências e grupos políticos específicos, ligados ao mundo do trabalho urbano. Sobretudo em São Paulo, mas não somente ali, essa imprensa conseguiu frequentemente se tornar o polo agregador de anarquistas, socialistas, republicanos, radicais e sindicalistas, bem como de trabalhadores em geral. Um protagonismo conhecido na historiografia da história social e política dos trabalhadores no Brasil, que Trento, pela primeira vez após muitos anos, analisa num único capítulo de forma conjunta, coerente e renovada, incorporando as novas pesquisas suas e de outros colegas sobre o tema.
Temos um olhar completo para essa história, sem privilegiar a análise de uma ou de outra tendência, mas as conexões entre elas e o panorama dessa trajetória em sua complexidade, desde as origens, passando pelo auge dos anos 1900-1917, até o declínio no período posterior à Primeira Guerra Mundial, quando a imprensa reflete a diluição dos elementos étnicos da classe operária. Por isso, o autor dedica parte importante desse capítulo ao debate “identidade étnica versus identidade de classe” na imprensa política de língua italiana, tema ainda central nos estudos migratórios e da formação da classe trabalhadora nas Américas.
Na segunda parte do livro, o autor enfrenta a questão da penetração do fascismo na imprensa italiana, sua gradual conquista das redações, sua eliminação em outras, o surgimento e declínio, nas décadas de 1920 e 1930, da imprensa antifascista que viu no Brasil o episódio interessante e multipartidário do jornal La Difesa, enquanto o diário Fanfulla se dobrava aos interesses do governo italiano e ao mesmo tempo continuava se propondo como o porta-voz da italianidade no país. Trento se dedica ao exame de uma imprensa étnica ainda consistente, mas cada vez menor, não comparável em número, qualidade e variedade com a dos primeiros 30 anos republicanos. Uma imprensa que progressivamente se fecha em torno das questões ligadas à colônia, mediadora cultural de uma Itália cada vez mais distante e menos frequentada.
A imprensa é estudada para entender a capacidade de adaptação à nova situação brasileira, o equilíbrio entre as influências do fascismo italiano e as tensões derivadas desse posicionamento frente à política nacionalista do Estado Novo e à guerra.
A nova fase que se abre com o pós-guerra se ressente dessa história, de um passado não falado que Angelo Trento analisa no último capítulo, no contexto migratório mais recente, da segunda metade do século XX.
Entre a retomada no Brasil de posições políticas proibidas na nova Itália republicana (o neofascismo no exílio) e a narração da experiência migratória dos anos 1950 e 1960 (até 1965, quando o Fanfulla encerra sua publicação diária), o autor examina o conjunto muito menor de uma imprensa étnica testemunha de uma coletividade italiana imigrada, renovada sim pelos fluxos migratórios do pós-guerra, mas excepcionalmente reduzida.
Trento interpreta a função histórica da imprensa italiana no exterior como expressão viva do mundo dos imigrantes. Ao desaparecer a condição de migrantes, ao sumir gradualmente a operatividade das relações, das redes e das circularidades transnacionais, também essa imprensa deixa de existir. Apesar das dificuldades objetivas na prática da leitura de uma massa imigrante mediamente iletrada, o trabalho de Angelo Trento destaca que foi no período áureo da “grande imigração” que a imprensa étnica italiana mais se desenvolveu, âncora de uma transnacionalidade em ação.
Finalmente, é importante sinalizar que, além do valor da obra como o mais recente e mais aprofundado estudo sobre a história da imprensa italiana no Brasil, o livro se constitui como um recurso de pesquisa fundamental, terminando com um inventário cronológico completo e classificado por estado de mais de oitocentos periódicos em língua italiana publicados no país, onde se indica também a colocação arquivística de cada jornal.
Luigi Biondi – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), Departamento de História. Guarulhos, SP, Brasil. E-mail: luigi.biondi@uol.com.br
[IF]
Cavando direitos: as leis trabalhistas e os conflitos entre os mineiros de carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul (1940-1954) – SPERANZA (RBH)
SPERANZA, Clarice Gontarski. Cavando direitos: as leis trabalhistas e os conflitos entre os mineiros de carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul (1940-1954). Porto Alegre: Anpuh, Oikos, 2014. 295p. Resenha de: LONER, Beatriz Ana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.70, jul./dez. 2015.
Recentemente veio a público, como obra da Coleção Anpuh-RS, o livro de Clarice Gontarski Speranza sobre as lutas dos mineiros de carvão de Arroio dos Ratos e Butiá, no Rio Grande do Sul, em meados do século XX. O significativo, nesse livro, é que faz uma bem-sucedida aproximação entre o movimento operário dos trabalhadores do carvão e as demandas desses mesmos trabalhadores à Justiça do Trabalho, permitindo, nesse intercâmbio entre as duas dimensões, visualizar a forma como as leis trabalhistas eram percebidas e qual seu papel na luta coletiva e individual da categoria.
O livro é representativo de uma nova série de pesquisas acadêmicas, que, inspiradas no historiador inglês E. P. Thompson, procuram estudar as relações dos trabalhadores com as leis do trabalho promulgadas no período varguista e as formas como esses sujeitos tentaram se utilizar dos instrumentos legais em suas reivindicações.
Trata-se de um tema inovador, em termos do conhecimento histórico, inicialmente pelo tipo de trabalhador, pois o estudo dos mineiros no Rio Grande do Sul tem comparecido mais em pesquisas de cunho antropológico. Acrescenta-se que a união da análise do movimento reivindicatório tradicional de uma categoria, incluindo suas campanhas salariais, greves e mobilizações, com suas demandas frente à Justiça do Trabalho é tema ainda mais incomum, não só pela relativa novidade do uso desta última fonte, mas também porque os pesquisadores costumam estudar apenas um nível dessas reivindicações, ou as demandas trabalhistas ou aquelas baseadas na força autônoma dos trabalhadores.
Ao proceder diferentemente, Clarice descortina um amplo conjunto de relações entre os dois lados da luta dos mineiros, como o fato de que muitos acontecimentos e incidentes ocorridos durante as mobilizações eram, posteriormente, alvos de demandas à justiça pelos trabalhadores, os quais vinham buscar o que julgavam seus direitos não respeitados pelas empresas. Ou seja, ganhando ou perdendo no confronto, o próprio embate poderia gerar situações que implicavam descumprimento de outros direitos estabelecidos.
A autora faz o levantamento completo dos processos trabalhistas e das demandas na Justiça do Trabalho dessa categoria durante períodos extremamente importantes, como o Estado Novo e os anos de 1945 a 1964. Além de um levantamento quantitativo, há também o uso qualitativo de alguns processos, num demonstrativo abrangente das formas de utilização dessas fontes no trabalho de pesquisa.
Com respeito aos processos no interior da própria justiça, a autora avalia a importância, para a vitória ou derrota da ação trabalhista, do cumprimento do ritual processual, ou seja, da necessidade de cumprir todas as etapas do processo, por parte de reclamados e reclamantes. Segundo Clarice, a própria empresa perdeu ações, em alguns momentos, porque descuidou-se do encaminhamento do processo. Isso trouxe um aprendizado mútuo dos querelantes, com respeito a como apresentar as ações e como utilizar a Justiça do Trabalho, com ganhos de causa significativos em alguns momentos (para ambos os lados), graças ao manejo adequado das reivindicações e exposições dos motivos das queixas, justificativas ou recursos.
Ainda com respeito às relações entre uma forma e outra de luta, a autora se interroga sobre a diferenciação de sentenças de acordo com as peculiaridades de cada juiz, vislumbrando a existência de certo ethos comportamental, ou melhor, de um comportamento desejado, por parte de alguns juízes, em relação às greves e outras manifestações operárias.
Bem escrito e com estilo, o livro se constitui numa leitura agradável e um bom exemplo de uma nova safra de pesquisadores que tentam, a partir da visão sobre a relação entre justiça e trabalhadores apresentada por Thompson, estudar as relações desse setor do aparato legal do Estado com os atores sociais envolvidos, especialmente nos inícios da instituição da justiça trabalhista, ou seja, quando o próprio papel da justiça e seu impacto sobre os conflitos empregado-patrão ainda estavam sendo estabelecidos.
Clarice destaca que o Direito, para Thompson, seria “uma arena, onde se digladiam, permanentemente forças contraditórias; a possibilidade de vitória pontual das classes dominadas, a legitimação e o fortalecimento da dominação pela lei e a limitação do arbítrio dos dominantes” (p.38). Para a autora, “o direito evidencia-se assim, como um campo complexo onde se travam batalhas com repercussões importantíssimas em outros âmbitos sociais e não deve ser entendido numa perspectiva reducionista, que não ilumine as diversas possibilidades dadas pelas variadas esferas da lei, em especial sua constituição formal e sua aplicação prática” (p.38).
Justamente esse aspecto ambíguo de sua regulação e domínio pelo Estado, com influência do empresariado, embora seja também instrumento passível de utilização pelos trabalhadores na sua busca por direitos, é um dos aspectos mais fascinantes do uso desses acervos trabalhistas. Vencendo a complexa e aborrecida forma ritual desses instrumentos legais e adicionando a eles boa dose de conhecimento extraprocessual do contexto, Clarice consegue ler nas entrelinhas e captar dados que servem também para buscar indícios da solidariedade (ou não) entre os operários, de suas relações com os patrões e, principalmente, capatazes, e do que esperavam da justiça. Elucida, também, as estratégias e táticas utilizadas pelos patrões, as quais, frequentemente, lhes permitiam vantagens, mesmo nas reivindicações em que o direito do empregado era certo, como a prática de fazer acordos informais. Com a desistência do processo, o empregado recebia rapidamente, mas valor monetário menor do que lhe caberia por direito.
A pesquisa de Clarice Speranza consegue também visualizar outros temas, como a importância das mulheres dos mineiros no contexto das lutas dessa categoria, ao descrever sua participação nas iniciativas dos maridos ou companheiros. Afinal, seu emprego era a garantia de sustentação do próprio projeto de família operária e de sua permanência na cidade, a qual poucas oportunidades oferecia fora da empresa. A garantia do emprego e o nível de remuneração salarial eram, aí, um problema mais familiar e comunitário do que em outras regiões.
Não deixa a autora de assinalar o poder de pressão da empresa sobre seus trabalhadores e a própria justiça, especialmente durante o período de maior controle representado pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, sob a ideia de que o trabalhador mineiro não podia faltar ao serviço, pois era considerado como um “soldado” na “batalha da produção”.
Com respeito à autonomia e ao significado da justiça e das sentenças, pode-se entrever que, se houve juízes que conseguiram manter certa coerência em seus julgamentos e sentenças, por outro lado houve aqueles que buscaram intervir no ambiente de trabalho e condicionar os trabalhadores ao uso de formas apenas moderadas de reivindicações, especialmente durante a análise dos processos que foram impetrados para julgar comportamentos ocorridos durante a greve. Ou seja, havia um ethos jurídico social ao qual juízes e advogados queriam condicionar os trabalhadores. Estes, por sua vez, não queriam abrir mão de seus instrumentos tradicionais – os quais a própria autora demonstra serem mais eficazes que a justiça – em suas lutas.
Dessa forma, se o aprendizado é inerente ao contexto, é constante também a dialeticidade das relações entre os vários agentes que vivem do – e ao redor do – trabalho nas minas. Apesar das novas possibilidades abertas com o apelo à Justiça do Trabalho, transparece o fato de que as maiores vitórias da categoria ocorreram fora, por meio de greve e de ações ativas a favor de suas reivindicações, deixando para a justiça determinar os dados secundários dessas ações, ou seja, as sequelas que aparecem em função da realização da greve e da forma como esta mexe com os ânimos tanto de empregados, quanto de seus superiores, em termos de direitos e deveres respeitados ou não.
Se as formas de comportamento das partes envolvidas frente ao aparato legal da justiça trabalhista foram tão detalhadas nesse livro, o sentido foi o de trazer a público formas normalmente insuspeitadas, mas possíveis, de tratar com esses materiais jurídicos e que podem, portanto, servir de estímulo para futuras pesquisas. Mas o livro não se limita a esses acervos, pois também utiliza entrevistas com os trabalhadores e consultas à documentação da empresa, o que permite apresentar um panorama razoável do que seria a vida nas comunidades mineiras gaúchas e sua dependência intrínseca das empresas e do trabalho minerador.
Enfim, o livro de Clarice deve ser lido por todo pesquisador do trabalho que procure se basear nos métodos thompsonianos de análise, como prova de um trabalho cuidadoso, perspicaz e valioso, na perspectiva tanto de demonstração da utilidade da pesquisa nessas fontes, quanto da compreensão das lutas desse setor da classe operária brasileira, os mineiros de carvão.
Beatriz Ana Loner – Universidade Federal de Pelotas (UFP). Pelotas, RS, Brasil. E-mail: bialoner@yahoo.com.br.
[IF]The Country of Football: Politics, Popular Culture, and the Beautiful Game in Brazil – FONTES; HOLLANDA (RBH)
FONTES, Paulo; HOLLANDA, Bernardo Buarque de. The Country of Football: Politics, Popular Culture, and the Beautiful Game in Brazil. London: Hurst & Company, 2014. 274p. Resenha de: CORNELSEN, Elcio Loureiro. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.35, n.70 jul./dez. 2015.
O “país do futebol” – muito se escreveu e se alimentou esse mito nas últimas quatro décadas, dentro e fora do Brasil. Nesse sentido, The Country of Football oferece ao leitor um percurso pela história do futebol brasileiro, de seus primórdios aos dias atuais, percurso esse pavimentado por contribuições de vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
Na introdução intitulada “The Beautiful Game in the ‘Country of Football'” (p.1-16), os historiadores Paulo Fontes e Bernardo Buarque de Hollanda, organizadores da obra, ressaltam que o Brasil continua a ocupar uma posição de destaque no cenário internacional, quando o assunto é futebol. Pela trajetória vitoriosa, coroada pela conquista de cinco títulos mundiais, a expressão “Country of Football” teria se tornado “nossa própria metáfora de Brasil” (p.2).1
O primeiro capítulo do livro, intitulado “The Early Days of Football in Brazil: British Influence and Factory Clubs in São Paulo” (p.17-40), da socióloga Fátima Martin Rodrigues Ferreira Antunes, versa sobre os primórdios do futebol brasileiro. De início, a autora chama a atenção para o fato de que o football já era praticado como atividade física na década de 1880 em escolas religiosas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa nova modalidade adotada pela elite logo despertaria o interesse também de membros das classes operárias, o que culminaria com a formação dos chamados “clubes de várzea” e, sobretudo, de clubes de fábricas, num primeiro passo rumo à popularização.
No capítulo seguinte, intitulado “‘Malandros’, ‘Honourable Workers’ and the Professionalisation of Brazilian Football, 1930-1950” (p.41-66), o historiador norte-americano Gregory E. Jackson enfoca o período de profissionalização do futebol brasileiro a partir de 1933. De acordo com esse autor, sob o jugo autoritário, o futebol representou “uma ferramenta pedagógica para construir cidadãos eugenicamente aptos e culturalmente ortodoxos” (p.43). No contexto da Era Vargas, “o jogo e a cultura do futebol apresentaram um tropo para as críticas da suposta democracia racial do Brasil” (p.61), e encontraram no sociólogo Gilberto Freyre e no jornalista Mário Filho dois pensadores fundamentais na construção do discurso em torno do “mulatismo” como traço de um suposto estilo brasileiro de jogar.
O terceiro capítulo, “Football in the Rio Grande Do Sul Coal Mines” (p.67-85), da antropóloga Marta Cioccari, dedica-se ao estudo de um caso específico: investigar “a importância social e o simbolismo da classe trabalhadora como expressos na vida de mineiros e ex-mineiros de carvão no município de Minas do Leão, no Rio Grande do Sul” (p.67). Trata-se de uma pesquisa etnográfica realizada pela autora, que residiu no período de setembro de 2006 a fevereiro de 2007 em Minas do Leão, uma pequena localidade com cerca de 8 mil habitantes, cuja fonte de renda principal é a mineração. Segundo a autora, o futebol desempenha papel importante no cotidiano do município, onde os primeiros clubes criados por trabalhadores das minas foram fundados nas décadas de 1940 e 1950 (p.69).
No quarto capítulo, “‘Futebol De Várzea’ and the Working Class: Amateur Football Clubs in São Paulo, 1940s-1960s” (p.87-101), o historiador Paulo Fontes destaca a relevância do futebol de várzea como forma de lazer, especialmente em bairros operários das grandes cidades brasileiras. Segundo o autor, “para muitos, o fervor dos torcedores e o sentimento de apego entre os clubes locais e suas comunidades fazem do futebol amador, do futebol ‘real’, herdeiro do que há de melhor nas tradições do futebol brasileiro” (p.88). Tais clubes eram autênticos centros de lazer que integravam diversas atividades para além do futebol, atraindo, assim, amplos segmentos da comunidade em que se localizavam.
O quinto capítulo, “The ‘People’s Joy’ Vanishes: Meditations on the Death of Garrincha” (p.103-127), do antropólogo José Sergio Leite Lopes, apresenta uma “etnografia do funeral” (p.103) de Manuel Francisco dos Santos, mundialmente conhecido como Garrincha. “Uma canção de gesta medieval” (p.108): assim define o antropólogo a intenção de cronistas esportivos, em jornais publicados logo após a morte do ex-jogador, em atribuir sentido épico à carreira de Garrincha, marcada por triunfo e fama no esporte, graças à extrema habilidade em driblar os adversários que o tornou uma figura legendária, não obstante a fase de decadência e a morte trágica, praticamente esquecido, vítima do alcoolismo, em Bangu, no subúrbio do Rio.
No sexto capítulo, “Football as a Profession: Origins, Social Mobility and the World of Work of Brazilian Footballers, 1950s-1980s” (p.129-146), o historiador francês Clément Astruc investiga o testemunho de 43 ex-jogadores que atuaram na seleção brasileira entre 1954 e 1978, no intuito de refletir sobre a real capacidade do futebol como meio de ascensão social da classe trabalhadora. Vários entrevistados foram taxativos ao afirmar que a sociedade, em geral, não via com bons olhos o jogador de futebol, por não considerar sua prática uma profissão. Ao invés disso, termos depreciativos lhes eram atribuídos, como, por exemplo, “vagabundo”, “malandro” ou “safado” (p.133).
No sétimo capítulo, “Dictatorship, Re-Democratisation and Brazilian Football in the 1970s and 1980s” (p.147-166), o antropólogo José Paulo Florenzano enfoca o impacto da ditadura civil-militar (1964-1985) sobre o âmbito do futebol brasileiro e estabelece “um contraponto entre a ‘utopia autoritária’, forjada no contexto de militarização, e a República de Futebol, fundada no contexto da redemocratização” (p.148). A militarização do esporte com fins de propaganda teve várias facetas. Mas, como bem aponta o antropólogo, não faltaram vozes no âmbito do futebol para se rebelar contra esse status quo, em busca de uma democratização de seu meio profissional e, igualmente, da sociedade como um todo.
O oitavo capítulo, “Public Power, the Nation and Stadium Policy in Brazil: The Construction and Reconstruction of the Maracanã Stadium for the World Cups of 1950 and 2014” (p.167-185), do historiador Bernardo Buarque de Hollanda, versa sobre a construção do Estádio do Maracanã para a Copa de 1950 e estabelece uma comparação com a sua reconstrução no contexto da organização da Copa de 2014. Nesses dois momentos, houve uma mudança sensível em relação ao público torcedor: enquanto em 1950 havia uma política inclusiva, até mesmo por se tratar de uma época em que a televisão ainda estava ausente das transmissões, nos anos 2000, com as diretrizes da FIFA e uma maior midiatização, passa a vigorar uma política de exclusão, no espaço dos estádios, de segmentos populares da sociedade, impossibilitados de arcar com os altos preços dos ingressos.
Por fim, o nono capítulo, “A World Cup for Whom? The Impact of the 2014 World Cup on Brazilian Football Stadiums and Cultures” (p.187-206), do geógrafo norte-americano Christopher Gaffney, propõe uma reflexão sobre o impacto da Copa de 2014 para os estádios e para a cultura no Brasil, examinando o desenvolvimento de projetos de construção de estádios e demais infraestruturas relacionadas ao esporte. Com extrema lucidez, o geógrafo conclui suas reflexões com um quadro nada otimista: “Esses processos têm o potencial de alterar, permanentemente, um elemento essencial da identidade cultural brasileira. Ironicamente, é o peso cultural do futebol como criado e sustentado pelo ‘povo’ que tornou possível sua potencialidade de venda no mercado global” (p.206). Afinal, não devemos nos esquecer de que, feito uma Medusa, o capital petrifica tudo aquilo que toca.
Nota
1 As traduções de trechos citados são de nossa autoria.
Elcio Loureiro Cornelsen – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários. Belo Horizonte, MG, Brasil. E-mail: cornelsen@letras.ufmg.br
[IF]
Aprendizaje social y personalizado: conectarse para aprender – JUBANY I VILLA (I-DCSGH)
JUBANY I VILA, J. Aprendizaje social y personalizado: conectarse para aprender. Barcelona: UOC (Educación y Sociedad Red), 2012. Resenha de: HERNÁNDEZ ORTEGA, José. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.80, p.76-77, jul., 2015.
Si nos preguntamos de quién, de dónde y cómo aprendemos, muchas veces la respuesta proviene de las conexiones establecidas en la red. (Jordi Jubany).
En esta obra se desarrolla una completa valoración del binomio educación y aprendizaje en múltiples contextos de la sociedad contemporánea.
Jordi Jubany rescata la perspectiva aristotélica del ser racional y social, así como la personal y emocional, en un análisis de las numerosas posibilidades en las que el uso de la tecnología contribuye a favorecer los procesos de comunicación en los entornos de enseñanza y aprendizaje.
Porque el lenguaje es precisamente el verdadero protagonista de un ensayo –excelentemente hilvanado– en el que se analiza la sociedad que más interacciones comunicativas ha realizado en la historia de humanidad.
El concepto de aprendizaje digital se desarrolla en torno a la aparición transgresora de las redes sociales. Dichas redes no son un objetivo sino el medio sobre el que docentes y discentes crean su entorno comunicativo y lo extrapolan a su mundo académico (y viceversa).
Los vínculos que se crean entre comunicación e información con los usuarios de redes sociales (profesionales y educativas) aumentan proporcionalmente en relación con las comunicaciones y los intereses que los unen. Jubany proporciona una interesante perspectiva de las principales redes de interacción entre docentes.
Sin limitarse a las interactivas, da importancia también a las que no se gestionan a través de la tecnología sino mediante el cara a cara de sus usuarios. El cambio generado entre los vínculos que se establecen entre los usuarios y el conocimiento derivado de ello alimenta la idea de transformación de dónde y cómo se aprende. En una perspectiva diacrónica, hemos sido testigos de la evolución desde los entornos virtuales de aprendizaje, como software educativo, al entorno personal de aprendizaje, como red de aprendizaje en la que el individuo es consciente de qué, cómo y para qué aprende, basándose en la reflexión del proceso de aprendizaje.
En la evolución de los nuevos procesos de aprendizaje asistimos también a un cambio del paradigma de aprendizaje y enseñanza en los roles docentes y discentes. Aprender ya no es un proceso unidireccional, sino que, como afirma Jubany, ha cambiado hacia una perspectiva poliédrica. Cada persona establece jerárquicamente los elementos constitutivos de su red de aprendizaje.
El ser tecnológicamente social es una metamorfosis de la identidad digital del individuo en un constante proceso de alfabetización cultural y digital.
La adquisición de conocimiento no está vinculada a la posesión de elementos tecnológicos ni a la asistencia pasiva a una clase magistral, sino a la consciencia de la potencialidad de los actos que conlleva aprender y de cuantos elementos inherentes a ello: adquisición de competencias básicas y desarrollo de inteligencias múltiples, reflexión constructiva a través de portfolios, colaboración y cooperación, etc. Es precisamente el marco colaborativo el que está proporcionando una nueva configuración de las estrategias de aprendizaje, encabezadas por las teorías del conectivismo de George Siemmens y que tienen como principales exponentes metodológicos la resolución y estudio de casos (CBL), el aprendizaje basado en problemas o proyectos (PBL) o el coaching educativo del escenario centrado en el currículo (SCC).
La formación cognitiva del ser, curricular y digital, responde a la necesidad social de ser competentes en un tiempo y un espacio mutables y céleres.
El aprendiz lo es durante toda su vida, algo equiparable a aprender a comunicar. En un postrer bloque destinado al binomio de competencias audiovisuales y lingüísticas, se hace imprescindible que el individuo no tan solo adquiera los mecanismos para comunicarse en un entorno digital, sino que también los centros educativos contribuyan a que sus alumnos sigan un itinerario a través de los planes lingüísticos de centro. El consumo de lecturas y la producción de textos escritos en un único formato y soporte han dado lugar a procesos en los que no únicamente se consumen lecturas, ya que el alumno se convierte en lector productor. Como se ha señalado previamente, el aprendizaje basado en proyectos contribuye a la creación de textos multimodales, donde el texto adquiere múltiples formas (texto, vídeo, fotografía, audio, dibujos, redes sociales, etc.) que originan nuevos métodos discursivos y adecuan los ya existentes.
Como se puede comprobar en un análisis horizontal, Jubany muestra que los lenguajes empleados por los alumnos constituyen uno de los mayores procesos de producción y crecimiento cualitativo de la comunicación humana. La lectura es un proceso que no se entiende sin la escritura y sin la escritura digital. Sin ésta no se concebiría que la lectoescritura digital sea la manifestación comunicativa más trasgresora, prolífica y cuantitativa de la época contemporánea.
Los docentes tenemos la responsabilidad de guiar y orientar en el uso cualitativo de la comunicación digital a nuestros alumnos, tanto en aspectos lingüísticos como en cuanto a la responsabilidad de sus producciones en la Red.
La perspectiva que sostiene Jubany es, como indica el pedagogo Pere Darder en su prólogo, una relación permanente entre razón, emoción y acción como base de la identidad personal, y al mismo tiempo una interdependencia entre los demás, el entorno y yo como condición para llegar a ser humanos. En este contexto, el análisis realizado constituye una referencia ineludible para entender qué supone enseñar, aprender y relacionarse en la sociedad de la hiperconectividad.
José Hernández Ortega – E-mail: pep.hernandez@gmail.com Acessar publicação original
[IF]Ensino de História, Cidadania, Cultura e Identidades / História e Diversidade / 2015
História e Diversidade: Ensino de História, Cidadania, Cultura e Identidades
É com grande satisfação que apresentamos o sétimo volume da Revista História e Diversidade, do curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – Campus de Cáceres que tem como objetivo a constituição de um espaço de divulgação de pesquisas e reflexões sobre História e Diversidade, priorizando a publicação de artigos que versam sobre História, Ensino de História, Diversidade Cultural, Formação e Prática Docente.
Este volume apresenta o Dossiê intitulado História e Diversidade: Ensino de História, Cidadania, Cultura e Identidades que é composto por duas seções: 1) Ensino de História, Patrimônio e Diversidade, que tem como foco principal a dinâmica entre o ensino de história, diversidade, e direitos sociais; e 2) Teoria da História, Capital e Diversidade, que articula artigos com reflexões sobre a construção do conhecimento histórico, o setor elétrico brasileiro, e uma discussão de gênero a partir da personagem Laura de Vison.
O artigo de abertura intitulado “Entre muitos ‘outros’: ensino de história e integração latino-americana”, de autoria de Juliana Pirola da Conceição, Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, tem como objetivo analisar de que maneira o ensino de história influencia a prática cotidiana dos indivíduos, em especial a relação entre o ensino da América Latina e a integração entre os latinos americanos. Para tanto, teve como objeto de estudo específico um conjunto de entrevistas realizada com 73 jovens, de duas escolas públicas da região central da cidade de São Paulo, desse universo de jovens, 6 eram bolivianos, o que potencializa a contribuição do seu recorte analítico.
O segundo artigo “As decisões do Tribunal Superior do Trabalho como instrumento para o ensino dos Direitos Sociais: a formação de um banco de dados”, elaborado por Alisson Droppa (Doutor em História pela Unicamp) e Magda Barros Biavaschi (Doutora em Economia pela Unicamp), tem como objetivo apresentar o banco de dados das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que teve como área de jurisprudência a terceirização, com o propósito de pensar na constituição de documentos para o ensino dos direitos sociais e da luta pela construção do direito e da cidadania no Brasil.
O terceiro artigo “A importância do ensino de história para a reflexão do tempo presente: o conceito de estranhamento e seu potencial para um inconformismo sadio” de Filipe Cambraia do Canto, graduado em História, é um relato e uma reflexão sobre a prática docente, a partir da experiência com o desenvolvimento do estágio, em que ministrou 24 aulas para o Ensino Médio. Os questionamentos e interesses dos estudantes possibilitaram indagações, procurando estabelecer conexões com o tempo presente, o ensino de história, e a desnaturalização dos objetos, possibilitando a problematização da realidade dos alunos do Ensino Médio, como ponto de partida para o fazer histórico em sala de aula.
O quarto artigo “Territórios negros: patrimônio, diáspora e tempo” elaborado por Gabriel Gonzaga, estudante da licenciatura em História da UFRGS, teve como objetivo questionar a noção temporal que norteou a construção de algumas práticas no interior do projeto patrimonial “Territórios Negros: Afro-brasileiros em Porto Alegre”, procurando estabelecer relações transversais entre a cultura afro-brasileira e o ensino de história.
O quinto artigo, o primeiro da segunda seção desse dossiê, intitulado “O sentido da História: entre metanarrativas e particularidades”, de Paulo Robério Ferreira Silva, Mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, propôs reflexões sobre o fazer histórico, sobretudo sobre os questionamentos provenientes da consideração de que o conhecimento histórico é uma modalidade do discurso. Diante desse questionamento, procurou estabelecer conexões para o conhecimento histórico, em que se destaca os elos da generalização e da especificidade.
O sexto artigo, “A “ética” da concorrência: concentração de capital no setor elétrico brasileiro – 1900 / 1950”, de Marcelo Squinca da Silva, Doutor em História pela PUC São Paulo, discutiu a postura de alguns empresários frente ao processo de urbanização do Brasil, em especial a superação da demanda da energia elétrica, o que evidenciou a postura conservadora da burguesia empresarial, que foi gestada dependente e subordinado ao Estado.
O sétimo artigo, “Laura de Vison: um(a) artista de nossos tempos de discussão sobre gênero”, de Walace Rodrigues, Doutor em Humanidades pela Universiteit Leiden (Holanda), a partir da apresentação da personagem Laura de Vison, sobre o seu trabalho performático nos anos 1980 e 1990, no cenário gay do Rio de Janeiro. O autor propõe uma historiografia das personalidades históricas LGBT brasileiras. Além do dossiê, este número da Revista História e Diversidade, publica ainda cinco artigos extras e uma resenha.
O primeiro artigo intitulado “Entre guerras “justas” e “injustas”: jogos de interesses no hinterland de Benguela e a produção de cativos (século XVIII), de Bruno Pinheiro Rodrigues, Doutor em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, apresenta uma análise do quadro de alianças formado no hinterland de Benguela, um dos maiores portos exportadores de cativos para a América portuguesa durante o século XVIII e início do XIX, e uma reflexão sobre a construção da legitimidade de uma guerra “justa”, a partir dos arranjos políticos e alianças com chefes locais.
O segundo artigo, “Relações entre Museus e Cidades: experiências de professores de história no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte- MG”, de Jesulino Lucio Mendes Braga, Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, aborda a relação entre o Museu de Artes e Ofícios (MAO) e a cidade de Belo Horizonte a partir de uma pesquisa feita com professores de história que fazem uso educativo da exposição museal. A análise considera as experiências e as narrativas que os docentes produzem no contato com a exposição. Os docentes elaboram significados para as ações de ensino com o uso da exposição do MAO e apontam as potencialidades de usos dos espaços da cidade para a educação.
O terceiro artigo, “As cadeias no Mato Grosso do século XIX: um olhar sobre o cárcere”, de autoria de Patrícia Figueiredo Aguiar, doutoranda em História pela Universidade Federal de Uberlândia, realiza uma análise sobre as circunstâncias em que se estabeleciam as cadeias na primeira metade do século XIX na província de Mato Grosso.
O quarto artigo denominado “Práticas de esporte, educação física e educação moral e cívica na Ditadura Militar: uma higiene moral e do corpo”, de Reginaldo Cerqueira Sousa, doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná, analisa as formas de legitimação do regime autoritário por meio da análise dos manuais e Educação Moral e Cívica e das práticas esportivas nos espaços de educação de jovens e o processo de constituição de uma espécie de pedagogia moral e do corpo viabilizado, principalmente, pela reestruturação do ensino por meio de reformas na educação, de programas e de projetos educacionais em fi ns dos anos de 1960 e durante a década de 1970.
O quinto artigo, “O efeito Cólera em meio às mutações ideológicas do Punk brasileiro”, de Tiago de Jesus Vieira, doutorando em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, analisa dois álbuns da banda Cólera, como elementos interlocutores para explicitar o conturbado contexto da produção das identidades punk no decurso da década de 1980. A partir da análise dos álbuns, o estudo visa compreender como estes se inseriram no processo de “composição ideológica punk” no Brasil.
Por fim, a resenha organizada por Valdeci da Silva Cunha, doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, apresenta a obra de RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. 1ª edição. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
Desejamos que as leitoras e os leitores apreciem os artigos que compõem esse volume da revista História e Diversidade, se sintam encorajados a participar dos debates propostos e enviem contribuições para os próximos volumes.
Boa leitura!
Caroline Pacievitch
Halferd Carlos Ribeiro Júnior
Osvaldo Mariotto Cerezer
PACIEVITCH, Caroline; RIBEIRO JÚNIOR, Halferd Carlos; CEREZER, Osvaldo Mariotto. Apresentação. História e Diversidade. Cáceres, v.7, n.2, 2015. Acessar publicação original [DR]
Encheirídion de Epicteto – HIERÁPOLIS (RA)
HIERÁPOLIS, Epicteto de. Encheirídion de Epicteto. Introdução, Tradução e Comentários de Aldo Dinucci e Alfredo Julien. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014. Resenha de: MOREIRA,Valter Duarte. Revista Archai, Brasília, n.15, p. 169-170, jul., 2015.
Em Abril deste ano foi publicada pela Universidade de Coimbra a tradução comentada e anotada do Encheirídion de Epicteto, tradução que é fruto de um trabalho minucioso resultante da união de esforços de dois especialistas em história e filosofia clássicas, o doutor em história social Alfredo Julien (USP) e o doutor em filosofia Aldo Dinucci (PUC-RJ).
Epicteto, Frígio, de Hierápolis, liberto de Epafrodito (um dos guarda-costas do imperador Nero), influente filósofo estoico no século I d.C., ministrava aulas em Nicópolis. Segundo fontes clássicas, Epicteto nada teria escrito, mas seu pensamento nos chegou por um de seus alunos, Flávio Arriano Xenofonte, que compilou suas aulas e as transformou em oito livros, as Diatribes, das quais nos chegaram apenas as quatro primeiras e, delas, uma síntese do pensamento estoico, o Encheirídion, a partir da qual, aqueles já familiarizados com os princípios teóricos dessa escola poderiam usar como uma ferramenta sempre à mão quando fosse necessário aplicar seus ensinamentos. Embora não tendo sido escritas por Epicteto, a tradição atribui tais obras à sua autoria.
A obra em questão há alguns anos recebe a atenção concentrada desses dois pesquisadores. Efetivamente, em 2007, Aldo Dinucci publicou Manual de Epicteto: aforismos da sabedoria estoica (São Cristóvão, EdiUFS), uma edição de divulgação contendo uma tradução preliminar com introdução e notas. Esta obra teve nova edição em 2008. Neste mesmo ano, Aldo Dinucci e Alfredo Julien uniram-se para traduzir os fragmentos epicteteanos (Epicteto: testemunhos e fragmentos. Aldo Dinucci; Alfredo Julien (Org.). São Cristóvão: EdiUFS, 2008 1). Após receber financiamento do CNPq, a mesma equipe trabalhou na edição bilíngue da obra, com publicação em 2012 (Encheirídion de Epicteto, edição bilíngue. São Cristóvão, EdiUFS: 2012 2). Notícia dessa publicação foi veiculada pela revista eletrônica de filosofia Crítica na Rede 3. No mesmo ano, juntamente com essa obra, tivemos a publicação da terceira edição da versão de divulgação, contendo a nova tradução, agora intitulada: Introdução ao Manual de Epicteto (São Cristóvão: EdiUFS, 2012 4). Uma versão compacta desta tradução foi também publicada pela revista de filosofia clássica Archai 5. Desses esforços somados, resultou a publicação de que ora nos ocupamos, que contém uma tradução burilada ao extremo, além de estar repleta de notas de esclarecimento acerca dos termos técnicos utilizados pelo estoicismo, bem como de eventos históricos e personagens (históricos ou míticos) citados na obra e de temas relevantes para o entendimento da obra.
Essa tradução é constituída de uma introdução, na qual consta uma Nota biográfica sobre Epicteto, Epafrodito e Musônio, indicando as referentes fontes de informação. Em segundo lugar, encontra-se uma seção intitulada A quem se destina e para que serve o Encheirídion de Epicteto, onde são esclarecidas algumas questões fundamentais sobre as práticas do estoicismo.
Na seção seguinte estão informações sobre a Recepção e transmissão do Encheirídion de Epicteto: da era bizantina aos nossos dias, capítulo igualmente rico em detalhes quanto às fontes, no qual constam evidências textuais da importância e relevância que a obra alcançou no decorrer do tempo, seguido de uma breve seção intitulada Sobre a divisão em capítulos do Encheirídion de Epicteto, expondo os critérios tomados pelos principais pesquisadores e tradutores desta obra em todo o mundo, quando seguem ou não a tradição e por qual razão.
Na seção seguinte, há informações substanciais acerca de como o estabelecimento do texto grego desta obra foi fundamental para balizar posteriores estudos epicteteanos. Em tal capítulo, apontam-se quais autores foram responsáveis por esse trabalho e qual o ano de publicação de suas obras. Um dos principais foi Boter que, para estabelecer o texto grego do Encheirídion, baseou-se (i) nos códices que contêm o texto do Encheirídion, (ii) nos códices que contêm o Comentário de Simplício, (iii) nos títulos contidos em alguns códices do Comentário de Simplício, (iv) nos títulos suplementares contidos em alguns códices do Comentário de Simplício, (v) nos trechos das Diatribes, dos quais Arriano fez sínteses que adicionou ao Encheirídion, (vi) nas citações do Encheirídion feitas por autores antigos de séculos posteriores e (vii) nas três paráfrases cristãs. Segundo esse autor, existem exatos 59 códices contendo o Encheirídion, e nenhum deles é anterior ao século XIV. Aqueles que contêm as paráfrases cristãs são bem mais antigos, datando alguns dos séculos X e XI.
Após trinta e três páginas de contextualização e esclarecimentos necessários para a leitura da obra, passa-se à tradução propriamente dita, seguida de uma extensa bibliografia acerca do estoicismo e da obra referida. Ao final da obra o livro dispõe de um Index Locorum e de um Index Rerum, seguidos de uma bibliografia complementar intitulada Textos Gregos, indicando as principais obras de autores como Plutarco e Xenofonte, por exemplo.
Esta obra de Epicteto, além de ser de suma importância para a compreensão do estoicismo imperial, também é fonte para o resgate do estoicismo antigo, uma vez que Epicteto, por lecionar o estoicismo, e não somente o praticar, descreveu diversos conceitos estoicos à luz de Crisipo de Sólis (280-208 a.C.), escolarca e principal sistematizador do estoicismo velho (300-129 a.C.).
Além de ser traduzida com muita precisão, essa obra é cuidadosamente anotada, o que a transforma em fonte de grande utilidade para os pesquisadores em estoicismo.
A obra pode ser comprada no seguinte link: https://lojas.ci.uc.pt/imprensa product_infophp?cPath=71_73&products_id=690. Além disso, a Classica Digitalia disponibiliza a obra em pdf para download gratuito no link a seguir: https://bdigitalsib.uc.pt/jspui/handle/123456789/171.
Notas
1 Disponível em: http://seer.ufs.br/index.php/prometeus/issue/ view/107
2 Disponível em: http://seer.ufs.br/index.php/prometeus/issue/ view/112
3 “O punhal de Epicteto”. Disponível emm: http:// criticanarede.com/encheiridion.html
4 Disponível em: http://seer.ufs. br/index.php/prometeus/issue/ view/111
5 Dinucci, A.; Julien, A. (1912), “O Encheirídion de Epicteto”. Archai, Brasília, n.9, p. 123-136. D isponível em em: http://seer.bce.unb.br/index.php/archai/article/ view/7657/6588
Valter Duarte Moreira – Universidade Federal de Sergipe – Sergipe, Brasil – valtermoreira2@gmail.com
Libero arbitrio. Storia di una controversia filosófica – DE CARO et al (RA)
DE CARO, M.; MORI, M.; SPINELLI, E. (Eds). Libero arbitrio. Storia di una controversia filosófica. Roma: Carocci, 2014. Resenha de: MAZZETTI, Manuel. Revista Archai, Brasília, n.15, p. 165-167, jul., 2015.
Ii problema del libero arbitrio ha ricevuto un’attenzione costante durante la storia della filosofia, dall’antichità fino ai nostri giorni. Il volume curato da De Caro, Mori e Spinelli offre una panoramica esauriente sulle modalità con cui il tema è stato affrontato nell’intera storia della filosofia. Con ciò non si deve intendere che vi sia stato, in un arco temporale che supera i due millenni, un solo problema del libero arbitrio: come premettono i curatori, la peculiarità di questo tema rispetto ad altre questioni che solcano l’intero cammino della storia della filosofia è quella di aver ricevuto non soltanto una miriade di diverse risposte, ma anche una serie di formulazioni diverse: libero arbitrio in relazione ora alla volontà, ora all’azione; avversario del determinismo o compatibile con esso; minacciato da fattori fisici (le leggi naturali; il fato), teologici (la provvidenza), logici (il problema della verità delle affermazioni sul futuro); e così via. L’esigenza ermeneutica di cogliere il problema nella formulazione specifica di ogni epoca storica in cui viene affrontato è tanto più cogente quanto più si risale indietro nel tempo: i capitoli riguardanti la filosofia antica, che considereremo in questa sede, si impegnano pertanto a fornire una ricostruzione, per quanto possibile, fedele ai testi in nostro possesso, senza proiettarvi illecitamente schemi mentali tipici della contemporaneità.
Nel primo capitolo Franco Trabattoni ripercorre la teoria platonica della libertà umana – che trova la sua più celebre e felice esposizione nel mito di Er della Repubblica – considerata come antitetica sia alla visione «pessimistica”dell’epica e degli autori tragici, secondo la quale l’uomo, per quanto si sforzi di impiegare al meglio la sua razionalità per perseguire la virtù, resta in ultima analisi soggiogato alla volontà arbitraria e insondabile degli dèi, che possono manovrarlo e ingannarlo a loro discrezione; sia alla tesi, di matrice soprattutto eraclitea, per cui l’agire umano, anche quando si affranchi dall’influenza degli dèi, resta ugualmente condizionato tanto dalla necessità interna costituita dal suo carattere e dai suoi desideri, quanto dai processi naturali, in cui le cicliche trasformazioni degli elementi sono regolate dal destino. Com’è noto, Platone risponde che ciascuna anima, prima della nascita, ha avuto la possibilità di scegliere il proprio demone, e che pertanto la responsabilità delle azioni che da esso conseguono non è della divinità, bensì dell’uomo stesso. Seppur libera, la scelta prenatale sembra tuttavia condizionare in toto le future azioni di chi l’ha compiuta, e ciò contrasta con l’intento pedagogico di plasmare e modificare il carattere, perseguito in altri luoghi della Repubblica stessa. Trabattoni osserva che «formalmente parlando» (p. 19) questo problema risulta «inaggirabile», ma insiste anche sulla necessità di stemperare l’apparente gravità di tale incoerenza tenendo presente il carattere metaforico e polemico dell’intero mito di Er: in quanto mito, esso è una rappresentazione approssimativa della realtà a cui si riferisce. Nella parte finale del capitolo, l’autore si impegna a ricostruire in cosa consista, di fatto, la libertà difesa negli scritti platonici: premesso che il fine della vita umana non può essere scelto, in quanto consiste per natura nel raggiungimento della felicità, la libertà deve riguardare la scelta dei mezzi adeguati a perseguire quel fine. La conseguenza, solo apparentemente paradossale, di questa tesi è che la libertà non consiste affatto nella possibilità di scegliere in modo arbitrario e indiscriminato ciò che si vuole: se, per esempio, al piccolo Liside del dialogo omonimo non venisse proibito di guidare il carro del padre, ed egli fosse perciò del tutto libero di farlo, ciò non contribuirebbe affatto alla sua felicità, bensì alla sua rovina. In tal senso, una libertà totale riguardo ai mezzi coincide con l’ignoranza: l’esito di questa riflessione sembra essere, pertanto, che minore è la libertà riguardo ai mezzi, ovvero le alternative fra cui è auspicabile scegliere, maggiore è la libertà di poter ottenere il fine.
Nel secondo capitolo Carlo Natali raccoglie innanzitutto i passi delle opere di Aristotele più significativi per ricostruire il suo pensiero sul libero arbitrio: la lettura diretta dei testi è, qui più che altrove, necessaria per offrire un quadro obiettivo della posizione aristotelica, poiché essa è stata oggetto, dall’antichità fino ad oggi, di interpretazioni disparate e spesso fra di loro contraddittorie. È noto infatti che gli scritti dello Stagirita enfatizzano in molti luoghi la contingenza di tutto ciò che riguarda il mondo sublunare (che può essere o non essere, e in cui gli eventi si verificano «per lo più», ma ammettono eccezioni), e la responsabilità dell’uomo per una classe di azioni che dipendono da lui, cioè non sono forzate da agenti esterni. I Peripatetici antichi interpretarono queste asserzioni in senso indeterministico, ma sono possibili altresì letture di stampo deterministico, e non si può neppure escludere che Aristotele non si fosse affatto posto il problema. I due punti problematici su cui si è incentrato il dibattito contemporaneo, messi in luce da Natali, sono la vaghezza del concetto di contingenza – che sembra riguardare più casi generici (l’acqua può bollire o meno), che le loro singole istanziazioni (in certe circostanze, per es. in presenza di una fonte di calore, l’acqua bolle necessariamente) – e soprattutto le ambiguità relative alla formazione del carattere: un agente è responsabile delle azioni che discendono dal suo carattere perché a lui è imputabile la formazione del carattere stesso; ma tale formazione è influenzata a sua volta da fattori esterni e culturali, e in ultima analisi non sembra perciò libera. Natali inclina per un’interpretazione cautamente indeterminista e conclude che Aristotele, pur non avendo impostato il problema in maniera del tutto rigorosa, rappresenta un momento importante nel dibattito sui rapporti fra libero arbitrio e determinismo.
In età ellenistica la questione assume un’importanza dirompente, benché – come osservano Emidio Spinelli e Francesco Verde, autori del capitolo sulle scuole ellenistiche – i termini in cui essa viene affrontata non debbano essere anacronisticamente sovrapposti a quelli del dibattito attuale, con cui pure presentano innegabili analogie. Il merito principale della sezione su Epicuro è quello di riportare l’attenzione sui frammenti del XXV libro dell’opera Sulla natura, oltre che sui più celebri passi in cui viene riferita la dottrina del clinamen: secondo Verde, quest’ultima sarebbe stata introdotta in una fase successiva alla redazione del XXV libro in cui infatti, stando almeno alle parti superstiti, non trova menzione alcuna. Nell’opera Sulla natura Epicuro avrebbe difeso la capacità della mente di potersi determinare autonomamente, nonostante la necessità dei moti degli atomi, non essendo totalmente soggetta ai condizionamenti esterni e a quelli della sua stessa struttura atomica. Con la successiva introduzione del clinamen, ovvero della possibilità degli atomi di deviare dalla propria traiettoria in un momento indeterminato spazio-temporalmente, Epicuro avrebbe offerto una spiegazione in termini fisici di quell’autonomia già precedentemente teorizzata. La seconda sezione del capitolo ripercorre sinteticamente i punti chiave della teoria degli Stoici, che costituiscono i deterministi par excellence dell’antichità. I presupposti che inducono ad ammettere che da ogni causa consegua inevitabilmente un solo effetto, e che il mondo costituisca una sorta di «rete”in cui infinite cause si intrecciano secondo modalità per lo più ignote all’osservatore umano, sono tuttavia di ordine metafisico ancor prima che scientifico: il cosmo è infatti, secondo gli Stoici, un intero le cui parti sono tutte correlate fra loro secondo un criterio razionale, sancito da un principio divino immanente al cosmo stesso. Spinelli ripercorre sinteticamente il diverso approccio con cui Cleante, Crisippo ed Epitteto si impegnarono a mostrare la compatibilità tra la loro fisica rigorosamente deterministica e, in campo etico, la responsabilità umana: al di là delle differenti formulazioni, la tesi comune è che le azioni provenienti dall’iniziativa umana, ancorché determinate in maniera univoca, siano tuttavia imputabili al soggetto agente, per il fatto stesso di provenire da facoltà a lui interne, e non da costrizioni esterne.
L’anello di congiunzione fra il terzo e il quarto capitolo è costituito da Carneade, di cui tuttavia vengono proposte due differenti letture: Spinelli e Verde insistono sugli aspetti scettici del pensiero di Carneade, ovvero sulla natura puramente dialettica delle sue critiche, vòlte a mostrare che ciascuna delle tesi contrastanti difese dalle scuole filosofiche è parimenti insoddisfacente; Trabattoni si appella invece all’appartenenza di Carneade all’Accademia per scorgere, dietro alle sue critiche, l’affermazione di una dottrina positiva di matrice platonica. La parte rimanente del quarto capitolo, curato sempre da Trabattoni, e l’intero capitolo successivo, curato ancora da Natali, sono dedicate a ricostruire le reazioni delle scuole dogmatiche – rispettivamente, l’Accademia e il Peripato – al determinismo stoico, tese a ritagliare uno spazio alla libertà dell’agire umano più ampio della mera provenienza da principî interni. Il cosiddetto «medio-platonismo”elaborò, sulla base del mito di Er, la dottrina del fato come legge condizionale, esprimibile nella forma: «se sceglierai una certa cosa, deriveranno certe conseguenze»; la scelta posta dall’apodosi è in nostro potere, e non è determinata dal fato, a cui sono imputabili invece gli esiti inevitabili che da essa scaturiscono. In Plotino e negli altri neoplatonici, invece, il problema del libero arbitrio è inquadrato nella prospettiva più schiettamente teologica del provvidenzialismo: la divinità agisce per il meglio e determina il ruolo che ciascun individuo riveste nel mondo; ma solo a l’individuo spetta il compito di recitare bene o male, come un buon o cattivo attore, la parte che la provvidenza gli ha assegnato. Infine, il Peripato, e in particolare Alessandro di Afrodisia, equiparava il fato alla natura individuale degli enti sublunari, ovvero a quel complesso di caratteristiche che, pur condizionando gli eventi con una certa regolarità, ammettono eccezioni.
In conclusione, il libro sul libero arbitrio, di cui abbiamo velocemente ripercorso le sezioni riguardanti la filosofia antica, ha il merito di fornire un quadro generale dell’approccio di ciascun autore o scuola filosofica alla questione, e nel contempo di dare una visione essenziale, ma precisa e aggiornata alla bibliografia più recente, degli aspetti problematici e delle più interessanti interpretazioni moderne.
Manuel Mazzetti – La Sapienza University of Rome – Roma, Itália – manmazze88@gmail.com
Aristotle’s Metaphysics Alpha: Symposium Aristotelicum – STEEL (RA)
STEEL, C (Ed). Aristotle’s Metaphysics Alpha: Symposium Aristotelicum. Oxford: Oxford University Press, 2012. Resenha de: LAKS, André. Revista Archai, Brasília, n.15, p. 157-163, jul., 2015.
Esta obra procede do 18° Symposium Aristotelicum ocorrido em 2008 em Louvain, no qual as primeiras versões de todos os ensaios, à exceção de um, foram apresentadas e discutidas. Certamente o primeiro livro da Metafísica de Aristóteles é, no mínimo, tão famoso quanto os demais, embora talvez seja o menos lido, se por “lido”se entende “lido por si mesmo”, em vez de ser utilizado pelas informações exclusivas que dispõe da aurora da filosofia grega e de Platão. Uma clara indicação disso é que, salvo a edição e comentário ainda indispensáveis de toda a Metafísica por Ross, não dispomos (tanto quanto eu saiba) de nenhuma obra específica dedicada ao Livro A – compare-se com o Gamma, os assim chamados livros centrais, Lambda, e mesmo o Beta. O presente volume que é o resultado de muita organização, muito trabalho e muitas discussões vem agora suprir esta falta de maneira significativa. Ele não constitui propriamente um “comentário contínuo”do Livro A. Primeiro, por haver onze comentadores (aproximadamente um para cada um dos dez capítulos, exceto o A9, que tem dois 1); segundo, porque nem todos os pormenores do texto aristotélico são discutidos (embora grande parte deles de fato o seja); e terceiro porque, como se espera de uma compilação, cada capítulo assume a feição de um ensaio e assim se mantém guiado por questões definidas ou por um conjunto de questões. No entanto, mesmo com essas particularidades, o volume transmite uma impressão de notável homogeneidade, especialmente por que (quase) todas as contribuições seguem a progressão do texto de Aristóteles seção a seção, com marcações adequadas e intertítulos. Uma tradução pessoal das passagens comentadas é frequentemente apresentada antes dos comentários propriamente ditos. Assim, o volume como um todo funciona efetivamente à maneira de um comentário polifônico (multi-voiced) e pode ser assim utilizado.
O capítulo 9 (sobre a concepção platônica de causa formal) revela um aspecto peculiar, seja do ponto de vista formal, seja em termos de conteúdos, e tem sido constantemente objeto de atenção específica pois, tomado em conjunto com o comentário de Alexandre, encerra o material básico para a reconstrução da crítica aristotélica à teoria das Formas de Platão. Neste caso, é especialmente útil – e agradável, dado o grau elevado de tecnicidade e especulação que se têm posto ao serviço da reconstrução de argumentos completa ou parcialmente perdidos – dispormos de duas contribuições (de Dorothea Frede e Michel Crubellier) que apresentam panorama claro e atualizado de todo o desenvolvimento, acompanhado de avaliação breve, mas razoável, de cada argumento. Visto que não se pode tratar deste capítulo desvinculado da sua retractatio e repetição parcial no livro M, M4-5 também merece alguma atenção.
Uma nova edição, por Oliver Primavesi, do texto da Metafísica A segue-se aos onze ensaios. Esta inserção, se comparada aos volumes anteriores da mesma série, representa uma inovação formal. Contribui para a unidade do volume, pois as decisões acerca do tratamento de problemas textuais no interior de cada trabalho refere-se sistematicamente ao texto e sigla de Primavesi, seja para indicar acordo ou discordância. Não obstante, pode-se avançar dois pontos de vista muito diferentes sobre semelhante inclusão. Por um lado, esta edição representa o primeiro passo rumo a uma nova edição da totalidade da Metafísica de Aristóteles, destinada a substituir a de Ross e a de Jaeger (cf. as stemmas de Primavesi para as diferentes partes da Metafísica p. 392ff.; para o Livro A- α 2, em que J desaparece, cf. p. 397). Por outro lado, constitui-se em uma contribuição específica ao volume, que é textualmente orientada, mas implica um número importante de problemas interpretativos.O tratamento apropriado do primeiro aspecto exigiria discussão extensa e técnica que não estou em condições de oferecer mais por razões de competência, do que pela natureza desta resenha. Mas no que se refere ao segundo aspecto eu diria que, embora a edição seja útil e estruturada com clareza (com uma introdução de 80 páginas, contendo a análise mais proveitosa das 23 passagens da Metafísica A), sua consulta não é propriamente fácil. O texto grego de Aristóteles está dividido em pequenas seções imediatamente seguidas pelo aparato crítico correspondente, interrompido pela numeração das linhas uma a uma e pela referência, antes de cada seção (de 987a6 em diante) ao assim chamado Textus de Averróis em seu Comentário à Metafísica de Aristóteles (cf. p. 400). E isso sem mencionar o aparato rico – demasiado rico, eu penso, para a finalidade do volume em questão e talvez até mesmo para uma edição da Metafísica em geral. Felizmente, a informação mais significativa a que os ensaios se referem sistematicamente, a saber, a questão de se uma determinada leitura pertence à assim chamada tradição- alfa ou à tradição- beta, pode ser facilmente compreendida graças ao uso das letras α e β em negrito, as quais o leitor também encontra em todas as contribuições.
O primeiro livro da Metafísica contém duas seções principais. A primeira (A1 e 2) esboça o quadro geral de determinada investigação, dedicada a uma área de pesquisa cujo objeto é definido posteriormente. Tal será a tarefa dos livros subsequentes, iniciando-se com as aporias do Livro Beta, claramente anunciadas nas últimas linhas do capítulo 10 – e que emerge, em certo sentido, do que Aristóteles estava desenvolvendo na Metafísica A (esta é uma compreensão importante que é claramente apresentada por John Cooper em seu “Retrospecto”, p. 351-53). Na Metafísica A, a investigação em análise caracteriza-se como sabedoria (sophia) e lida com as primeiras causas, o que significa, neste caso concreto, as primeiras causas do ser e dos entes enquanto tais (Sarah Broadi, “Uma ciência dos primeiros princípios”, sobre A2, p. 65; Rachel Barney, “História e dialética”, sobre A3, p. 73; Cooper, que, mais uma vez, insiste corretamente neste ponto, p. 358-361). Tal sugere de imediato que até mesmo a razão de Aristóteles para se empenhar em uma exposição (e crítica) da concepção dos seus predecessores de A3 a A10, não pode limitar-se apenas a confirmar a exatidão da doutrina das quatro causas conforme exposta na Física, embora componha certamente parte do projeto (cf. A3, 983a24-983b6, com os comentários de Barney, p. 74; A7, 988a21-23, com os comentários de Primavesi em seu “Reconsiderações sobre alguns pré-socráticos”, p. 226; e as linhas iniciais do capítulo conclusivo, 10, com Cooper, p. 336ff.). Teria a sequência seguida por Aristóteles caráter teleológico? Esta é a opinião corrente, mas que é rejeitada, ou no mínimo fortemente matizada, em duas contribuições. Stephen Menn, em seu “Crítica dos primeiros filósofos sobre o bem e as causas”(sobre A7 a 8, 989a18), sustenta que pelo menos em A7 Aristóteles não diz
… que assim como algumas pessoas ́lidaram de modo obscuro ́ com a causa formal, também outras ́lidaram de algum modo obscuro ́ com a causa final… mas ele diz que os primeiros pensadores… compreenderam imperfeitamente o bem, ao não utilizá- lo como causa final e interpreta isso à luz (e não o inverso) da sentença em A10, 993a14, a qual sustenta que “de certa maneira todos [os tipos de causas] já foram referidos anteriormente”(cf. p. 210, com o n. 18; e, para a retomada geral de Menn sobre o assunto, p. 202 e 216); e Gábor Betegh, ao comentar “O próximo princípio”(sobre A4) acerca da famosa metáfora de Aristóteles em 4.985a5 (cf. 10.993a13), segundo a qual seus predecessores mostravam-se “titubeantes”(tottering), sugere que uma forma de titubear é aquela em que há incerteza sobre o modo de conduzir uma sentença ao seu desfecho. Consequentemente, “mais de uma linha de desenvolvimento [ scil. na história da filosofia] foi possível”(p. 106). Pergunto-me se isto é assaz consistente com a tradução de psellizesthai por “expressar-se de maneira inarticulada”(p. 125 com o n. 46), pois a maneira peculiar como falam as crianças representa, seguramente, certo estágio de um desenvolvimento teleológico. Certamente, a teleologia de Aristóteles não é de tipo “panglossiano”(Menn, p. 216); e pode- se caracterizar a história de Aristóteles mais como “progressivista”do que “determinística”(Betegh, p. 106, com uma análise interessante das complexidades que cercam a antecipação da causa eficiente, p. 110). No entanto, se a observação de Aristóteles sobre os filósofos se verem impulsionados pela “coisa”em si mesma (984a1), ou “pela verdade em si mesma”(984b9f.), aplica-se não apenas aos primeiros filósofos, mas também aos filósofos em geral, talvez seja difícil negar que no mínimo certo teor de teleologia exerce o seu papel no construto aristotélico.
De todo modo, de A3 em diante Aristóteles empenha-se em viés desenvolvimentista do passado filosófico, um tipo inteiramente novo de abordagem. Trata-se de um dos aspectos mais fascinantes do Livro A, pois implica todas as questões básicas acerca do que significa escrever história, sobretudo escrever a história da filosofia, e ainda mais especificamente, escrever a história da filosofia a partir de determinado ponto de vista. Como é compreensível, este é um tema recorrente ao longo do volume. Ressalta-se a novidade da abordagem aristotélica mediante a comparação com os procedimentos anteriores e em que se lidava com a história das ideias, tais como o trabalho “homonoético”de Hípias, a biografia intelectual de Sócrates no Fédon de Platão, e a Gigantomachia em seu Sofista, todos eles textos que exerceram papel implícito, mas importante, no entendimento que Aristóteles tinha da sua própria teorização (Barney, p. 90 e 101 sobre o Hípias e o Sofista de Platão; Menn sobre o Fédon platônico, que sublinha corretamente na p. 211f. a centralidade, para o projeto pessoal de Aristóteles, da identificação do bem como “primeiro princípio”).
A segunda seção da Metafísica A encontra-se subdividida em suas seções: enquanto A3-A6 consiste essencialmente na exposição meticulosa de como as quatro causas – e não mais que quatro – gradativamente emergem ao longo do desenvolvimento de Tales até, pelo menos, Platão, A7-A9 empenha- se na revisão crítica do que os predecessores de Aristóteles tinham a dizer sobre o que as primeiras causas do ser como um todo são. Barney e Cooper empreendem discussão sobre se esta seção liga-se ao mesmo desenvolvimento “histórico”que A3-6, ou se pertence a outro nível, com ênfase clara na crítica, no questionamento aporético, e na dialética. Barney apresenta resposta positiva (p. 103), enquanto Cooper distingue a empresa “histórica”da “crítica”(p. 359). A descrição que Primaveri oferece do desenvolvimento em duas etapas em seu “Reconsiderações sobre alguns pré-socráticos”(em A8, 989a18-990a32) é neutra a esse respeito:
Os capítulos 3-5 fazem tão somente uma pergunta acerca dos primeiros pensadores: se os seus relatos acerca das causas últimas podem ser reduzidos, sem restos, a um ou mais elementos da lista aristotélica de causas. O capítulo 8, por outro lado, analisará os primeiros pensadores em todos os aspectos que podem ser úteis à busca da sabedoria (p. 227).
Com efeito, se alguém escolhe vincular a seção crítica ao trabalho histórico ou não, isso depende do quão amplamente interpreta a “história”ou, mais especificamente, a história filosófica da filosofia. O importante é que os capítulos A3-A9 constituem um todo admiravelmente bem-articulado. Tal não significa que inexistam problemas estruturais ou dificuldades pontuais, a mais interessante das quais se liga à efetiva complexidade da empresa “histórica”de Aristóteles. Um aspecto disso é que, segundo penso, a linha filosófica aristotélica de reconstrução da história da filosofia, certamente predominante na Metafísica Alfa acompanha e em certa medida entra em conflito com, a tendência à exaustividade – tensão que poderia ler-se como antecipando a diferença entre dois modos de se conceber a história da filosofia que é paradigmaticamente representada por Hegel e Zeller.
Uma das grandes virtudes deste livro é que ele sublinha seja o cuidado com o qual Aristóteles desenvolve seu projeto específico, sejam as tensões daí resultantes – para ele e para nós – a partir da sua própria complexidade: qual é exatamente o intuito da seção sobre Leucipo e Demócrito em 4.985b4-20 do ponto de vista do argumento de Aristóteles (Betegh, p. 136ff.)? E “que relevância tem isso para o projeto aristotélico na Metafísica A?”, pergunta Malcolm Schofield em sua análise da seção sobre os eleatas em 5.986b8-987b (p. 159 do seu “Pitagorismo: surgindo da névoa pré-socrática”, sobre A5). Além disso, como a “misteriosa”ausência do nome de Anaximandro é explicada em todo o livro (cf. Barney, p. 78, que menciona o problema, mas não lida propriamente com ele, nem o faz qualquer outra contribuição)? 2 Ademais, é bastante claro que a história relatada nos capítulos 3 e 4, em que Aristóteles resume as concepções de Tales, Anaxágoras, Empédocles, Demócrito e dos eleatas, e brevemente menciona mais alguns nomes (tais como os de Anaxímenes, Hipaso, Diógenes de Apolônia e Heráclito), conduz ao capítulo 5, o qual, ao ocupar o centro de todo o livro, representa um ponto de inflexão em todo o desenvolvimento.
Como fica claro pelo título da contribuição de Schofield (conferir acima), os pitagóricos representam, na construção aristotélica, o momento decisivo na história da filosofia, espécie de ponte entre a filosofia pré-socrática (ou melhor, pré- platônica) “típica”e Platão. Schofield discute o caráter “intersticial”do pitagorismo e é importante que, na apresentação aristotélica, a cronologia encontra-se com o desenvolvimento conceitual (p. 142f.). Com efeito, pode-se afirmar que a partir de A6, apresentada por Carlos Steel (“Platão visto por Aristóteles”), Platão ocupará o centro do interesse e refutação de Aristóteles (em A7b-A9), embora a seção dedicada à crítica aos predecessores se inicie com a crítica aos representantes do pensamento pré-platônico que apresentam potencialmente algum contributo à própria investigação de Aristóteles (cf. a explicação de Primavesi acerca do motivo de Aristóteles se concentrar aqui exclusivamente em Empédocles, Anaxágoras e nos pitagóricos: as concepções de Filolau, Parmênides e Demócrito “encontram-se simplesmente muito distantes do caminho certo, p. 227).”
A centralidade que Aristóteles atribui aos pitagóricos e Platão na história da busca pelos primeiros princípios traduz-se materialmente na extensa crítica à teoria das Formas em A9. Esta crítica divide-se facilmente em duas partes, correspondendo às duas versões ou etapas da teoria das Formas de Platão. A primeira corresponde às exposições clássicas nos diálogos, a segunda, à tese de que as Formas são números. No entanto, embora a divisão entre A9 a e A9 b se justifique perfeitamente e se confirme externamente pelo fato notório de que A9 a é repetida quase palavra a palavra em M 4-5, Crubellier salienta curiosamente em sua contribuição a continuidade entre as duas seções de A9, lidas a partir do ponto de vista específico do projeto aristotélico no Livro A – continuidade refletida na numeração contínua dos argumentos nas contribuições de Frede e Crubellier (de I a VII para A9 a, de VIII a XXIII para A9 b; ver p. 300 e o proveitoso Apêndice I à p. 332, que oferece o plano geral de A9). Formalmente, a concisão e aridez de A9 b não é tão diferente de A9 a (Crubellier, p. 300); substancialmente, e o que é mais importante, enquanto a crítica aristotélica em M revela basicamente natureza ontológica, A9 dirige-se às concepções metafísicas de Platão, “no sentido de uma busca pelos princípios mais fundamentais e universais dos entes naturais e dos fenômenos”(p. 300).
Entretanto, o peso específico do capítulo 9 é manifesto não apenas por sua extensão. O próprio fato de que a refutação assume forma sistemática (a ponto de parecer exceder o verdadeiro objetivo do livro A) justifica-se se Platão, na esteira dos “pitagóricos”, alcançou um ponto decisivo: a descoberta da causa formal que foi ou esquecida, ou apenas ligeiramente esboçada por seus antecessores. É verdade que, de acordo com Aristóteles, Platão fala de forma imprecisa; mas, como observa Cooper, há uma diferença importante entre referir “imprecisamente”e fazê-lo apenas “com hesitação”. Platão permanece impreciso, de acordo com a sugestão de Cooper, porque “a filosofia necessita falar com base em uma relato plenamente articulado não apenas de algo tal como a causa de determinada espécie… mas… que a compreensão deve ser constituída em um pensamento sistemático, plenamente articulado sobre as causas em geral”(p. 350). Platão, no entanto, de modo algum hesita, mas oferece uma teoria explícita da causa formal. Isto é suficiente para explicar o caráter sistemático da crítica de Aristóteles em A9.
Seria a sua crítica hostil? A questão é abordada por Frede, que nos convida a examiná-la não “enquanto um longo ressentimento reprimido contra a teoria das Formas de Platão”, e sim como “um longo catálogo de aporiai compartilhadas por alguns platonistas, à maneira de um desafio para discussão posterior”(p. 295). Esta visão está intimamente ligada à famosa questão do grau de fidelidade de Aristóteles à Academia de Platão à época em que ele escreveu a Metafísica A e o famoso “nós”(“nós”, os discípulos de Platão), que, como observa Primavesi, p. 412, surge “nada menos que em treze passagens do capítulo nove em nossa [de Primavesi] edição”, e contrasta fortemente com o uso da terceira pessoa (“eles”) nas passagens paralelas do Livro M. Pode-se divergir quanto às conclusões que se pode ou deve extrair desta mudança tornada famosa por Jaeger (ver Frede, p. 269ff. e Crubellier, p. 299). Mas Aristóteles alguma vez escreveu “tal como nós dissemos no Fédon “(hos en Phaidoni legomen)? Este é o texto que Primavesi publica em 991b3f. (cf. p. 414f.), na esteira das últimas reflexões de Jaeger sobre este assunto3 A leitura, que obviamente representa lectio difficilior, se não mesmo uma lectio impossibilis, não é transmitida nem em α ou β (e ambas têm legetai, “ele diz”), mas é narrada por Alexandre na p.106 do seu comentário (cf. também Asclépio, p. 90, 19). 4 Trata-se de um caso interessante não apenas para a história da transmissão do texto, mas também pela “ousadia”intrínseca da fórmula – inexiste algo comparável nas outras formas da primeira pessoa do plural no Livro A, apesar do que Alexandre afirma. Primavesi o explica: “Aristóteles não diz que ele compôs o Fédon; ele tão somente diz que algumas opiniões expressas no diálogo platônico representam a posição de um grupo de filósofos a que o próprio Aristóteles, de certa maneira, julga pertencer”(p. 414). Bem, parece-me que a frase diz algo mais do que isso; em sendo assim, o problema permanece.
A retomada crítica das opiniões dos seus predecessores é bastante comum nas obras de Aristóteles e representa um aspecto importante da sua abordagem filosófica em geral. Mas a revisão que encontramos na Metafísica A é única no gênero, especialmente porque a estrutura da apresentação e discussão das diversas doutrinas possui acentuado componente cronológico. Certamente um aspecto importante do interesse de Aristóteles na Metafísica A é a dúvida acerca do grau de precisão com que a filosofia se desenvolveu ao longo do tempo, e muitas observações cronológicas feitas de passagem atestam esta preocupação. Aristóteles interessa-se por antecedentes: Homero e Hesíodo vs. Tales, Hermótimo vs. Anaxágoras, Hesíodo e Parmênides vs. Anaxágoras e Empédocles, Anaxágoras vs. Empédocles (para a interpretação da controversa sentença em 984a11f., ver Barney, p. 93, n. 61), assim como “as palavras notoriamente obscuras de abertura do capítulo 5”(Schofield, p. 142): “Esses pensadores e, antes deles, os pitagóricos, como eram chamados, inclinaram-se às matemáticas”(Schofield sugere que Aristóteles “intenta inserir os pitagóricos tardios entre os pré-socráticos pluralistas”). E se a sentença sobre a relação cronológica entre Alcmeão e Pitágoras em 986a28-31 é, de fato, um acréscimo não pertencente ao texto original de Aristóteles, como foi sustentado por grande número de estudiosos (incluindo Primavesi, que pensa ser tal suplemento de origem neopitagórica, p. 447), um motivo para o acréscimo seria o de prosseguir nesta linha de investigação mas eu penso que Schofield na p. 150 está correto em considerá-la como sendo uma observação original de Aristóteles).
Alguém poderia perguntar por que este interesse especial de Aristóteles se manifesta precisamente no caso da “primeira filosofia”(compare as observações esboçadas acerca da história da dialética no capítulo final das Refutações sofísticas). Gostaria de sugerir que este zelo cronológico dialoga, e, na verdade, o aprofunda em nível ontogenético, por assim dizer, com a perspectiva que é indicada em A1 em nível quase-filogenético: o homem é por natureza uma criatura cognitiva. O liame entre o desenvolvimento da faculdade cognitiva humana e as opiniões e teorias acerca da causalidade, que articula as seções do Livro A (A1-2, A3-10), não é indicado por nenhum dos autores, salvo engano. Porém, Giuseppe Cambiano (“O desejo de conhecer”, sobre A1) e Broadie mostram bem o quanto os capítulos A1-A2, em que pesem as similaridades que revelam com o Protréptico e a Ética, lançam desde o início um projeto inteiramente distinto, a saber, “delinear e justificar um programa de pesquisa acerca dos princípios e primeiras causas”(Cambiano, p. 41; cf. Broadie, p. 48), embora ambos também deixem claro, nos termos de Broadie, que “A1-2 é, entre outras coisas, espécie de manifesto cultural, reivindicando o termo “filosofia”para estudos tais como os que temos na Metafísica, face à reivindicação de Isócrates para o seu tipo de atividade”(p. 50, com referência a Cambiano, p. 36 e 41).
Como foi indicado acima, o foco desse volume atém-se ao propósito e estratégia de Aristóteles ao lidar com os seus antecessores, e não ao intuito de utilizá-lo enquanto fonte para a reconstrução do pensamento dos pré-socráticos (ou mesmo de Platão). Assim procede Betegh, ao referir-se à seção dedicada aos atomistas em A4: “Aquilo em que estou interessado é… sua posição e função no contexto do nosso capítulo”(p. 137); ou Schofield, falando sobre A5:
O meu principal objetivo [não é] discutir em si mesmo o pitagorismo… a que Aristóteles está se reportando. O foco principal repousa antes nos benefícios que ele tenta auferir destes pensadores na medida em que se relacionam com a sua investigação acerca dos princípios e causas.
Mesmo assim, concentrar-se no projeto aristotélico não apenas não impede de considerá-lo uma “fonte”, mas às vezes chega mesmo a exigi-lo. O capítulo de Schofield é um bom exemplo disso, pois parte essencial dele consiste na reivindicação da interpretação aristotélica de Filolau (cuja obra é reconhecidamente a principal fonte da doutrina que Aristóteles atribui ao primeiro grupo de pitagóricos anônimos) contra aquela de Carl Huffman em seu livro clássico. Enquanto o último deseja salvar Filolau de haver concebido os números literalmente enquanto constitutivos do cosmos (imagem que se toma a Aristóteles) e pensa que Filolau apenas estabeleceu um paralelo entre teoria dos números e cosmologia (cf. p. 155), Schofield argumenta, ao invés, que a visão de mundo “fantástica”que emerge da apresentação de Aristóteles (e que é confirmada por outros relatos) deve refletir a doutrina original. Reside precisamente nesta “fantasia”, que a perspicácia filosófica de Aristóteles é capaz de reconhecer, a emergência de uma “reflexão autoconsciente sobre a explicação”(p. 164; cf. também suas observações sobre a relação entre a síntese inicial em 985b23- 986a21 e o comentário de Aristóteles em 987a15- 19, p. 163-5). E impulsiona a contribuição de Steel especialmente o pressuposto de ser Aristóteles uma fonte – neste caso, fonte para o nosso conhecimento e para o seu próprio conhecimento – da doutrina de Platão. Sua perspectiva fundamental, reagindo claramente contra a insistência de Cherniss nas distorções de Aristóteles e na caça sistemática por doutrinas não-escritas e a pitagorização de Platão, é que, além da doutrina do “Grande e Pequeno”que “parece”representar “clara evidência de uma doutrina não-escrita”(p. 194), os relatos aristotélicos de Platão em A6 ou procedem dos diálogos platônicos, ou são rastreáveis até eles (cf. p. 184, p. 188). Em todo caso, as doutrinas não-escritas existiram e A9 b lida extensamente com um dos seus aspectos mais enigmáticos: a tese que as Formas são números, sobre a qual Crubellier apresenta exposição e exegese lúcidas (p. 303f.).
O livro inicia-se um tanto abruptamente, após o breve prefácio formal do editor, com a análise de Cambiano de A1, orientada para uma comparação entre o material presente em A1 e os desenvolvimentos paralelos dentro e fora do corpus aristotélico (para os paralelos “internos”, cf. em particular comparação esperada entre A1 e An. Post. II, 19, p. 15ff.; e para as comparações externas, cf. especialmente a 5 a. seção “Sobre o contexto intelectual de A1”, p. 26ff.). Eis por que eu recomendaria que os leitores – mesmo aqueles já familiarizados com o Livro A – comecem com a “Conclusão – e retrospecto”de Cooper, o qual se dedica explicitamente a cobrir a estrutura geral do empreendimento aristotélico. Os leitores talvez queiram então passar à primeira seção do capítulo de Barney (p. 71-76) com as suas lúcidas reflexões sobre o método histórico de Aristóteles e, em seguida, para “Uma ciência dos primeiros princípios”que preenche bem o esboço oferecido por Cooper em seu “Retrospecto”sobre o projeto geral de Aristóteles de redefinição da sophia.
O livro é extraordinariamente rico, e o leitor encontrará em cada capítulo bastante material para alimentar a reflexão acerca de um grande número de tópicos e problemas que a presente resenha não poderia sequer começar a mencionar. Eu gostaria, entretanto, de chamar a atenção para o fato de que, além da contribuição editorial extremamente importante de Primavesi, que deveria por si só ser estudada por seus próprios méritos, o leitor descobrirá nos vários ensaios muitas discussões proveitosas e compreensão dos problemas textuais; por exemplo, a lúcida exposição de Steel do intricado problema suscitado pela presença de homonuma em 987b9f. (p. 177-180); a convincente preferência de Broadie por pensar que aquilo que Aristóteles escreveu em 982b18 foi “o amante da sabedoria é de certa forma também um amante do mito”(com a tradição α) em vez de “o amante do mito é de certa forma um amante da sabedoria”, conforme a edição de Ross e Jaeger e traduzido por muitos intérpretes (cf. por exemplo Ross-Barnes na Oxford Revised Translation); ou as razões de Cambiano (p. 12, n. 25) para seguir em 980b1 a tradição β contra a correção sugerida por Primavesi (com base no comentário de Alexandre).
Identifiquei alguns poucos erros tipográficos, nenhum dos quais é verdadeiramente preocupante. Os índices (Nomes, Passagens, e o Índice Geral, incluindo importantes palavras gregas transcritas) são um auxílio complementar, fazendo deste livro uma ferramenta indispensável 5.
Notas
1 Há uma outra exceção ao esquema um capítulo/ um ensaio: S. Menn aborda o capítulo 7 e o início do 8 até 989a18; O. Primavei, o restante do capítulo 8. Em termos de tamanho, a exemplo da cisão do capítulo 9 em duas partes, pode-se aqui oferecer melhor divisão entre os dois comentadores. No entanto, não existe justificativa interna verdadeira para esta divisão. Na realidade, a primeira parte do capítulo 8 (crítica dos monistas) também é retomada no trabalho de Primavesi (p. 225-229).
2 Há um debate em andamento sobre se Aristóteles refere-se implicitamente a Anaximandro em 7.988a29-32; cf. Menn, p. 207, com n. 14.
3 JAEGER, W. “Nós dissemos no Fédon ”, em S. Lieberman, Sh. Spiegel, L. Strauss, A. Hyman (edd.), Harry Austryn Wolfson Jubilee Volume, vol. I. Jerusalem,American Academy for Jewish Research, p. 407-21.
4 Na nota de rodapé 93, p. 414, Primavesi corrige a opinião dada por Jaeger, na p. 408 do seu artigo (e previamente pelo aparato de Michael Hayduk em sua edição do comentário de Alexandre), de que os dois manuscritos de Aristóteles também se leem como legomen.
5 Frente à importância da obra, a revista Archai, com autorização do autor e da revista, publica excepcionalmente versão portuguesa desta resenha, publicada originalmente na Notre Dame Philosophical Reviews – An Electronic Journal, no ano de 2013. Tradutor do inglês: Gilmário Guerreiro da Costa.
André Laks – Université Paris-Sorbonne, Paris, França – Universidad Panamericana, México; D.F. laks.andre@gmail.com
Contra os Retóricos – SEXTO EMPÍRICO (RA)
SEXTO EMPÍRICO. Contra os Retóricos. Introdução, Tradução e notas de Rodrigo Brito e Rafael Huguenin. Marília: UNESP, 2013. Resenha de: DINUCCI, Aldo. Revista Archai, Brasília, n.15, p. 153-155, jul., 2015.
Até certa altura do século XX compreendia- se, nos meios de pesquisadores de filosofia antiga, o dito de Whitehead segundo o qual tudo o que fora escrito depois de Platão serviria tão somente como notas de rodapé aos diálogos do ateniense 1 como uma confirmação da suposta inferioridade e redundância das filosofias helenísticas em relação àquelas de Platão e Aristóteles. Entretanto, tal visão logo se viu superada pelo trabalho acadêmico de eminentes pesquisadores que reuniram os fragmentos das obras dos filósofos helenistas e começaram a estudá-los. Von Arnim, no princípio do século XX, já coletara os fragmentos dos antigos estoicos 2. Décadas depois, Anthony Long e David Sedley completaram uma importante obra 3 na qual selecionaram e comentaram fragmentos dos estoicos, dos céticos e dos epicuristas. Filósofos destacados como Dudley 4 pesquisaram o que nos chegou dos cínicos. Lukasievicz 5 e Benson Mates 6, notáveis lógicos contemporâneos, debruçaram-se sobre a lógica estoica. E a lista não parou mais de aumentar. Hoje, filósofos de vulto, como Suzanne Bobzien, Jonathan Barnes, Julia Annas e Nicholas Rescher 7 dedicam-se ao estudo dos filósofos helenistas. A tal ponto valorizou-se o estudo destes filósofos que, entre norte-americanos e europeus, não se concebe mais que um pesquisador de filosofia antiga ignore ou não dedique parte de seu tempo ao estudo dos helenistas.
O filósofo francês Pierre Hadot, também responsável pela valorização do estudo dos filósofos helenistas, foi um dos primeiros a enfatizar o caráter existencial dessas filosofias, que se traduz pela complementaridade entre teoria e prática. Essa ligação da filosofia com a ação, da filosofia eleita como escolha de vida, é o diferencial dessas filosofias, tanto em relação àquelas de Platão e de Aristóteles, quanto no que tange à filosofia moderna e contemporânea que, herdeiras do medievo, trazem consigo a ferida da separação medieval entre a filosofia e a prática filosófica – melhor ainda: da extirpação desta última em nome de uma moralidade cristã fundada no dogma teológico 8.
O ceticismo é um dos quatro pilares do helenismo filosófico, sendo os outros o estoicismo, o cinismo e o epicurismo. Sua aposta é alta: a busca da imperturbabilidade através da suspensão de juízo e da superação dos dogmatismos filosóficos. No Brasil, o ceticismo antigo tem sido pesquisado por grandes filósofos do cenário nacional, tais como Danilo Marcondes Filho e Luiz Bicca, só para citar dois nomes que nos vêm imediatamente à mente. Entretanto, faltavam as traduções dos textos primários, em especial a tradução das obras de Sexto Empírico, médico e filósofo que viveu provavelmente entre 160 e 210 d.C. e que é um dos expoentes do ceticismo antigo, ao lado de Pirro de Élis (360-270 a.C.). Essa lacuna começou a ser preenchida, em 2013, pelos jovens pesquisadores Rodrigo Pinto de Brito e Rafael Huguenin (ambos graduados em filosofia pela UERJ e mestres e doutores em filosofia pela PUC-RJ) com a publicação pela UNESP da tradução bilíngue e anotada de Contra os Retóricos, de Sexto Empírico.
Rafael e Rodrigo fazem ambos parte do Viva Vox, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe que conta com a maior biblioteca especializada em filosofia helenista da América Latina, biblioteca que vem se constituindo com o apoio de sucessivos editais do CNPq. Além de editor-júnior da revista de filosofia Prometeus 9, Rodrigo Pinto de Brito é o responsável, junto com Cesar Kiraly, doutor em filosofia, professor da UFF e autor de Ceticismo e Política (São Paulo: Giz editorial, 2012), pela organização dos Colóquios sobre Ceticismo, evento que ocorre desde 2012 no Rio de Janeiro.
Dos tratados de Sexto, três nos chegaram: Esboços de Pirronismo e dois outros (con)fundidos na obra intitulada Adversus Mathematicos. Cada um dos seis primeiros livros dessa obra recebe um nome diferente: Livro I – Contra os Gramáticos; Livro II – Contra os Retóricos; Livro III – Contra os Geômetras; Livro IV – Contra os Aritméticos; Livro V – Contra os Astrólogos; Livro VI – Contra os Músicos. Os livros VII, VIII, IX, X e XI perfazem outra obra, que nos chegou incompleta, sendo os livros VII e VIII intitulados Contra os Lógicos; os livros IX e X, Contra os Físicos; e o Livro XI, Contra os Éticos.
Contra os retóricos, a obra comentada, traduzida e anotada pela dupla de jovens filósofos cariocas, corresponde ao livro II de Adversus Mathematicos. Em Contra os Retóricos, Sexto busca demonstrar a impossibilidade de ensinar a retórica e negar que a retórica seja uma arte (techne). Começando pela constatação da multiplicidade de concepções coexistentes de techne, Sexto conclui pela falta de consistência da noção. O próximo passo do filósofo é a tentativa de provar que é impossível definir tal techne, através do exame da definição platônica, aristotélica e acadêmica de retórica. Sexto volta-se então para a concepção estoica, buscando refutá-la ao final do opúsculo. A obra de Sexto, essencial para a compreensão do ceticismo antigo, é riquíssima como fonte de fragmentos de outras correntes filosóficas da Antiguidade. Sexto é a principal fonte para conhecermos a lógica estoica, sendo um dos poucos comentadores antigos que têm real compreensão do escopo de tal lógica (Diógenes Laércio, nossa segunda mais importante referência no assunto, nada faz senão citar verbatim o manual de lógica de Díocles de Magnésia).
A tradução comentada e anotada de Contra os Retóricos é realizada com esmero. As notas são abundantes e relevantes, constituindo-se como ferramenta de pesquisa da mais alta qualidade. Lamenta-se, entretanto, que a EDUNESP não tenha ainda disponibilizado graciosamente o pdf da obra, de modo a difundi-la como se deve. Que se tome como exemplo, para isso, os Classica Digitalia 10, da Universidade de Coimbra, que combinam edições físicas excelentes com a divulgação gratuita em formato digital.
Contra os Retóricos pode ser adquirido diretamente pelo site da editora EDUNESP, no link: http://www.editoraunesp.com.br/catalogo-detalhe asp?ctl_id=1486. Estão todos convidados então para, junto com Sexto, buscarem a imperturbabilidade através da razão crítica e da suspensão de juízo. Dos mesmos pesquisadores teremos, neste ano de 2015, a publicação de Contra os Gramáticos, obra que se encontra já no prelo, também pela EDUNESP.
Notas
1 “The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato”(WHITEHEAD, A. N. (1929). Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927–1928. Cambridge, Cambridge University Press, p. 39).
2 VON ARNIM, H. (2005). Stoicorum Veterum Fragmenta Volume 1: Zeno or Zenonis Discipuli [1903]. Berlim. De Gruyter.
3 LONG, A. A. & SEDLEY, D. N. (1987). Hellenistic Philosophers (volumes 1 & 2). Cambridge,. Cambridge University Press.
4 DUDLEY. D. R (1937). A history of cynicism. Londres, Mithuen & co.
5 LUKASIEWICZ, J. (1970). On the History of the Logic of Proposition [1934]. IN: Jan Lukasiewicz Selected Works. Amsterdam, North-Holland Pub. Co.
6 MATES, B. (1961), Stoic Logic. Berkeley-Los Angeles, University of California Press.
7 Refi ro-me aqui par- Refiro-me aqui particula rmente ao impressionante trabalho de 1966: Galen and the syllogism (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press), no qual Rescher comenta um tratado de Galeno sobre lógica que nos chegou em árabe.
8 HADOT, P. (1995). Philosophy as way of life. New Jersey, Blackwell, p. 107.
9 http://seer.ufs.br/index.php/ prometeus.
10 Cf. classicadigitalia.uc.pt
Aldo Dinucci – Professor associado da Universidade Federal de Sergipe – Sergipe, Brasil. E-mail: aldodinucci@yahoo.com.br
História e Literatura / Crítica Histórica / 2015
No livro intitulado Seis passeios pelos bosques da ficção, que reúne a famosa série de seis conferências ministradas em 1993 na Universidade de Harvard, o escritor e teórico italiano Umberto Eco nos fornece inúmeras pistas de como, no papel de leitores, entrarmos, percorrermos e sairmos dos bosques da ficção. Entre elas, preconiza o princípio da suspensão da descrença: o leitor, mesmo sabendo que aquilo que se narra parte do imaginário, nem por isso deve pensar que o escritor conta mentiras. Afinal, todo autor literário, mesmo quando atua no campo mais radical de evasão da realidade (a literatura fantástica, por exemplo), delimita seu “pequeno mundo” a partir da experiência numa realidade cuja estrutura total não lhe é possível descrever. Ler a obra literária teria, portanto, a mesma função lúdica do brinquedo ou do jogo infantil – dar sentido a um mundo cujos meandros e trajetória ainda não mapeamos inteiramente, e cujo processo de formação é demasiadamente extenso e complexo -, sendo as possibilidades de decodificação do texto condicionadas, entre outras coisas, pela “enciclopédia” ou pelas “lentes” que cada leitor traz consigo ao adentrar o bosque: sua experiência pessoal, mas também sua relação prévia com outros textos (ficcionais ou não), sua trajetória educacional e profissional, suas competências e habilidades.
E o que ocorre quando os bosques da ficção são trilhados com as lentes da história? Este Dossiê História e Literatura visa, justamente, discutir as interrelações entre o fazer histórico e o literário, as quais se constituem propriamente em “vias de mão dupla” no bosque de múltiplas possibilidades: isto é, tanto a dinâmica que se estabelece entre a criação ficcional e seus quadros históricos de referência, quanto o uso de ficções, modelos heurísticos e estratégias da construção literária pelos historiadores na constituição de suas narrativas. Assim, devido a esse recorte que possibilita, de forma abrangente, os intercâmbios e cruzamentos entre os dois campos expressos no título – história e literatura / literatura e história – as questões abordadas neste dossiê caracterizaram-se pela variedade de temas, autores, contextos e aportes teóricos.
O volume inicia-se com “Versos do Cativeiro: um olhar sobre a imposição do nacionalismo chileno em Tacna e a resistência peruana na obra de Federico Barreto”, de Maurício Marques Brum, que problematiza o tema da formação das identidades nacionais na América Latina, tendo como objeto a poesia do peruano Federico Barreto, e sua função de resistência à chilenização da província de Tacna. A temática da formação identitária, dessa vez no Brasil, é também o ponto de partida do artigo de Luiza Rosiete Gondin Cavalcante (“Entre ‘registro’ e poesia: história e construção literária em Iracema, de José de Alencar”), no qual diversos elementos da composição do célebre romance indianista alencariano, presentes, por exemplo, na construção dos protagonistas, são explorados em sua relação com a história, de modo a demonstrar algumas das formas através das quais Iracema ressemantiza, através da transfiguração literária, o processo de colonização brasileira marcado pelo hibridismo.
Se a formação da identidade nacional brasileira está marcado por semelhante processo de hibridização cultural de que nos falam autores como Beatriz Sarlo e Nestor García Canclini acerca de outros países latino-americanos, a crônica, gênero híbrido por excelência, a meio caminho entre a história, a literatura e o jornalismo, torna-se, sem sombra de dúvida, um dos objetos fundamentais para a análise das interseções entre o histórico e o literário. Em “O tempo escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”, Ana Lady da Silva debruça-se sobre duas das crônicas de Machado de Assis, de modo a observar a atitude cética e crítica do autor frente ao horizonte de expectativas (para utilizar a categoria de Jauss) das elites brasileiras do final do século XIX diante de questões como a Abolição e a República. Também Poliana dos Santos, no artigo intitulado “História, subjetividade e especulação nas personagens machadianas”, vem contribuir com a inesgotável fortuna crítica sobre Machado, examinando indícios significativos na construção das personagens de contos machadianos, e sua relação com o contexto de alargamento e exploração das forças econômicas, na passagem do Império à República, que desemboca na especulação financeira.
Em “Histórias de Ricardo Reis”, Priscila Tenório Santana Nicácio, tendo como objeto de análise o romance O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, investiga alguns dos procedimentos pós-modernos de referenciação do histórico na literatura, como na chamada metaficção historiográfica, no qual os aspectos históricos não são documentais em seu sentido tradicional, mas elementos intra e / ou paratextuais que refletem sobre sua própria forma de produção. Já no artigo “A Pedra do Reino e a carnavalização”, que encerra o Dossiê História e Literatura, José Nogueira da Silva utiliza a categoria bakhtiniana da carnavalização para analisar, no Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta, de Ariano Suassuna, o apagamento da dicotomia erudito / popular.
Nesse sentido, o dossiê, além de possibilitar mais uma vez o debate intelectual acerca do tema, tem como objetivo criar uma rede de intelectuais preocupados com as conexões entre o histórico e o literário, de modo a criar as necessárias pontes para o desenvolvimento do campo historiográfico da História Cultural.
Na Seção de Artigos, Dagmar Manieri abre com um estudo do conceito de virtù em Nicolau Maquiavel. A partir do Renascimento italiano, o autor adentra o campo da política, a um novo pensamento sobre a história, assim como da prática política. E é nesse quadro histórico que o pragmatismo de Maquiavel aparece e está inserido. Assim, “O conceito de virtù em Maquiavel” apresenta a importância da ética na eficácia da prática política, sem a qual funda-se o que se denomina de ciência política moderna.
O segundo artigo, “Cristãos-novos, inquisição e escravidão: Ensaio sobre inclusão e exclusão social (Alagoas Colonial, 1575 – 1821)”, de Alex Rolim Machado, trabalha a “Alagoas Colonial” e os assuntos relacionados aos cristãos-novos, ainda lacunares. Os argumentos do autor tendem a trazer os personagens às novas interpretações, inserindo-os em um mundo multifacetado, de intensa comunicação com outras categorias sociais das Vilas, procurando observar os polos de inclusão e exclusão aos quais estavam sujeitos e, por decorrência da vivência americana, também atuavam na estratificação da sociedade.
Em “A imigração subsidiada: os contratos para introdução de espanhóis no Pará”, Francisco Pereira Smith Júnior e Rodrigo Fraga Garvão destacam que entre os anos de 1890 e 1920, a história das migrações internacionais causou impacto no Pará, já que houve, neste período, uma eficaz propaganda migratória na Europa fazendo com que o Estado paraense recebesse um significativo número de imigrantes europeus. Argumenta que os recém chegados fizeram parte de um exército de estrangeiros que tinha o papel de povoar e trabalhar na Amazônia e que, neste cenário, destacaram-se muitos espanhóis que vieram viver o sonho do “eldorado amazônico”, juntos com suas famílias e recomeçaram sua história de vida. Assim, o artigo traça um perfil desse imigrante espanhol e analisa o processo de constituição dos núcleos populacionais em que estes espanhóis estavam inseridos.
Já o quarto artigo que compõe a seção, de Augusto Neves da Silva, intitulado “Metamorfoses de uma festa: Histórias do carnaval em Recife (1955-1972)”, discute as transformações dos carnavais brincados na cidade do Recife entre os anos de 1955 e 1972, voltando-se à compreensão das relações estabelecidas entre o poder público municipal, os foliões e alguns intelectuais. Essas relações geraram conflitos que, por sua vez, deram o tom da identidade que se buscava construir nesta festa. A reflexão aqui foi tentar entender quais os espaços criados na cidade para os dias de Momo e os sentidos dessa tradição.
Fechando a Seção Artigos, Wanderson Chaves nos apresenta “A Fundação Ford e o Departamento de Estado Norte-Americano: a montagem de um modelo de operações no pós-guerra”, no qual brilhantemente demonstra que o relacionamento estabelecido entre a Fundação Ford e o Departamento de Estado, bem como com a Agência Central de Inteligência (CIA), constituiu-se em aspecto definidor e estruturante, ainda que secreto ou sigiloso, da atuação dessa organização filantrópica e destes órgãos de governo quanto às políticas de inteligência e propaganda. Reconstruindo documentalmente os acordos tal como se deram no momento de seu estabelecimento, ilumina a história da Guerra Fria.
E, finalmente, o número 11 da Revista Crítica Histórica encerra-se com a contribuição de uma das organizadoras do dossiê, na Seção Ensaios, que articula-se profundamente com o debate apresentado no volume. Ana Claudia Aymoré Martins, em “Cartografias imaginadas: Brasil e Cabo Verde na rota dos signos”, faz uma reflexão sobre a construção simbólica da insularidade na formação nacional do Brasil e de Cabo Verde, suas consonâncias e diálogos.
Agora, só nos resta convidá-los à leitura, certas de que as contribuições aqui publicadas dialogam diretamente com a história e a historiografia regional e nacional.
Ana Claudia Aymoré Martins
Ana Paula Palamartchuk
Maceió, julho de 2015
MARTINS, Ana Claudia Aymoré; PALAMARTCHUK, Ana Paula. Apresentação. Crítica Histórica, Maceió, v. 6, n. 11, julho, 2015. Acessar publicação original [DR]
A história deve ser dividida em pedaços? | Jacques Le Goff
A história deve ser dividida em pedaços? é o último livro escrito pelo medievalista francês Jacques le Goff, postumamente publicado na França em 2014 e de recente tradução para o português por Nícia Adan Bonatti. O comentador responsável pelo texto introdutório que se lê nas badanas do volume responde à pergunta sobre o que esperar do último escrito do erudito francês com uma palavra: coerência. Nisto nos reinscrevemos plenamente à visão do comentador não-identificado, pois neste ensaio le Goff retoma sua reflexão, já presente em Uma longa Idade Média (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008) sobre as possibilidades várias de periodização da história, argumentando principalmente pela não-pertinência ou pertinência atenuada e meramente parcial do termo “Renascimento” enquanto categoria analítica para dar conta de suposta viragem cultural ocorrida ao longo dos séculos XV e XVI. Leia Mais
História e cinema / Cantareira / 2015
Um escrito do câmera polonês Boleslas Matuszewski, de 1898, é identificado por Mônica Kornis, em um balanço histórico a respeito dos estudos históricos sobre cinema como o primeiro trabalho relativo ao valor do filme como documento histórico. Neste escrito de Mastuszewski, o autor defendia o valor da imagem cinematográfica como testemunho ocular verídico e infalível, sendo que estas observações se referiam ao filme documentário, produção predominante na época, e baseavam-se em um princípio de autenticidade do registro. Somente décadas mais tarde ela seria questionada em um debate acerca do cinema mudo entre os cineastas russos Dziga Vertov e Serguei Eisenstein. No debate, uma nova definição surgiria, e afirmaria que a natureza da imagem cinematográfica é também ela um constructo[2].
O historiador francês Marc Ferro, considerado o principal responsável pela incorporação do cinema na pesquisa histórica, viria a se referir a essa discussão em sua confrontação da ideia de que o documentário seria mais objetivo que a ficção, argumentando que ambos devem ser objetos de uma análise cultural e social. Alinham-se a essa perceptiva sobre as relações entre o cinema e a história, as considerações do escritor alemão Siegfried Kracauer, que contribuiu significativamente para os estudos nesse domínio ao estabelecer ligações entre um filme e seu meio de produção em suas análises, atribuindo aos filmes de ficção a capacidade de refletir a mentalidade de uma nação, revelando uma concepção realista do cinema que se consolidaria no campo da sociologia do cinema.
Tal identidade entre a realidade ou o meio de produção e o filme seria questionada posteriormente, sobretudo pelo crítico francês Pierre Sorlin, ao relativizar a autenticidade conferida à imagem fotográfica e problematizar a relação entre cinema e público. Acompanhando o histórico traçado por Kornis, percebe-se como a discussão sobre a linguagem cinematográfica esteve restrita aos cineastas e teóricos do cinema, em sua fase inicial, sendo que somente a partir da década de 1960 teve lugar um debate metodológico acerca das relações entre cinema e história, focalizando a questão da natureza da imagem cinematográfica.
Nesse sentido, é reconhecida a relevância da reflexão historiográfica francesa promovida nos anos 1960 e 1970 pelo movimento conhecido como Nova História, que destacou a importância da diversificação do uso de fontes na pesquisa histórica, abrindo caminho para a identificação de novos objetos e novos métodos que expandiram os domínios da história tradicional. Nesse campo, Marc Ferro é reconhecido como o principal expoente da incorporação do cinema como fonte aos estudos históricos, apontando para a presença do imaginário no cinema, bem como para o seu caráter de agente social e não apenas produto de uma época; na medida em que nele são expressas as crenças e as intenções de seus realizadores, podendo também servir de instrumento à doutrinação, glorificação ou conscientização de uma sociedade.
Ferro indicava, além disso, a necessidade de se considerar na análise fílmica elementos do filme assim como o que excede seu conteúdo, como as fontes a ele relacionadas. Portanto, sua proposta de análise distingue-se daquela apresentada por Sorlin, conforme bem observa Kornis, na medida em que este se atém à compreensão da linguagem cinematográfica, recusando a homologia estabelecida por Ferro, entre outros, entre um filme e seu contexto histórico, nos moldes de uma análise contextual[3].
Em discussão sobre as relações entre história e cinema nos escritos de Marc Ferro, Eduardo Morettin, retoma o movimento da História Nova ao analisar a incorporação do cinema como fonte documental aos domínios da pesquisa histórica, a partir dos anos de 1970. O autor discute a perspectiva de trabalho de Ferro com a fonte fílmica, segundo a qual o cinema é compreendido como um testemunho de sua época, tendo em vista uma articulação fundamental entre imaginário e cinema, o qual, não estando submetido ao controle das instâncias de produção social, viabilizaria uma contra análise da sociedade, segundo sua natureza histórica, enquanto possibilidade de revelar o inverso da sociedade. Nesse sentido, o filme agiria como um contra poder, revelando lapsos que se referem a uma realidade representada independentemente das intenções do operador. Morettin destaca, também, a marca da busca por uma realidade histórica em toda a obra de Ferro, que se relaciona a uma necessidade de se atingir a compreensão do que exatamente ocorreu no passado representado, orientada pelo princípio de que o fato histórico constitui o referencial da análise.
Contudo, o autor faz ressalvas a essa perspectiva sobre as relações entre cinema e história, recusando as dicotomias esboçadas por Ferro de modo a evitar simplificações no trato com a fonte fílmica, da qual ressalta o caráter polissêmico e aponta para as tensões próprias à sua linguagem. Nas suas palavras, “um filme pode abrigar leituras opostas acerca de um determinado fato, fazendo desta tensão um dado intrínseco à sua própria estrutura interna” [4]. Ele ressalta, ainda, a necessidade de por o cinema em primeiro plano nos trabalhos de história que mobilizem esse tipo de fonte a partir da análise fílmica, a qual, contudo, não deve se identificar às leituras da obra expressas pela crítica ou pelas falas do diretor, mas da qual deve emergir o sentido de sua estrutura.
Os artigos que integram o dossiê tomam por base esses apontamentos, apostando na pertinência da análise da fonte fílmica como realização integral, conforme preconizada por José D’Assunção Barros, para quem o seu exame não pode prescindir de uma metodologia multidisciplinar e pluridiscursiva, tendo em vista que “para compreender tanto as possibilidades formais e estruturais como os conteúdos encaminhados por um filme, faz-se necessário ultrapassar a análise exclusiva dos componentes discursivos associados à escrita (os diálogos e os roteiros, por exemplo)”[5].
Esses artigos são oriundos dos trabalhos de pesquisa apresentados no seminário “Fabulações Históricas: Reinventando o tempo através do cinema” – evento interno à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula Spini, do Instituto de História da UFU, vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPq “História, literatura e cinema: fronteiras metodológicas, apropriações e diálogos interdisciplinares”, realizado com o objetivo de promover a socialização e o debate das experiências de pesquisa dos alunos. O seminário ocorreu entre 16 de junho e 03 de julho de 2015, com uma mesa de debate por semana, em que foram apresentadas comunicações de seis alunos do curso de graduação em História da UFU, além de dois mestrandos em História, um da mesma instituição e outro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
O dossiê conta também com uma entrevista realizada por alunos da UFU com Eduardo Morettin, professor na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Autor de referência na área de História e Cinema, ele discute na entrevista questões atinentes ao seu envolvimento com esse campo de estudos, bem como aspectos de sua formação e percurso intelectual.
O artigo de Vinícius Alexandre Rocha Piassi, “Memórias no ecrã: os trabalhos de memória da ditadura no cinema de Lúcia Murat” arrola as primeiras observações de sua pesquisa de monografia acerca da filmografia da cineasta. A partir de uma análise transversal dos filmes em que Lúcia Murat aborda temas referentes à ditadura militar brasileira, busca-se identificar, em uma perspectiva de cinema autoral, as representações construídas sobre esse passado no qual estão imbricadas experiências pessoais da diretora. Analisando a mobilização das memórias da cineasta nesses filmes, articula-se à análise fílmica conceitos caros à psicanálise como trauma, luto e elaboração, para compreender os modos como ela lida com esse passado por meio da produção cinematográfica.
“Cuba libre? Laços de poder e jogos de azar na Máfia de Havana: Uma análise do filme O Poderoso Chefão: Parte II” é o desdobramento de um trabalho realizado por João Lucas França Franco Brandão para a disciplina de História da América III na UFU, no primeiro semestre de 2015. O tema desenvolvido alia a proposta da disciplina de abordar questões relativas ao século XX no continente americano, do qual se destaca a Revolução Cubana, e a interface história e cinema, na qual o aluno empreende uma pesquisa de Iniciação Científica vinculada ao CNPq. No presente artigo, o autor analisa no filme de Francis Ford Coppola de 1974 as representações construídas sobre o apogeu e o ocaso da máfia de Havana.
Suelen Caldas de Sousa Simião é mestranda em História na área de Política, Memória e Cidade na Unicamp, egressa do curso de graduação em História da UFU. O mestrado iniciado em 2015 tem como tema “Medianeras no cinema e na cidade: sensibilidades contemporâneas em El hombre de al lado (2009) e Medianeras (2011)”, de cuja pesquisa o presente artigo constitui um produto. Em “(In)visibilidade contemporânea: o olhar e a cena urbana em Medianeras (2011)”, a partir da opção pelo filme argentino de Gustavo Taretto, é desenvolvida uma análise das relações de seus protagonistas com a cidade de Buenos Aires em que se problematiza a prática da flanêrie contemporânea, ao lado do fenômeno da multidão das grandes cidades, como formas de socialização características do que se compreende por hipermodernidade.
Em “Tradição (re)inventada: a desconstrução do mito do cowboy em Crepúsculo de uma raça” Lucas Henrique dos Reis desenvolve o tema abordado em sua monografia detendo-se na análise do último western de John Ford, lançado em 1964, do qual são destacados os papéis representados por seus personagens em relação com os mitos nacionais dos Estados Unidos. Desse modo, é ressaltada uma perspectiva crítica de Ford em sua representação do cowboy no cinema hollywoodiano dos anos de 1960, interpretando uma narrativa fundadora da identidade nacional dos Estados Unidos do século XIX.
O artigo de Lucas Martins Flávio, “Da conquista do espaço às portas do Paraíso: a ficção científica entre utopias e distopias” está relacionado à sua pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em História da UFU, financiada pela CAPES. Da pesquisa iniciada em fevereiro de 2015, intitulada “Reminiscências de uma Contracultura tardia: os filmes de ficção científica de George Lucas da década de 1970”, destaca-se a revisão da história do gênero de ficção científica, desde sua origem literária até suas expressões cinematográficas, com especial atenção para as relações do gênero com as questões da utopia e da distopia, situando nesse campo a produção do cineasta George Lucas nos anos de 1970, nos Estados Unidos.
“Dr. Fantástico, Ironia e Guerra Fria”, de Arthur Rodrigues Carvalho, é fruto de sua pesquisa de Iniciação Científica financiada pelo CNPq, iniciada em agosto de 2015, a qual se relaciona também à temática desenvolvida em sua iniciação científica, ainda em andamento. A partir da análise do filme Dr. Fantástico ou Como aprendi a parar de me preocupar e amar a bomba (1964) de Stanley Kubrick, é explorada a construção narrativa do período da Guerra Fria pelo diretor, com atenção especial para o uso do tropo linguístico da ironia no filme.
Os autores dos textos apresentados devem um agradecimento às professoras Ana Paula Spini e Mônica Brincalepe Campo, do Instituto de História da UFU, pelo apoio na execução das pesquisas e estímulo à publicação. Os artigos que integram o dossiê exemplificam formas diversas de abordagem da interface história e cinema, oferecendo perspectivas distintas sobre o uso da fonte fílmica na pesquisa histórica e expressam, dessa forma, o envolvimento de jovens pesquisadores nesse campo de estudos. Portanto, são convites a uma imersão no universo de relações em que se imbricam o cinema e a história, configurado por trilhas em movimento de sons e imagens
Notas
- KORNIS, Mônica. “História e Cinema: um debate metodológico”, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p.240.
- KORNIS, op. cit., p.245.
- MORETTIN, E. V. “O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro”. História: Questões e Debates. Imagem em Movimento: o cinema na história, ano 20, n. 38, jan. / jun. 2003. p.15.
- BARROS, José D’Assunção. “Cinema e história: considerações sobre os usos historiográficos das fontes fílmicas.” Comunicação & Sociedade, Ano 32, n. 55, jan. / jun. 2011. p.192.
Vinícius Alexandre Rocha Piassi – Aluno do curso de graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
PIASSI, Vinícius Alexandre Rocha. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.23, jul / dez, 2015. Acessar publicação original [DR]
O imaginário: Ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem | Gilbert Durand
Gilbert Durand, professor titular e emérito de filosofia, sociologia e antropologia da Universidade de Grenonle II e fundador do Centro de Pesquisa do Imaginário – centro que possuí sedes em inúmeros países, incluindo o Centro de Estudos do Imaginário, Culturanálise de Grupos e Educação (CICE), pertencente a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – é um conhecido pesquisador na área das ciências humanas e autor de diversas obras publicados no Brasil. Dentre elas destacam-se A Imaginação Simbólica, As Estruturas sociológicas do Imaginário e Campos do Imaginário.
Em O Imaginário: Ensaios acerca das ciências e da filosofia da imagem, seu mais recente livro publicado pela editora Difel em 2011, Durand faz uma síntese da história do imaginário no Ocidente. O autor traça um panorama das diferentes posições e papéis ocupados pela imagem na filofia, na religião e na formação do imaginário coletivo.
Gilbert Durand dialoga com filósofos clássicos como Sócrates, Platão, com filósofos da história como Marx, Weber e Hegel e também com autores contemporâneos como o antropólogo Claude Lévi-Strauss e o sociólogo Michel Mefesolli – do qual Durand foi professor – demonstrando grande domínio acerca do tema e uma enorme erudição ao lidar de forma particular e bem articulada com autores de diferentes períodos e campos do conhecimento.
O livro está dividido em três capítulos principais que se desdobram em vários subcapítulos. O denominador comum dos capítulos reside em um antigo paradoxo: a civilização ocidental, por um lado, proporcionou técnicas de expansão das imagens e, por outro, criou uma crescente desconfiança iconoclasta.
O Paradoxo do imaginário no ocidente é a primeira parte do livro e está dividida em três subcapítulos à saber: Um iconoclasta endêmico, As resistências do Imaginário e o Efeito perverso e a explosão do vídeo. Nela, o autor discorre sobre duas principais estéticas da imagem no ocidente, a do Império Bizantino e a da cristandade de Roma. Durand afirma que elas se desenvolveram de forma antagônica. Enquanto a primeira concentrou-se na figuração e contemplação da imagem humana transfigurada por Jesus Cristo, a Roma pontifícia introduziu o culto e a representação da natureza nas pinturas religiosas. Esse foco imagético promoveu um duplo efeito. O primeiro relacionou-se a diminuição da presença humana nas imagens, o segundo, diz respeito a facilitação do retorno de divindades elementais e antropomórficas dos antigos paganismo – visto que países de origem celta, como a França e Bélgica, adotaram a representação da natureza nas imagens religiosas, além de já possuírem uma herança e um imaginário permeado por divindades da natureza.
Resistências do Imaginário discorre sobre a circulação e a propagação de imagens que resistiram a perseguição e as proibições de suas manifestações. Os franciscanos, monges não enclausurados, foram um dos propagadores de uma nova sensibilidade religiosa, iniciada com a estética da imagem santa que a arte bizantina perpetuaria por vários séculos. Os franciscanos instauraram a devotio moderna, ou seja, a devoção e transposição de imagens para os ministérios da fé.
O efeito perverso e a explosão do vídeo, problematiza a importância do vídeo e da explosão de imagens no desenvolvimento cognitivo. Na civilização da imagem temos o fim da galáxia de Gutenberg que deu lugar ao reino da informação e da imagem visual. Coloca o problema da onipresença da imagem, presente desde o berço até o túmulo e a influencia exercida na vida social, promovendo uma espécie de manipulação icônica através das mídias e propagandas.
A segunda parte do livro As ciências do imaginário está dividida em seis subcapítulos: As psicologias das profundezas, as confirmações anatomofisiológicas e etológicas, as sociologias do selvagem e do comum, As novas crítica: da mitocrítica à mitoanálise, o imaginário da ciência e Os confins da imagem e do absoluto do símbolo: homo religiosus.
No contexto do cientificismo racionalista do século XIX, o Romantismo, o Simbolismo e o Surrealismo foram os bastiões da resistência dos valores do imaginário., Destaca-se também a descoberta do inconsciente por Freud, que passou a tratar a imagem como sintoma. Tal atribuição contribuiu para que a imagem perdesse a desvalorização que a acompanhava desde o período clássico.
Ainda no campo da psicanálise, o suíço Carl Jung foi importante para a normalização do papel da imagem ao desenvolver o conceito de inconsciente coletivo estruturado pelos arquétipos, ou seja, por disposições hereditárias para reagir. Os arquétipos se expressariam em imagens simbólicas coletivas e o símbolo seria a explicitação da estrutura do arquétipo.
Durand afirma que o imaginário constitui-se em um conector obrigatório pelo qual se forma qualquer representação humana, ou seja, para ele o pensamento forma-se pelo imaginário. A partir desta afirmação Durand dialoga com outros autores contemporâneos, como Mafesolli, ao entender o imaginário como uma realidade e não apena parte do onírico.
Durand situa alguns autores clássicos e sua relação com a categoria imaginário. Os trabalhos de Marx e Comte, por situarem-se a margem da civilização, provocariam uma recusa dos processos de consciência. Para não realizar este recuo percebeu-se o valor do imaginário e a ciência do homem social passou a abordar todas as declinações do pensamento. Autores como Gramsci dão ênfase as crenças folclóricas, relacionadas a subversão da ordem, este autor desmistifica a ideia de que a religião seria o ópio do povo, como colocou Marx. Ele abre o pensamento de Marx para o campo do simbólico, pois para Gramsci o domínio de classe não poderia ocorrer sem o domínio do simbólico.
Quais seriam as diferenças entre o papel desempenhado pela imagem no imaginário moderno e pós moderno? A partir da leitura da obra de Durand podemos elencar algumas considerações sobre esta problematização. No período moderno o imaginário se baseava na razão e no progresso. Um imaginário profético baseado na crença e na moral. Na pós modernidade a imagem não é mais associada a filosofia profética, a projeção assegurada do futuro já não funciona mais. Na pós modernidade as imagens do presente são acentuadas, ocorre a abolição das distâncias objetivas e emerge uma nova relação com o tempo e o espaço, de simultaneidade. As relações entre as pessoas se transformam.
Durand apresenta as novas críticas em relação ao imaginário. A mitocrítica, entendida como um sistema de interpretação da cultura, anteriormente discutido na obra As estruturas antropológicas do imaginário, publicada em 1960, propõe a compreensão das estruturas do imaginário a partir dos significados simbólicos e da reconstrução do trajeto antropológico em constante intercambio com as pulsões subjetivas e objetivas inseridas também no meio social.
Durand se desvincula em parte do estruturalismo de Levis Strauss, reconhecendo que para compreender o mito é necessária a reconstrução de suas estruturas, no plural. Se diferencia de Levis Strauss pela criação de um terceiro nível de leitura que ultrapassa o sincrônico e o diacrônico culminando no arquetípico e simbólico.
A mitocrítica estaria centrada na análise dos mitos de textos culturais (oral, escrito) e a mitoanálise seria mais abrangente, se estendendo para o contexto social no sentido de apreender os mitos vigentes de uma dada sociedade. A mitoanálise requer o exame do aparato social como arte, comportamento, produção institucional etc.
A concepção de imaginário de Durand pode ser vista como um leque, dialoga com diversos autores e estruturas de pensamento. Para ele, o imaginário é o museu de todas as imagens passadas e aquelas possíveis de serem produzidas. Seu projeto é desenvolver um estudo sobre o modo de produção destas imagens, como elas são transmitidas e como ocorre sua recepção. Durand insere as imagens em um trajeto antropológico que perpassa vários níveis, o neurológico, o social e o cultural.
Sabrina Fernandes Melo – Doutoranda vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGH – UFSC), integrante da linha de pesquisa Arte, Memória e Patrimônio e bolsista CNPQ. E-mail: sabrina.fmelo@gmail.com
DURAND, Gilbert. O imaginário: Ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 2011. Resenha de: MELO, Sabrina Fernandes. Imaginário e filosofia da imagem. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.33, n.1, p.225-229, jan./jun. 2015. Acessar publicação original [DR]
Revista Práticas de Linguagem. Juiz de Fora, v. 5, n. 2, jul./dez. 2015.
- Tânia Guedes Magalhães
- 6 – 15 Encontros de Professores para estudos de Letramento, Leitura e Escrita: a autoria de textos docentesLudmila Thomé de Andrade
RELATOS
- 16 – 27 Bruxa, bruxa venha a minha festa: do imaginário da leitura literária às experiências com os gêneros do discursoJaqueline Lima
- 28 – 41 A vivacidade dos gêneros e seus suportes no cotidiano da Educação Infantil: os diversos contextos e o trânsito real e simulado nas brincadeiras de faz de contaNatasha Pitanguy de Abrantes
- 42 – 48 Letramento, ambiente e oralidade na educação infantilLuciene Rodrigues Ximenes e Ana Paula Bellot
- 49 – 60 Gestos que falam: desafios e expectativas de trabalho com bebês e suas linguagensBárbara de Mello
- 61 – 76 Literatura infantil e as diferentes linguagens: possibilidades apresentadas pelas práticas de leitura literária na crecheFlávia Barros Carvalhal
- 77 – 90 Uma experiência de reescrita na alfabetizaçãoGiselle Amorim
- 91 – 112 Indagações de uma professora alfabetizadora inicianteNaara Maritza de Sousa
- 113 – 153 Relato e reflexões sobre o cotidiano escolar em turma de 2o ano com enfoque na produção de textos: escritores iniciantes produtores de textosElaine Lourenço da Silva Cordeiro
- 154 – 160 Alfabetizar ou elaborar projetos?Simone Werneck
- 161 – 174 Desafios de uma professora: receitas na sala de aulaRenata Rezende Gondim
- 175 – 193 Em busca de um caminho de autoria: reflexões sobre o processo de produção textual de alunos em período de alfabetização
- Beatriz Donda
La ciudad horizontal. Urbanismo y resistencia en un barrio de casas baratas de Barcelona | Stefano Portelli
¿Qué es Bon Pastor? Pregúntale al polvo…
Portelli, 2015, p. 11
La ciudad horizontal… deconstruye la conformación de un espacio barrial periférico atravesado por las prácticas sociales cotidianas y combativas de los sectores populares. La resistencia de los vecinos de Bon Pastor a la demolición de sus hogares en 2007, se concatena con una larga historia de luchas sociales por la defensa de su lugar en la ciudad.
Las Casas Baratas eran un conjunto de cuatro complejos de viviendas sociales unifamiliares, ubicados en la periferia industrial de Barcelona. A partir de los años noventa, los planes de transformación urbana del denominado “modelo Barcelona” consideraron pertinente “poner en valor” una serie de espacios públicos en desuso y antiguas áreas industriales. En esta reconfiguración urbana, Bon Pastor, un barrio pobre y deprimido de una ciudad en transformación, se consideró un espacio propicio para la inversión del capital privado destinada a compradores e inquilinos de clase media. Así, su ubicación estratégica en la nueva trama urbana produjo su valorización inmobiliaria, en paralelo, a la elaboración de un proyecto de viviendas en altura que lo suplantaría. En el caso de las Casas Baratas, o de otros barrios pobres, la gentrificación (SMITH, 2013) o recualificación urbana posibilita una baja inversión inicial y altas ganancias, una vez concluido el proceso. Es decir, en el capitalismo la urbanización se emplea para resolver los problemas de excedente de capital (HARVEY, 2008). El mercado incorpora grandes excedentes de capital, mientras, los activos inmobiliarios suben su precio. Además, se potencia el mercado interno de servicios y bienes de consumo.
Por esto, el ayuntamiento acordó con capitales privados el traslado de la población a nuevos edificios donde cada familia recibiría un departamento en propiedad. La tentadora propuesta generó una división de opiniones entre los vecinos del barrio. Mientras, los más jóvenes veían en ella el acceso a la casa propia, los más viejos no se encontraban dispuestos a abandonar su “casa” de toda la vida. Estas disidencias movilizaron a una parte de los residentes que se organizaron para enfrentar los desalojos. A pesar de las manifestaciones de resistencia barrial, a partir del 2007, el municipio comenzó con la primera etapa de demolición.
Stefano Portelli, junto al grupo multidisciplinar del Instituto de Antropología de Cataluña, se contactó con los locatarios de Bon Pastor con las primeras noticias de la remodelación barrial en 2004. Su experiencia como observador, paulatinamente se transformó en una experiencia militante, o en sus propias palabras: “a medio camino entre la investigación y el activismo político” (PORTELLI, 2015:12). En efecto, su apoyo a las acciones de los vecinos en 2007, provocó el replanteo del rumbo político que la investigación había adquirido. Como consecuencia de ello, en lugar de desdeñar esta arista se articuló una estrategia metodológica que la incorporara. Así, la etnografía se postula en este trabajo como una herramienta para enfrentar la planificación urbanística contemporánea, y así evidenciar, la cara oculta de estos procesos globales en consecuencias humanas. En otras palabras, La ciudad horizontal compone un relato etnográfico revanchista (SMITH,1996) que complejiza el lugar del investigador revalorizando su condición de sujeto social. Es decir, su agencia y sus intervenciones se asumen como parte del proceso de investigación.
Al recorrer las calles de Bon Pastor, Portelli se preguntaba acerca de la “horizontalidad relacional” que produjo el diseño arquitectónico de las Casas Baratas (viviendas unifamiliares, dispuestas en hileras, formando manzanas). La vivienda como dispositivo arquitectónico aislado ocluye los vínculos con el espacio que configuran dichas prácticas sociales. Como en otros barrios periféricos, las relaciones vecinales configuraron un espacio comunitario donde se desdibuja la distinción entre lo público y lo privado. La puerta, las ventanas y las veredas, abandonan su condición de murallas para convertirse en puentes. El hábitat periférico contempla al barrio como parte del dispositivo habitacional. En el emplazamiento de Bon Pastor, las viviendas a pie de calle colaboraron con una apropiación colectiva de los espacios comunes. Por esto a través de la etnografía, el autor (re)construye desde adentro la historia de la vida cotidiana del barrio y sus habitantes. Minuciosamente, se reseñan las biografías de los vecinos para desandar la “legitimidad territorial” que ellos obtuvieron a través de sus vidas allí.
La memoria de los locatarios es, en parte, la memoria del barrio, y en su yuxtaposición se compone el relato de legitimación territorial. El complejo de Casas Baratas de Bon Pastor se construyó en 1929 durante la Exposición Universal de Barcelona. Después de la primera guerra mundial, se aceleró la inmigración sureña a esta ciudad como resultado de su desarrollo industrial. En 1911 se sancionó la primera ley de las Casas Baratas. Aunque recién en 1924, durante el gobierno de Primo de Rivera, se promulgaron los decretos que obligaban a los ayuntamientos a edificar complejos públicos-privados de vivienda social. En vísperas de la Exposición, este proyecto fundió la solución a dos problemas: la revalorización inmobiliaria del centro y el traslado de los trabajadores a los márgenes urbanos. Carente de asistencia estatal y atravesada por las trayectorias de luchas obreras barcelonesas del último siglo, Bon Pastor configuró una identidad barrial fuerte y combativa.
De la misma manera que el relato de los vecinos compone una estrategia de legitimación territorial, las experiencias combativas son resignificadas para justificar las diversas acciones de resistencia al desalojo. Entre ellas, las persecuciones franquistas a los obreros anarquistas fueron sólo el comienzo. Luego de la guerra, la lucha contra el hambre y la reconstrucción de las zonas afectadas por la contienda impulsó la primera organización de vecinos de Bon Pastor. Asimismo, el régimen autoritario y la presencia de la iglesia en barrio obligaron a los vecinos a unirse para defenderse de ciertos abusos. Nuevamente, la expansión de la droga, en los años ochenta, unió a los vecinos para combatir su erradicación del barrio porque este flagelo afectaba a los más jóvenes de la comunidad. Y ahora, era la resistencia al desalojo, lo que los volvía a unir.
Entre sus experiencias militantes y sus historias de vida se percibe una trama relacional que sobrepasaba lo espacial y se reflejaba en el plano familiar. Para Portelli, esta era la historia de una gran familia. La ubicación de las casas de los entrevistados demuestra que la “horizontalidad relacional” se reforzaba con vínculos familiares. Varias generaciones de una misma familia habitaban en las Casas Baratas. Por esto, el referéndum del año 2004 a favor de las reformas barriales simbolizó una ruptura al interior de la comunidad, y a vez, de las tramas parentales. Por primera vez, vecinos y familias dividieron sus opiniones y no actuaron en bloque.
La ciudad horizontal (re)valoriza la categoría antropológica de comunidad. En ciencias sociales, los espacios periféricos son asociados con resabios de la comunidad de antiguo régimen. La dinámica propia de las relaciones barriales nos devuelven una imagen de estadio primigenio de vida social (CRAVINO, 2009). Así, la comunidad se valoriza teóricamente como una categoría positiva que sigue en vigencia para estudiar las relaciones sociales contemporáneas. Portelli, recurre a ella en un doble sentido. Por un lado, la noción de comunidad le permite indagar en la historia del barrio y los vínculos entre los vecinos. Los relatos personales arman y desarman la vida de ese espacio. Y en este diálogo, un conjunto de familias de un espacio periférico se erige en una comunidad aislada desde arriba y desde afuera que refuerza sus lazos con la experiencia residencial en este lugar. Al parecer, el aislamiento espacial consolida la noción de comunidad que él propone. Por otro lado, la misma comunidad, los cimientos sólidos de su historia, conformaron un movimiento social que enfrenta con acciones concretas la resistencia en el barrio para el afuera. Aunque por momentos ambigua, la definición de comunidad del autor es el punto de quiebre de su explicación. Esta ductilidad de la categoría antropología le permitió tensionarla en un doble movimiento. De un lado, la resistencia del grupo que no acuerda con la destrucción de sus hogares, que a la vez, se fragmenta con los vecinos que aceptaron la demolición, y tensionan lo colectivo desde otra postura. Así, la comunidad se refuerza y se escinde en un mismo movimiento.
El análisis de la conformación del espacio barrial en las Casas Baratas permite un diálogo con otros casos de precariedad habitacional en espacios periféricos. Los asentamientos irregulares latinoamericanos podrían ser un ejemplo de ello [2]. En estos espacios relegados, donde la ausencia estatal es profunda, los vínculos entre vecinos son esenciales para afrontar múltiples situaciones de la vida cotidiana. Al igual que en las Casas Baratas, las experiencias compartidas producen un correlato espacial. Aunque, los asentamientos irregulares, generalmente, surgen con una situación de ocupación ilegal del espacio urbano. Esta informalidad urbana no evita su organización para reclamar por su lugar en la ciudad. Así, como en Bon Pastor, se multiplican las estrategias de resistencia para conservar sus viviendas. El sostenimiento de esas estrategias, muchas veces, refleja lo profundo de los vínculos que se habían originado en el espacio barrial.
Nota
2 Según los países: “Villa Miseria” en Argentina, “Favela” en Brasil, “Callampas” en Chile, “Barriadas o Pueblos Jóvenes” en Perú, “Cartenguiles” en Uruguay, etc. Ver, CRAVINO, María Cristina (Comp.) Repensando la ciudad informal en América Latina, Los Polvorines: Universidad Nacional General Sarmiento, 2012.
Referências
CRAVINO, María Cristina. Vivir en la villa: relatos, trayectorias y estrategias habitacionales. Los Polvorines: Univ. Nacional de General Sarmiento, 2009.
HARVEY, David. La libertad en la ciudad”. Antípoda (7), 2008, pp.15-29.
SMITH, Neil. ¿Es la gentrificación una palabrota? La nueva frontera urbana, Madrid, Traficante de Sueños, 2013.pp.73-98.
Anahí Guadalupe Pagnoni1 – La autora es Licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Reviste como profesora auxiliar en la Cátedra de Espacio & Sociedad de la misma institución y como investigadora en el Centro de Estudios Culturales Urbanos (CECUR) de la Universidad Nacional de Rosario. E-mail: anahipagnoni@hotmail.com
PORTELLI, Stefano. La ciudad horizontal. Urbanismo y resistencia en un barrio de casas baratas de Barcelona. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2015. Resenha de: PAGNONI, Anahí Guadalupe. Urbana. Campinas, v.7, n.2, p. 132-135, jul./dez. 2015. Acessar publicação original [DR]
Quando a independência faz a união: Brasil, Argentina e a questão cubana (1959-1964) | Leonardo R. Botega
O que tem em comum Arturo Frondizi, Jânio Quadros e João Goulart, além de terem sido presidentes de seus países? A resposta mais evidente é que nenhum deles concluiu o seu mandato. Frondizi foi deposto pelos militares argentinos em 28 de março de 1962, Quadros renunciou à presidência do Brasil em 25 de agosto de 1961 e Goulart foi alijado do poder por um golpe civil-militar em 1 de abril de 1964.
Além disso, há, ainda, outro ponto de contato entre esses três personagens: todos eles patrocinaram, em um período muito próximo, mudanças nas relações exteriores de seus países que ficaram conhecidas por políticas externas independentes. E mais ainda: procuraram aproximar o Brasil e a Argentina na defesa da autonomia da América Latina num momento de extrema tensão ocasionado pela emergência da Revolução Cubana que modificou o estatuto da Guerra Fria no continente americano.
É disto que trata o livro Quando a independência faz a união: Brasil, Argentina e a questão cubana (1959-1964), de autoria de Leonardo da Rocha Botega.1 Adaptado de sua dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal de Santa Maria, o livro, agora, aumentará a circulação da consistente pesquisa elaborada pelo seu autor em um grande número de fontes primárias, com destaque para os anos iniciais da Revista Brasileira de Relações Internacionais com seus números que foram editados entre 1958 e 1964. Some-se a isso o expressivo número de 140 referências bibliográficas que colaboraram para que o livro tenha uma rica densidade teórica bem como uma ampla perspectiva da História do fim dos anos 50 e inícios dos 60 do Século XX.
Afinal, foi a Revolução Cubana de 1959 que trouxe a latino-americanização da Guerra Fria. Até então, pouca importância davam os Estados Unidos da América (EUA) para o subcontinente latino-americano.[2] É assim que Botega abre o primeiro capítulo de sua obra:
Quando Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro, Camilo Cienfuegos e outros tomaram a capital Havana, em janeiro de 1959, sem sombra de dúvidas a América Latina passava a viver um momento diferente em seu cenário político. O forte poder de atração que esta exerceu sobre a esquerda trouxe para a América Latina a “sombra” do conflito leste-oeste, atingindo em cheio a esfera de influência dos Estados Unidos, principalmente ao definir no período 1960-1961 o seu caráter socialista.[3]
Nesse capítulo inicial, o autor produz uma visão panorâmica sobre a Argentina, o Brasil e Cuba, tendo como elemento comparativo das realidades históricas de cada um desses países o nacionalismo. Aqui é importante frisar, como o fez Eric Hobsbawm,[4] que o nacionalismo é um conceito histórico e que, portanto, ele se modifica ao longo do tempo, podendo se localizar nos mais extremos espectros políticos. Porém, no tempo e no espaço da Argentina, Brasil e Cuba dos anos 1950, houve a coincidência de o nacionalismo assumir “um caráter cada vez mais à esquerda no contexto da Guerra Fria”,[5] constituindo assim uma preocupação para os Estados Unidos que procuraram –durante a VII Reunião de Consulta dos Ministros de Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada entre 22 e 29 de agosto de 1960 na Costa Rica – impor “a adoção de sanções econômicas e de medidas coercitivas ao governo de Cuba”.[6] Não obtiveram sucesso em razão da forte oposição da Argentina, do Brasil e do México,[7] que incluíram na Declaração de San José que “nenhum Estado americano pode intervir em outro Estado americano com o propósito de impor-lhes suas ideologias ou princípios políticos, econômicos e sociais”[8] .
Leonardo Botega reconstitui a trajetória política de Arturo Frondizi além de discutir teoricamente a ideologia de seu projeto de desenvolvimento conhecido por desarrollismo, que visava superar tanto os entraves patrocinados pelo latifúndio quanto pela exploração imperialista. Também analisa a difícil situação do presidente argentino que se encontrava sob fogo cruzado, entre a extrema-direita patrocinada pelos militares anticomunistas e antiperonistas e pelos peronistas que o consideravam um traidor, pelo fato de ter permitido que o capital estrangeiro explorasse o petróleo de seu país.
Nesse capítulo primeiro, o autor também, analisou a polarização vivida pelo Brasil no “tempo da experiência democrática (1945-1964)”,[9] culminando com a eleição de Jânio Quadros – quando Afonso Arinos de Melo Franco implementou a Política Externa Independente (PEI) – e sua intempestiva renúncia que “permanece ainda alvo de debates. Porém, mesmo sem provas documentais, a literatura de história e ciências sociais concorda que o presidente desejava dar um golpe de Estado”.[10] Aborda a Campanha da Legalidade, o governo parlamentarista com o reatamento de relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e o turbulento período presidencialista de João Goulart, com sua desestabilização patrocinada pelos EUA e o golpe civil-militar de 1964.
Fechando esse capítulo, é realizada detida exposição acerca do desenvolvimento histórico de Cuba, partindo de sua conquista em 1511 até o período da luta revolucionária – enfatizando a relação com os Estados Unidos. Recupera a trajetória de Fidel Castro, desde sua juventude nos anos 1940, passando pelo malogrado assalto ao Quartel de Moncada e seu discurso de defesa intitulado A História me absolverá até chegar a luta em Sierra Maestra e a revolução sair vitoriosa. A partir desse momento, o autor se concentra no esgotamento da relação com os EUA, principalmente, em função da reforma agrária e da “nacionalização de todas as propriedades norte-americanas (…) 36 engenhos de açúcar, todas as refinarias de petróleo e instalações telefônicas e de fornecimento de energia elétrica”[11] e do episódio da Baía dos Porcos, onde as forças de Castro vencem os invasores. Com isso, tem início a verdadeira obsessão dos irmãos Kennedy sobre Cuba, não faltando planos de assassinar Castro operados diretamente por Robert Kennedy através da Operação Mangusto,[12] bem como a pressão cada vez mais intensa para excluir Cuba do convívio com os demais estados americanos.
O segundo capítulo nos aproxima das políticas externas independentes da Argentina e do Brasil. Através da análise da documentação produzida naquele período – discursos e pronunciamentos dos responsáveis pelas políticas externas e dos presidentes dos dois países – e de dois livros – um de autoria de Frondizi e outro de San Tiago Dantas [13] – o autor procurou responder às seguintes questões:
Quais as fundamentações da política externa independente do governo Arturo Frondizi e da política externa independente do Brasil? Quais suas bases conceituais? Que leituras tinham da realidade latino-americana e mundial? Que pontos de vista as aproximavam?[14]
Botega conclui que há muitos pontos de aproximação entre as duas políticas externas: ambas estão calcadas no nacionalismo, buscam um paradigma de maior autonomia para suas relações exteriores, procuram fazer da política externa uma ferramenta na busca pelo desenvolvimento econômico-social, criticam a deterioração dos termos de troca nas relações econômicas entre os países mais industrializados e os países em vias de industrialização, frisam que não são neutralistas mas que procuram a independência dentro do bloco ocidental (ambos são acusados pelos adversários de estarem a serviço de Moscou), pretendem manter boas relações com os EUA (Frondizi e Goulart discursaram no Congresso dos Estados Unidos), e, por fim, que são defensores dos princípios de autodeterminação dos povos e de não-intervenção.
É justamente sobre os princípios de autodeterminação dos povos e de não-intervenção que trata o terceiro capítulo do livro, ao analisar de que forma Argentina e Brasil colocaram em prática suas políticas externas independentes quando da crise da “questão cubana”.
Por “questão cubana” se entendia a adoção do socialismo a partir da declaração de que “o que os imperialistas não podem nos perdoar é que fizemos uma Revolução Socialista debaixo do nariz dos Estados Unidos e que defenderemos com nossos fuzis esta Revolução Socialista (…) Viva a Revolução Socialista! Viva Cuba Livre”[15] feita por Fidel Castro, e sua incompatibilidade com o sistema interamericano. Ressalte-se que essa modificação no estatuto da Revolução Cubana se deu em 16 de abril de 1961, um dia após tropas de exilados cubanos financiados pela CIA terem realizado um ataque com grande saldo de vítimas fatais em Cuba e um dia antes da tentativa de invasão conhecida como Baía dos Porcos, o que permite entender essas palavras como um pedido de socorro à URSS para a defesa da Revolução Cubana.
Em razão de Cuba ter se declarado socialista, primeiro o Peru e posteriormente a Colômbia (ambas com apoio estadunidense) invocaram o Tratado Interamericano de Aliança Recíproca (TIAR) para convocar uma Reunião de Consulta dos Chanceleres da Organização dos Estados Americanos (OEA) com o objetivo de “intervir coletivamente através da OEA em Cuba”[16]. Tanto o Brasil, como a Argentina e também o México, se posicionaram de forma contrária até que “o próprio Fidel Castro acabou dando munição para os seus adversários. No discurso de inauguração da Universidade Popular, em 2 de dezembro de 1961, declarou ‘sou marxista leninista e serei marxista-leninista até o último dia de minha vida’”[17]. Desse modo, ficava muito difícil, em termos políticos, barrar a convocação da Reunião.
Dado a polêmica da questão, nenhum país quis sediar a Reunião de Consulta, exceto o Uruguai. Assim, a VIII Reunião de Consulta dos Chanceleres Americanos se realizou em Punta del Este entre 23 e 31 de janeiro de 1962. San Tiago Dantas, representando o grupo composto por Brasil, Argentina, México, Bolívia, Chile e Equador e Haiti (o Uruguai oscilava entre a posição brasileira e a posição colombiana pela expulsão de Cuba), defendeu que a ilha não fosse excluída do sistema americano sob o risco de estarem-na jogando aos braços dos soviéticos.
Os Estados Unidos, sob a liderança do Secretário do Departamento de Estado, Dean Rusk, exerceram pressões sobre o Brasil, a Argentina e os outros países que eram contra a expulsão de Cuba. Outras pressões eram exercidas pelos setores mais à direita internamente nos países, como o fez o exército argentino e alguns ex-chanceleres brasileiros. Contudo, foi um dos mais fracos países do continente que acabou sucumbindo às pressões dos EUA: o Haiti foi o necessário 14º voto para a aprovação da íntegra do texto de resolução apresentado por Rusk.
Leonardo Botega analisa as repercussões internas das posições do Brasil e da Argentina, que acabaram se abstendo de votar o texto completo de Rusk. Percebeu os apoios e as oposições às políticas externas independentes. No caso brasileiro, de forma mais imediata, a posição em Punta del Este acabou sendo um empecilho para San Tiago Dantas ser aprovado pelo Congresso como primeiro-ministro em junho daquele mesmo ano. No caso argentino, a pressão foi tão intensa que o país rompeu relações diplomáticas com Cuba em 8 de fevereiro e, mesmo cedendo desse modo aos militares, o presidente Frondizi foi deposto em 29 de março de 1962. Dois anos depois, tendo como uma das justificativas salvar o Brasil do comunismo, João Goulart também foi golpeado por militares e por civis.
Do belo trabalho de pesquisa realizado por Leonardo da Rocha Botega fica uma questão em aberto: até que ponto os golpes militares não foram, também, resultado das políticas externas independentes, ou talvez, resultado da posição frente a questão cubana?
Notas
1. BOTEGA, Leonardo da Rocha. Quando a independência faz a união: Brasil, Argentina e a questão cubana (1959-1964). Porto Alegre: Letra & Vida, 2013.
2. Basta lembrar que a Operação Pan-americana (OPA) proposta por Juscelino Kubitschek em maio de 1958 não despertou maior interesse de Eisenhower. CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 3ª edição ampliada. Brasília: Editora da UNB, 2010, p.293-294.
3. BOTEGA, op.cit., p.29.
4. HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. 3ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
5. MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. O nacionalismo latino-americano no contexto da Guerra Fria. In: Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, ano 37, nº 2, 1994, p.55-56.
6. BOTEGA, op.cit., p.43.
7. As posições da política externa independente mexicana, em especial com sua relação com a questão cubana, são abordadas em profundidade por Altmann. ALTMANN, Werner. México e Cuba: revolução, nacionalismo, política externa. São Leopoldo: Unisinos, 2001, p.77-86.
8. BOTEGA, op.cit., p.44.
9. A expressão é de Jorge Ferreira e Lucília Delgado. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O Brasil Republicano: o tempo da experiência democrática. Vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
10. FERREIRA, Jorge; GOMES, Angela de Castro. 1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p.25.
11. GOTT, Richard. Cuba: uma nova História. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p.211.
12. WEINER, Tim. Legado de Cinzas: uma história da CIA. Rio de Janeiro: Record, 2008, p.208-217.
13. FRONDIZI, Arturo. A Luta Antiimperialista: etapa fundamental do processo democrático na América Latina. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1958. DANTAS, San Tiago. Política Externa Independente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962.
14. BOTEGA, op.cit., p.104.
15. Fidel Castro apud MÁO JÚNIOR, José Rodrigues. A Revolução Cubana e a Questão Nacional (1868-1963). São Paulo: Núcleo de Estudos D’O Capital, 2007, p.354.
16. BOTEGA, op.cit., p.184.
17. Idem, p.185.
Charles Sidarta Machado Domingos – Doutor em História pela UFRGS. Professor de História no IFSUL- Campus Charqueadas. E-mail: csmd@terra.com.br
BOTEGA, Leonardo da Rocha. Quando a independência faz a união: Brasil, Argentina e a questão cubana (1959-1964). Porto Alegre: Letra & Vida, 2013. Resenha de: DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. Os primeiros anos 60 nas relações internacionais de Brasil e Argentina: a Revolução Cubana e a latino-americanização da Guerra Fria. Aedos. Porto Alegre, v.7, n.16, p.496-501, jul., 2015.Acessar publicação original [DR]
O mundo falava árabe: a civilização árabe islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn Battuta | Beatriz Bissio
Nos últimos anos, o Brasil tem se inserido no mundo na condição de potência emergente, buscando consolidar-se no espaço internacional. Na academia, este processo tem se refletido na ampliação dos temas de pesquisas, destacadamente nas Humanidades. Notamse esforços em incorporar África e América Latina na agenda de estudos, produzindo diálogos e comparações úteis ao acréscimo do conhecimento e incorporação da diversidade. Entretanto, outras regiões do globo, como o mundo árabe-islâmico, permanecem menos exploradas. Entre os trabalhos dedicados a este tema, destaca-se a contribuição da professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ, Beatriz Bissio, aqui resenhada.
O livro O mundo falava árabe: a civilização árabe islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn Battuta é marcado pela trajetória da autora. Uruguaia naturalizada brasileira, Bissio atuou muitos anos como jornalista. Cobriu guerras de libertação nacional em Angola e em Moçambique, registrou o apartheid sul-africano e noticiou conflitos no Oriente Médio. Ao percorrer os países islâmicos, diz-nos que ficou profundamente marcada pela errônea tese de que existe uma profunda alteridade entre o mundo árabe-islâmico e o Ocidente. Munida desta inquietação, graduou-se em Ciências Sociais (PUC-RJ) e doutorou-se em História (UFF). Fruto de pesquisa realizada no doutorado, o livro analisa a civilização árabe-islâmica no século XIV, destacando o espaço como categoria apta à integração do mundo muçulmano, num período de fragilização política e cultural do Magrebe.
Afastando-se da perspectiva orientalista que circunscreve o mundo árabe-muçulmano à condição de exótico [2], Beatriz Bissio busca compreendê-lo a partir de dois de seus próprios pensadores: Ibn Battuta e Ibn Khaldun. O primeiro foi um viajante marroquino nascido em Tânger, em 1304, autor de Através do Islã, um relato de suas extensas viagens, aproximadamente 120 mil quilômetros percorridos em quase três décadas. O outro, Ibn Khaldun, era historiador e também viajante, nascido em Túnis, em 1332, autor do Livro das Experiências, em cuja primeira parte, Muqaddimah (ou Os prolegômenos da história universal) está o foco da autora, que complementa suas análises com as outras partes da obra, a História dos Berberes e a Autobiografia.
Dividido em duas partes e sete capítulos, o livro traz a preocupação de quem escreve sabendo que grande parte de seu público tem pouco domínio do assunto sem, no entanto, frustrar aqueles já versados no tema. Nos três capítulos da primeira parte, Bissio apresenta o mundo árabe-islâmico, localiza o leitor no Mediterrâneo do século XIV (com vários mapas) e apresenta suas personagens e fontes. A segunda parte é formada por quatro capítulos, dedicada à verticalização da análise das representações do espaço no medievo islâmico. A autora analisa o conceito de civilização presente nas obras, sobretudo na Muqaddimah, o papel da viagem na compreensão e internalização do espaço no mundo árabe-muçulmano, suas formas de representação na cartografia e nos saberes científicos da época e a hierarquização do espaço: o urbano, em função da mesquita; o território em função de Meca.
No século IX, desenvolvia-se na Espanha e no Magrebe islâmicos um gênero literário dedicado a descrever o espaço: os relatos de viagem. Decorrentes da exigência religiosa de realizar a peregrinação a Meca, aplicável a todo fiel saudável e com condições financeiras, os relatos foram produzidos por vários agentes: viajantes, espiões, mercadores, embaixadores. A palavra rihla, termo árabe para viagem, périplo, logo se tornou o nome do gênero. No século XIV, a rihla de Ibn Battuta tornava-se excepcional: saindo do Marrocos, o autor percorreu Egito, Palestina, Síria, Iraque, Irã, península Arábica, China, Índia, Afeganistão, Turquia, Rússia, Iêmen, Omã… motivado pela busca por conhecimento ao longo espaço islâmico.
O espaço é definido através da oposição entre os territórios do islamismo (dar alIslam) e aqueles ocupados pelos infiéis (dar al-kfur) e dedicados à guerra (dar al-harb), cuja incorporação nas terras do islã, acreditava-se, aconteceria mais cedo ou mais tarde. Essas definições acerca da natureza do espaço são importantes para a compreensão das obras de Khaldun e Battuta. O primeiro, modelo de sábio erudito islâmico, dedica-se na Muqaddimah a compreender as leis universais da sociedade – ciência que afirma ser sua criação – através do estudo e da viagem pelos espaços islâmicos, tendo o Magrebe como seu grande laboratório. Já Battuta dedica-se a analisar e vivenciar a unidade formada neste espaço. Apesar de cultural e historicamente heterogêneo, a fé islâmica e a língua árabe fizeram dele um território.
Recorrendo a edições dos textos de Battuta e Khaldun em diferentes idiomas, embora não no árabe, Bissio destaca o papel do espaço e da viagem na caracterização da identidade muçulmana do século XIV e anteriores, apontando a valoração atribuída pela religião islâmica à busca do conhecimento. Através da expansão muçulmana, desde o século VII, formou-se um extenso tecido social que, embora forjado sobre diversos ecossistemas e integrando povos culturalmente muito distintos – desde a Índia até a Espanha – manteve elementos de uma identidade comum: o idioma árabe, considerado sagrado e perfeito por ter sido a escolha de Deus para anunciar sua mensagem ao mundo, através de Maomé; e a fé islâmica, responsável pela unidade dos fiéis no corpo da Umma, a comunidade muçulmana que supera fronteiras políticas e étnicas diante da supremacia religiosa.
Dada a amplitude desta ocupação, a análise de referenciais da geografia cultural é central à discussão de Bissio. Conceitos como espaço social e lugar, aplicados à concepção da identidade, permeiam sua discussão, marcando o pertencimento e a exclusão na sociedade islâmica. Centrada no processo de urbanização, a fé muçulmana encontrou local privilegiado para sua divulgação nas cidades, organizando o espaço e caracterizando as relações sociais ali estabelecidas. A cidade construiu-se em torno da mesquita, onde coabitavam profissão de fé, exercício do poder político e jurídico e práticas educacionais. No plano territorial, o desenvolvimento da cartografia manteve-se ativo durante a expansão muçulmana, vistas as exigências dos Cinco Pilares do islamismo [3], dentre as quais se destacam a necessidade de orar cinco vezes ao dia na direção de Meca e realizar, ao menos uma vez na vida, a peregrinação aos lugares sagrados do Islã. O domínio do espaço era condição para exercício da fé e foi a comunhão religiosa sobre o espaço que garantiu a continuidade da Umma.
O exercício da justiça árabe-muçulmana fazia-se a partir do Corão, o livro sagrado, e da Sunna, a compilação dos ditos e feitos do Profeta. Com o aumento da complexidade social árabe-islâmica, fazia-se necessário coletar o máximo de informações úteis à construção da jurisprudência, visto esta basear-se nos exemplos advindos da vida e obra de Maomé. O objetivo inicial da viagem, portanto, era a coleta dos hadiths: atitudes, decisões e silêncios de Maomé, que compõem a Sunna e caracterizam o exercício da justiça islâmica na xaria. Através da viagem, buscava-se reconstruir as experiências do Profeta, pela coleta de tradições junto aos familiares daqueles que conviveram com ele. A viagem levava ao conhecimento.
Além do acesso ao saber, a escrita geográfica trazia à luz a grandiosidade do mundo construído pelos muçulmanos. Este, entretanto, vivia momentos de crise. No século XIV, o Mediterrâneo árabe caia diante dos impactos da Peste Negra e da fragmentação política. Com este pano de fundo, Bissio aborda o contexto histórico vivenciado por Khaldun e Battuta, importantes na configuração de suas obras. A autora argumenta que se vivia um período no qual o passado glorioso era mais importante que o incerto futuro, inspirando os escritores muçulmanos a produzir textos que garantissem à posteridade o conhecimento daquele momento histórico.
Ibn Khaldun, sobre quem já se disse ter sido o criador da Sociologia, se propôs a produzir uma obra de História peculiar à época: os homens eram o sujeito histórico e o objeto de estudo era a sociedade muçulmana. Partindo da trajetória de vida deste autor, o impacto da Peste Negra em sua formação e sua atuação política no Magrebe, na Espanha (Al-Andaluz) e no Egito, Bissio destaca a contribuição de Khaldun às Ciências Humanas, pouco estudada na tradição ocidental. O deslocamento da História para o mundo dos homens, em detrimento de ser realização da vontade divina; a compreensão da unidade do gênero humano e a explicação do desenvolvimento das civilizações através da geografia, ecologia e biologia caracterizam grande ruptura com a epistemologia vigente no período, muito embora alimentada pelas concepções muçulmanas acerca do mundo.
Documentos produzidos para serem monumentos4 de uma sociedade em decadência, os textos de Battuta e Khaldun apontam o uso pragmático da escrita como recurso à integração dos espaços e entendimento da sociedade, aproximando homens e Estados que, embora não mais organizados numa estrutura política única, o califado, seguiam na comunhão de uma identidade linguístico-religiosa (apesar das dissidências, como sunitas e xiitas). Um dos conceitos desenvolvidos por Ibn Khaldun – assabiyya, o espírito do corpo político – decorre de suas experiências ao percorrer o Magrebe neste momento, dado à derrocada de Estados e ao sentimento, captado por ele, de deslocamento do eixo civilizacional, que se movia do sul para o norte, com a emergência da Cristandade europeia e a redução das cidades muçulmanas, outrora as mais populosas, urbanizadas e ativas do período.
Na teoria das civilizações de Khaldun, o conceito umran tem sentido em civilização, seja na universalidade da sociedade humana ou na concretude de uma população sobre um território. A vida em sociedade é condição da existência humana, conforme Khaldun, e sua essência está na complementaridade entre o polo rural e o urbano. No primeiro residem os valores como força, lealdade, temperança, que fortalecem o espírito político (assabiyya); no segundo está o luxo, os excessos e prazeres, que o enfraquecem. Contudo, o urbano é o espaço central da vida social e religiosa. O equilíbrio se constitui na trajetória cíclica da história, com ascensão e queda de impérios que conquistam as cidades, se apoderam delas e se enfraquecem nelas. A umran é transmitida de um império a outro, resultando num sistema de civilização bipolar, cíclico e relativamente estável.
Enquanto Khaldun busca compreender as leis que regem a sociedade, Battuta aponta a unidade da umma como ponto central de sua análise. Ao longo da rihla na qual descreve o périplo realizado, o viajante marroquino dedica-se a apresentar a universalidade da umma. Sua narrativa, exposta por Bissio, conjuga as necessidades do saber com a atenção dedicada ao mundo do islã, seus prazeres, aromas e sabores. A manifestação da fé muçulmana nos lugares pelos quais passou, a solidariedade amparada no pertencimento à comunidade religiosa e a peregrinação como lugar do encontro são destacados por Battuta. Meca é o centro da umma e, para os muçulmanos do século XIV, as terras do islã eram a única parte do mundo que importava, pois nelas estava a verdade da revelação a ser levada a outros lugares ao redor do globo. Não obstante a desagregação política do califado abássida, a unidade linguístico-religiosa foi capaz de manter-se, tendo a referência ao espaço como eixo central de sua organização, na vida diária – através da mesquita – e na umma, por meio de Meca.
O sentido das viagens realizadas por Khaldun e Battuta pode ser melhor compreendido se colocado em termos da teoria do conhecimento do islamismo. Diferentemente do cristianismo, que prega separação entre mundo temporal e espiritual, o islã define a unidade entre essas realidades. O Corão incita os fiéis a olharem o mundo com curiosidade, pois nele se expressa a palavra de Deus. A religião estimula a ciência e, no período do medievo, a produção científica muçulmana era enorme, legando às estantes da Cristandade a maior parte das traduções da filosofia grega, que chegaram à língua latina através do árabe. A incorporação dos conhecimentos e sua transformação, buscando atender às necessidades da comunidade muçulmana, geraram um período de grande riqueza intelectual, expressa no universalismo científico e religioso da umma.
Ao romper estereótipos e preconceitos acerca do islamismo, Beatriz Bissio convidanos a um novo olhar sobre o Oriente. Ao dialogar com Ibn Khaldun, repete-lhe as conclusões: “o mundo parece estar mudando de natureza” [5], bem como é preciso que mudemos a natureza de nosso olhar sobre ele. Sua leitura apresenta-nos a possibilidade de reflexão sobre mundo além do panóptico europeu. Relações que se tecem e se reproduzem sem, necessariamente, ter o Ocidente como causa ou objeto. Somos apresentados ao islã com olhar de proximidade, de encanto e encontro. Unidos na natureza humana, mas também herdeiros do legado árabemuçulmano que nossa cultura ocidentalizante insiste em invisibilizar, vislumbramos um mundo criativo, dinâmico, parte de nossa formação histórica. Um mundo que vai muito além da sombra do Ocidente.
Notas
1. Doutorando em História na Universidade Federal de Minas Gerais com bolsa oferecida pela Fapemig, agência a qual o autor remete seus agradecimentos. Contato: thiago.mota@ymail.com.
2. SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras. 1990.
3. PINTO, Paulo Gabriel Hilu da Rocha. Islã: Religião e Civilização, Uma Abordagem Antropológica. Aparecida: Santuário, 2010.
4. LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e Memória. Campinas: Editora da Unicamp. 2003.
5. BISSIO, Beatriz. O mundo falava árabe: a civilização árabe islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn Battuta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. p.292.
Thiago Henrique Mota1 – Doutorando em História na Universidade Federal de Minas Gerais com bolsa oferecida pela Fapemig, agência a qual o autor remete seus agradecimentos. Contato: thiago.mota@ymail.com
BISSIO, Beatriz. O mundo falava árabe: a civilização árabe islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn Battuta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. Resenha de: MOTA, Thiago Henrique. Além da sombra do Ocidente: o mundo árabe que nós desconhecemos. Aedos. Porto Alegre, v.7, n.16, p.502-507, jul.,2015. Acessar publicação original [DR]
Histórias do tempo presente: ditadura, redemocratização e raça no Brasil / História – Questões & Debates / 2015
Sobre diálogos e interconexões
Já houve quem tentasse colocar tudo na “raça”. Numa mistura de ciência e uma espécie de obsessão – pela negação muitas vezes. Foi por aí que se urdiu uma reflexão candente sobre o destino da nação nas últimas décadas do século XIX até os alvissareiros anos 1930. Falava-se amiúde em “raça” para destacar a sua não importância, enquanto espectro que rondava a comunidade nacional, constituindo preocupação cardinal do pensamento social brasileiro. De Francisco Adolfo de Varnhagen, Silvio Romero, Oliveira Lima, passando por Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Oliveira Viana e Paulo Prado, assim caminhamos.
Nota-se um consenso na historiografia brasileira de que a “questão racial” mobilizou uma gama multifacetada de agencies: desde teóricos, políticos, gestores públicos, juristas, médicos sanitaristas, jornalistas e ensaístas da geração dos “intérpretes do Brasil” (Capistrano de Abreu, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior) até os especialistas da chamada “Escola Paulista de Sociologia” (Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni), que no pós-guerra desenvolveram o projeto UNESCO de estudos sobre as relações raciais. Ainda assim atravessamos boa parte do século XX com um Brasil republicano arrastando a memória do cativeiro para um distante “passado-esquecimento”, por assim dizer. O pós-emancipação sequer virava capítulo derradeiro dos estudos sobre Abolição. As pesquisas sobre as “relações raciais” foram de fundamental importância para se compreender as desigualdades e assimetrias entre negros e brancos na sociedade brasileira, é bom destacar, porém acabaram por encapsular o campo do pós-abolição das narrativas históricas. Vários processos– urbanização, industrialização, modernidade, mundos do trabalho, questão agrária, relações de gênero, culturas políticas, cidadania, eleições etc. – foram desidratados da dimensão mais ampla desse campo, com seus legados e principais sujeitos.
Diante de tal panorama, inscrever a “questão racial” às múltiplas experiências históricas da sociedade brasileira e não vê-la confinada aos temas da escravidão virou – em certa medida – um projeto político do tempo presente, que tem a sua maior aposta a lei 10.639.Não há porque negar o avanço democrático do processo atual, saudá-lo e reconhecer o seu próprio percurso de debates e embates, dentro e fora das universidades. Investimento importante seria identificar como foram gerados “silêncios” sobre a “questão racial” para vários temas-eventos da história do Brasil. Podemos citar, por exemplo, as atmosferas de disputassimbólicas – imagens e representações – em torno da “independência” no Brasil. Na década de 1970, Maria Odila já chamava a atenção para o fator “medo” e o “haitianismo” na arena das expectativas sobre a separação política e a participação popular nas ruas da Corte, por um lado. E autoridades despejando socos e pontapés em comícios que escondiam xenofobias, por outro. Os estudos clássicos já mostraram que muitas das “questões raciais” – travestidas de outras linguagens, nomenclaturas e significados – estavam presentes.
É fato que em determinadas paisagens historiográficas os cenários que envolveram personagens, contextos, movimentos e expectativas que cruzaram narrativas sobre “raça”, racismo, nação, identidades e culturas sequer apareceram emoldurados nas retóricas iconoclastas. Inclui-los hoje na agenda de pesquisa pode ser mais do que tão somente um “resgate” historiográfico. Sugerem novas pautas, revisões, polifonias e multivocalidades desafiadoras, nem sempre percebidas nos eventos-efemérides, nos roteiros analíticos e / ou nas políticas editoriais acadêmicas.
As temáticas da ditadura e da redemocratização vistas pela transversalidade da “raça”, especialmente no decurso dos anos 1970 e 1980, podem seguir outros caminhos– nunca desvios –, considerando os sentidos político-culturais de vários atores e segmentos sociais, com suas estratégias, clivagens, aspirações e demandas por reconhecimento, direitos e liberdade de manifestação. Neste dossiê o ponto de partida foi exatamente a tentativa de estabelecer diálogos e interconexões entre as temáticas da ditadura e da redemocratização, de um lado, e a experiência negra, de outro, a fim de superar falsas dicotomias.
A temporalidade que organiza estas aproximações ou entrecruzamentos são os anos 1970 e 1980, sobretudo. Quem começa é George Reid Andrews ao surpreender o protagonismo político negro a partir de novas balizas, diretrizes e cronologias – embora por vezes cristalizadas – que antecederam o surgimento de organizações contemporâneas de luta antirracista (1978) até o pós-centenário da Abolição (1988). Tratou-se de um protagonismo ativo e entrelaçado à história nacional (e transnacional) no período da redemocratização. Nem sempre ideias e ações político-partidárias foram orquestradas. Sons repercutiam e ganhavam ritmos que assustaram mesmo ouvidos insuspeitos. Paulina Alberto acompanha a efervescência do Black Rio e dos bailes de soul music, que contagiavam a juventude negra do subúrbio carioca e redesenhavam símbolos racializados – muitos dos quais transnacionais – em torno da identidade positivada, do estilo contestatório e da afirmação estética. Já conhecemos algo sobre tais experiências e repertórios para São Paulo, embora contextos urbanos diferenciados ainda precisem de mais investigações. Para uma parte da juventude negra dos anos 1970, o protesto político teve uma trilha sonora própria que os estudos temáticos ainda não se interessaram em ouvir. Linguagens, tramas e performances foram diversificadas e nem sempre apareceram textualizadas. A campanha contra o apartheid na África do Sul – e com ela a luta para que Nelson Mandela fosse libertado da prisão– converteu-se em ferramenta política nas mãos de ativistas negros que denunciavam a segregação racial, tanto do outro lado do Atlântico como no Brasil. Com Jerry Dávila conseguimos “ouvir” outros sons e vozes que embarcavam e desembarcavam nos litorais africanos: dos movimentos de independência em países como Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, até chegar aos apelos para a libertação de Mandela e as homenagens a Steve Biko, líderes sul-africanos.
Vale destacar que a dimensão cultural – quase sempre crítica ou apropriada pelo viés político – foi um porta-voz nos debates e impasses dos anos de chumbo. Com poucos canais de expressão diante do arbítrio da ditadura, identidades, comportamentos, alteridades e taxinomias raciais ganharam laudas, palcos e telas. Noel Carvalho rouba a cena – melhor seria o set – ao abordar a trajetória do cineasta negro Odilon Lopes, desde os primeiros anos de atividade profissional na televisão até a realização do seu filme Um é pouco, dois é bom, de 1970. Enquanto isso Dmitri Fernandes examina a emergência da emblemática artista Clementina de Jesus – e tudo que ela representou sobre a cultura negra – nas décadas de 1970 e 1980. Sua “descoberta” (da “autêntica” sambista) se transformaria em metáfora para se investigar os sentidos de uma diáspora que foi articulada pelos movimentos de afirmação da “raiz afro-negra”. Com Mário Augusto da Silva conhecemos o despontar da pulsante literatura negra na década de 1980, por meio de eventos, obras e debates que galvanizaram a atenção de intelectuais nacionais e estrangeiros.
Num artigo coletivo Sandra Martins, Togo Ioruba (Gerson Theodoro) e Flávio Gomes invadem os muros acadêmicos para encontrar uma juventude negra original que, a partir do início dos anos 1970 cria um movimento de reflexão (e reivindicação) sobre objetos / sujeitos da “raça” e do racismo na Universidade Federal Fluminense através do GTAR (Grupo de Trabalho André Rebouças), que teve a força viral de Beatriz Nascimento e o apoio luxuoso de Eduardo de Oliveira e Oliveira, intelectuais negros ícones daquela geração. Para encerrar o dossiê, Petrônio Domingues nos conduz a outras latitudes que interseccionam as relações entre redemocratização e “raça” no Brasil contemporâneo, na medida em que se vale de memórias, mitos e símbolos para reconstituir o processo de invenção de João Mulungu como herói negro. Revalorizado no imaginário das hostes antirracistas, esse líder quilombola vem fazendo a cabeça e tocando o coração de muitos negros que sonham com igualdade, ampliação de direitos e justiça.
Agradecemos aos colegas que colaboraram com o presente dossiê e possibilitaram ampliar os estudos e reflexões sobre Histórias do tempo presente: ditadura, redemocratização e raça no Brasil. Esta edição da revista ainda traz três artigos. Leyserée Xavier investiga a reforma religiosa promovida por Akhenaton, faraó egípcio da XVIII Dinastia, que, entre outras coisas, elevou Aton ao lugar de divindade suprema. Julio Bentivoglio, por sua vez, debruça-se sobre os textos publicados nos primeiros onzes anos da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), de 1839 a 1850, tendo em vista a mapear autores, temáticas, recortes temporais e geográficos, dentre outros aspectos que constituíam a escrita da história brasileira vinculada ao IHGB. Concluímos esse número com o artigo de Alessandro Batistella sobre o político paranaense Abilon de Souza Naves, principal liderança do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na década de 1950.
Petrônio Domingues
Flávio Gomes
(Organizadores)
DOMINGUES, Petrônio; GOMES, Flávio. Apresentação. História – Questões & Debates. Curitiba, v.63, n.2, jul./dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
História e Cinema / Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade / 2015
Em seu número 15, a Revista Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade, apresenta a temática História e Cinema, que conta com 10 artigos de pesquisas interdisciplinares, tanto de instituições universitárias brasileiras, como de renomados campos acadêmicos internacionais.
Os artigos do presente número abordam suas pesquisas na vertente de que o cinema é uma representação da realidade social. Nessa perspectiva, o cinema é uma linguagem constitutiva da tessitura social e apresenta, por meio de interpretações realizadas por pesquisadores, experiências do cotidiano vivido das cidades, capturando por meio de textos verbais e não-verbais, as tensões, conflitos e embates presentes nas sociedades contemporâneas.
O cinema deixa fluir em seus planos e ângulos de filmagem imaginação, medo, desejo, angústia, prazer, paixão e possibilita, assim, retratar as vozes de diferentes sujeitos sociais, ora rompendo e antagonizando-se com regras sociais, ora engendrando outras e, por vezes, criticando-as. Assim, a linguagem cinematográfica é o meio de autores de produções fílmicas traduzirem a realidade social ao seu modo, de acordo com suas intencionalidades e concepções políticas. Entretanto, toma-se como pressuposto que nenhuma linguagem é concebida como espelho da realidade, mas como expressões da cultura humana.
Os artigos do presente número estão conectados aos diversos aportes teórico-metodológicos com vistas a captar pistas, vestígios e sinais das culturas plasmadas nos filmes. Nesse sentido, os artigos transitam por diferentes matrizes analíticas, por campos epistemológicos de tradições diferenciadas, de modo a possibilitar que ocorra de fato a construção da interdisciplinaridade na abordagem da temática História e Cinema.
Os artigos de Ailton Costa e José D´Assunção Barros retratam, respectivamente, os “Brasis” de Graciliano Ramos e Nelson Pereira dos Santos e as concepções citadinas presentes nos filmes ficcionais no decorrer das primeiras sete décadas do século XX. É importante observar que ambas as análises colaboram com interpretações significativas sobre o cotidiano nas representações fílmicas sobre os modos de viver na cidade.
Há também artigos, como os de Lara Rodrigues Pereira e Yvone Dias Avelino, em co-autoria com Marcelo Flório, que refletem sobre o cinema como fonte histórica em suas análises das realidades sociais apresentadas pelos filmes, produzindo interpretações sobre as possibilidades e trajetórias do fazer cinematográfico em épocas diferenciadas.
Já o artigo de Alex Moreira Carvalho e Robson Jesus Rusche aborda a relação intrínseca entre cinema, vida cotidiana e mídia, de modo a produzir reflexões pertinentes sobre a temática, enquanto o artigo de Felipe Eugênio de Leão Esteves contribui ao enveredar pelos estudos da mestiçagem e o de Luiz Alberto Gottwald analisa, de modo contundente, as relações dialógicas entre cinema e natureza. Os três artigos em questão enfocam áreas importantes do saber: a mestiçagem, a mídia e a natureza nas representações cinematográficas.
O artigo de Valdeci da Silva Cunha e Matheus Machado Vaz analisa o cinema de Orson Welles sob o viés do cinema de autoria, produzindo uma interpretação fulcral sobre um modo de fazer fílmico que influenciou diversas escolas cinematográficas no ocidente.
Por fim, as contribuições internacionais de Federico Pablo Angelomé e Gilda Bevilacqua trazem significativas interpretações, realizadas na Universidad de Buenos Aires, de modo a contribuir com a interdisciplinaridade no campo da História e Cinema, efetivando o diálogo Brasil / Argentina.
Convido a todos a enveredarem por essa jornada de 10 artigos, que tanto enriquecem a trajetória interpretativa sobre o cinema como objeto de estudo, trazendo contribuições epistemológicas relevantes para o referido eixo temático.
Marcelo Flório
FLÓRIO, Marcelo. Apresentação. Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade, São Paulo, n. 15, jul. / dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
Ensino de História / Fronteiras – Revista Catarinense de História / 2015
O número 25 da revista Fronteiras, a Revista Catarinense de História, traz o Dossiê Ensino de História como um convite à reflexão de profissionais dos diferentes níveis de ensino e acadêmcios que acreditam, buscam e fazem do seu oficio uma luta constante por formas diferenciadas de apreneder e ensinar História para além das velhas formas canômicas.
Neste número apresentamos artigos que tratam deste tema produzidos por graduandos / as em História a professores / as que possuem larga experiência como docentes tanto no ensino básico como no superior.
No artigo Educar para o “são patriotismo”: o ensino de História e a Educação Primária catarinense nas décadas de 1910-1930 as autoras de Luiza Pinheiro Ferber e Cristiani Bereta da Silva discutem “a seleção de saberes históricos para a Educação Primária catarinense nas primeiras décadas do século XX, destacando-se seus usos e atribuições de finalidades para a conformação de sujeitos patrióticos”. A partir da análise dos programas de ensino e relatórios das primeiras décadas do século XX problematizou-se os saberes selecionados para serem estudados nos Grupos Escolares e nas Escolas Isoladas. Segundo as autoras estes materiais “serão analisados como documentos / monumentos, percebidos como instrumentos de poder, cujos discursos não têm relação direta com as práticas que designa, mas que informam representações de práticas que possuíam razões, códigos, finalidades e destinatários específicos que dão a ler e interpretar as marcas e interesses sociais de um determinado tempo”.
O segundo artigo também trata da história no ensino inicial, só que na atualidade e em uma escola na cidade de Parintins / Amazonas. Maria Aparecida Batista Pereira e Clarice Bianchezzi no artigo intitulado O Ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: desafios e possibilidades em uma escola municipal de Parintins / Amazonas apresentam o resultado de uma pesquisa desenvolvida na Escola Municipal “Santa Luzia” do Macurany – Parintins-AM, no qual tinham como objetivo identificar como o Ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental está sendo desenvolvido.
Jean Carlos Moreno e Sabrina Felício de Souza contribuem para este dossiê com o artigo Consciência histórica: uma proposta a partir das representações da identidade afro-brasileira na produção teatral no qual traz uma proposta de utilização, na aprendizagem escolar da História, de peças teatrais que colocaram em evidência a questão afro-brasileira no século XX. A partir das peças teatrais Sortilégio II: mistério negro de Zumbi redivivo (1951; 1979) e Arena Conta Zumbi (1965) é discutido questões referentes a Didática da História, a subjetividade dos estudantes e a ressignificação dos discursos identitários brasileiros.
O artigo Forma escolar e os manuais de didática da História no Brasil de Osvaldo Rodrigues Junior “discute as aproximações entre a forma escolar e os manuais de Didática da História destinados a professores no Brasil.” A partir da discussão desenvolvida por Vincent, Lahire e Thin (2001) o autor buscou “identificar a relação entre a constituição da disciplina de História e os manuais de Didática da História no Brasil.”
Lara Rodrigues Pereira no seu artigo Cinema e ensino de História: notas sobre formação, rotinas e práticas de professores aprofunda a discussão sobre o uso de filmes em sala de aula. Após pesquisa feita com professores da rede Municipal de ensino de Florianópolis em 2011 a autora desenvolvu sua análise a fim de “compreender o lugar ocupado pelo cinema na formação acadêmica dos entrevistados e, os usos que estes fazem de filmes em sua prática docente.”
Carolina Corbellini Rovaris e Jéssica Cristina Back Gamba contribuíram com o artigo O ensino de História no Noturno: especificidades, desafios e perspectivas. A partir da experiência de estágio em uma turma de 1º Ano, desenvolvido como parte da formação das autoras no Curso de História da UDESC, as autoras tem como “objetivo discutir as especificidades do ensino de História no ensino médio noturno, através da, apontando os desafios desta trajetória e perspectivas de um ensino que considere suas características singulares e contribua para a aprendizagem histórica do aluno.”
Além dos artigos, o dossiê é composto pela resenha Campanha de Nacionalização, Ensino de História e História da Educação, de autoria de Rosiane Ribeiro Bechler. A autora comenta o livro “Educar para Nação: cultura política, nacionalização e ensino de História nas décadas de 1930 e 1940”, uma coletânea composta artigos que problematiza as interseções entre a Campanha de Nacionalização promovida nos governos de Getúlio Vargas (1930-1945), a História da Educação, o Ensino de História e a narrativa histórica sobre o estado de Santa Catarina no referido período.
Apresentamos este Dossiê com agradecimentos a todos os colaboradores para sua realização. Entendemos que ao socializarmos essas produções, resultado de estudos e pesquisas, tenhamos contribuído com os questionamentos, novas formas, problematização e interlocução entre os professores e acadêmicos que militam em prol de um Ensino de História aberto a novas possibilidades.
Esperamos que a leitura dos artigos aqui publicizados inspirem o leitor a outras leituras, escrituras e práticas.
Boa leitura!
Elison Antonio Paim
Luciana Rossato
Organizadores do Dossiê
PAIM, Elison Antonio; ROSSATO, Luciana. Apresentação. Fronteiras: Revista catarinense de História. Florianópolis, n.25, 2015. Acessar publicação original [DR]
Patrimônio histórico e ambiental / Historiae / 2015
A História é sem dúvida, um campo de saber que se reinventa, recomeça, que é dinâmica, pois assim o é a vida humana. Ela está nas ruas, nas ações, nas disputas, nas concordâncias e nas discordâncias, pois como cantava o poeta, o Tempo não Para…
E é justamente com base nesta concepção que a Historiae – Revista de História da Universidade Federal do Rio Grande vem se reinventando e se firmando no cenário nacional da pesquisa histórica.
A trajetória da Historiae começa em 1978, com o nome de Revista do Departamento de Biblioteconomia e História, e a partir de 2010 adquire novo formato, proposta e alteração nominal, vindo também a dedicar-se à produção de dossiês temáticos e, neste número, apresentamos uma edição dedicada à reflexão vinculada ao campo do Patrimônio Cultural, seja na sua vertente material, como imaterial, assim como análises ligadas à História Ambiental.
Nesta direção, destacamos que a atualidade e o debate relacionados à temática do Patrimônio Cultural têm despertado o olhar de inúmeros pesquisadores e estudiosos do tema. E, desse modo, conforme aponta o historiador Dominique Poulot (2009)1, as áreas de Ciências Humanas e Sociais, com destaque à História e à Antropologia, vêm oportunizando novas abordagens e um redirecionamento sobre o tema abrangendo, por exemplo, relações das cidades e o seu patrimônio.
No que tange às relações entre História e Meio Ambiente, ou seja, a História Ambiental, esta vem se alicerçando desde meados dos anos de 1970, tendo início nos Estados Unidos e em países europeus junto ao surgimento e afirmação do movimento ambientalista, das ações do Clube de Roma e dos olhares das Nações Unidas para estas questões. Muito embora exista uma tradição, mesmo na historiografia brasileira da primeira metade do século XX, que relaciona Sociedades e Natureza, será somente no pós-guerra que tais discussões irão permear o tecido da sociedade, chegando até nós historiadores. Há muito compreendemos que o tema Meio Ambiente não é uma exclusividade dos colegas biólogos, geógrafos e ecólogos mas, constitui um tema transversal, pertencente ao universo das Ciências Humanas e Sociais, tal qual se passa com o campo do Patrimônio Cultural.
Desejamos uma ótima leitura a todos!
Nota
1. POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumento aos valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
Carmem G. Burgert Schiavon
Daniel Porciuncula Prado
Organizadores do dossiê
SCHIAVON, Carmem G. Burgert; PRADO, Daniel Porciuncula. Apresentação. Historiae, Rio Grande- RS, v. 6, n. 2, 2015. Acessar publicação original [DR]
Estados Unidos: História e Historiografia / Anos 90 / 2015
“Quem será o americano, este novo homem”?
(Ou quantas Américas cabem na América?)
Uma outra América, um país sem nome!
Os Estados Unidos da América (EUA) constituem um estranho país! Para iniciar, trata-se de um país “sem nome”!
O historiador Leandro Karnal – da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – salientou, numa conferência proferida em nossa universidade, em 2010,1 que todos os países americanos têm nomes: eles podem ser associados a heróis nacionais (Bolívia, Colômbia), a acidentes geográficos (Uruguai, Paraguai), aos nomes que tinham estes territórios antes da conquista (Chile, México), ou a produtos identificados com os lugares (Argentina, Brasil). Os Estados Unidos, ao contrário, originários das Treze Colônias, pertencentes ao Reino Unido, constituíram-se em estados, resguardando suas autonomias, tendo como referência o continente – a América, que lutava pela independência – em oposição a uma opressão que vinha da Europa.
O país “sem nome” adotou como seu um nome que incluía outras terras e povos! É raro escutar de um estadunidense, referindo-se ao seu país, a expressão United States; bem mais comum é o uso da abreviatura U.S.A., pronunciada rapidamente, letra por letra. No entanto, America é, desde a Revolução de Independência, uma referência tão forte que mesmo os americanos de outros países se referem aos estadunidenses como “americanos” ou pelo menos “norte-americanos”2.
Mas o país, se não tinha um nome, construiu seus símbolos identitários e implementou processos políticos e sociais que lhe trariam a condição de superpotência apenas um século e meio depois de sua criação. E desde o início a formação do Estado nacional foi garantida a partir de unidades autônomas – os estados sucedâneos às colônias originais – que delegaram a um poder constituído na forma de uma federação.3 Muito antes disso, porém, já havia sido criada a representação máxima da nação, a bandeira. Primeiramente uma bandeira clandestina que representava as colônias por listras alternadas vermelhas e brancas, adotada por Washington, em 1776, mas ostentando no quadrante superior esquerdo o desenho da bandeira britânica, substituído definitivamente pelo retângulo azul, com as estrelas simbolizando os estados, criada pela lei de quatorze de junho de 1777. Deram-lhe nomes: Stars and Stripes, descritivo; Old Glory, apologético!
Esta marca inconfundível dos Estados Unidos ainda não tinha cem anos quando foi negada pelos rebeldes sulistas que fizeram a secessão dos Estados Confederados da América. Criaram sua própria bandeira, com fundo, listras e estrelas noutro arranjo. E ela é ainda hasteada em estados do Sul, muitas vezes de forma contraditória, ao lado do estandarte da União. Além disso, foi parodiada por Mark Twain, que compôs um estandarte de listras vermelhas e negras, ostentando num retângulo preto caveiras, ao invés das estrelas; para ele, a nação da liberdade convertera-se num entreposto da pirataria mundial.
Outra glória máxima da nação é o hino! Além do hino dos Estados Unidos, de 1814, tornou-se muito popular outra composição, God Bless America (Deus Abençoe a América), de Irving Berlin, que a partir de 1938 tornou-se um “hino não oficial” do país, popularizando-se muito nos tempos de guerra que se seguiram. Parte da letra diz: “From the mountains / To the prairies / To the oceans / White with foam / God bless America / My home sweet home” 4.
Mas, assim como a bandeira, esse hino foi glosado pelo músico e cantor Woody Guthrie; ligado ao cancioneiro folk desde jovem, tornou-se famoso pelas letras de protesto depois da Grande Depressão, quando aderiu ao Partido Comunista. Em 1940, ele escreveu God Blessed America for Me, fazendo um contraponto mordaz ao hino. Mais tarde ele modificaria um pouco a letra, renomeada como This Land is Your Land, da qual reproduzimos um trecho: “When the sun came shining, and I was strolling / And the wheat fields waving and the dust clouds rolling / A voice was chanting, As the fog was lifting, / This land was made for you and me”.5 Sempre com um violão com os dizeres “This machine kills fascists”, os versos de Woody expunham a terra da promissão.
No entanto, afinal, que país era (é) esse? Quais encantos exerceu (exerce) aos que o conheceram (conhecem)? Quais as decepções ou revoltas que provocou (provoca) interna e externamente?
“Quem é o americano, este novo homem”!
John Hector St. John de Crèvecœur – um francês que escolhera viver em New York – na sua Letter III dos anos 1760 fez esta pergunta: “What then is the American, this new man? He is either a European, or the descendant of a European, hence that strange mixture of blood, which you will find in no other country”.6 Este “novo homem” que gerou tais indagações seria mais tarde recuperado pela Literatura como um ser original, muito mais adequado aos embates de uma terra por construir que seus avós do Velho Mundo. Pode-se especular que em Crèvecœur confluíssem uma tradição puritana – associada a uma busca pela Terra Prometida, que mais tarde resultaria na doutrina do Destino Manifesto – e um pragmatismo burguês de políticos e pensadores que literalmente projetaram um país.
Com sua Declaração de Independência de quatro de julho de 1776, estes “novos homens” emergiam da Revolução Americana7 para a construção de uma nação que passava, antes que nada, pela sua identificação como “um povo”. Dizem os membros congressistas dos Treze Estados:
When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the Earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and the Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should to declare the causes which impel them to the separation.8
Destacamos que, se era alegada uma legitimação divina, aparecia também em maiúsculas as Leis da Natureza! O “americano” político tinha sido gestado pela sua “natureza americana”.
Para esse país tornado independente pelas armas “americanas”, em dezessete de setembro de 1787, seus Founding Fathers 9 assumiram a representação de “Povo dos Estados Unidos” quando escreveram uma Constituição que vige até os dias atuais. Já o seu Preâmbulo, clama por um apelo coletivo:
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.10
Mais tarde a ratificação deste diploma passou pela elaboração da Bill of Rights – a Declaração de Direitos – formada por dez emendas, também elas em vigor atualmente. É à Primeira Emenda em que se atribuem os fundamentos da democracia “americana”:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.11
O “novo homem” inaugurava-se em nome da liberdade, da igualdade, dos direitos universais. Mas estes “americanos” não eram tão “iguais”, ou tão “livres”, ou não gozavam todos dos mesmos direitos. Neste projeto de nação em que os políticos dos ilustrados estados do Norte atraíram estrangeiros de todas as partes para suas grandes cidades, ao mesmo tempo em que lhes facilitaram o acesso às generosas terras do Oeste, conformavam-se campos de conflito: burgueses e operários nos centros urbanos, fazendeiros e indígenas, nos novos territórios. Por outro lado, conviviam com os aristocratas dos estados do Sul, com suas grandes plantations de algodão tocadas por escravos africanos, com cinturões de brancos pobres sitiantes.12 Os acertos de tantas disparidades se faziam com a expansão do país às custas do extermínio dos que fossem empecilho: povos indígenas, franceses, espanhóis, mexicanos… A doutrina do Destino Manifesto avançava as fronteiras dos Estados Unidos, mas o melting pot que formaria o “americano” decerto não incluía estes outros povos.
Lutas pelos direitos civis dos afrodescendentes, reconhecimento dos povos indígenas remanescentes, imigração clandestina de latino-americanos e orientais, imperialismo e opressão externos são ainda dilemas da sociedade estadunidense que não foram garantidos pelos diplomas da sua fundação. Ainda não sabemos o que é um americano, ou em que ele difere dos demais americanos. Afinal, que América é esta, dentro da nossa América?
A outra América entre nós!
O Curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há muito tempo destaca como área de estudos a História da América. Em tempos mais pregressos, as disciplinas obrigatórias de História da América incluíam os conteúdos de História dos Estados Unidos, desde os tempos coloniais até os contemporâneos. Assim, era possível uma comparação entre os processos de colonização, as revoluções de independência e formações dos Estados nacionais, a inserção no capitalismo mundial etc. Observava-se, no entanto, que a História dos Estados Unidos merecia um destaque maior, até porque os temas relativos à História Contemporânea chamavam a atenção para uma superpotência cuja história de antanho não vinha sendo trabalhada com a intensidade merecida. Numa reunião de docentes que ministravam História da América na UFRGS, realizada em 1990, a professora Heloísa Jochims Reichel sugeriu a criação de uma disciplina específica de História dos Estados Unidos; os demais professores – Susana Bleil de Souza, Claudia Wasserman, Helen Osório e Cesar Augusto Barcellos Guazzelli – apoiaram esta proposta, que foi mais tarde referendada pelo Departamento de História.
Desde então, História dos Estados Unidos da América faz parte do currículo de disciplinas eletivas do Curso de História, mas há reparos a fazer. O primeiro deles diz respeito a uma dupla mudança na inserção dos conteúdos ministrados: aos tempos em que eles faziam parte dos programas de História da América, eram obrigatórios para todos os alunos do curso; no formato que vige desde 1990, eles se tornaram opcionais! Além disso, na medida em que História dos Estados Unidos da América é eletiva, os professores que a assumem têm também uma ampla liberdade de escolha em relação aos temas que desenvolvem. (História dos Estados Unidos da América já foi ministrada por Heloisa J. Reichel, Susana B. de Souza e Cesar A. B. Guazzelli, tanto de forma sucessiva como compartilhada.)
Em 2003, Cesar A. B. Guazzelli foi contemplado com Bolsa Produtividade do CNPq para desenvolver o projeto de pesquisa Senhores da guerra em espaços fronteiriços: o norte do México e o Rio da Prata na primeira metade do século XIX (c.1810-c.1850); este estudo comparativo inaugurava as pesquisas sobre História dos Estados Unidos na UFRGS. Neste mesmo ano, Guazzelli também ministrou pela primeira vez a disciplina de História dos Estados Unidos da América, realizando um corte temporal entre a Independência e o final do século XIX. A esse projeto, foram integrados dois acadêmicos do Curso de História que desde o ano anterior estavam associados aos estudos sobre fronteiras: Arthur Lima de Avila e Renata Dal Sasso Freitas. Fluentes em inglês, cada um deles tratou de um tema específico em relação ao espectro mais amplo da pesquisa: Arthur Avila assumiu a investigação sobre Fronteiras nos ensaios de Frederick Jackson Turner, cuja obra nunca era traduzida em português; Renata Freitas dedicou-se aos temas fronteiriços na obra de James Fenimore Cooper, quase toda ela inédita em português.
Os dois bolsistas deram continuidade aos seus trabalhos com investigações próprias derivadas destas atividades. Arthur Lima de Avila realizou o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS como bolsista do CNPq, defendendo em 2006 a dissertação intitulada E da Fronteira veio um Pioneiro: a “frontier thesis” de Frederick Jackson Turner (1861-1932), sob a orientação de Cesar Augusto Barcellos Guazzelli. Ingressando no Doutorado do mesmo Programa, Arthur Ávila desenvolveu sua Tese Território contestado: a reescrita da história do Oeste norte-americano (c.1985-c.1995), com apoio do CNPq, ainda sob orientação de Cesar Guazzelli. Durante o Doutorado, realizou estágio na John Hopkins University. Em 2011, o trabalho foi contemplado com o Prêmio CAPES de melhor Tese em História de 2010.
As pesquisas sobre Cooper renderam a Renata Dal Sasso Freitas a dissertação de Mestrado Páginas do Novo Mundo: um estudo comparativo entre José de Alencar e James Fenimore Cooper na formação dos Estados nacionais brasileiro e norte-americano no século XIX, realizada no Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS; ela recebeu bolsa do CNPq, sendo concluída em 2008, sob orientação de Cesar Guazzelli. Neste mesmo ano, Renata Freitas iniciou seu Doutorado no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro; em 2012, concluiu a Tese intitulada “Love of country”: os romances históricos de James Fenimore Cooper sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos (1821-1824), com apoio do CNPq; nesse período estagiou na Yale University, em função de suas pesquisas.
Atualmente, Cesar Augusto Barcellos Guazzelli, Arthur Lima de Avila e Renata Dal Sasso Freitas coordenam o projeto de pesquisa América: identidades e alteridades: a escrita da História da América Hispânica nos Estados Unidos (c.1900-c.1930) apoiado em Edital Universal do CNPq. Essa pesquisa reúne diversos pesquisadores e bolsistas da UFRGS e de outras universidades, todos com investigações relacionadas e temas de História dos Estados Unidos da América. 13
A outra América em Revista!
Salientamos até agora algumas controvérsias que gera a História dos Estados Unidos, esta “outra América” que dá nome a um país tão diverso das demais nações americanas. Este irmão do Norte, cuja cultura de massas penetrou com uma intensidade talvez maior que sua influência na política ou sua dominação econômica imperialista, recebe atenções mínimas da historiografia nacional. Nesse sentido, nossa intenção de organizar este dossiê para a revista Anos 90 buscou cumprir uma dupla missão: 1) dar continuidade a um campo de conhecimento que vem se afirmando entre nós já há algum tempo; 2) apresentar para os historiadores que a História dos Estados Unidos tem uma grande possibilidade de se desenvolver em nosso meio.
Para este número da revista Anos 90, compusemos este dossiê com seis artigos inéditos, abordando aspectos históricos bem variados dos Estados Unidos da América.
O primeiro artigo tem como título A Quem Pertence o Passado Norte-americano? A controvérsia sobre os National History Standards nos Estados Unidos (1994-1996), de autoria do professor Arthur Ávila (UFRGS). Este texto trata da controvérsia pública sobre os National History Standards, um conjunto de propostas que visavam a auxiliar na reforma do Ensino Básico nos Estados Unidos, entre 1994 e 1996. No texto, enfatizam-se as respostas dos setores conservadores às diretrizes propostas, especialmente sua rejeição àquilo que consideravam um “sequestro da história” pelas hostes “multiculturais”, “politicamente corretas” e “antiocidentais”. Com isso, argumenta-se que tais setores buscavam a construção de um passado estável e sem conflitos justamente como contraponto a um presente que se apresentava cada vez mais instável e conflituoso, assegurando, assim, uma ideia bastante limitada sobre quem eram os personagens da história norte-americana e o que ela deveria significar.
Segue-se Os Estados Unidos entre o nacional e o transnacional: o saber produzido pela circum-navegação científica da U. S. Exploring Expedidion (1838-1842), de autoria da professora Mary Anne Junqueira (USP). Aqui trata-se de analisar alguns aspectos do conhecimento moderno expresso no relato de viagem da primeira circum-navegação científica, U. S. Exploring Expedition, entre 1838-1842. Os conjuntos de saberes constituídos pela expedição estiveram entre a afirmação nacional e os aspectos transnacionais próprios da época. Revela-se o propósito norte-americano no que diz respeito à inserção de quadros do país na rede de conhecimento liderada pelos europeus, discutindo com os seus pares do velho continente, mas também concorrendo com eles.
O trabalho seguinte é de autoria do professor Vitor Izecksohn (UFRJ) e tem como título A experiência miliciana norte-americana: antimilitarismo ou pragmatismo? Nesse artigo, o autor discute a experiência miliciana nas colônias inglesas da América do Norte e nos Estados Unidos durante a primeira república. Enfatizo o papel do antimilitarismo como principal aspecto da experiência militar anglo-americana. Relaciono essa perspectiva à aversão ao despotismo, derivada da tradição política inglesa e ao controle civil sobre os militares. Sublinho as dificuldades encontradas para a criação de um exército profissional e os problemas de coordenação entre o poder central e as autoridades locais e estaduais.
O artigo de Valeria Lourdes Carbone (UBA) tem como título El Movimiento afro-estadounidense contra el Apartheid sudafricano: un reflejo de la lucha de la comunidad negra a nivel doméstico y su impacto sobre la política exterior de los EE.UU. Esse texto tem como proposta analisar como – e em que medida! – o ativismo político afro-estadunidense contra o Apartheid sul-africano, após décadas de militância e organização, passou a influenciar as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a África do Sul. Isto permite ver como o movimento afro-americano foi recebido pelo governo Reagan; além de observar como qual era a real influência que aquele movimento podia ter ao desafiar certos aspectos da política externa do governo, destaca-se também a possibilidade de canalizar demandas próprias e reivindica-las internamente.
O texto Sobrevoando histórias: sobre índios e historiadores no Brasil e nos Estados Unidos foi escrito por Soraia Sales Dornelles e Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). As duas historiadoras abordam aspectos similares entre as produções brasileira e estadunidense sobre os respectivos grupos indígenas. Salientam que em ambos os casos as produções históricas feitas sobre os habitantes nativos tiveram importância objetiva nas políticas públicas relativas a eles. Destacam ainda que muitas influências de natureza complexa agem na formulação de conhecimentos sobre os povos indígenas do Brasil e dos Estados Unidos. O objetivo das autoras é perseguir uma abordagem comparativa entre as construções dos discursos históricos sobre os indígenas nos dois países, buscando, a partir disso, mapear os possíveis intercâmbios científicos sobre o tema.
Martha De Cunto (UBA) escreveu Chase-Riboud: Sally Hemings: Oralidad, escritura y la resignificación del passado, em que analisa o romance histórico de Chase-Reboud dentro de tradição literária negra. O trabalho relaciona o romance com as primeiras narrativas dos escravos, mostrando as continuidades e ruptura. Indaga sobre as representações dos principais personagens: Langdon, a escritura; Sally, a oralidade; e James, a cultura e a comunidade negra. O texto discute a legitimidade, o valor histórico e a veracidade dos discursos escritos, assim como aborda a desestabilização do binário “realidade ficcional” e “realidade” histórica, denunciando a forma como a historiografia dos brancos dominadores apresenta os negros marginalizados.
O último artigo, Entre Cabanas e Diligências: os Fronteiriços na Western Fiction de Bret Harte e Ernest Haycox, é de autoria conjunta de Cesar Guazzelli e Renata Freitas (UFRGS). O texto evidencia como a fronteira americana em seu avanço inexorável para Oeste produziu obras ficcionais muito carregadas de emoção, mesmo passados os tempos épicos dos pioneiros. Mais que isso, elas recriaram os seus dramas fora daquelas paisagens ocupadas pelos grandes rebanhos de gado e seus cowboys, mas justamente nos núcleos civilizatórios que já se haviam instalado no Oeste. A mitologia dos pioneiros mudava para uma realidade menos glamourizada, mas talvez mais verossímil. Assim, o que propomos é uma leitura comparada de dois contos que se reportam ao avanço da fronteira “civilizatória” para o Oeste: The Outcasts of Poker Flat, de Bret Harte, escrita em 1868 (HARTE, 2001) e Stage to Lordsburg, de Ernest Haycox, escrita em 1939.
Essas são algumas visões sobre a História dos Estados Unidos, para que talvez – parafraseando Crèvecœr – compreendamos um pouco melhor quem é aquele “novo homem”, e se este outro “americano” está tão distante assim de nós.
Notas
1. Esta fala aconteceu na abertura do Ciclo de Cinema – Curso de Extensão em Cinema, História e Educação USA não abusa! Os Estados Unidos da América em Tempos de Guerra. No mesmo ano, esta conferência de Karnal foi publicada como texto: Identidade e Guerra: Estados Unidos da América e os Conflitos (GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos et al. Tio Sam Vai à Guerra. Porto Alegre: Letra & Vida, 2010, p. 9-16).
2. Durante as guerras de independência, a expressão “americano” foi usada por todo continente em oposição aos colonizadores. Também não custa lembrar que a América do Norte – vista aqui como um subcontinente! – inclui o Canadá e o México.
3. Esta organização política pode ser acompanhada pelas publicações do jornal The Federalist, mais tarde reunidas em um livro homônimo: HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Brasília: Editora da UnB, 1984.
4. “Das montanhas / Para as pradarias / Para os oceanos / Branco com espuma / Deus abençoe a América / Meu lar doce lar”. Tradução nossa.
5. “Quando o sol apareceu brilhando, e eu estava passeando / E os campos de trigo ondulando e as nuvens de poeira rolando / Conforme a fumaça se levantava uma voz cantava / Esta terra foi feita para você e para mim”. Tradução nossa.
6. “Quem é afinal o americano, esse novo homem? É europeu ou descendente de europeu, e daí aquela estranha mistura de sangue que não é encontrada em nenhum outro país”. Tradução nossa. Uma série de cartas escritas por Crèvecoeur foram reunidas e publicadas em 1782, como Letters from na American Farmer. Ver: VANSPANCKEREN, Kathryn. Outline of American Literature. Dules (VA): United States Departament of State, 1994, p. 18.
7. O historiador marxista estadunidense Aptheker não duvida em destacar a Revolução Americana como “uma daquelas grandes guerras realmente revolucionárias”. APTHEKER, Herbert. Uma Nova História dos Estados Unidos: a Revolução Americana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969, p. 17.
8. “Quando no Curso dos eventos humanos torna-se necessário para um povo dissolver os laços políticos que o tem ligado a outro, e assumir, entre os poderes da Terra, estatuto igual e separado que lhe asseguram as Leis da Natureza e de Deus, o decente respeito às opiniões da humanidade requer que sejam declaradas as causas que os impeliram à separação”. Tradução nossa. FOUNDING FATHERS. The Declaration of Independence and The Constitution of the United States of America. New York: SoHo Books, 2012.
9. Pais Fundadores são chamados os congressistas que elaboraram a Constituição dos Estados Unidos e as Emendas que formam a Declaração de Direitos do Cidadão.
10. “Nós, o Povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a Tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o Bem-Estar geral, e garantir para nós e para os nossos Descendentes as Bênçãos da Liberdade, ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América”. Tradução nossa. FOUNDING FATHERS, op. cit.
11. “O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas”. Id. Ibid.
12. O contraste entre o Norte capitalista e o Sul escravocrata levariam o país à trágica Guerra da Secessão. Para Barrington Moore, ela teve tanta importância quanto as grandes revoluções capitalistas do século XVIII. MOORE JR., Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1983. Sobre o tema, ver também: KOSSOK, Manfred et al. Las Revoluciones Burguesas. Barcelona: Crítica, 1983.
13. Os docentes colaboradores são os seguintes: Teresa Cribelli, Ph.D. em História pela Johns Hopkins University, professora de História na University of Alabama; Fabrício Pereira Prado, Ph.D. em História Latino-Americana pela Emory University, professor de História na Roosevelt University, USA; Mariana Flores da Cunha Thompson Flores, Doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com estágio doutoral na Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Joana Bosak de Figueiredo, Mestre em História e Doutora em Literatura Comparada pela UFRGS, com estágio doutoral na Universitat de Barcelona, professora de História da Arte na UFRGS; Susana Bleil de Souza, Doutora em História pela Université de Paris X – Nanterre, de professora de História na UFRGS e professora convidada da Universidad de la República de Montevidéu; Carla Menegat, Doutoranda em História na UFRGS, com estágio doutoral na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSUL); Rafael Hansen Quinsani, Doutorando em História na UFRGS.
Referências
APTHEKER, Herbert. Uma Nova História dos Estados Unidos: a Revolução Americana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969
FOUNDING FATHERS. The Declaration of Independence and The Constitution of the United States of America. New York: SoHo Books, 2012
HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Brasília: Editora da UnB, 1984.
KARNAL, Leandro. Identidade e Guerra: Estados Unidos da América e os Conflitos. In. GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos et al. Tio Sam Vai à Guerra. Porto Alegre: Letra & Vida, 2010. p. 9-16.
KOSSOK, Manfred et al. Las Revoluciones Burguesas. Barcelona: Crítica, 1983
MOORE Jr., Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
VANSPANCKEREN, Kathryn. Outline of American Literature. Dules (VA): United States Departament of State, 1994.
Cesar Augusto Barcellos Guazzelli – Professor Titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Arthur Lima de Ávila – Professor Adjunto do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos; ÁVILA, Arthur Lima de. Apresentação. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, jul., 2015. Acessar publicação original [DR]
O lugar da Educação na modernidade luso-brasileira no final do século XIX e início do século XX – CARVALHO; CARVALHO (HP)
CARVALHO, Luciana Beatriz de Oliveira Bar de; CARVALHO, Carlos Henrique de. O lugar da Educação na modernidade luso-brasileira no final do século XIX e início do século XX. Campinas, SP: Editora Alínea, 2012. Resenha de: BORGES NETO, Mario. O caráter redentor da Educação no projeto modernizador luso-brasileiro no final do século XIX e início do XX. Revista História & Perspectivas, Uberlândia, v. 27, n. 52, 22 jul. 2015.
História das Ciências: debates e perspectivas / Revista Maracanan / 2015
Entre a história das ciências e a história política: desatando o nó górdio
“Qualquer que seja a etiqueta, a questão é sempre a de reatar o nó górdio atravessando, tantas vezes quantas forem necessárias, o corte que separa os conhecimentos exatos e o exercício de poder, digamos a natureza e a cultura. Nós mesmos somos híbridos, instalados precariamente no interior das instituições científicas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço instruídos sem que o desejássemos; optamos por descrever as tramas onde quer que elas nos levem. Nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de rede. Mais flexível que a noção de sistema, mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade, a rede é o fio de Ariadne destas histórias confusas.”
Bruno Latour1
O Dossiê História das Ciências: debates e perspectivas foi idealizado com o objetivo de estreitar o diálogo entre os pesquisadores dedicados à história das ciências e aqueles mais familiarizados com uma abordagem própria à história política. As problemáticas teóricas e metodológicas que envolvem a escrita da História das Ciências já foram o cerne de múltiplos e acalorados debates envolvendo cientistas, filósofos, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos e historiadores das ciências. E são esses debates o ponto de partida deste número, que busca evidenciar a diversidade de aportes analíticos sob os quais são construídas as interpretações no campo da história das ciências.
Desde fins dos anos 1970 foram gestadas, no meio acadêmico brasileiro, diferenciadas perspectivas acerca da constituição das práticas científicas no Brasil. Nessa ocasião, uma parcela significativa de estudiosos da institucionalização das ciências no Brasil já tomava o discurso científico como uma fonte de autoridade e poder, capaz de organizar as relações sociais e as formas de pensar. Nas décadas seguintes, o mito do cientista abnegado, em busca da verdade e indiferente às convulsões do mundo, foi definitivamente sepultado. E, pela mesma razão, a percepção da Ciência como uma atividade isolada, autônoma e independente da sociedade cedeu lugar a interpretações que enfatizam sua dimensão como fator de produção, instrumento do poder e legitimação social.
No atual século, assistimos ao desdobramento desses trabalhos pioneiros, com a multiplicação de dissertações e teses cujo objeto de estudo tem, como referência, variadas práticas científicas. Assim, sob perspectivas teóricas e metodológicas diferenciadas, tais estudos têm se multiplicado, evidenciando a potencialidade de uma temática à qual se dedicam pesquisadores atrelados a programas de pós-graduação com concentração em história política, social e cultural. Para a “nova” história das ciências, o trabalho de produção, controle e circulação dos diferentes saberes científicos é eminentemente social. As novas abordagens asseveram que aquilo que se convencionou denominar de Ciência corresponde a um conjunto diferenciado de práticas culturais voltadas à interpretação, explicação e ao controle do mundo natural, cada qual com suas características singulares, experimentando distintas formas de evolução e mudança, sempre em interação com outras esferas sociais.
Os organizadores deste Dossiê dedicado à história das ciências reuniram, assim, um conjunto de trabalhos que versam sobre esse tema, sob os mais variados matizes. Longe de esgotar as possibilidades de enfoques teóricos e metodológicos, objetivamos apresentar o campo, apontando algumas tensões existentes entre as diferentes correntes interpretativas, bem como enfatizar a potencialidade dessa temática no âmbito historiográfico.
No artigo que inaugura o Dossiê, Maria Margaret Lopes articula duas fronteiras da historiografia das ciências: os oceanos como espaços de produção de conhecimento e as disciplinas como estruturas dinâmicas que controlam poder e recursos materiais e simbólicos em departamentos e laboratórios. Como o estudo dos oceanos impõe uma abordagem interdisciplinar que perdura por décadas, temos aqui uma oportunidade para avaliar a complexidade das estruturas envolvidas nas investigações e os aspectos micropolíticos do cotidiano e, assim, identificar e situar padrões de tomadas de decisões para se examinarem mudanças nos programas de pesquisa em períodos mais longos. Como observa a autora, “as disciplinas não são categorias estáveis, mas arranjos, acordos temporários” o que deve ensejar uma análise das fronteiras inter e intradisciplinares no processo de produção e validação do conhecimento científico.
Em seguida, Flavio Coelho Edler nos convida a um sobrevoo panorâmico por alguns tópicos que se contituíram como balizas no desenvolvimento da disciplina História das Ciências nos últimos 40 anos. Ao discutir as mudanças historiográficas que implicaram no abandono da narrativa sintética da história das ciências por outra, voltada a esmiuçar as camadas mais finas, isto é, a micro-história das práticas científicas, o artigo avalia como as diferentes abordagens repercutem sobre distintas audiências. Aqui delineia-se um novo desafio: continuar a ver a história das ciências como um campo unificado de pesquisas capaz de envolver um público mais amplo.
A contribuição de André Luís Mattedi Dias e Tais Oliveira da Silva para esta coletânea enfoca a emergência contemporânea da temática da religião e espiritualidade no âmbito acadêmico da saúde mental, em especial, no campo da psiquiatria e da psicologia. Ao examiar a trajetória pessoal e acadêmica de três psiquiatras brasileiros, onde se conectam orientações religiosas e científicas diversas, os autores discutem a complexidade das relações entre ciência e religião, enquanto reavaliam as teorias sociológicas da secularização. Como ficará evidente para o leitor, no presente – tal como no passado –, as fronteiras entre ambas as esferas culturais não podem ser claramente delimitadas, nem suas relações expressas esquematicamente, em termos de conflito ou harmonia, como pretendeu a tradição positivista. Já o artigo de Eucléia Gonçalves Santos, que discute a definição de sertão na obra de Afrânio Peixoto, ajuda a embaralhar outras fronteiras: aquelas que apartam os mundos da ciência, da literatura e da política. Ao abordar a atuação intelectual do médico, higienista, educador e escritor baiano, a partir do contextualismo linguístico de Skinner, a autora desvenda como os sentidos que ele atribui ao sertão e sua relação com o clima e a raça mediavam os conflitos políticos e científicos com seus pares no processo de construção do campo científico, na Primeira República.
Também na Primeira República, mais precisamente no período de construção do projeto republicano, compreendido entre 1890 e 1907, se situa o estudo de Erika Marques de Carvalho sobre os projetos emanados pelo Clube de Engenharia, visando à integração territorial brasileira. Aqui, vê-se claramente a dimensão da ciência como força produtiva, alinhada ao discurso do progresso nacional. O modo como essa elite de engenheiros buscou se inscrever na formação de um Estado civilizado é o tema desse artigo. A agenda da integração territorial, através dos projetos de viação, estradas de ferro e de linhas telegráficas, afinada com o ideal de progresso, posicionou o Clube e seus engenheiros nas arenas de decisão técnica dos governos republicanos.
O caráter social e a utilização comercial da prática científica no processo de instituição social da hegemonia científico-farmacêutica em São Paulo, nos anos 1930, são o tema do trabalho de Gabriel Kenzo Rodrigues. Aqui se discute como o discurso legitimador inerente ao ideário científico foi apropriado por diversos grupos sociais, servindo para sancionar hierarquias sociais. A pura racionalidade da ciência, legitimando o discurso competente da medicina, é avaliada como socialmente construída, servindo para fundamentar a assimetria entre o modelo – supostamente universal e atemporal – de cura dos especialistas e os saberes populares. O discurso médico, agora em torno da história da eugenia, é o assunto abordado no ensaio de Leonardo Dallacqua de Carvalho e Gerson Pietta. Os autores levantam questões e apresentam novas perspectivas emergentes na historiografia sobre a eugenia. Presente no discurso de incontáveis personagens de variadas áreas do conhecimento, aglutinando teorias provenientes de fontes diversas, como a biotipologia humana, a criminologia, a psiquiatria, a endocrinologia e a medicina legal, os estudos históricos sobre os movimentos eugênicos constituem, para o historiador – como demonstram os autores – “um canteiro de obras”.
Leonardo Mendes e Renata Ferreira Vieira revisitam o polêmico “caso Abel Parente”, que agitou a sociedade brasileira entre as décadas de 1890 e 1900, e que resultou na realização de investigações policiais e processos judiciais contra o médico que anunciara, nos jornais do Rio de Janeiro, o seu método contraceptivo, interpretado pelos setores conservadores da classe médica e da sociedade carioca como uma forma de aborto. A análise apresentada coloca em foco os debates realizados na imprensa leiga entre médicos e intelectuais, problematizando a relação entre conhecimento científico e concepções morais acerca da sexualidade, da gravidez e do corpo feminino.
Fechando a seção de artigos do Dossiê, Viviane Machado Caminha São Bento e Nadja Paraense dos Santos analisam a atividade científica dos jesuítas na América portuguesa através das informações encontradas na obra Colecção de Varias Receitas, que reuniu receitas de medicamentos fabricados nas boticas jesuíticas espalhadas pelo mundo ultramarino. A partir da análise desse impresso, as autoras procuram demonstrar a inserção da Ordem Inaciana no processo de desbravamento e conhecimento do mundo natural, próprios da ciência da Época Moderna, contribuindo para desmistificar a imagem que associa a ação dos jesuítas pela negação de sua relação com questões de foro científico.
O depoimento escrito por Maria Amélia Dantes, a convite da Revista Maracanan, sobre o processo de constituição do campo da História das Ciências no Brasil, é perpassado pela sua atuação pioneira nessa área, em especial no que tange aos estudos sobre o processo de institucionalização das ciências no Brasil Oitocentista. Ao alinhavar a sua trajetória profissional nessa temática, preocupa-se em relacionar a sua contribuição com a de outros profissionais contemporâneos, empenhados em compreender a singularidade das práticas científicas nacionais mediante os debates sobre a ciência periférica em curso no último quartel do século XX. A leitura do seu depoimento proporciona ao leitor compreender os desafios enfrentados pelos pesquisadores brasileiros, em especial desde os anos 1980, com atenção às temáticas abordadas e às clivagens historiográficas analíticas vivenciadas por uma área do conhecimento ainda em expansão.
Na conclusão do seu depoimento, Maria Amélia Dantes faz uma importante menção às preocupações atuais dos estudos produzidos na esfera da História das Ciências, afinados com os parâmetros de uma História Global, com destaque para a utilização dos conceitos de circulação e produção de conhecimentos, que são o tema dos trabalhos e do artigo de Kapil Raj, traduzido por Juliana Freire. Raj apresenta um balanço das principais problemáticas interpretativas enfrentadas pelos pesquisadores dedicados ao estudo do conhecimento científico produzido pelos países periféricos, desde a publicação do clássico trabalho de George Basalla, que reduzia os países não europeus a meros receptores / reprodutores de uma concepção científica disseminada pelos centros de ciência europeus. Depois de apresentar as sucessivas clivagens e aporias produzidas pela historiografia a essa concepção, defende a realização de análises com o foco na própria circulação como um “local de formação do conhecimento”, argumentando que a perspectiva circulatória permite ver a ciência como sendo coproduzida pelo encontro e pela interação entre comunidades heterogêneas de especialistas de diversas origens – o que possibilita a construção de uma história global fundamentada.
O artigo de Raj encerra o Dossiê ao mesmo tempo que representa um apelo à realização de mais pesquisas sob a perspectiva da circularidade, haja vista que ainda constitui uma novidade no campo da história das ciências, cujas produções, paulatinamente, têm conseguido desfazer o nó górdio que separava a ciência da política, ou que, por vezes subjugava a primeira à segunda. Fica o convite.
Os dois últimos artigos, publicados na seção de textos avulsos, dão o tom do “estado de arte” de outras duas temáticas relacionadas aos estudos em história política e evidenciam a diversidade dos objetos visitados pelos pesquisadores dedicados a essa linha de pesquisa no âmbito da UERJ. André Bueno analisa as teorias tradicionais chinesas de preservação material, construídas com base em uma cultura da cópia, que se voltam para a preservação do método pelo qual o objeto foi fabricado em detrimento da manutenção do objeto material em si. Assim, ao mesmo tempo que as cópias se constituiriam como “miragens” do original, elas seriam eficazes na manutenção das tradições culturais chinesas ao conservarem o conhecimento tradicional sobre as antigas formas de produção, mantendo padrões, métodos e técnicas muito similares (senão idênticos) aos do passado.
A história da emigração de Santa Comba – município pertencente à província de A Coruña, na Galiza – para o Rio de Janeiro, durante os séculos XIX e XX, é reconstituída por Erica Sarmiento, através do arquivo privado (composto por cartas, fotos, anotações notariais e agenda pessoal) da família Mouro, em especial do seu patriarca, Francisco Mouro. A autora realiza uma análise desse fenômeno migratório, a partir do estudo de uma família, com base no argumento de que as fontes pessoais permitem situar o emigrante em seu espaço de atuação, relação e influência, nos aproximando de suas estratégias, pautas e seus objetivos familiares, oferecendo a possibilidade de seguir de perto os seus passos. Seu trabalho nos permite compreender melhor tanto o processo de imigração como o de permanência de emigrantes em terras estrangeiras.
Assim, encerramos a edição de número 13 da Revista Maracanan, com a expectativa de que possamos contribuir com a consolidação da publicação dos docentes do Programa de Pós-Graduação de História (PPGH-UERJ) como um espaço de debates e apresentação de renovadas perspectivas historiográficas e incentivando o diálogo entre as diferentes áreas de pesquisa, explorando paulatinamente a natureza híbrida dos objetos históricos.
Nota
1. LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. 1994. p. 9.
Monique de Siqueira Gonçalves – Doutora em História das Ciências pela Casa de Oswaldo Cruz, mestre em História Política pela UERJ, graduada em História pela UERJ. Desde 2011, faz pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em História da UERJ (como bolsista FAPERJ), atuando como docente colaboradora desse programa e do Departamento de História da UERJ e, desde 2013, atua como membro do corpo editorial da Revista Maracanan.
Flavio Coelho Edler – Doutor em Saúde Coletiva pela UERJ, mestre em História Social pela USP e graduado em História pela UFRJ. É professor do PPGHCS – COC / Fiocruz. Dedica-se à História das Ciências, com ênfase na história da medicina no Brasil. Entre outras publicações, é autor do livro Medicina no Brasil Imperial: clima, parasitas e patologia tropical (Ed. Fiocruz, 2011) e Ensino e profissão médica na corte de Pedro II (Ed. UFABC, 2014).
Alex Gonçalves Varela – Historiador, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre e doutor em História das Ciências pela Universidade Estadual de Campinas. Dedica-se aos estudos no campo da história das ciências, com ênfase na história das geociências e na história das ciências oceanográficas. É autor de Atividades Científicas na “Bela e Bárbara” Capitania de São Paulo (1796-1823). São Paulo: Annablume, 2009.
GONÇALVES, Monique de Siqueira; EDLER, Flavio Coelho; VARELA, Alex Gonçalves. Apresentação. Revista Maracanan, Rio de Janeiro, n.13, 2015. Acessar publicação original [DR]
Nação, cidadania, insurgências e práticas políticas, 1817-1848 (II) / Clio – Revista de Pesquisa Histórica / 2015
Esta segunda parte do dossiê Nação, cidadania, insurgência e práticas políticas, 1817- 1848, mais uma vez, aborda a história social e política daquele momento-chave da formação da nacionalidade e da consolidação do império do Brasil, que costumava ser chamado pela historiografia tradicional de “Ciclo das Insurreições Liberais do Nordeste”. Mesmo tendo esse vínculo comum, os artigos abordam objetos diversos, enriquecendo assim nossa compreensão sobre o período e sobre a temática do dossiê. Nas páginas seguintes, estudaremos: a constituição de uma família que tinha um projeto de ascensão à elite política do Império; o conturbado processo de independência nas “províncias do norte”; a participação de índios aldeados nas lutas da Confederação do Equador; o jogo político das primeiras celebrações do Sete de Setembro, e, finalmente, os confrontos armados envolvendo as populações florestais nas matas de Jacuípe na primeira metade do dezenove.
Abre o dossiê o instigante artigo de Paulo Henrique Fontes Cadena, que desvenda a trajetória política e financeira dos Cavalcanti de Albuquerque desde 1801, quando os irmãos Francisco, Luís e José protagonizaram a trama conhecida como Conspiração dos Suassuna (nome do engenho da família). Em 1817, Francisco (o Coronel Suassuna), e seus filhos participaram da revolução que estourou no Nordeste. O autor analisa os problemas financeiros que rondavam o cotidiano dos Cavalcanti, levando-os a tomar posições opostas ao governo. Todos os seis filhos do Coronel envolveram-se na política brasileira. O mais destacado deles, Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, o Hollanda dos anais do parlamento brasileiro, quase foi regente em 1835 ao concorrer com Feijó. Depois dos arroubos de 1808 e 1817, a família trilhou um caminho mais conservador, apoiando Pedro I contra a Confederação do Equador (1824) e dali foram tecendo alianças e ocupando espaços políticos que, explica Paulo Cadena, tiveram correspondência direta com o sucesso econômico dos anos seguintes. Os Cavalcanti e seus aliados ocuparam imensos cargos e posições constituindo-se numa oligarquia sem par na história de Pernambuco.
A história de formação de potentados locais e da elite política no Brasil Império é fascinante, sobretudo quando associada a processos mais amplos, como a Independência do Brasil, que, nas províncias, não foi um processo homogêneo, unidirecional. No Piauí, o anochave foi 1823, quando as tropas leais a Portugal foram definitivamente expulsas por um exército patriota, articulado pelas elites locais, com intensa participação dos grupos populares. Gente que, em sua maioria, era motivada por um discurso de nacionalidade construído ali mesmo em meio aos acontecimentos. É isso que nos mostra em detalhe o artigo de Johny Santana de Araújo, ao fazer um estudo de caso sobre a Independência, no qual evidencia a posição estratégica do Piauí, como uma “região de fronteira” entre o novo Império do Brasil e a nova Colônia portuguesa no norte. Menos de um ano depois dos eventos de 1823, as lideranças políticas que haviam tomado parte no processo de independência no Piauí, estavam divididas entre jurar a nova Constituição, promulgada por Pedro I, ou aderir à “república pernambucana”: a Confederação do Equador.
Nesses processos, a violenta cisão entre as elites locais, abria espaço para que outros protagonistas atuassem de forma mais incisiva na cena política maior, esgarçando ou mesmo rompendo relações clientelistas consolidadas pelas contingências locais. Na Confederação do Equador estava em debate (e em conflito) projetos políticos divergentes, conferindo outras dimensões ao jogo político entre os potentados locias e as demais camadas e estratos da sociedade. Assim, em Pernambuco e Alagoas, os acontecimentos de 1824 atingiram e envolveram também a população indígena. É este o tema do artigo de Mariana Albuquerque Dantas, que analisa com precisão a participação dos aldeamentos de Barreiros e Cimbres (em Pernambuco) e Jacuípe (em Alagoas) nos conflitos armados daquele ano. A partir de suas próprias demandas – a defesa da terra das aldeias, a administração desses espaços e a oposição ao recrutamento – a população indígena posicionou-se diante dos debates sobre projetos políticos coevos. Mesmo que enleados nas malhas do clientelismo local, os índios aldeados foram protagonistas de sua própria história naquele momento crucial do processo de formação do Estado nacional brasileiro.
O artigo seguinte é de autoria de Lídia Rafaela Nascimento dos Santos que contempla o leitor com um estudo sobre as festas comemorativas do Sete de Setembro no Recife em 1829. Embora tenha sido uma tradição inventada em 1826 por uma lei que definiu as datas cívicas da nova nação, esta foi a primeira vez que aquela celebração foi registrada e debatida pela imprensa de Pernambuco. O texto apresenta um repertório de interpretações coevas sobre aquele momento, quando a cidade inteira viu-se envolvida nas solenidades que contou com cortejos, carros alegóricos, ruas e praças apinhadas de gente. Mas nada era linear, unívoco. Cada detalhe era significado à sua maneira pelos diferentes agentes enredados nas tramas das festas. As diferentes facções políticas manifestavam-se através da imprensa e participavam, ou não, dos diversos eventos programados, conforme seus poderes relativos, suas opiniões e lealdades. A cidade ainda vivia o rescaldo dos movimentos de 1817 e 1824. Eram muitas as discordâncias, veladas ou não, expressas nos periódicos, que posicionavam-se de forma crítica sobre o que ocorria na cidade. A festa não era apenas uma festa, era muito mais.
Maria Luiza Ferreira de Oliveira inova estudando as guerras nas matas entre Alagoas e Pernambuco na década de 1840, construindo uma nova periodização e uma narrativa singular daqueles eventos. Seu texto mostra que os cabanos não foram totalmente derrotados em 1835, pois a luta ainda iria continuar na década seguinte até a prisão final de Vicente de Paula e de Pedro Ivo, em 1850, e a fundação de duas colônias militares na região, uma em cada província. A gente das matas agia dentro de uma lógica própria. É preciso perscrutá-la para entender suas motivações, seu envolvimento numa guerra sem fim. Mas além dos combates corpo a corpo, das incontáveis mortes, a autora percebe uma outra luta na imprensa e no debate político partidário pela construção de uma memória daqueles acontecimentos e das pessoas envolvidas. Os conservadores tentaram despolitizar o debate público, mostra a autora, celebrando os “melhoramentos materiais” dos anos 1850 em confronto com o que seria um Brasil selvagem, incivilizado. Pedro Ivo desponta como o personagem mais disputado, apontado como herói ou bandido, como símbolo de um liberalismo purista ou um reles desertor das tropas imperiais. Essa luta pela memória foi, principalmente, política, indo além do que permite entender uma cronologia estática dos fatos. É essa a trama tecida nesse instigante texto.
Só resta aos organizadores deste dossiê agradecer aos autores que possibilitaram manter acesa a discussão sobre o tema Nação, cidadania, insurgência e práticas políticas, 1817-1848.
Marcus J. M. de Carvalho – UFPE.
Bruno Augusto Dornelas Câmara – UPE.
CARVALHO, Marcus J. M. de; CÂMARA, Bruno Augusto Dornelas. Apresentação. CLIO – Revista de pesquisa histórica, Recife, v.33, n.2, jul / dez, 2015. Acessar publicação original [DR]
Revoltas Populares Contemporâneas numa Perspectiva Comparada / Estudos Ibero-Americanos / 2015
A realidade é uma hipótese repugnante / fora de mim,
entrando por mim a dentro Solidão errante / órfã de centro.
(Manuel António Pina em La fenêtre éclairée)
O século XXI nasceu sob o signo da insurreição. Num mundo em desassossego, e um pouco por todo o lado, a ideia de que “nada será como dantes” parece ter vindo para ficar. As palavras cansam-se na tentativa de definir uma realidade que, de tão apressada, parece tropeçar sobre si mesma. Protestos, tumultos, revoltas, revoluções, contrarrevoluções sucedem-se, trocam de lugar, aparecem, desaparecem, teimosamente resistem, ou transformam-se em sombras que inspirarão num futuro que cada vez mais se confunde com um longo presente, outros protestos, outros tumultos, e outras revoltas. E a cabeça do ser humano neste nosso ainda jovem século roda, e gira, vertiginosamente à procura de um centro, de uma orientação, de um eixo, para um mundo que parece ter saído dos eixos.
A geografia da crise não tem um centro difusor, e ela, nas suas várias manifestações, tanto pode ser econômica, financeira, política, social, cultural ou todas ao mesmo tempo. A Oriente, ditaduras foram combatidas nas ruas, e enquanto umas caíram, outras resistiram, transformaram-se, ou revigoraram-se. A Ocidente, movimentos estudantis e sociais desafiam o Estado, a democracia-liberal, e a globalização capitalista, e muitos proclamam que um “outro mundo” não só é possível, como inevitável. E toda esta onda de protesto rebentou nas ruas, nas calçadas, nas avenidas, e nas praças, nas televisões, na Internet e nas redes sociais, lugares físicos e virtuais, onde se mobilizaram desejos e se celebraram indignações, inconformismos, e a rejeição do mundo tal como ele é. E no meio da ebulição, também irromperam guerrilhas urbanas, fizeram-se pilhagens e destruiu-se propriedade, surgiram terroristas e lobos solitários, e aperfeiçoaram-se técnicas avançadas de controlo, vigilância, e repressão de protestos por parte do poder público, sempre reforçando essa “lei” não escrita da História que nos diz que qualquer procura de emancipação popular tem sempre como hipótese latente, como via possível, a violência, seja de manifestantes, seja da ordem estabelecida.
Nesta geopolítica contemporânea do protesto, a força propulsora do ativismo deriva, mais do que de teorizações complexas, ou de programas detalhados para se revolucionar a sociedade, do fato desse mesmo ativismo ser visto, sentido, e experimentado, como um combate de todos aqueles que se encontram “em baixo” contra a minoria dos que se encontram “em cima”. Independentemente do contexto, o alvo a abater são sempre as elites; que podem ser personalizadas por tiranos, claro, mas também pelas oligarquias políticas e financeiras das democracias, por famílias todo-poderosas, pelos governantes, pela classe política, por grupos de media, e por toda uma rede de interesses e mecanismos, nacionais e transnacionais, que sustenta o poder e a soberania destes “príncipes” enquanto perpetua a destituição da “plebe”. Tudo isto é ainda mais notável quando se sabe, na senda dos trabalhos sobre protestos políticos de Charles F. Andrain e David Apter, que, ao longo dos tempos, a maioria das pessoas escolhem aceitar passivamente, e por razões pragmáticas, os regimes existentes e estabelecidos. A confrontação implica sempre custos, pessoais, familiares, profissionais, que fazem dela apanágio, sobretudo, de minorias. Mas hoje em dia, esta tendência para a resignação não parece ser suficientemente forte para impedir, em muitos países, a oposição mais vasta a regimes que, por uma miríade de razões, são vistos como ilegítimos.
Para muitos destes indivíduos, grupos, e movimentos de contestação, a avaliação sobre os males do mundo não deixa margem para dúvidas. O diagnóstico é pessimista. Mas isso não é desculpa para a inação. Esse desencanto é contrabalançado pela crença que os atuais sistemas político-econômicos podem ser superados, que a democracia pode ser revitalizada, e que a opressão, a injustiça e a desigualdade podem e devem ter um fim. Em suma, através da mobilização e do voluntarismo é possível provar como falsa a ideia que durante muito tempo foi corrente, sobretudo no Ocidente, de que “não há alternativa” para o mundo atual e que este é o melhor dos mundos possíveis. Não é assim de estranhar que muitos destes ativistas do século XXI falem de novo em palavras como “revolução” e “utopia”; e fazem-no sem vergonha ou inibição, mas com a consciência que o resgatar desta imaginação radical constitui um necessário primeiro passo para a transformação das nossas sociedades. Para muitos grupos, no fundo, é como se combatessem entre dois mundos, um no crepúsculo, e outro na aurora.
É assim o mundo de hoje: em fluxo, em movimento, e também imprevisível. E de uma maneira geral toda esta turbulência contemporânea apanhou as pessoas de surpresa. É verdade que pode-se afirmar que estamos perante a História como ela realmente é, e como sempre foi. Ou seja, como a emergência do novo, do nunca visto, daquilo que nunca se pensou que pudesse acontecer, do que causa espanto, horror, ou maravilha. Mas importa dizer que num passado não muito distante, ou seja, durante boa parte da segunda metade do século XX, e por razões históricas concretas, esta interpretação da História como devir permanente era vista com muito mais cautela, contenção e ceticismo. Afinal de contas, o século XX despertou com uma sucessão de tentativas de aplicação na prática de impulsos utópicos e de projetos de transformação coletiva que, cada um a sua maneira, tinha como fim libertar o ser humano das alienações e misérias da História. Assim, o mundo assistiu à tentativa soviética de fazer do ideal comunista uma realidade viva, ao projeto fascista de iniciar uma nova História (um “novo começo”) e de purgar a civilização da sua decadência (seja através da nação, seja através da raça), e mesmo muitos movimentos coloniais de libertação assentaram numa esperança radical de inaugurar não apenas um Estado-nação mas o começo de uma nova época na História (o revolucionário anticolonialista Frantz Fanon apontou mesmo como finalidade da descolonização “a substituição de uma espécie humana por outra… o mundo virado ao contrário, os últimos transformam-se em primeiros”). E no horizonte os amanhãs cantavam.
Mas esta narrativa de revolução e emancipação esbarrou contra um obstáculo. Algo correu mal. E esse “algo” foi a própria realidade. Desta forma, o programa de libertação marxista acabou por servir de justificação ideológica para regimes totalitários, o projeto fascista tornou-se sinônimo de brutalidade humana e extermínio, e mesmo regimes de Estados pós-coloniais, não obstante as esperanças de muitos, na prática foram durante muito tempo exemplos de exploração, repressão e guerras sem fim. A conjugação destas experiências falhadas, e as suas consequências (guerras mundiais e civis) provocaram uma hecatombe nos meios intelectuais e culturais da época. Na altura, e como sinal desse terremoto, foi lançado um livro por dissidentes comunistas, publicado nos anos 50, com o elucidativo titulo “O Deus que falhou”, testemunhando essa transformação de sonhos infalíveis em pesadelos reveladores da falibilidade humana. É exatamente neste contexto que se levanta todo um movimento intelectual contra os males das ideologias, contra o utopianismo e contra as tentativas irrealistas e perigosas de encontrar alternativas totalizantes para o estado das coisas, seja nas sociedades, seja nas nações, seja no mundo. A lógica, apoiada na experiência de tragédias recentes, parecia ser um prolongamento do senso-comum. Ou seja, mais valia manter as coisas como estavam, ou, no máximo, fazer mudanças progressivas e equilibradas, do que lançar-se em quimeras de transformação coletiva que inevitavelmente iriam deixar o mundo em pior estado.
Intelectuais antiutópicos do pós-guerra, de todos os quadrantes ideológicos, repudiaram qualquer possibilidade de emancipação coletiva. À direita, Karl Popper, o filósofo da sociedade aberta e uma das grandes referências do pensamento liberal, retratou projetos utópicos como inevitavelmente perigosos, perniciosos e autodestrutivos. Sociedades ideais emergem “apenas a partir de nossos sonhos e dos sonhos dos nossos poetas e profetas. Elas não podem ser discutidas, apenas proclamadas em cima dos telhados. Elas não apelam para a atitude racional do juiz imparcial, mas para a atitude emocional do pregador apaixonado”. A partir da esquerda, Hannah Arendt perguntou: “E o que mais, enfim, é este ideal [de emancipação] de sociedade moderna, senão o velho sonho dos pobres e miseráveis, que pode ter um charme próprio, desde que ele é um sonho, mas que se transforma em um paraíso dos tolos, assim que é realizado?” Aleksndr Solzhenitsyn, que teve experiência íntima com um desses “paraísos” (conheceu o Gulag soviético, e esteve oito anos em campos de trabalhos forçados) sabia de quem era a culpa: “Graças à ideologia, o século XX experimentou a maldade humana numa escala nunca vista. Isto não pode ser negado, não pode ser ignorado, não pode ser suprimido”. E a “lição” não foi esquecida.
Como consequência vai-se assistir a uma defesa vigorosa, sobretudo na Europa e na América do Norte, da política do equilíbrio, orientada para a gestão do real, fazendo ajustes e mudanças importantes no sistema político e social, mas sem impulsos de transformação total e potencialmente destrutiva. Em suma, uma política desprovida de excessos ideológicos e sem febres utópicas. O pensador francês Raymond Aron aplaudia este novo estado de espírito. Tinha chegado a hora de “desafiar os profetas da redenção” e de “celebrar a chegada dos cépticos”. É verdade que esta narrativa do “ fim das ideologias” foi contestada nos anos 1960 e 1970 por teologias da libertação, hippies, guerras de libertação nacional, lutas anti-imperialistas, subculturas alternativas, cruzadas pelos direitos civis, o ativismo antiguerra, protestos feministas e várias forças sociais de uma “nova esquerda” empenhada em derrubar o “sistema” e alcançar uma total transformação do mundo moderno. O conteúdo da sonhada utopia divergia em seus detalhes, mas geralmente incluía, entre outros elementos, a eliminação de tabus sexuais, o fim da violência, o estabelecimento de uma igualdade completa, a ascensão de comunidades abrangentes de amor e de partilha e o imaginário da emancipação. Contudo, para muitos intelectuais, a suspeita de que não havia possíveis alternativas positivas para o status quo permaneceu. Movimentos utópicos seriam apenas aberrações, que em breve seriam englobados na marcha inevitável em direção a um futuro racional. Essa perspectiva receberia seu aval com a desintegração da União Soviética, cujo colapso foi visto como evidência convincente de que o previsto “fim” da história havia de fato chegado, bem como o fim das ideologias e o fim da revolução. O historiador François Furet termina o seu livro “O passado de uma ilusão” com uma frase que é testemunho de toda uma mentalidade: “Aqui estamos nós, condenados a viver no mundo tal como ele é”. “Condenados”, portanto, a não haver alternativa.
Na verdade, parecia que o mundo ocidental tinha entrado em um período de endism (ou o período dos “fins”), em que as utopias de transformação já não podiam ser imaginadas, muito menos propostas. O racionalismo burocrático e uma suposta “tecnificação da política”, ao que parecia, tinha esmagado todos os rivais; a democracia representativa saía vitoriosa e o capitalismo era o triunfador. Os conflitos tormentosos sobre os sistemas políticos e económicos (para não mencionar os espirituais), que deviam reger os assuntos humanos, haviam sido, com uma ou outra exceção, resolvidos. Este sentimento era difuso na época e manifestava-se de várias formas. Havia até um triunfalismo sobre a globalização liberal-capitalista, como um quebrar definitivo de barreiras, e de fronteiras. E os próprios Estados-nação, para alguns, poderiam desaparecer debaixo desse magma do globalismo. E isto de certa forma também se relaciona com o entusiasmo de muitos estudos na década de noventa do século passado sobre a globalização, como uma Nova Ordem Mundial, assente na expansão por todo o globo de uma “democracia cosmopolita”, como inevitável, e em benefício das relações internacionais. Em suma, o melhor dos mundos possíveis.
Aliás, a própria transformação dos partidos políticos em “máquinas” de angariação de votos, dedicados a objetivos limitados e estreitos, de curto prazo, com o único objetivo de vencer eleições, revela esta dinâmica avassaladora do pragmatismo. Ao contrario dos partidos de massa de antigamente, que eram autenticas escolas de doutrinação e refúgio espiritual, e que tinham um numero enorme de militantes, nos partidos contemporâneos a militância é cada vez menor, e guiada mais pelo interesse e carreirismo do que, francamente, pelo entusiasmo. A política, desligada cada vez mais dos grandes projetos mobilizadores de transformação da sociedade, foi-se progressivamente desencantando. Dai que a apatia, o desinteresse, e a abstenção, surjam quase como consequências naturais, e ainda sentidas, da política partidária de hoje.
E é neste contexto que a narrativa do “fim das ideologias” vai ser levada para um outro patamar, mais além: Francis Fukuyama foi o portavoz mais conhecido da ideia do “Fim da História”. Logo em 1989 ele melancolicamente observou que “o fim da história será um momento muito triste”. No entanto, a luta ideológica mundial que apelava para a ousadia, a coragem, a imaginação, a criatividade e o idealismo era uma coisa do passado. Havia sido “substituída pelo cálculo econômico, a resolução interminável de problemas técnicos, as preocupações ambientais e a satisfação das exigências dos consumidores mais sofisticados”. O seu livro chamar-se-á “O fim da História e o último Homem”. E quem é o “último Homem”? É o homem liberal. E é a sua política do pragmatismo, do real contra a abstração, da moderação, do debate razoável e racional e da gestão de interesses. Numa política que é esvaziada de antagonismo, de intensidade e de paixão. É por isso que, como nos avisa o filósofo político americano Michael Walzer, para um liberalismo que assenta a sua razão de ser na domesticação das paixões (vistas como irracionais, e abstratas) o excesso de entusiasmo na política é potencialmente subversivo, e leva facilmente ao que é visto como o inimigo mortal do liberalismo: o fanatismo, seja de esquerda, seja de direita. Não estranha portanto, que, na passagem do século XX para o século XXI o sociólogo Zygmunt Bauman reclamasse que estávamos todos a viver numa vergonhosa era “pós-ideológica” e “pós-utópica”, sem grandes projetos, exceto para o indivíduo (o centro absoluto do liberalismo), e a busca incessante do autointeresse e da felicidade individual.
Mas, quando caminhamos para a terceira década do século XXI, terá esta “acusação” razão de ser? Os movimentos sociopolíticos renunciaram mesmo aos elementos utópicos em seus modos de vida e imaginários? Não existem projetos, lúcidos ou não, de transformação da sociedade? Os “grandes” sonhos e a ousadia de imaginar, e tentar por em prática, o mundo imaginado não estarão de volta (assumindo como verdadeira a ideia improvável de que alguma vez desapareceram)? Qualquer observador, por mais desatento que esteja, sabe qual a resposta a dar a estas interrogações. A verdade é que o Zeitgest (essa palavra alemã que significa “o espírito dos tempos”) da nossa época é decididamente menos conformado, mais combativo, e acima de tudo, com uma crença difusa da insustentabilidade de muitos dos arranjos políticos, econômicos, sociais e até culturais do mundo de hoje. A mobilização popular, seja quais forem as razões, e em contextos geográficos e culturais diferentes, encontra-se em alta no mundo. Uns fazem-no para derrubar ditaduras ou regimes vistos como ilegítimos, outros para por um fim à exploração econômica das elites sobre as massas, contra a austeridade, por educação e transportes gratuitos, pela defesa da qualidade de vida ou simplesmente (e muitas vezes paralelamente) por uma nova política, uma nova democracia, uma nova sociedade. Se há pouco tempo imperava a ideia do fim, agora muitos destes grupos de contestação são galvanizados pela ideia de começo (início de novas relações políticas, sociais, humanas, e de novas experiências). Da ideia de que “não há alternativa” para as sociedades liberais-capitalistas passou-se, em muitos casos, para a ideia que não existe outra alternativa senão imaginar, e lutar, por um status quo distinto do de hoje.
O sociólogo Daniel Bell, um dos antigos defensores da ideia do “fim das ideologias”, deu uma marcha-ré no ano 2000, reconhecendo que talvez esse paradigma se tenha esgotado e que o “recomeço da história” se tenha iniciado. É sobre esta mudança de paradigma, e sobre este “recomeço”, que este dossiê encontra a sua razão de ser no início do século XXI.
A Estrutura do Dossier
Através da discussão dos seus episódios mais marcantes, das ideias, formas de pensamento, quadros mentais, ações coletivas, e propostas, assim como das suas possíveis consequências, a ideia deste dossiê é a de mapear, percorrer e dar uma visão abrangente – ainda que obviamente limitada a um número concreto de exemplos – deste ciclo global de protestos. Não há, nem pode haver uma única narrativa para capturar uma onda de protestos que é diversa, e que não obedece a um único guião. Todos os protestos dependem de contextos nacionais, e de especificidades próprias. Não há, aliás, um único movimento, mas vários que, contudo, obedecem a um mesmo fio condutor, ou seja, a ideia de protesto, e a sua rejeição do status quo através da intensa mobilização nas ruas e, também nalguns casos, através do ciberativismo. Este dossiê reflete essa ausência de uma interpretação unívoca. Optimismo e pessimismo percorrem, em igualdade, as suas páginas. Se estamos ou não numa mudança de paradigma civilizacional ainda esta por confirmar, mas os contributos deste dossiê tem em atenção tanto a influencia da hegemonia dos velhos hábitos de pensar e de fazer a política, como as novas esperanças, experiências, e quem sabe, futuras hegemonias que se avistam no horizonte.
Revoltas populares contemporâneas numa perspectiva comparada está dividido em duas partes. A primeira, constituída por seis artigos, centra-se sobre as lições mais gerais – e de vários contextos geográficos – que se podem tirar deste ciclo global de protestos. Partindo do exemplo da América do sul, Carlos de la Torre descreve a ascensão da “política das ruas”, e da ideia, cada vez mais difundida, de que a “verdadeira” democracia é direta, comunal e nos antípodas da democracia representativa. Ele descreve as dinâmicas desta visão, assim como os seus perigos. Importante também notar que este ciclo de protestos populares não é exclusivo de países com economias em queda, ou em dificuldade. Por exemplo, novas potências económicas como a Turquia e o Brasil também foram abaladas por uma massiva onda de contestação. Para Bulent Gokay e Farzana Shain, os protestos turcos de 2013 foram acima de tudo uma reivindicação de melhor qualidade de vida nos centros urbanos, contra a privatização dos espaços comunitários, num ambiente político progressivamente repressivo e antidemocrático. Muitas destas revoltas foram estudantis, tornando-se símbolos de mobilização popular, nas ruas, por um futuro diferente para a educação. No Québec, como retrata Cayley Sorochan, assistiu-se a mais longa greve estudantil na história do Canadá, com o sindicalismo estudante a clamar, através de uma greve geral, e da desobediência cívica, pelo fim do aumento dos custos da educação para os alunos. Se uma característica fundadora destes protestos global é a contraposição permanente entre o povo e as elites, a inclusão do Tea Party neste volume não deve causar estranheza. Como refere George Michael, o Tea Party procura uma renovação conservadora da cultura política americana, em termos fiscais, mas também culturais, e a sua ação coletiva, a sua política das ruas, o seu ativismo na Internet, refletem o desejo de tomar de assalto um sistema visto como injusto e não-representativo dos interesses dos “verdadeiros” americanos. De certa forma, tem-se assistido a revoltas contra o Estado. Na forma dos tumultos ingleses de 2011, por exemplo, em que a destruição, os saques, e as pilhagens são um sintoma, como escreve Daniel Briggs, de exclusão social e, ao mesmo tempo, de excessiva dependência de uma cultura de consumo como a única capaz de dar identidade a vidas sem sentido. A contestação popular também emergiu fortemente (e mediaticamente) no movimento espanhol dos Indignados, e Carlos Taibo refere que o movimento de 15 de Maio (a denominação preferida dos ativistas) criou uma nova “identidade contestatária” (primariamente anticapitalista) em Espanha assim como novas experiências de fazer política através de assembleias populares e espaços autónomos.
Já a segunda parte do dossiê foca o caso português e, numa perspectiva histórica e contemporânea, aborda as dinâmicas de contestação popular desde as ultimas décadas do século XX à segunda década do século XXI. Tiago Fernandes argumenta que a democracia portuguesa – que teve a sua origem numa revolução social – revela maiores índices de mobilização da sociedade civil (como organizações de base popular, associações e partidos) do que as democracias (como a espanhola) que resultaram de uma trajetória de reforma política. Mas também Portugal, como retratado por Guya Accornero e Pedro Ramos Pinto, conheceu um ciclo de protestos populares (e um movimento de Indignados), nomeadamente com os protestos da Geração à Rasca em 2011, que mobilizaram e depois desmobilizaram. Para estes autores, no entanto, existiram consequências no mapa político: a emergência de novos atores políticos e de possíveis colaborações entre eles e atores tradicionais na esquerda do espectro político. Finalmente, Riccardo Marchi, mostra como esse impulso revolucionário não é exclusivo da esquerda mais à esquerda, persistindo e manifestando-se também na direita radical, sobretudo na sua versão contemporânea de um nacionalismo étnico e exclusivista. Ela visa tirar partido das contradições das democracias modernas, mas, em termos eleitorais, continua sem conseguir, em Portugal, os mesmos resultados dos populismos identitários em voga noutros países europeus. O dossier fica completo com a entrevista aos historiadores António Manuel Hespanha e Ernesto Castro Leal, centrada exatamente nesse temática do “Poder e Resistência na História de Portugal: do Antigo Regime à Primeira República”, mostrando a evolução das manifestações de resistência aos poderes instituídos, assim como a sua repressão, num período histórico alargado. Finalmente, na resenha ao livro Presos Políticos e perseguidos estrangeiros na Era Vargas (Rio de Janeiro: Mauad X; Faperj), Maurício Parada, releva como seu grande mérito a sua chamada de atenção para a tradição autoritária do Estado brasileiro, que no caso da Era Vargas, se manifestou numa política acentuada de repressão da (variada) oposição.
Referências
ANDRAIN, Charles F.; APTER, David E. Political protest and social change: analyzing politics. London: Macmillan Press, 1995.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Lisboa: Relógio D’Água, 2001.
ARON, Raymond. 1955. O ópio dos intelectuais. Coimbra: Coimbra Editora, 1981.
BAUMAN, Zygmunt. In search of politics. Cambridge, UK: Polity Press, 1999.
BELL, Daniel. The end of ideology: on the exhaustion of political ideas in the fifties. Revista. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
CROSSMAN, Richard (Org.). 1949. The God that failed. Columbia, NY: Columbia University Press, 2001.
FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Tradução de José Laurênio de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1961.
FUKUYAMA, Francis. The end of history? The National Interest, n. 16, p. 3-18, Verão 1989.
FURET, François. O passado de uma ilusão: ensaio sobre a ideia comunista no século XX. Lisboa: Editorial Presença, 1996.
LINDHOLM, Charles; ZÚQUETE, José Pedro. The struggle for the World: liberation movements for the twentieth-first century. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2010.
PINA, Manuel António. Todas as palavras: poesia reunida. Porto: Porto Editora, 2013.
POPPER, Karl. 1947. Utopia and violence. In: Conjectures and Refutations: the growth of scientific knowledge. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1969. p. 355-363.
SOLJENITSINE, Alexandre. Arquipélago de Gulag. Tradução de Francisco A. Ferreira, Maria M. Llistó e José A. Seabra. Amadora: Bertrand, 1973.
WALZER, Michael. Politics and passion: toward a more Egalitarian Liberalism. New Haven, CT: Yale University Press, 2004.
José Pedro Zúquete – Organizador. Investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS / UL). Tem experiência na área de História Contemporânea e Ciência Política, atuando principalmente nas pesquisas sobre nacionalismo, assim como aos estudos sobre antiglobalização e geopolítica. Doutor em Política Comparada pela University of Bath, possui pós-doutoramento na Harvard University. Faz parte da rede europeia COST sobre populismo. Autor de vários artigos científicos, publicou os livros Missionary Politics in Contemporary Europe (Syracuse University Press, 2007) e The Struggle for the World (Stanford University Press, 2010). Coeditou também A vida como um filme (Leya, 2011) e Grandes Chefes na História de Portugal (Leya, 2013), além de ter colaborado na obra Dimensões do poder: história, política e relações internacionais (EdiPUCRS, 2015).
António Costa Pinto – Coorganizador. Investigador Coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS / UL) e Professor Convidado no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). Doutorado pelo Instituto Universitário Europeu e Agregado pelo ISCTE. Foi Professor Convidado na Universidade de Stanford e Georgetown, Investigador Visitante na Universidade de Princeton e na Universidade da California – Berkeley. Entre 1999 e 2003 foi regularmente Professor Convidado no Institut D’Études Politiques de Paris. As suas obras têm incidido sobretudo sobre o autoritarismo e fascismo, as transições democráticas e a “justiça de transição” em Portugal e na Europa. A longevidade do Estado Novo português levou-o inicialmente ao estudo comparado dos sistemas autoritários. Mais recentemente dedicou-se ao estudo do impacto da União Europeia na Europa do Sul. Outro tema a que se tem dedicado é o das elites políticas e as mudanças de regime. É autor de dezenas de artigos em revistas académicas portuguesas e Internacionais, publicou vários livros, dentre os quais destacam-se: Os camisas azuis: Rolão Preto e o Fascismo em Portugal (EdiPUCRS, 2015).
ZÚQUETE, José Pedro; PINTO, António Costa. Apresentação. Estudos Ibero-Americanos. Porto Alegre, v. 41, n. 2, jul. / dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
Patrimônio Histórico e Cultural – CAMARGO (PL)
Haroldo Leitão Camargo possui Doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e é pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos – NEE da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
Atua como docente de Patrimônio e Turismo em cursos e programas de pós-graduação. Trabalhou como historiador do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT; além de atuar como pesquisador e apresentador na divisão de ensino da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta. Leia Mais
História do livro e da leitura / Revista Brasileira de História da Mídia / 2015
Ao revisar a oitava edição da Revista Brasileira de História da Mídia, nós, editores, sentimos muito orgulho do material que estava, naquele momento, prestes a ser entregue aos leitores regulares e eventuais do periódico. Pela primeira vez, nos quatro anos da revista, contamos com a colaboração de um editor-associado, o professor-pesquisador Aníbal Bragança, que teve papel decisivo para o irrepreensível dossiê sobre História do Livro e da Leitura.
A discussão sobre a temática apresentada nesse número da RBHM conta com onze artigos, destes três são de pesquisadores estrangeiros – um francês (JeanFrançois Botrel) e dois portugueses (João Luís Lisboa e Nuno Medeiros). As ideias apresentadas pelos artigos – e seus autores – são, como a própria História do Livro e da Leitura, multi e transdisciplinares, tratando, entre outros temas, sobre o livro e a circulação de ideias, a circulação e o consumo de livros, as práticas sociais de leitura, o colecionismo e, também, a reconfiguração do livro a partir das novas tecnologias. Leia Mais
Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza | D. Acemoglu e J. Robinson
- Introdução
O livro de Daron Acemoglu e James Robinson, Por que as Nações Fracassam: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza, é um trabalho de aproximadamente 15 anos de pesquisa.
Os autores são, indubitavelmente, respeitadas autoridades do assunto. Acemoglu é professor titular de Economia do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e detentor da medalha John Bates Clark, concedida a economistas com menos de 40 anos que tiveram uma considerável contribuição no pensamento econômico em nível global. Leia Mais
A Conferência de Viena e a Internacionalização dos Direitos Humanos | Matheus de Carvalho Hernandez
As transformações ainda em curso do sistema internacional pós-Guerra Fria certamente passavam por momentos mais otimistas à época da realização da II Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, em 1993, na capital austríaca. Findado mais um conflito de dimensões mundiais, vislumbrava-se novamente a possibilidade de fortalecimento do multilateralismo na condução da política internacional; o papel deste como meio de difusão de valores humanistas; a hipótese do declínio no uso da força militar; somados à relativa novidade da pluralização de temas e atores a serem integrados na agenda global.
Ciente da historicidade de que são dotados os eventos, mas também de sua capacidade de influenciar seu tempo e, assim, produzir história, Matheus Hernandez identifica as razões pelas quais a Conferência de Viena se tornou um divisor de águas para a compreensão, a negociação e a busca por efetivação dos Direitos Humanos. As especificidades levantadas acerca do evento em questão demonstram que a Conferência de Viena foi mais do que uma simples reafirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, à medida que contou com ampla participação e interlocução de delegações estatais (171) e atores não estatais, alcançando, assim, maior legitimidade ao “tornar o debate global sobre direitos humanos muito mais pluralizado do que antes”. (HERNANDEZ, 2014, : 256). Leia Mais
Resource Wars: the new landscape of global conflict | Michael Klare
Publicado em 2001, o livro “Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict”, alvo desta resenha, foi escrito por Michael T. Klare, atualmente professor de Estudos de Segurança e Paz Mundial na Hampshire College (Amherst, Massachusetts, EUA). Além disso, o autor é diretor de cinco programas na mesma universidade sobre segurança e paz, bem como tem diversas obras publicadas relacionadas à mudança da natureza da guerra, tais como: “Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Dependency on Imported Petroleum (American Empire Project)” e “The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources”. Todos sem tradução para o português.
Ao longo de 290 páginas, subdivididas em nove capítulos e apêndices, o autor nos remete as mudanças estratégias dos Estados no que se refere a políticas de segurança e controle de recursos naturais estratégicos. De mudanças dos parâmetros da segurança global a exemplos de cenários de conflitos que atravessam todos os continentes, o leitor é levado a analisar como, especialmente a partir do início do século XX, os Estados começaram a focar e conflitar por possessões estratégicas, cada qual com as suas peculiaridades e necessidades. Leia Mais
História da Ciência / Oficina do Historiador / 2015
Desde fins da década de 1980, nós três temos nos dedicado a pesquisas em história das ciências. Era uma época com poucas possibilidades de atuação nas universidades brasileiras. Hoje, após quase trinta anos de muitas lutas, vemos essa área se expandir por todo Brasil. Novas gerações de pesquisadores emergem, fortalecendo nossa especialidade e disseminando os seus trabalhos nas mais diversas regiões do país. A essas novas gerações é dedicado este dossiê que tivemos um grande prazer de organizar.
Graças ao apoio da PUC-RS e da editora Tatyana Maia foi possível programar e executar a seleção de artigos que agora chegam a lume. Recebemos mais de uma dezena de artigos que foram submetidos, no sistema de avaliação cega, a pareceristas indicados por nós e pela equipe de Tatyana. Foram cerca de trinta pareceristas anônimos envolvidos na avaliação dos artigos que exigiram grande esforço em prazos reduzidos dos profissionais. Sem essa contribuição – reservada ao anonimato – não seria possível realizar a difícil e criteriosa seleção dos cinco artigos que compõem o dossiê.
Nossa satisfação em produzir este dossiê reflete também nossas trajetórias traçada ao longo de décadas em que cada um de nós três trabalhou na construção dessa área de pesquisa no país. Luiz Carlos Soares atuando na ANPUH – Associação Nacional de História – como presidente foi responsável por estabelecer a linha de pesquisa no quadro de disciplinas da História no âmbito do CNPq. Como presidente da SBHC – Sociedade Brasileira de História da Ciência – e criador do Grupo de Estudos de História da Ciência e da Tecnologia, GEHCT da ANPUH, prosseguiu na batalha de consolidação da área nos departamentos de história. Mauro Condé, como um dos criadores do SCIENTIA – Grupo de Teoria e História da Ciência – na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, produziu em Belo Horizonte um pólo importante na formação de novos pesquisadores. Carlos Maia foi um dos fundadores do NHC – Núcleo de Pesquisas em História da Ciência do CNPq – que se transformou no MAST, Museu de Astronomia, hoje, um dos centros de excelência dessa área no Brasil. Os três editaram diversos livros e organizaram outros mais. Vemos que os frutos de nosso trabalho, como o de muitos outros colegas, ampliou em muito as possibilidades acadêmicas de pesquisas em história das ciências.
Esse Dossiê também tem a função de apresentar aos jovens pesquisadores as oportunidades de trabalho em uma área de pesquisa inovadora dentro da disciplina história. A história das ciências vem despertando interesse crescente em inúmeros departamentos de história, o que revela uma maturidade conceitual e teórica de nossa historiografia que se renova a cada dia. Há pouco tempo ainda encontrávamos historiadores com resistência a fazer uma história do conhecimento científico. Via-se ciência como uma produção fora da história.
Mas hoje essa equação sofreu grande mudança. A atividade científica não é mais observada como se fosse uma produção estrita do pensamento de cientistas que estariam à margem da sociedade. Pensar a ciência, hoje, qualquer ciência, é vê-la como uma atividade enraizada socialmente, tão permeável aos vetores sociais quanto qualquer outra atividade humana. Essa é uma conquista teórico-metodológica de anos recentes e inaugura grandes extensões de novos territórios de pesquisa para nossos pós-graduandos.
As oportunidades para que dissertações e teses inaugurais ocorram é muito frutífera. Expandimos o horizonte de preocupações e interesses dos historiadores para terras pouco exploradas. Novas temáticas e objetos enriquecem a disciplina história e trazem mais vivacidade e desafios para os novos pesquisadores que se formam em nossas universidades. A história das ciências obriga que estejamos mais atentos aos limites teórico-conceituais disciplinares. Ela permite que se expanda esses limites. A história das ciências produz um arejamento nas velhas e consolidadas temáticas da história. Ela solicita e fornece um cabedal metodológico para quem ousa adentrar em seus temas. Não é qualquer pesquisador que se mostra capaz de identificar a historicidade do pensamento científico. Infelizmente, ainda há aqueles que nem percebem como a ciência é uma atividade historicamente situada.
Assim, convidamos os jovens pesquisadores, especialmente aqueles que ávidos por novidades e que se realizam em ousadias mais refinadas do pensamento, a se infiltrarem em nossas temáticas. Conquistem para a história essas terras devolutas que apresentam promissoras oportunidades de trabalho no Brasil. Essa é uma conquista que pode trazer uma grata satisfação profissional e um enorme prazer intelectual a todos que ingressarem na aventura de praticarem a história das ciências nos departamentos de história.
No artigo intitulado “A construção do conhecimento no instituto nacional de pesquisas da amazônia – INPA, por meio de suas expedições científicas, (1954-1975)”, Ângela Nascimento dos Santos Panzu eEduardo Gomes da Silva Filho analisam a produção do conhecimento científico no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, entre 1954 e 1975. Os autores procuram mostrar a constituição desse conhecimento analisando os relatórios das excursões e expedições científicas promovidas pelo Instituto na floresta Amazônica. Enfatizam o caráter coletivo da produção do conhecimento através da interação dos pesquisadores e de seus auxiliares recrutados na população local.
O artigo de Matheus Alves Duarte da Silva, “Soro ou vacina: controvérsias no controle da peste bubônica no Rio de Janeiro (1899-1901)”, aborda a querela entre Oswaldo Cruz e Camilo Terni, ocorrida em 1900, acerca do tratamento das vítimas da peste. Cruz defendia a utilização do soro antipestoso como tratamento e imunização da população. Em posição contrária, o cientista italiano Camilo Terni, enviado ao Brasil para estudar a doença, por sua vez, defendia a ineficácia do soro, recomendando a vacinação da população. O embate, que teve repercussão na mídia, foi vencido por Cruz, uma vez que o soro tornou-se a arma central no combate da peste. No entanto, Duarte da Silva procura mostrar como essa vitória foi construída por alianças e interesses. Karoline Viana Teixeira analisa, no artigo intitulado “Percepções e limites do fazer científico: o caso da Imperial Comissão Científica de Exploração (1859-1861)”, aquela que é considerada a primeira viagem científica composta exclusivamente por naturalistas brasileiros, a Comissão Científica de Exploração. Essa viagem refletiu o esforço do Império brasileiro para promover descobertas que redundassem no desenvolvimento da economia brasileira, procurando seguir o exemplo das nações europeias do século XIX.
Karoline Teixeira aborda, neste artigo, a experiência dessa Comissão Científica analisando as possibilidades e os limites do uso da ciência como instrumento do desenvolvimento do Império brasileiro. Império esse que lidava, por um lado, com a herança colonial mas, ao mesmo tempo, procurava se constituir como uma nação moderna e civilizada que fosse capaz de produzir conhecimento.
No artigo “Saúde e sociedade: o estudo de caso da AIDS na cidade de Itapetininga (anos 1990)”, Gustavo Vargas Laprovitera Boechat parte do pressuposto de que, mais que um fenômeno biológico, a doença é um fenômeno histórico, demonstrado pelas práticas sociais e pensamentos de uma dada comunidade quando essa define seu entendimento da doença, estratégias de prevenção, concepções de transmissão e cura. O artigo analisa a epidemia de HIV / AIDS na cidade de Itapetininga, de 1989 a 1996. Através de uma abordagem histórica, procura compreender como, em uma cidade do interior paulista, foram incorporados discursos e práticas sobre a AIDS. Analisando a produção jornalística local, bem como os prontuários médicos da Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga, Gustavo Boechat analisa o universo sócio-político e simbólico reconstruindo as vivências e representações dessa comunidade em torno da doença.
Por fim, no artigo “Análise das fichas do serviço de ortofrenia e higiene mental do Rio de Janeiro (Arthur Ramos, 1934-1939): contribuições à história da psicologia”, Jefferson Mercadante analisa as fichas individuais de crianças atendidas pelo Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental no Rio de Janeiro, entre os anos de 1934 e 1939, a partir das quais procura identificar características eugenistas presentes na atuação de Arthur Ramos à frente da Seção de Ortofrenia e Higiene Mental. Segundo Mercadante, com intuito de servir à abordagem higienista, a psicanálise freudiana foi modificada. Ainda que não possamos exatamente filiar Arthur Ramos ao ideário eugênico da teoria racial determinista – já que percebemos sua preocupação com a valorização do homem por meio da cultura e a da saúde do espírito –, em certo sentido percebemos que, na medida que em sua fala predomina a ideia de prevenção e correção por meio da educação e da higiene mental, ele termina, de certa forma, por neutralizar as causas econômicas e políticas como fortes fatores da desigualdade social. Sob esta ótica, mesmo que pareça mais preocupada com a dimensão social dos problemas psíquicos, sua obra encontra-se impregnada da mesma ideologia que postulava a construção de uma nação nova a partir da atuação do controle médico que excluísse os aspectos degenerativos e desagregadores da sociedade.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Carlos Alvarez Maia – UERJ
Mauro Lúcio Leitão Condé – UFMG
Luiz Carlos Soares – UFRJ
MAIA, Carlos Alvarez; CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; SOARES, Luiz Carlos. Apresentação. Oficina do Historiador. Porto Alegre, v. 8, n. 2, jul. / dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
Arqueologia da Religião: um convite – GUIMARÃES (V-RLAH)
GUIMARÃES, Felipe de Oliveira. Arqueologia da Religião: um convite. São Paulo: Digital Publish & Print, 2013, 58 p. Resenha de: PEREIRA, Rodrigo. Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, v.9, n.2, jul./ dez., 2015.
A obra de Guimarães, notavelmente correlata a Ciência da Religião, tem como objetivo apresentar o que o autor define como “Metodologia da Arqueologia da Religião (MAR)”. Antes de iniciar a apresentação dos postulados metodológicos, o livro faz uma pequena introdução à formação da arqueologia como ciência, mas sem atentar-se as “escolas arqueológicas” ou mesmo as matrizes históricas e antropológicas que a disciplina possui. Contrariamente, parece-lhe normal que a arqueologia seja um desmembramento natural da história, o que nega à própria arqueologia sua autonomia conquistada como campo de pesquisas e desenvolvimento de conhecimentos com métodos e técnicas próprias. Não descartamos que o labor arqueológico é transdisciplinar, mas é, no mínimo, restritivo pensar que a arqueologia seja apenas um desmembramento da história (que em si possui suas escolas de pensamento e conjunto próprio de analisar o passado).
Seguida esta introdução, o autor afirmar que: “o escrito é fruto da constatação da ausência, território nacional, de literatura que aborde esta área [a arqueologia da religião], sobretudo no campo da Ciência da Religião” (p. 11). Contudo, em páginas subsequentes afirma a presença de obras de arqueologia da religião traduzidas da língua inglesa no país. Assim, o fato é, no mínimo, contraditório, já que, aparentemente, o autor não teve acesso a todos os estudos que centros como o MAE/USP, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, UFMG e UNICAMP têm desenvolvido em áreas como a religiosidade negra ou ameríndia, bem como dos pesquisadores sobre esta área e as teorias que têm se desenvolvido para a análise da religião no âmbito da arqueologia. Leia Mais
Territórios e Fronteiras do Ensino de História – I / Fronteiras – Revista de História / 2015
A Fronteiras – Revista de História tem o prazer de apresentar a primeira parte do dossiê sobre Territórios e Fronteiras do Ensino de História. O presente dossiê é um convite a reflexão sobre os territórios do ensino de História no mundo contemporâneo, agregando estudiosos de diferentes parte do país e instituições de ensino.
Currículos, formação de professores, livros didáticos, patrimônio cultural, direitos humanos, diversidade étnico-racial são temas que marcam as reflexões acerca dos lugares do ensino da história entre diferentes territorialidades e limites (sempre em expansão e híbridos).
Em razão da diversidade que constitui o campo e das demandas recebidas para a publicação, a partir da chamada pública lançada em meados de 2015, a temática será contemplada no próximo número da revista, o que evidencia a relevância do tema do Ensino de História para a formação e prática dos historiadores e professores. Leia Mais
Tempos diferentes, discursos iguais: a construção do corpo feminino na história | Ana Maria Colling
Um livro que me causou um sentimento de coletividade: todas as mulheres precisavam ler, o pequeno, mas denso, objeto dessa resenha. E todos os homens também o deveriam fazer. Sei que uma utopia faz parte dessas afirmações, mas o que esperamos senão uma realização utópica de nossas relações?
Ana Maria Colling escreveu, com base teórica foucaultiana, uma história da construção do corpo feminino, os discursos e verdades que subjetivaram o feminino que conhecemos e vivenciamos em nossa sociedade ocidental. Leia Mais
Radicalizing enactivism: basic minds without content – HUTTO; MYIN (Ph)
HUTTO, Daniel D; MYIN, Erik. Radicalizing enactivism: basic minds without content. Mit Press, 2013. Resenha de: SILVA, Marcos; BRITO, Carlos; FERREIRA, Francicleber. Philósophos, Goiânia, v.20, n.2, p.227-235, jul./dez., 2015.
In contemporary discussion, some authors are developing tenets in pragmatism (broadly construed) to motivate it as a comprehensive model of cognition, alternative to a farreaching representationalist tradition. The latter constitutes the orthodoxy in some influential areas of philosophy investigating language and mind. Roughly speaking, a representationalist would answer the question “What are we?” by saying that we are consumers of representations, which could be satisfied or not by (that is, correspond or not to) the world. And to the question “What is the world?” we could expect receiving an answer like this: The world is assumed to be, as in a typical Cartesian tradition, the totality of things that can be represented, or can be the content of our cognition. The world, according to this view, should be held as a domain of entities that could make our representations true or false. Thus, cognition or intelligent behavior is what make possible to representers to access and to manipulate the representations of reality, standing “out there” to be revealed by our thoughts. Sometimes, we could also act and do things in this rational and static world.
As a matter of fact, we may challenge this scenario. We could well hold that in the beginning was the deed, as Goethe put it in his Faust, instead of the word (or any representational content). Before representing the world, we have to enact in it. Actually representing demands enacting.
In short, representing can very well be held as a kind of action in the world. As a result, a shift in the traditional picture can be illuminating: from “We must think in order to act” to “we act before we think.” Abilities should be prior to theories; competence should be prior to content. As a result, “knowing how,” rather than “knowing that,” should be taken as the paradigm of cognitive states. Thinking is not a propriety of an immaterial mental substance, but rather a special capacity of some organisms to act in their environment.
Several authors in the pragmatist and related traditions call attention to the import of inherited practices, cooperation and Handlung in order to understand language, intentionality and cognition. They take seriously evolving biological systems and situated individuals interacting in communities over time as preconditions of our rationality, features often dismissed as not central in a representationalist tradition. What role do notions such as situatedness, contextual dependency, shared attention, openness and vagueness play in representationalism? The answer is: a very marginal role (if any). Wittgenstein, for example, already in his Tractatus (1918), instructively suggested that language is an integral part of the human organism (TLP 4.002, our emphasis). There it is already signaled (although not worked out) the idea that language should be best understood by appealing to dynamically unfolding, situated embodied interactions with worldly offerings. Hutto and Myin’s (2013) book belongs to this broad pragmatist tradition which we could call antirepresentationalism.
They develop the view that basic cognition, that is, mental processes involved in obtaining knowledge through intentional directedness in perceptual experience, is not a matter of consuming representational content which imposes to reality some conditions of satisfactibility.
In order to understand what cognition is we must understand how organisms dynamically interact with others and their environment. Here we must raise a caveat: our authors do not put forward a thorough rejection of contents, since they defend that representations may turn out to be necessary in a full account of complex human cognition, especially language skills.
This book is highly readable and relevant for current debates in philosophy of mind and related battle fields where representationalism can (and should) be challenged.
Hutto and Myin’s work does an impressive job of calling into question what they call CIC (Content Involving Cognition) and CEC (Conservative Enactive Cognition).
CIC states that cognition, and also perceptual experience, must be contentful. CEC, in contrast to CIC, holds the importance of situated, environment-involving embodied engagements as a means of understanding minds, but still maintain the need for some manipulation of content in basic cognition. Hutto and Myin critically analyze CIC and CEC in order to make a case for REC (Radical Enactive Cognition), a form of enactivism where no form of content is used to explain intentional directedness and phenomenality.
If enactivism is already a defensible model and applicable to many hot contemporary discussions (as the mind/body problem and the development of Artificial Intelligence), REC, Hutto and Myin suggest, can do even more. It can be strategically applied as a tenable framework for different areas and problems, such as naturalism, qualia and extended minds.
What does it mean to promote REC? First, the main line of enactivism is maintained, that is, the idea that cognition is environment involving and dynamically unfolding. Not just human agency, but also experience should be thought of as a situated and embodied organismic activity. As a result, interactions with other organisms and engagement with the environment is not just a matter of fact.
They are crucial to understand what mind is. Second, to hold radically enactive cognition means to hold that we can understand cognition without any appeal to contents and representations (i.e., to conditions that must be satisfied by the world). Against the view that REC cannot “scale up,” Hutto and Myin hold that the scope of REC is indeed much wider and can be more fruitful.
Hutto and Myin’s work is well informed in contemporary problems and literature. It provides a good review of the enormous literature on the topic. However, we see some problems in their book. Content is hardly characterized in the whole work, and its connection with the notion of information is somewhat obscure. Also, the association they make between representationalism, internalism and intelectualism is not that evident to be just assumed. Moreover, Hutto and Myin hold in various moments that perception is an act; but the reader may have a hard time to understand that. They do not explain this crucial thesis.
It is also important to highlight that our authors show sometimes a limited view of the logic used in computer science.
For instance, they say that “The Information- Processing Challenge appears to present a formidable problem for REC. But it takes for granted that the standard computational and information-processing explanatory strategies of cognitivism are in perfectly good order under standard renderings” (p. 37). Nowadays approaches to computation can be real time, adaptive and interactive in several ways. This has been an agenda worked out by several important computer scientists in contemporary research.
Besides, we do not really understand why our authors do not discuss some particular philosophical traditions. By way of example, Descartes and Kant are very scarcely debated.
This choice obscures the fact that matters of cognition are widespread in the history of philosophy. Descartes, for instance, was not interested in cognition per se, but in facing skepticism and finding a new model for science.
IN WHAT FOLLOWS WE BRIEFLY DESCRIBE HUTTO AND MYIN’S BOOK CHAPTERS.
In Chapter 1, they clarify pivotal theses and introduce main players. Embodied cognition is characterized as concrete spatio-temporally extended patterns of dynamic interaction. This view is complemented by a developmentexplanatory thesis, which holds that mental interactions are grounded on the history of the organism’s previous interactions. Here they highlight that REC rejects all vestiges of the idea of contentfulness.
Chapter 2 shows how denying CEC means an ultimate rejection of CIC. Although the authors do not offer any clear definition of intelligent behavior, they hold that perceptual experience and intentional directedness do not imply content. Further, they assess some “sister accounts” of REC, including Noë’s Sensori-motor Enactivism (which, they think, makes just a modest advance) and Autopoetic enactivism (which, they hold, has a too broad concept of cognition). Both accounts deny dualism, emphasize input/ output processes and hold that the mental emerges from spontaneous self-organization and self-creativity of living beings. But these approaches, our authors criticize, still presuppose some kind of meaning being created, consumed and carried.
In Chapter 3, Hutto and Myin bring robotics and insects to the discussion. They also claim that enactivism can account for complex human activities of reaching and grasping objects. Content is not just unnecessary for basic cognition (even though it is relevant for complex human cognition); it can encumber development in AI and robotics, they maintain. The whole model of mentality holding information as the basic commodity of cognition has to be dropped. Information is not used, extracted, manipulated, carried in basic cognition. In fact, it would be very weird to think that children learn to grab something by means of some abstract instructions. REC can explain also distinctive human cognition, not just insects and simple robots. The variety of manual activities is too large and diverse to be captured by some general and abstract rules. We have to learn how to regulate actions in a wide range of dynamical environments.
Chapter 4 is their most important contribution for the discussions. They come back very often to this chapter throughout the whole book. In a nutshell, they suggest therein that CIC is not the case, on the grounds that we cannot make naturalism and CIC compatible. The challenge is that, if we take CIC seriously, we cannot explain what the origin of content in nature is. As Hutto and Myin explain: “they [defenders of CIC] are unable to account for the origins of content in the world if they are forced to use nothing but the standard naturalist resources of informational covariance.” (p.xiv) After proposing this far-reaching challenge, our authors answer two common problems suggested by defenders of CIC, namely: 1) REC does not address any relevant form of cognition because what it calls basic cognition is too basic, and 2) REC cannot be generalized.
However, if we start with dynamical explanations of a system, representation loses its import. Basic cognition mechanisms may have the proper function of guiding the system’s actions in the environment. Actually, according to REC and to some other naturalist accounts, organisms should be taken as sensitive to information. This means that organisms exploit correspondences in their environment, that is, co-variance among several phenomena, and not manipulation of representations, in order to adaptively guide their actions.
Chapter 5 shows that CIC is inappropriate and unnecessary, since it cannot explain highly sophisticated and intentionally directed behaviors. Behaviors of artificial agents and some insects, as well as reaching and grasping by human hands are explored in this chapter. Our authors evaluate Hyperintellectualism, which holds that perceptual experience is always inherently contentful and depends entirely on representational activity; and Minimal Intellectualism, which maintains a more modest view of how perceptual experience might be essentially contentfully representational. The leitmotif for Hutto and Myin’s criticism is perceptual human vision. Those accounts claim that visual experience implies representational activity. Hutto and Mying are against these views, but they don’t really answer how without the very idea of content we could pass from perception to belief and judgment. Hutto and Myin do not even pose this relevant question. It is not an accident that Kant, among others, holds that perception has to be conceptual.
Furthermore, the problem of false information is not touched in the book. How perception can be false if it should have no content at all? Here the whole discussion seems to presuppose that representational content should be independent of linguistic capacities (as they point out very quickly on page 87). They do not provide any reason for this assumption.
Chapter 6 evaluates some alternatives that try to make sense of content ascription in perceptual processes. A maximally minimal representationalism has much agreement with REC, namely: no concepts, no proposition, no truth conditions, no given. But it still holds there is need for conditions of satisfaction. This minimal CIC is modest, less expensive and more plausible. Are there compelling reasons to think that perceiving is representational? If not, we have to go REC, as our authors claim.
Chapter 7 deals with problems related to the boundaries of mind. Hutto and Myin defend that minds are in fact extensive and wide-ranging, and (contrary to the extended mind view) not merely extended. The crucial point is that we do not have things in our minds, but rather operate with objects in the world; our minds should not be thought of as a vehicle, but rather as a capacity. If REC is true, the extended mind hypothesis is not radical enough. External features of the environment are always constitutive of the mental. Extended-mind defenders are too deferential to internalism.
Chapter 8 discusses if whether phenomenal properties of experiences can be extensive. Hutto and Myin try to dissolve the well-known Hard Problem of Consciousness.
When we describe phenomenal properties, we cannot help but mention environment-involving interactions. Qualia discussions, they hold, make up an agenda of solving impossible problems. REC should liberate both science and philosophy to pursue goals they are able to achieve.
As a conclusion, we agree that “not only science but also philosophy benefits by radicalizing enactivism” (p. 178), since the idea that several relevant mental processes and basic minds require neither contentful representations nor manipulation of content indeed deserves a better hearing.
It is hard to expect that basic minds represent the world with specified conditions of satisfaction. As the book imposes itself as a reference, we think that people for or against enactivism should react to it if they want to make advances in this field.
Marcos Silva – Professor Adjunto da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, AL, Brasil. E-mail: marcossilvarj@gmail.com
Carlos Brito – Professor no Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: carlos@lia.ufc.br
Francicleber Ferreira – Pós-doutorando no Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará (UFC)., Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: francicleber.ferreira@gmail.com
Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva – PETIT (REi)
PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. 2. ed. Tradução de Celina Olga de Souza. São Paulo: Editora 34, 2009. Resenha de: MUNIZ, Dinéa Maria Sobral; VILAS BOAS, Fabíola Silva de Oliveira. Revista Entreideias, Salvador, v. 4, n. 2, 152-157 jul./dez. 2015.
Michèle Petit é antropóloga e tem obras traduzidas em vários países da Europa e da América Latina. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva foi a primeira lançada no Brasil (2008) e recebeu o Selo “Altamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Além dessa obra, a Editora 34 também publicou A arte de ler: ou como resistir à adversidade (2009) e Leituras: do espaço íntimo ao espaço público (2013). A edição brasileira de Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva estabelece o convite à leitura desde a capa, em tom azul forte, com uma xilogravura de Moisés Edgar, do Grupo Xiloceasa (SP). A “orelha” do livro, escrita por Marisa Lajolo, é igualmente convidativa, pois ressalta o fato de que a leitura integra a pauta de diferentes agendas brasileiras, o que torna o livro mais que oportuno no país, e por esse motivo, certamente, interessará àqueles “[…] fascinados pela alquimia que, através das palavras impressas, aproxima as pessoas umas das outras, descortinando novas paisagens do universo que compartilhamos.1” O sumário da obra, além do prefácio escrito por Petit especialmente para a edição brasileira, apresenta quatro seções: “As duas vertentes da leitura”, “O que está em jogo na leitura hoje”, “O medo do livro” e “O papel do mediador”. No prefácio, a autora declara que, antes de vir ao Brasil pela primeira vez, desde que participou, em Paris, no ano 2005, das comemorações do “ano do Brasil na França”, começou nutrir a esperança de conhecer o país.
Na ocasião das comemorações, assistiu a concertos e exposições, descobriu telas do pernambucano Cícero Dias, leu lendas contadas por Clarice Lispector, seguiu relatos de J. Borges e J. Miguel, através de suas xilogravuras, de modo que essas (e outras) experiências alimentaram o desejo de estar em terras brasileiras.
Também no prefácio, Petit, a fim de contextualizar o desenvolvimento das pesquisas apresentadas, analisa o processo da democratização do ensino na França e suas armadilhas. Para a antropóloga, a inserção de jovens oriundos de camadas populares e marginalizadas nos segmentos secundário e universitário sempre fora conduzida a passo forçado, sem a oferta de meios pedagógicos que de fato os acolhessem. A observação de suas formas de viver e estudar permitiu constatar que eles não tinham acesso à cultura escrita, faziam anotações malfeitas e ilegíveis, apresentavam desconhecimento total das bibliografias, não pesquisavam em bibliotecas.
Esse bloqueio extremamente prejudicial dos jovens em relação à leitura só foi ultrapassado “graças a mediações sutis, calorosas e discretas ao longo de seu percurso” (p. 11). A biblioteca, nesse cenário, figurou tanto como um espaço de formas de sociabilidade, que os protegia das ruas, quanto um local profícuo para que estabelecessem uma relação mais autônoma com a cultura escrita e mais singular com a leitura.
Na primeira seção, “As duas vertentes da leitura”, Petit toma depoimentos de pessoas de diferentes níveis sociais, nos meios rurais franceses, e apresenta duas concepções de leitura de onde deriva cada vertente: uma marcada pelo grande poder atribuído ao texto escrito e outra marcada pela liberdade do leitor. A prática de leitura individual e silenciosa era incomum para esses sujeitos, pois boa parte dos entrevistados evocou lembranças de leituras coletivas, em voz alta (escola, catecismo, internato), ocasiões nas quais era possível controlar o acesso aos textos escritos, seus conteúdos, seus modos de dizer. Opondo-se a essa concepção e prática de leitura como “controle”, Petit adverte:
[…] não se pode jamais estar seguro de dominar os leitores, mesmo onde os diferentes poderes dedicam-se a controlar o acesso aos textos. Na realidade, os leitores apropriam-se dos textos, lhes dão outro significado, mudam o sentido, interpretam à sua maneira, introduzindo seus desejos entre as linhas: é toda a alquimia da recepção. (p. 26)
Por acreditar na vertente que focaliza a leitura como elemento essencial à formação de um espírito crítico e livre, considerado a chave de uma cidadania ativa, a autora argumenta a favor do poder que a leitura tem para provocar um deslocamento da realidade, ao abrir espaço para o devaneio, no qual tantas possibilidades de interpretação podem ser cogitadas. Nesse sentido, Petit defende que a leitura instrutiva não deve se opor àquela que estimula a imaginação; ao contrário, ambas devem ser aliadas, uma vez que “contribuem para o pensamento, que necessita lazer, desvios, passos para fora do caminho.” (p. 28). Por fim, Petit discute e caracteriza o leitor “trabalhado” por sua leitura como um sujeito ativo, que opera um trabalho produtivo à medida que lê, inscreve sentidos na leitura, reescreve, altera-lhe o sentido, reemprega-o, mas que se permite, também, ser transformado por leituras não previstas.
Em “O que está em jogo na leitura hoje em dia”, segunda seção da obra, a antropóloga lança ao leitor questões disparadoras: “Por que é ler é importante? Por que a leitura não é uma atividade anódina, um lazer como outro qualquer? Por que a escassa prática de leitura em certas regiões, bairros, ainda que não chegue ao iletrismo, contribui para torná-los [os jovens] mais frágeis?” (p. 60). Pensando inversamente, Petit interroga: “de que maneira a leitura pode se tornar um componente de afirmação pessoal e de desenvolvimento para um bairro, uma região ou um país?” (p. 60).
Para a autora, tais questões envolvem uma série de ângulos e registros. Contudo, a verdadeira democratização da leitura engloba a concepção dessa como um meio para se ter acesso ao saber, aos conhecimentos formais, sendo capaz, assim, de modificar o destino escolar, profissional e social das pessoas. Passa também pelo aspecto da leitura como uma via privilegiada para se ter acesso a um uso mais desenvolto da língua, pois essa pode, por vezes, constituir-se “uma terrível barreira social” (p. 66). A linguagem e a leitura têm a ver, ainda, com a construção de si próprio como sujeitos falantes, pois a leitura pode, em todas as idades, “ser um caminho para se construir, se pensar, dar um sentido à própria existência, à própria vida; para dar voz a seu sofrimento, dar forma a seus desejos e sonhos”. (p. 72).
Petit também retoma nessa seção a ideia da hospitalidade da leitura literária, da literatura como um lar. Para ela, os jovens que leem literatura são os que mais têm curiosidade pelo mundo real, pela atualidade e pelas questões sociais. Dessa forma, a leitura permite ao sujeito conhecer a experiência de outras pessoas, outras épocas, outros lugares e confrontá-las com as suas próprias, ampliando, assim, os círculos de pertencimento e criando um pouco de “jogo” no tabuleiro social. (p. 100).
Na terceira parte, intitulada “O medo do livro”, Petit problematiza que, se por um lado a leitura é a chave para uma série de transformações e o prelúdio para uma cidadania ativa, ela também suscita medos e resistências que encontram representação na seguinte voz comum: “É preciso ler”. A partir dessa relação ambivalente com a leitura, a autora cita exemplos de pessoas de diferentes regiões, muitas do campo, que, para ler, enfrentaram obstáculos, tais como a falta de domínio da língua e de acesso aos textos impressos, acessível apenas para representantes do Estado e da Igreja. A leitura era, assim, arriscada para o leitor, que poderia se ver privado de sua segurança ao pôr em jogo “tanto as fidelidades familiares e comunitárias como as religiosas e políticas” (p. 110).
Petit finaliza o capítulo desenvolvendo esta questão central: agora, definitivamente, como nos tornamos leitores? Para além do que provoca em termos da estrutura psíquica, a autora responde que a leitura é, em grande parte, uma história de família, de presença de livros e de adultos leitores; é, também, o papel da troca de experiências relacionadas aos livros (ler em voz alta, com gestos de inflexão da voz); pode ser, ainda, uma máquina de guerra contra os totalitarismos, contra os conservadorismos identitários, contra os querem imobilizar o outro a qualquer custo; enfim, a leitura é “uma história de encontros”. (p. 148).
A última e quarta conferência, “O papel do mediador”, destaca a importância de cada um que atua como mediador de leitura, seja ele um professor, um bibliotecário, um livreiro, um amigo e, até mesmo, um desconhecido que cruza o nosso caminho.
Para Petit, um mediador funciona como um elo entre o leitor e o objeto de leitura e “pode autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse desejo.” (p. 148).
Os entrevistados participantes da pesquisa apontaram professores e, mais frequentemente, bibliotecários como seus principais mediadores. No caso dos professores, chamou a atenção um fato: mesmo muito críticos em relação ao sistema escolar, os jovens sempre lembravam um professor singular, que transmitia sua paixão por um livro, seu desejo de ler, fazendo-os, inclusive, gostar de ler textos difíceis. Após elencar excertos dos entrevistados sobre seus professores, Petit afirma que “para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha experimentado esse amor.” (p. 161). Sobre os bibliotecários, a autora os define como pontes para universos culturais mais amplos. Assim, o iniciador aos livros é aquele que ajuda o outro a ultrapassar os umbrais em diferentes momentos do percurso, “é também aquele que acompanha o leitor no momento, por vezes tão difícil, da escolha do livro, aquele que dá a oportunidade de fazer descobertas […]”. (p. 175).
Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva, de Michèle Petit, é, certamente, uma obra de grande relevância por sua temática, pela abordagem sensível e profunda do assunto e pelo evidente conhecimento da causa da autora sobre variadas questões relacionadas à leitura. Petit consegue arrematar, por meio das reflexões apresentadas, o quão importante é compreender a leitura como um elemento capaz de transformar sujeitos e retirá-los de um contexto de exclusão e segregação, dando-lhes novas perspectivas de vida.
Notas
(1) Trecho retirado da orelha do livro.
Dinéa Maria Sobral Muniz – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFBA Coordenadora do GELING (Grupo de estudo e pesquisa em Educação e Linguagem). E-mail: sobraldm@ufba.br
Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFBA. E-mail: fabiolasovb@gmail.com
African-Brazilian Culture and Regional Identity – ICKES (RH-USP)
ICKES, Scott. African-Brazilian Culture and Regional Identity in Bahia, Brazil. Gainsville: University Press of Florida, 2013. Resenha de: CASTILLO, Lisa Earl. O que é que a Bahia tem? Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.Sep 25, 2015.
Nos estudos afro-brasileiros, é reconhecido que a cidade do Salvador exerceu um papel fundamental no desenvolvimento do imaginário acadêmico e popular sobre a identidade baiana e sobre a cultura negra no Brasil de forma mais ampla. Isso se deve, em parte, ao expressivo tamanho da população afrodescendente da velha Cidade da Bahia ao longo da sua história. Mas, a importância da cultura negra na identidade soteropolitana passou a ser examinada por estudiosos apenas no século XX, na esteira das obras pioneiras de Nina Rodrigues e Manuel Querino. As décadas de 1930 e 1940 constituíram-se como um dos períodos mais férteis, quando a produção cultural de intelectuais e artistas como Jorge Amado, Edison Carneiro, Pierre Verger, Carybé e Dorival Caymmi estimulou o crescimento de uma imagem da Bahia como lugar de mistério, magia e alegria, profundamente marcada por uma mistura sui generis do catolicismo popular com a cultura e religiosidade afro-brasileiras. A partir dos anos 1990, esse modo de olhar passou a ser denominado baianidade, tornando-se objeto de numerosos estudos. Entre eles destacamos os livros de Patrícia de Santana Pinho ( Reinvenções da África na Bahia . São Paulo: Annablume, 2004) e Agnes Mariano ( A invenção da baianidade . São Paulo: Annablume, 2009). Grande parte dessa literatura tem como preocupação central a música popular, sobretudo a do Carnaval, com ênfase nos anos 1980, quando o sucesso internacional dos blocos afros e o tombamento, pela Unesco, do Pelourinho, o bairro mais antigo de Salvador, como patrimônio arquitetônico da humanidade levaram o governo da Bahia a institucionalizar as manifestações populares afro-baianas desse bairro como pedras fundamentais do turismo cultural.
Porém, as raízes desse tropo da identidade baiana emaranham-se com diversos outros tipos de produção cultural e, como notamos acima, remontam à primeira metade do século XX. Nesse sentido, o livro do historiador Scott Ickes, African-Brazilian culture and regional identity in Bahia, Brazil – fruto de uma tese de doutorado defendida em 2003 e publicada dez anos depois – representa uma contribuição importante aos estudos sobre o tema. Tomando como seu objeto a cristalização desse paradigma regional durante o governo de Getúlio Vargas – justamente quando o resto do Brasil vivenciou o surgimento de uma maneira de conceber a identidade nacional fundamentada na mestiçagem das três raças -, o livro desenha a legitimação, na opinião pública da Bahia, de manifestações culturais outrora rejeitadas e, até, perseguidas. Ao traçar essas mudanças, ao longo de seis capítulos, Ickes analisa a atuação de intelectuais, artistas e governantes, atentando também ao protagonismo de líderes negros. Além de considerar os campos da música popular e do Carnaval, o autor também dedica espaço a outras manifestações culturais, como a capoeira e a religiosidade afro-brasileira.
No primeiro capítulo, Ickes examina o quadro econômico e político de Salvador entre 1930 e 1954. Nesse período, Getúlio Vargas ativamente promovia a industrialização no Sudeste do Brasil, mas não projetava mudança semelhante para o Nordeste. Na Bahia, a agricultura continuava a ocupar seu lugar histórico de espinha dorsal da economia até o início da década de 1950, com a descoberta de petróleo no Recôncavo baiano. Nesse contexto, Salvador mantinha sua antiga importância como porto de exportação de produtos agrícolas e como centro financeiro do estado. Uma das consequências dessa prolongada dependência da agropecuária foi a manutenção de divisões sociais de longo prazo na cidade, entre uma pequena oligarquia cuja riqueza veio de fazendas nos interiores ou do comércio associado à agricultura, uma reduzida classe média formada por pequenos comerciantes e funcionários públicos e, finalmente, uma enorme classe trabalhadora. Nessa pirâmide social havia um acentuado caráter racial, com a cúpula ocupada por brancos e mestiços de pele clara e a base por afrodescendentes de pele mais escura.
O segundo capítulo analisa a política cultural de Salvador, com destaque para a atuação de Juracy Magalhães, que chegou à Bahia em 1930 como interventor nomeado por Vargas, sendo eleito governador em 1935. Segundo Ickes, a liderança de Magalhães proporcionou uma nova abertura social à cultura afro-brasileira, sobretudo ao candomblé e à capoeira. Essa atitude, caracterizada pelo autor como populismo cultural (p. 60), se deveu em parte às posturas do próprio interventor, mas, por outro lado, resultou dos esforços de líderes negros que lutaram contra atitudes e leis que discriminavam as manifestações culturais afro-brasileiras. Entre uma série de eventos que marcaram esse processo de abertura, o autor considera três como marcos. Em primeiro lugar, uma exposição pública de capoeira regional por Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba) que ocorreu no próprio palácio do governador, em 1936. Outro evento que se constituiu como um divisor de águas foi a retomada, em 1937, da prática de lavar o interior da igreja do Bonfim durante o festival anual do santo, proibida desde 1890. Poucas semanas depois, houve o II Congresso Afro-Brasileiro, organizado em 1937 por um grupo de jovens intelectuais, entre os quais Edison Carneiro, ele mesmo afrodescendente, com a participação do romancista Jorge Amado e de líderes afro-brasileiros, entre os quais Martiniano do Bonfim, Eugênia Anna dos Santos (Mãe Aninha) e Joãozinho da Gomeia.
No terceiro capítulo, o autor examina com mais detalhe a inserção de manifestações da cultura negra popular no cenário dos festivais do catolicismo popular. Retorna ao tema da Lavagem do Bonfim, mostrando a crescente importância dessa festa e seus elementos afro-baianos, bem como a participação de governantes na Irmandade do Bonfim e na procissão anual. O capítulo examina também as “festas de largo” de Santa Bárbara (comemorado no 4 de dezembro), Conceição da Praia (8 de dezembro), Bom Jesus dos Navegantes (1 de janeiro) e Iemanjá (2 de fevereiro), esta última a única cujas características afro-brasileiras não se legitimam através do sincretismo afro-católico. Segundo o autor, a participação popular nesses festivais teria aumentado nos anos 1940, impulsionada pelo crescimento populacional da cidade. Um dos aspectos mais originais deste capítulo é o uso de dados obtidos dos diários de campo dos antropólogos norte-americanos Melville e Frances Herskovits, sobre sua visita à Bahia em 1940-41. Porém, em algumas partes, a credibilidade da análise é prejudicada por erros fatuais, como, por exemplo, quando afirma que Santa Bárbara é a padroeira de pescadores (p. 84), que Nossa Senhora da Conceição da Praia é sincretizada com Iemanjá (p. 86) e que a Festa de Iemanjá que acontece no bairro do Rio Vermelho surgiu da festa católica em louvor a Santa Anna (p. 90, n. 41). 1Apesar de alguns desses erros serem aparentemente provenientes das fontes originais, para o leitor que entenda do assunto a falta de correções explícitas levanta dúvidas sobre a possível presença de outras incoerências.
O quarto capítulo debruça-se sobre a evolução do discurso da baianidade nos anos 1930-40. Para o autor, a veiculação desse olhar sobre a identidade da cidade do Salvador, apesar de promover aceitação de elementos lúdicos das práticas religiosas afro-brasileiras, manteve estes últimos numa posição subalterna em relação ao catolicismo popular. 2A institucionalização dessa visão da cultura baiana envolveu a participação ativa da imprensa local e posicionamentos estratégicos de membros do governo estadual. Nesse capítulo, o autor também dedica atenção especial ao discurso sobre a Bahia nas letras da música popular, não apenas no âmbito local, mas também no cancioneiro produzido no Rio de Janeiro por compositores como Ari Barroso e Dorival Caymmi. Embora sejam convincentes, os argumentos do autor teriam sido fortalecidos por mais diálogo com a ampla historiografia e crítica cultural sobre a representação discursiva da Bahia no samba carioca e as contribuições de compositores e músicos, nascidos na Bahia ou descendentes de baianos, no cenário musical do Rio.
No quinto capítulo, o autor aborda o Carnaval da Bahia durante o governo Vargas. No início dos anos 1930, a festa de Momo na Bahia foi dominada por grandes clubes carnavalescos formados no final do século XIX, que recebiam apoio financeiro do governo para custear as despesas do desfile. Entretanto, esse apoio acabou no final da década de 1930, quando a economia baiana, sentindo as repercussões da II Guerra Mundial, entrou em recessão. Assim, os grandes clubes vivenciaram um período de decadência, o que acabou abrindo espaço para a visibilidade de escolas de samba ou batucadas , oriundas das camadas populares. Os afoxés , agremiações afro-brasileiras vinculadas a terreiros de candomblé, que tinham sido proibidos em 1905, acabaram voltando à cena nesse período e, juntando-se às batucadas, contribuíram para um reflorescimento da presença afro-brasileira na folia soteropolitana. Os anos 1950, porém, trouxeram o retorno de alguns dos grandes clubes e, com a invenção do trio elétrico em 1951, o espaço das batucadas e dos afoxés diminuiu. Nesse sentido, Ickes defende que os anos 1940 se destacam como uma época de ouro em termos da participação negra no Carnaval da Bahia.
No sexto e último capítulo, a narrativa se desloca para o papel de alguns artistas e intelectuais na construção do paradigma da baianidade, apresentando as trajetórias de diversos personagens. Algumas são de influência consagrada, como o etnólogo, historiador e fotógrafo Pierre Verger, que chegou a Bahia em 1946 e posteriormente vinculou-se ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. Outra figura cujas contribuições são reconhecidas é o artista plástico Hector Julio Paride Bernabó, mais conhecido como Carybé, grande amigo de Verger e ligado ao mesmo terreiro. Ambos produziram vastas obras inspiradas na cultura afro-baiana, especialmente suas expressões religiosas. Junto com os romances de Jorge Amado e as músicas de Dorival Caymmi, a fotografia de Verger e os quadros de Carybé alcançaram uma circulação pelo Brasil afora e também no exterior. Neste capítulo, o autor também demonstra a influência de atores menos conhecidos hoje, como o poeta Odorico Tavares, que chegou à cidade como jornalista em 1942, posteriormente tornando-se diretor de dois jornais influentes, o Estado da Bahia e o Diário de Notícias , e de uma emissora de rádio. Outro personagem importante foi Antonio Monteiro, um folclorista e historiador amador vinculado ao candomblé. O autor também ressalta as contribuições de outros membros de terreiros, como o comerciante negro Miguel Santana, ogã do Ilê Axé Opô Afonjá, e Mestre Didi, filho de sangue de Mãe Senhora, ialorixá do mesmo terreiro. Outra pessoa que recebe atenção aqui é o capoeirista Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha, responsável por uma reafricanização da imagem da capoeira, em contraste ao Mestre Bimba cujo estilo já incorporava elementos emprestados das artes marciais e do boxe. Para Ickes, a produção intelectual e artística desse período estava entrelaçada com um nascente interesse do governo da Bahia em promover um desenvolvimento turístico que visava à cultura negra e popular como uma atração importante. Nesse ponto, o autor diverge de estudiosos anteriores, que tendem a apontar para os anos 1980 como o início desse interesse estatal, a partir do investimento financeiro e administrativo na restauração do Pelourinho como espaço de turismo e da explosão simultânea do Olodum, sediado no mesmo bairro, no cenário internacional de world music .
Um aspecto instigante da trajetória novecentista da cultura negra no Brasil é que, apesar de terem ocorrido processos paralelos no Rio de Janeiro e na Bahia, em Salvador, ressaltava-se cada vez mais as continuidades entre as práticas africanas e afro-baianas, enquanto no Rio, a mestiçagem racial dominou o discurso identitário. Essa diferença é mencionada pontualmente no livro, mas merece mais espaço, diante do argumento do autor de que o discurso da baianidade nasceu no contexto do projeto de identidade nacional de Getúlio Vargas. Uma maior atenção às diferenças regionais, culturais e demográficas entre o Rio de Janeiro, epicentro do projeto do governo Vargas, e o Nordeste, área periférica, teria fortalecido e complementado essa tese, particularmente no capítulo 4, na discussão sobre o imaginário das letras de músicas veiculadas por gravadoras sediadas no Rio, e no capítulo 5, quando o autor compara a permanência das escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro com a perda de visibilidade das batucadas e afoxés na folia baiana depois da invenção do trio elétrico. Com relação à edição, o livro teria se beneficiado de uma copidescagem mais rigorosa. Ao tentar separar, capítulo por capítulo, manifestações culturais que na verdade são inter-relacionadas e fazem parte do mesmo momento histórico, frequentemente protagonizadas pelos mesmos atores, a narrativa acaba se repetindo, sem que essas repetições sejam sinalizadas no texto. Em alguns lugares, as notas de rodapé não dão conta dos dados apresentados, deixando o leitor sem saber de onde veio a informação.
Por outro lado, African-Brazilian culture and regional identity in Bahia, Brazil brinda o leitor com um impressionante volume de dados originais, resultado de farta pesquisa que inclui várias fontes pouco utilizadas por outros estudiosos do tema. Além de trazer material dos diários de campo dos Herskovits, como foi mencionado acima, há também dados da documentação da Irmandade do Senhor do Bonfim e da correspondência do cônsul dos Estados Unidos na Bahia. As discussões sobre a crescente importância da Lavagem do Bonfim na identidade da Bahia e sobre as batucadas e os afoxés no Carnaval dos anos 1940 representam contribuições originais ao estudo dessas questões, e os argumentos são bem documentados com dados levantados em jornais da época. Diferente de alguns brasilianistas, cujo uso de fontes secundárias tende a privilegiar a produção estrangeira, Scott Ickes demonstra um excelente conhecimento do trabalho de pesquisadores no Brasil, inclusive de publicações recentes ou de difícil acesso. Por todos esses motivos, African-Brazilian culture and regional identity in Bahia, Brazil representa uma contribuição muito bem-vinda à história social da Bahia na época de Getúlio Vargas, de forma geral, e à literatura sobre o tropo da baianidade, especificamente.
1Santa Bárbara é a padroeira dos bombeiros. Quem protege os pescadores é Iemanjá, cuja festa anual no Rio Vermelho, em 2 de fevereiro, surgiu como uma oferenda coletiva pelos pescadores do local, completamente distinta das comemorações para Santa Anna, padroeira do bairro, que acontecem em 26 de julho e que, na mitologia afro-baiana, é associada à orixá Nanã Buruku.
2Uma versão em português desse capítulo foi publicada na revista Afro-Ásia , sob o título: Era das batucadas: o carnaval baiano das décadas 1930 e 1940. Afro-Ásia , no47, 2013, p. 199-238.
Lisa Earl Castillo – Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora de Pós-Doutorado no Centro de Pesquisa em História Social da Cultura do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: lisa.earl.castillo@gmail.com.
Refugiados e as Fronteiras Brasileiras | Monções – Revista de Relações Internacionais | 2015
Este número da Revista Monções do Curso de Relações Internacionais da UFGD aborda o fenômeno dos refugiados e as migrações internacionais em um momento extremamente relevante. Em um contexto global de crise migratória como não se observava desde a Segunda Guerra Mundial, conforme os últimos relatórios do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), os textos acadêmicos de diversos colaboradores (todos responsáveis por Cátedras Sérgio Vieira de Mello nas diversas universidades do país) para este número específico, buscam análises extremamente pertinentes, para um problema que parece longe de uma solução global e definitiva para o atual estado das relações internacionais: o instituto do refúgio e as causas que convertem pessoas em migrantes forçadas, tornando-as errantes, solicitantes de refúgio ou refugiados propriamente ditos.
Apresentamos uma entrevista com o representante do ACNUR no Brasil, Sr. Andres Ramirez, em que ele aborda a atual crise de refugiados na Europa, as possibilidades e os limites do Brasil, o instituto do reassentamento e a importância da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Leia Mais
Números naturais e operações – PIRES (REi)
PIRES, C. M. C. Números naturais e operações. São Paulo: Melhoramentos, 2013. Resenha: O ensino de matemática nos anos iniciais: notas de leitura de uma proposta didático-pedagógica. Revista Entreideias, Salvador, v. 4, n. 2, 158-161 jul./dez. 2015.
Os baixos índices que o Brasil tem apresentado em avaliações em larga escala que medem as habilidades de leitura, escrita e matemática têm gerado uma série de debates e intervenções na educação brasileira. Se por um lado, é possível problematizar tais avaliações, mostrando como muitas vezes elas ignoram aspectos locais e servem para padronizar a educação, por outro, é inegável que esse desempenho merece uma reflexão teórica e exige que medidas sejam tomadas. Nesse sentido, programas variados (tanto públicos como privados), entre os quais podemos destacar aqueles vinculados à formação docente, têm sido pensados para auxiliar os/as professores/as em suas práticas em sala de aula. A coleção Como eu ensino, da Editora Melhoramentos, pode ser considerada como um desses instrumentos, já que objetiva “sintetizar o conhecimento mais avançado existente sobre determinado tema, oferecendo ao leitor-docente algumas ferramentas didáticas com as quais o tema abordado possa ser aprendido pelos alunos” (p. 5).
O livro Números naturais e operações, de autoria da professora da PUC/SP Célia Pires, insere-se nessa coleção a fim de apresentar ao seu público-alvo (docentes dos anos iniciais do ensino fundamental) propostas de trabalho e reflexões teóricas sobre como ensinar os números naturais e as operações básicas. Para isso, o livro está organizado em cinco capítulos, que abordam temáticas diferentes, relacionando-as ao cotidiano da sala de aula. Nesse sentido, o livro é didático tanto quando aponta o que pode ser feito com os/as alunos/ as, como quando pretende ensinar o/a docente a organizar sua prática. Isso é feito, porém, com o devido embasamento teórico, pois a obra não pretende ser um guia de atividades, mas sim uma proposta de formação docente.
Dessa maneira, o primeiro capítulo do livro faz uma breve síntese da história dos números e mostra alguns dos sistemas de numeração construídos pela humanidade ao longo do tempo, articulando tais sistemas com a construção de estratégias que permitissem o cálculo das operações aritméticas. Dos egípcios ao sistema indo-arábico, são mostrados os modos de funcionamento, as vantagens e limitações de alguns dos sistemas criados.
O modo como as operações eram realizadas também é apresentado em alguns desses sistemas, com o objetivo de explicar que aquilo que fez com que o sistema indo-arábico tivesse sucesso foi o fato de possibilitar a criação de algoritmos para a resolução das quatro operações básicas, algo que não era possível nos demais sistemas. Embora faça um bom percurso pela história da humanidade tendo como eixo as mudanças nos sistemas de numeração, nem sempre a explicação sobre os diferentes sistemas é clara.
Se esse for o primeiro contato do/a docente com a história dos sistemas, a compreensão sobre como funcionam alguns deles pode ficar incompleta, sendo necessário que os/as professores/as busquem outras fontes para complementar as informações.
Dando prosseguimento à retomada histórica que marca os dois primeiros capítulos, o livro apresenta, em seguida, “Algumas histórias sobre abordagens didáticas dos números naturais e das operações”, dessa vez, focando na história da área de conhecimento “educação matemática ou didática da matemática” no Brasil.
Para isso, a autora resgata alguns momentos marcantes dessa história em nosso país, a partir da década de 1940. É interessante notar como são usadas fontes diversas para contar essa história: da década de 1940 e 1950, são escolhidos três artigos de professores/a que atuavam em sala de aula; nas décadas de 1960 e 1970 são escolhidos livros que mostram a influência da psicologia (particularmente de Piaget) na educação matemática; para mostrar a luta por uma educação democrática na década de 1980, é analisada a “Proposta curricular para o ensino de matemática”, elaborada pela Secretaria de Estado de São Paulo; por fim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são apresentados para mostrar as tendências da matemática nos anos 1990. A ideia de usar fontes variadas é bastante interessante, particularmente ao se trazer para o debate, artigos escritos por docentes em outros momentos históricos. Contudo, essa seleção acaba produzindo pouco diálogo com outras abordagens também existentes no país.
Os três capítulos subsequentes são divididos levando em conta a ideia de que é necessário que o/a professor/a compreenda três aspectos das disciplinas que leciona: 1) o conteúdo dessa disciplina; 2) a didática do conteúdo da disciplina; 3) o currículo da disciplina.
Assim, os “Conceitos e procedimentos matemáticos que envolvem números e operações” são o tema do terceiro capítulo do livro.
Para explicar o conteúdo “Números”, a autora recorre aos axiomas de Peano, a fim de definir as características aritméticas dos números naturais. As propriedades das quatro operações básicas são explicitadas em seguida. Retomando esses conceitos essenciais, o livro atua no sentido de auxiliar os/as docentes a compreenderem melhor o objeto a ser ensinado na sala de aula, dispondo de mais ferramentas para apresentá-lo aos/às seus/suas alunos/as e sanar eventuais dúvidas.
Ainda com esse objetivo, são apresentados, no capítulo seguinte, estudos que ajudam a compreender como o/a aluno/a aprende matemática. Partindo da pesquisa base de Piaget, que mostrou que as crianças constroem esquemas próprios de pensamento, são apresentados/as teóricos/as que contribuem para a compreensão de como se dá a aprendizagem matemática. Além de Piaget, as pesquisas desenvolvidas por Contance Kamii, Michel Fayol, Gray e Tall, Lerner e Sadovsky e Vergnaud são sintetizadas pela autora, sempre com o objetivo de auxiliar na compreensão do modo como os/as estudantes pensam as relações com a matemática.
Destaque-se a forma como as noções de campo aditivo e campo multiplicativo (abordadas por Vergnaud) são apresentadas, articulando- as à resolução de situações-problema. Dessa forma, não apenas os conceitos são entendidos, mas vê-se o modo como eles podem auxiliar na construção de práticas mais problematizadoras na sala de aula. Cabe registrar, também, o destaque dado às pesquisas brasileiras ao final do capítulo. Obviamente, é impossível que uma obra resgate a variedade de pesquisas produzidas em nosso país, no âmbito da educação matemática, mas a seleção feita mostra como temos caminhado nas pesquisas sobre números e operações.
O último aspecto abordado refere-se à organização do currículo. Aqui, a autora recorre aos princípios básicos de organização de um currículo ao propor três momentos para a construção do mesmo: 1) a definição das expectativas de aprendizagem que se pretende construir; 2) as hipóteses relativas às possibilidades e desafios inerentes à idade dos/as alunos/as; 3) as atividades hipoteticamente interessantes para possibilitar a construção das expectativas anteriormente mencionadas. Aparentemente, recorre-se àquilo que sido nomeado no campo do currículo, como teorias tradicionais para discutir como construir um currículo. Essa visão tem sido criticada por desconsiderar as relações de poder que envolvem a construção desse artefato cultural e por tomar os dados da psicologia de forma pouca problematizadora. A autora justifica isso, porém, afirmando que há mais concordâncias do que discordâncias no que tange à definição das expectativas de aprendizagem.
Assim, ela lista o que se espera nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, tanto quanto aos números como quanto às operações.
Com relação aos números, são sugeridas, em seguida, atividades para ajudar na consolidação dessas habilidades. Situações como análise da função social do número, situações-problema em que seja preciso usar números para resolvê-las, contagens, escritas numéricas e observação das regularidades nelas presentes, são algumas das atividades apresentadas. Tal como foi feito com os números, também são sugeridas atividades para a construção das operações do campo aditivo e multiplicativo. Destacam-se nessa parte as atividades de resolução e análise de problemas e estratégias lúdicas e participativas de construção dos fatos básicos.
Coadunando com perspectivas presentes em textos oficiais (como, por exemplos, os PCN), as propostas são facilmente aplicáveis no cotidiano da sala de aula e podem auxiliar na construção das habilidades supracitadas. Porém, há pouco avanço em relação ao que está presente na maior parte dos livros didáticos analisados pelo Programa Nacional do Livro Didático, por exemplo.
Em síntese, o livro Números e Operações cumpre uma importante função na divulgação de pesquisas e atividades que subsidiem as práticas docentes no ensino fundamental. Embora em certos momentos haja pouco aprofundamento teórico e repetição de atividades comumente encontradas nos guias de ensino, de modo geral, o livro pode auxiliar nas reflexões sobre as práticas exercidas em sala de aula, bem como na formação inicial e continuada de professores/as. Aliado a outros materiais de estudo e a políticas públicas de investimento na educação básica, a obra pode contribuir com o objetivo maior de alcançar a qualidade na educação brasileira, no que se refere à matemática.
Religião e Religiosidades / Locus – Revista de História / 2015
O presente dossiê da Revista Locus reúne contribuições de dez diferentes especialistas no estudo das práticas e representações religiosas elaboradas no mundo católico, com ênfase nas regiões de colonização ibérica, entre os séculos XVI e XIX. A organização do número constitui um desdobramento das atividades do Grupo de Pesquisa Ecclesia que tem se debruçado sobre uma variedade temática, que pode ser encontrada, a título de exemplo, nos seguintes campos de investigação historiográfica: as manifestações sagradas dos fiéis e do clero, em consonância ou em tensão com as normas institucionais; as formas de ação coletiva dos fiéis no campo religioso, especialmente a partir das irmandades e ordens terceiras; as marcas deixadas pela sociedade escravista e de Antigo Regime na formação do clero e nas vivências devocionais; os mecanismos de imposição da disciplina social católica aos fiéis, por meio da ação do episcopado e do padroado; e as representações acerca da morte e da santidade.
Muitos dos referidos campos de investigação têm sido renovados por contribuições recentes da historiografia. No que diz respeito, por exemplo, à ação dos bispos e do clero secular, José Pedro Paiva, em particular, mostrou a variedade de papéis assumidos pelos bispos diocesanos, que ocupavam um papel chave na supervisão das práticas religiosas dos fiéis e do clero, complementando e auxiliando as atividades do Santo Ofício da Inquisição. Além disso, o episcopado se encontrava muito próximo da órbita do poder monárquico, que escolhia criteriosamente os candidatos às vagas nas dioceses. Nas áreas de colonização, onde a manutenção do culto e a escolha de sacerdotes e bispos se encontravam sob a jurisdição dos padroados ibéricos, identificou-se com clareza a ação complementar das autoridades régias e dos bispos. Quanto ao clero diocesano, a historiografia se abriu a uma pluralidade de investigações, que faz ressaltar o papel central ocupado pelo pároco em uma sociedade do Antigo Regime que tinha o catolicismo como religião oficial: os estudos e a formação; as atividades rituais e de instrução religiosa; a análise do meio familiar e das origens étnicas; o envolvimento do clero em práticas morais ilícitas e em crenças heterodoxas.
As devoções, as sensibilidades religiosas e as correntes de espiritualidade de fiéis e de membros do clero têm sido também contempladas e renovadas pela historiografia. O culto à Paixão de Cristo, à Sagrada Família e ao Menino Jesus, derivado da devotio moderna, difundiu-se enormemente ao longo do período, estimulado pelo clero e contando com a participação ativa de fiéis reunidos em irmandades e ordens terceiras. A devoção ao Santíssimo Sacramento e às Almas do Purgatório recebeu igualmente grande incremento. Os vínculos entre os fiéis e os santos de proteção continuaram sólidos, em uma aliança sustentada pela prática da promessa e pela realização dos milagres. Sob o impulso do Concílio de Trento, a Igreja passou a interferir mais de perto na referida relação, procurando fazer do santo um modelo de conduta para o fiel, apoiando-se para isso na ação do clero nos sermões e na difusão da literatura devocional. Um sinal da ação controladora do clero, particularmente do Santo Ofício, foi o crescimento das acusações de “falsa santidade” dirigidas a leigos.
A partir de alguns campos de investigação expostos acima, é possível identificar maiores afinidades entre os autores. Deve-se chamar inicialmente a atenção para os estudos dedicados à temática da morte, analisada sob diferentes perspectivas, reunidos neste dossiê. Obedecendo a uma sequência cronológica, situa-se em primeiro lugar o artigo de Adalgisa Arantes Campos, intitulado “A iconografia das Almas e do Purgatório: uma releitura bibliográfica e alguns exemplos (séculos XV ao XVIII)”. Em diálogo com as obras de Jacques Le Goff, Michell Vovelle e Flávio Gonçalves, entre outros autores, Campos escolhe três fontes iconográficas para trabalhar as representações das Almas do Purgatório: a Coroação da Virgem pela Santíssima Trindade de Engerand Quarton (século XV); o Julgamento das Almas atribuído a Gregório Lopes (século XVI); e a portada dedicada a São Miguel e Almas da Capela do Senhor Bom Jesus, em Ouro Preto (século XVIII). A partir de uma análise comparativa, a autora constata o descompasso existente entre a fixação da doutrina do Purgatório no século XIII e a lenta alteração das representações iconográficas, que resistiram em assimilar um terceiro lugar no post-mortem.
Em seguida, encontra-se o texto de Claudia Rodrigues, “Estratégias para a eternidade num contexto de mudanças terrenas: os testadores do Rio de Janeiro e os pedidos de sufrágios no século XVIII”. No artigo em pauta, Rodrigues dialoga com ampla produção especializada a respeito da temática da morte, da qual extraiu elementos para analisar as fontes básicas de sua pesquisa: os registros de óbito, os testamentos e as contas testamentárias correspondentes à Freguesia do Santíssimo Sacramento da Sé do Rio de Janeiro, que se encontram no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Em diálogo com a obra de João Fragoso e de Roberto Guedes, atentos aos efeitos socioeconômicos das doações testamentárias, a autora revela no contexto em foco o “domínio dos mortos sobre os vivos”, característica de uma economia da salvação marcada pelo acúmulo de encomendas de missas, gastos funerários e doações de caridade, em detrimento do benefício de parentes vivos. A situação começa a mudar após as restrições dos gastos pro anima estipulados na legislação pombalina da década de 1760 que procurou favorecer os interesses dos herdeiros vivos dos testadores. Nesta conjuntura, a autora identifica as diferentes respostas contidas nas declarações de últimas vontades, desde as mais conformadas com as limitações impostas pelas Leis Testamentárias até os subterfúgios encontrados pelos testadores para continuarem a privilegiar o objetivo soteriológico do testamento.
Utilizando uma amostra documental mais reduzida, constituída pelas contas testamentárias de irmãos terceiros franciscanos e carmelitas que tiveram suas últimas vontades fiscalizadas pelo Juízo Eclesiástico do Rio de Janeiro, William de Souza Martins chega a conclusões semelhantes às de Cláudia Rodrigues, no que diz respeito ao impacto da legislação pombalina na economia da salvação do período, no artigo intitulado “Os irmãos terceiros franciscanos e carmelitas e a Justiça Eclesiástica do Rio de Janeiro (c. 1720-1820)”. Não obstante, antes e depois das restrições oriundas das medidas de Pombal, o autor identificou testadores que possuíam grandes patrimônios, vinculados ao comércio de grosso trato, cujas doações a favor da salvação das almas ficavam em patamar inferior aos benefícios materiais concedidos à parentela, inclusive a parentes mais afastados. Paralelamente, o autor observou a existência de um forte espírito de corpo entre os irmãos terceiros, que tendiam a favorecer as próprias ordens e os frades carmelitas e franciscanos com diferentes tipos de doações e despesas funerárias.
Deixando o período colonial e adentrando o período da Independência e afirmação do Estado nacional, o artigo de Gabriela Alejandra Caretta, “Y el Cielo se tiñó de rojo… Muerte heroica y Más allá en las Provincias Des-Unidas del Río de la Plata (1820-1852)” analisa as conexões existentes entre os funerais extraordinários de líderes de facções em disputa na região do Rio da Prata e a História Política da região no pós-independência. Neste estudo, em que representações fúnebres assumiam uma função importante na fundação de determinadas memórias e narrativas políticas, a autora verificou, nos quatro estudos de caso que analisa, que houve uma atualização da tradição católica da “boa morte”, que passou a incluir temas não desenvolvidos no período colonial, como o discurso heroico do “enfrentamento da morte”.
Para além da temática da morte, das suas práticas e representações, o dossiê contempla também estudos que analisaram o modo como a difusão de narrativas piedosas contribuiu para moldar as práticas de determinados fiéis, assim como potencializou a veneração e o culto de indivíduos cuja fé era considerada heroica. Seguindo novamente a ordem cronológica, situa-se em primeiro lugar o artigo de Eliane Cristina Deckmann Fleck, intitulado “De Apóstolo do Brasil a santo: a consagração póstuma e a construção de uma memória sobre o padre jesuíta José de Anchieta (1534-1597)”. Partindo da análise de três narrativas de vida do jesuíta Anchieta, elaboradas nos séculos XVI e XVII por diferentes membros da Ordem, a autora constata o esforço crescente dos cronistas da Companhia de Jesus em apresentar testemunhos autênticos da fé e das virtudes heroicas de Anchieta, com vistas a favorecer a causa de beatificação, aberta em 1624. Devido à presença de componentes hagiográficos, tais narrativas não podem ser consideradas propriamente biográficas. A autora analisa também os inúmeros obstáculos ao longo do processo de beatificação de Anchieta, que somente foi concluído em 1980. Por fim, analisando diversos outros escritos sobre o jesuíta, publicados nos séculos XIX e XX, a autora também lança luz sobre diferentes apropriações da trajetória de Anchieta, aproximando-a, por exemplo, do projeto de afirmação da unidade nacional.
Inserido na mesma temporalidade do artigo acima, mas tratando do outro extremo do império português, situa-se o texto de Margareth de Almeida Gonçalves, intitulado “‘Despozorios divinos’ de mulheres em Goa na época moderna: eloquência e exemplaridade no púlpito do mosteiro de Santa Mônica (frei Diogo de Santa Anna, 1627)”. No texto em questão, a autora examina um sermão pregado pelo referido frade agostinho durante a inauguração do Mosteiro do ramo feminino da sua Ordem, na capital da Índia portuguesa. No sermão, frei Diogo de Santana aponta para as características exemplares das mulheres que haviam feito os votos solenes da vida religiosa e se tornado “esposas de Cristo”. A narrativa é construída a partir das convenções da oratória sagrada do período, particularmente de analogias retiradas das escrituras sagradas. Assim, o Mosteiro de Santa Mônica aproxima-se do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém.
O texto de Célia Maia Borges, intitulado “Os leigos e a administração do sagrado: o irmão Lourenço de N. Sr.ª e a Irmandade Nossa Senhora Mãe dos Homens – Minas Gerais, século XVIII” apresenta a notável trajetória de um irmão da Ordem Terceira de São Francisco que abraça a vida eremítica, tornando-se um ermitão leigo na Serra do Caraça. Desconstruindo uma visão historiográfica tradicional, segundo a qual o irmão Lourenço era fugitivo das perseguições de Pombal, a autora aprofunda a análise das inclinações religiosas do ermitão, próximas das correntes da Devotio Moderna, representadas exemplarmente naquele contexto pelos missionários apostólicos varatojanos, os quais pretendeu atrair para a Serra do Caraça. Paralelamente, a autora analisa as tensões existentes no campo religioso, em que se opunham o projeto do ermitão e as desconfianças do bispo de Mariana, que acabou autorizando apenas a fundação de uma irmandade leiga na Serra do Caraça. Sem dúvida, o texto da autora contribui para preencher uma importante lacuna nos estudos sobre a atuação dos ermitães na América portuguesa, particularmente no que diz respeito ao envolvimento dos mesmos na gestão de lugares de culto.
Passando a tratar das questões atinentes ao clero secular, deve-se mencionar primeiramente o texto de Anderson José Machado de Oliveira, “A administração do sacramento da ordem aos negros na América portuguesa: entre práticas, normas e políticas episcopais (1702- 1745)”. No artigo em pauta, o autor apresenta novas análises a respeito da temática a qual vem se dedicando há alguns anos, a da habilitação à carreira sacerdotal de descendentes de africanos, a partir da pesquisa de centenas de processos existentes no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. A permissão para que os negros tivessem acesso ao sacramento sacerdotal era rigidamente controlada pela hierarquia eclesiástica, representada pela própria Santa Sé, como também pelos bispos diocesanos, os quais recebiam do papa autorizações temporárias para as dispensas do “defeito da cor”. Conforme assinala o autor, a lógica casuística das dispensas, efetuadas caso a caso, e que levavam em conta as singularidades e qualidades dos ordinandos e das redes de sociabilidade que acionavam, funcionava como um mecanismo de reforço das hierarquias da sociedade escravista e de Antigo Regime. Vale a pena chamar a atenção também para o fato de que a concessão de dispensas variava conforme diferentes políticas episcopais, mais favoráveis a tais concessões no episcopado de D. Francisco de São Jerônimo, e mais raras nos bispados de D. Fr. Antônio de Guadalupe e D. Fr. João da Cruz.
Fundamental para compreender a projeção do poder episcopal sobre o clero secular e os fiéis no Antigo Regime, os juízos eclesiásticos dos bispados têm sido ainda pouco estudados pela historiografia, um hiato que tem sido corrigido pelas pesquisas de Pollyana Gouveia Mendonça Muniz. Em “O Juízo Eclesiástico do Maranhão colonial: crimes e sentenças”, o texto apresentado pela autora para o presente dossiê, Muniz revela a amplitude das esferas de atuação do tribunal diocesano, que incluíam a fiscalização sobre a realização de matrimônios; libelos de divórcio; investigação de delitos de natureza moral, como concubinato e incesto; autos de testamento, conforme foi também analisado nos textos de William de Souza Martins e Claudia Rodrigues, entre outras atividades. A autora mostra como a ação dos juízos eclesiásticos complementou, em cada diocese, o funcionamento do Santo Ofício da Inquisição, atuando como um mecanismo adicional de imposição da disciplina católica às populações do Antigo Regime.
Por fim, dedicando-se ao tema de sua maior especialidade, isto é, a análise das procissões e dos rituais religiosos no Antigo Regime, Beatriz Catão Cruz Santos apresenta o texto “Os ofícios mecânicos e a procissão de Corpus Christi no Arquivo Municipal de Lisboa – séculos XVII e XVIII”. A autora analisa diversos detalhes presentes na organização da procissão, de caráter oficial, do Corpo de Deus, como a convocação do Senado da Câmara de Lisboa e da Irmandade de São Jorge. Na medida em que revelava a aquisição de prestígio social, a participação de diferentes agentes era regulada na procissão por meio de um sistema de precedências, o que não impedia a existência regular de conflitos, cuja ocorrência era por vezes provocada pela manutenção de antigos costumes locais em oposição às normas escritas, conforme se mostrou na contenda entre os oficiais de ourives e o Cabido de Lisboa.
Acreditamos que a reunião destes artigos contribui significativamente para a compreensão das dimensões do catolicismo na América ibérica, entre os séculos XIV e XIX, ao trazer abordagens de questões ainda pouco investigadas, de arquivos e fontes ainda por explorar, demonstrando as potencialidades que a temática das práticas e representações católicas possui na historiografia ibero-americana.
William de Souza Martins
Claudia Rodrigues
Anderson Machado de Oliveira
Célia Maia Borges
MARTINS, William de Souza; RODRIGUES, Claudia; OLIVEIRA, Anderson Machado de; BORGUES, Célia Maia. Apresentação. Locus – Revista de História. Juiz de Fora, v.21, n.2, 2015. Acessar publicação original [DR]
Rádio, arte e política – COSTA (REi)
COSTA, Mauro Sá Rego. Rádio, arte e política. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2012. Resenha de: CORDEIRO, Salete de Fátima Noro. Revista Entreideias, Salvador, v. 4, n. 2, 162-171 jul./dez. 2015.
Mauro Costa reúne, nessa obra, vários de seus artigos, cuidadosamente selecionados para levar o leitor à reflexão sobre a importância e dinâmicas do rádio, ao longo do tempo até o contexto contemporâneo. No primeiro artigo, “Rádio Arte e Política”, o mesmo que dá título à obra, logo marca o tom da sua escrita, colocando o rádio, desde sua origem, como um meio universal que atinge grandes contingentes da população e, portanto, um instrumento cultural, artístico e político que pode chegar a qualquer cidadão, instruído ou não. Apresenta o rádio com seu caráter plural, sendo usado, tanto numa perspectiva autoritária, – a exemplo da rádio nazista e fascista na Alemanha e Itália respectivamente –, como libertária, a exemplo da radiodifusão nos EUA no início do século XX e das rádios livres na França e Itália em meados da década de 1970. O rádio ganha notável reconhecimento da população, uma vez que a comunicação passa a acontecer ultrapassando as barreiras geográficas, o que significa dizer que as pessoas começaram a se comunicar a longas distâncias sem a interferência do Estado ou de empresas. Em estilo contraventor ou reacionário, expande-se, principalmente quando começa a se difundir e servir de meio de comunicação livre nos EUA (comunicação entre rádios amadores).
Nesse caso, o Estado intervém através do “Ato do Rádio” legislação que obriga os rádios amadores a tirar licença e só permite a comunicação por ondas curtas, sob a alegação do Congresso americano de “interferências maliciosas”. Mera coincidência em relação aos atos de criminalização das rádios comunitárias nos dias atuais, tanto nos Estados Unidos como em diversas partes do mundo.
Essa restrição definia uma faixa do espectro muito limitada para uso, sob pena de multa para quem infringisse as regras, o que levou a um movimento pela liberdade de comunicação, produção e arte.
A luta pela liberdade de expressão através das rádios caminhou junto com sua clandestinidade, dando origem a criação de um repertório cada vez mais variado, entre eles, a emissão de propaganda, música e narrativas orais. Muitas rádios, ainda hoje, continuam clandestinidade, ou seja, sem licenças, pela grande burocratização das instituições reguladoras e pelos interesses políticos dos proprietários de rádios comerciais, que dificultam sua regulamentação.
Na França e na Itália, até os anos 1970, todas as rádios eram estatais. Somente após esse período é que as rádios comerciais começaram a surgir. Mauro Costa cita o exemplo da rádio “Alice,” uma rádio livre que surge em Bolonha, na Itália (1976-1977), como um projeto estético-político, sendo considerada contraventora para a época e tendo como um dos seus fundadores o ativista Franco Berardi (Bifo). Torna-se a primeira rádio livre de Bolonha, onde a contrainformação passa a ser o principal instrumento no desmascaramento do discurso do poder. O mesmo grupo que organiza a rádio “Alice”, organiza também a revista Altraverso, um grupo que, em meio aos movimentos políticos da época, buscava fazer uma outra política, ou pelo menos, constituir maneiras diferentes de fazê-la, através dos meios de comunicação, promovendo a circulação de informação e comunicação. Política e informação caminhavam juntas no pensamento desse grupo, onde, “informações falsas produzem eventos verdadeiros” (p.65).
Do ponto de vista teórico, Mauro Costa, apresenta os sentidos e significados, ou melhor, não sentidos e não significados, que envolvem a perspectiva de fazer uma rádio contraventora, que transmite contrainformação, que interage com ouvintes e que transmite silêncio. Embasado em Burroughs e Deleuze, toma a palavra como vírus e, dessa maneira, a palavra se espalharia e dominaria as narrativas e discursos, exercendo papel condicionante e de controle. Segundo ele, nós, seres humanos, já não comunicamos por nós mesmo, pelas nossas percepções, pelo real, mas pelo que a palavra fez da linguagem, “pedaços de linguagem” que vão se articulando e esparramando. Já não é o ser humano que fala, mas a palavra, o vírus. O que cria uma distância entre as palavras e a experiência. A mídia instituída fala por cada um de nós e nos retira a potência da linguagem, da comunicação. Segundo ele, o que vale é a experiência direta, adâmica, a que está antes da palavra, no silêncio. O vazio precede a palavra. Sentido e não sentido fazem parte de um mesmo agenciamento. Vazio é espaço de privilégio, onde os artistas estão no ato da criação, no momento da poiésis, onde esquecem os códigos, ultrapassam os limites da linguagem instituída e criam o inédito, o singular e o novo.
Esse lugar potente, que rompe com o instituído dando abertura para o nonsense, para a criação, é o que almejava a rádio “Alice” em termos de potência política, “ético-estética”. O silêncio do rádio é quebrar, abrir, fechar, cortar, interromper a linguagem feita da palavra vírus, escapar do controle, interromper a comunicação, linguagem que fala por todos. Abrir espaço para a construção de novas linguagens, possibilitando outras maneiras de comunicar, de pensar, de criar, de estabelecer relações outras, com valores pertencentes a cada um e aos seus coletivos.
A rádio “Alice” é uma rádio subversiva. “O problema real é o de criar novas condições culturais, cotidianas, vivenciais, relacionais, psíquicas para que um processo de auto-organização da sociedade possa se livrar das correntes do comando capitalista…”(67).
Ela está relacionada a uma política emergente, instituinte, micropolítica que não está relacionada a nada até então instituído, nem aos movimentos de direita nem de esquerda, nem ao capital, nem ao movimento trabalhador. O modelo político estético criado pela rádio “Alice”, potencializa a criação de zonas de auto-organização, onde cada coletivo passa a pensar e a descobrir sua expressão.
Ela remete diretamente, através da sua ousadia da sua performance e de seus repórteres, à invenção de linguagens e expressões, à uma outra arquitetura de rádio.
A “rádio Alice” é descrita como uma experiência paradigmática de comunicação, caracterizada sob uma abordagem teórica de lógica de sentido fundamentada em Deleuze e Guattari. Os meios políticos dessa rádio estão basicamente na forma, e não necessariamente no conteúdo, valorizando uma política de contrainformação, que se dá através de um rádio teatralizado. Foi uma experiência marcada pelo nonsense, cheia de paradoxos, fluxos, intensidades do ato de comunicar. Os meios radioelétricos deram o suporte para uma nova perspectiva de tempo que foi instaurado, uma comunicação instantânea, que valorizava um tempo contínuo através dos meios, a exemplo do uso do próprio telefone, que estabelecia uma comunicação em rede através da publicização da ligação ao vivo.
Pela primeira vez, aqueles que mobilizavam os movimentos político- artísticos e estéticos estavam utilizando uma mídia eletrônica e criando uma rede através das pessoas que circulavam pela cidade, pelos eventos e pelas manifestações. A comunicação podia acontecer através do rádio e do telefone que eram utilizados para criar interação com público ouvinte. Ela acontecia em tempo real, antes mesmo do surgimento da web, cobrindo uma diversidade muito grande de eventos e com uma proposta de produção de conteúdos e uma linguagem cheia de ineditismos.
Mauro Costa ainda menciona a publicação de um livro de Bifo, onde aparece, explicitamente, a intencionalidade da criação de uma política do movimento, com caráter não linear, mas múltiplo, convergindo para as mídias e para o rádio. Os escritos de Bifo são importantes pois falam das rádios livres da época (Itália e França) sob uma perspectiva de ruptura, muitas vozes no ar, mostrando que a cultura minoritária estava florescendo através do rádio.
Depois do fechamento da rádio “Alice” (1977), Bifo refugia-se na França e continua sua mobilização e militância através da escrita, ampliando a discussão do rádio até o surgimento do movimento da cibercultura, onde faz uma análise da internet como uma nova protagonista do sistema e das relações de poder, como em sua obra Mutazione e Cyberpunk (1994).
As rádios livres criavam essa dinâmica, trazendo o inusitado para a programação, compartilhamento com o público, potencializando um ambiente propício para a efervescência cultural.
No entanto, a sua legalização, imposta pelo governo italiano, causou o seu esfacelamento e sua completa derrocada. No momento em que o governo submete a existência das rádios livres a um estatuto, a sua institucionalização acaba com sua essência e sua liberdade.
Exigir conteúdos, audiência e qualidade retirava das emissoras sua liberdade criativa, a autonomia de produzir o que quisesse, sem a preocupação com expansão ou audiência. Esse é o panorama geral das rádios livres e da sua regulamentação também no Brasil.
Aqui, para pensar o funcionamento e legalização das rádios comunitárias, foi instaurada a Comissão de Comunicação, Tecnologia e Informática do Congresso Nacional que leva à aprovação da Lei nº 9.612, em 1998. Cabe ressaltar que a maioria da bancada parlamentar estava direta ou indiretamente ligada a empresas de rádio e televisão, o que deixa sua marca indelével na legislação.
As barreiras criadas pela legislação geram morosidade nos processos, fazendo com que muitas rádios permaneçam na clandestinidade, mesmo realizando um trabalho intenso e relevante em suas comunidades. Nas palavras de Mauro Costa, são “verdadeiros centros culturais populares” (p. 91), deles participando pessoas de todas as idades e gêneros, mas principalmente jovens. São as rádios que chegam e suprem o vazio deixado pelas políticas públicas de cultura, esporte, lazer, trabalho, entre outras, principalmente no que está relacionado às demandas da juventude.
Essa comunicação que nasce à margem da lei, produz uma outra realidade e emerge daí a presença, envolvimento e participação marcante dos jovens. O Ministério da Cultura, sensível a essa realidade e à necessidade de estimular a produção cultural envolvendo as tecnologias que estavam chegando naquele momento, cria os Pontos e os Pontões de Cultura e projetos para o desenvolvimento da cultura em comunidades populares.
Foi dentro desse contexto que aconteceu um evento denominado Radiofórum, no ano de 2008 em Londrina- PR, onde intelectuais de diversas áreas se reuniram pensando numa rádio que mexesse, sacudisse, fizesse um rebuliço com o instituído modo de pensar e de fazer rádio no Brasil. No momento em que as tecnologias digitais disponíveis propiciaram a transição para a incorporação das tecnologias da informação e comunicação e a criação das rádios web, o desejo desse grupo foi de construir uma rádio que ultrapassasse o modelo de transmitir informação (tempo, clima e trânsito), que realmente fosse um elemento provocador no sentido de quebrar esse cotidiano e principalmente, fazer pensar.
A partir do surgimento da internet, são criadas as rádios web, muitas delas impensáveis do ponto de vista político. A internet surge como espaço alternativo tanto para quem quer ouvir e acessar, como para quem quer produzir e disponibilizar conteúdos.
Tanto as rádios web como os sites de músicas, acabam sendo um local privilegiado de produção cultural dos jovens, pois eles são os primeiros a chegar e se engajar quando dos projetos de rádios comunitárias, por exemplo. Isso mostra, por um lado, um vácuo nas políticas públicas que não contemplam a população jovem em suas necessidades, principalmente em relação à cultura. Os jovens no Brasil fazem parte de uma massa de excluídos, de desempregados e de um grupo que faz aumentar os índices de violência.
As rádios livres e comunitárias estão diretamente ligadas a modos de resistência e, atreladas à tecnologia digital, vêm oferecer formas de produção de arte e cultura, e consequentemente, a produção de um trabalho imaterial.
No livro, Mauro Costa baseia-se em Toni Negri e Michael Hardt (xxx) para falar dessas formas de produção, trazendo para o centro do debate, as maneiras de cooperação ou colaboração que lhes são inerentes. A inteligência coletiva que é produzida através das redes não dispensa a necessidade de corpos e mentes. Muito pelo contrário, é formada por eles, trabalhando de maneira conjunta, tudo graças a essas tecnologias digitais que permitem o trabalho em rede, sem os constrangimentos espaço-temporais. É nas fendas, nas brechas, que essa parcela de excluídos do trabalho formal encontram táticas de sobrevivência diante do que as tecnologias digitais propiciam e da construção dessa inteligência coletiva, encontram maneiras de desenvolver outras atividades produtivas.
“Várias atividades produtivas vêm se articulando desta maneira, principalmente nos setores da juventude, estes que estão em situação de crise na relação como trabalho juridicamente regular” (p. 91). Para exemplificar essas formas de trabalho imaterial propostas ou criadas pela juventude, o autor registra três experiências: as rádios comunitárias, o hip-hop e a produção de artes plásticas por coletivos independentes.
A primeira experiência descrita pelo autor são as rádios comunitárias, e traz como exemplo a rádio web Musicadiscreta, que produz programas sobre música, acontecimentos e personagens de vários estilos musicais até passeios etnomusicais; a Rádio Pacífica- NY-EUA, uma rádio comunitária nos Estado Unidos que, bem diferente da legislação daqui, permite que rádios comunitárias operem em rede, tudo com financiamento dos ouvintes. Cita ainda o site Sussurro, uma biblioteca musical de acesso livre criada pelo professor da UFRJ Rodolfo Caesar, que disponibiliza músicas e documentos, artigos, programas de rádio, uma variedade de conteúdos e gêneros musicais. Como, por exemplo, a Boomshot- SP, criada por um fã do hip-hop, que frequenta os espaços desse ritmo e faz das pessoas aí presentes seus entrevistados. Seus programas realizados ao vivo ficam disponíveis para download no site. Na onda do hip-hop, e seguindo a proposta de compartilhar conteúdos livres, o autor cita Bocada Forte, Rap Nacional e Só Pedrada Musical, que também possuem a característica de serem espaços alternativos, não seguindo padrões instituídos ao modelo da indústria fonográfica, onde os artistas trocam, compartilham e disponibilizam suas músicas, seus mixtapes. Suas músicas circulam pelas redes globais, onde muitas vezes ficam conhecidos, ganham prestígio na comunidade e são chamadas para fazer seu trabalho, instaurando-se assim, circuitos paralelos de construção de cultura.
A segunda experiência é o contexto de produção e circulação do hip-hop, que apresenta-se como contracultura, já que sua existência não está vinculada ao apoio de nenhuma organização institucional. Todo o processo de construção da música acontece através de uma auto-organização do coletivo, que promovem encontros, eventos, oficinas, onde uns vão passando/compartilham as técnicas e saberes para/com os outros.
A terceira experiência citada por Mauro Costa refere-se ao Coletivo Imaginário Periférico. Trata-se de um grupo de artistas plásticos, que desenvolve seu trabalho dentro de uma linguagem contemporânea de arte. Também não está atrelado a nenhum órgão ou entidade instituído no campo da cultura ou da arte, como por exemplo, escolas ou museus, mas é um grupo que se auto organiza através de eventos de arte e ateliês coletivos. É a partir desses espaços, mais alternativos, que as trocas e as aprendizagens acontecem.
Seguindo essa lógica de produção e compartilhamento, inúmeros sites são criados na web, dando oportunidade de acesso a uma grande variedade de produções sonoras, gêneros radiofônicos, programas de radioarte e radiodrama, documentários sonoros, paisagens e poesia sonoras, além da possibilidade de abertura de canais para discutir essas produções artísticas, teóricas e culturais.
Dentro dessa perspectiva plural de produzir rádio, o autor discute acerca do pensamento sobre a escuta, o som e a arte do rádio, um campo teórico pouco explorado ou inexistente. A Utilização do rádio, limitado muitas vezes ao campo da música, como em “arte dos ruídos” de Luigi Russolo e “a libertação dos sons” de Edgar Varèse, se por um lado buscava renovar a arte musical, restringia a liberdade de escuta do que seriam os elementos fundamentais para as experiências sensoriais, da busca do ruído como som em si. Segundo Mauro Costa “a não separação de uma arte do rádio ou da escuta, da arte da música, impediu, até recentemente, o desenvolvimento de critérios de leitura (de audição) próprios dela” (p. 22). Isso quer dizer que toda a codificação ou busca de pureza nos ruídos só prejudicou o desenvolvimento de outras maneiras de perceber, tratar, produzir sons e desenvolver uma teoria da escuta.
Ele traz exemplos de compositores que vão buscar suas experiências sensoriais nos estúdios de rádio, nas experiências acústicas que esse meio proporciona, resgatando inspiração e técnicas para desenvolverem suas composições, como o caso de Pierre Schaeffer que desenvolve a sua “música concreta”, proporcionando o desenvolvimento do pensamento sobre a escuta livre, ou de François Bayle, que a partir dessa senda, inicia os trabalhos que levam ao estudo da percepção auditiva ligada à cognição. Por fim, cita o compositor e teórico da educação Murray Schafer, que cria o conceito de “paisagem sonora” contemplando aspectos estéticos e ecológicos que envolvem os ambientes sonoros. A ecologia acústica, estudo desenvolvido por esse intelectual, propõe uma educação da escuta, uma atenção consciente do ambiente sonoro em que habitamos, através da educação que atingiria um grande contingente, que envolveria, pelo menos, três aspectos: desenvolver uma melhor percepção sonora desses cidadãos e dos espaços que habitam; tomar consciência de que cada um de nós somos coautores da produção sonora que nos cerca; e da percepção da produção de poluição sonora (esse programa teria ambição de abranger a educação e a saúde pública). Por outro lado, a educação da escuta do ambiente a nossa volta, encaminharia novos desafios de percepção sonora, abrindo para outras “linguagens musicais pós-tonais”, “ritmos não regulares” e desenvolvimento cognitivo. O interesse por essa área do conhecimento levou o autor a aprofundar os estudos, levando em consideração a criação de novas narrativas e principalmente de uma experiência estética, dando origem, então, a vários eventos e projetos, como o Laboratório de Rádio da UERJ/ Baixada, na Faculdade de Educação.
O livro ainda contém uma entrevista com Murray Schafer, onde aborda a origem do projeto “paisagens sonoras das cidades”, um projeto mundial que saiu de uma proposta de ensino no Departamento de Comunicação da Universidade Simon Frazer, no Canadá, e toma com espaço de trabalho a própria cidade.
O projeto estuda não apenas os sons musicais, mas qualquer tipo de som, ruído que faça parte do cotidiano, ou o que ele chama de “paisagem sonora”. Essa é entendida como algo dinâmico, móvel e, portanto, merece ser estudada, já que esses sons cotidianos estão mudando e afetando o comportamento dos cidadãos. O primeiro desses estudos foi feito em Vancouver/Canadá, e os restantes em outras cidades do mundo, evidenciando a diferença sonora presente em cada uma delas.
O rádio passa a ser entendido como um meio onde essas experiências podem ser compartilhadas e estimuladas. Isso tudo, segundo Mauro Costa, pode levar a um aprofundamento da experiência sonora ao ponto de falar em um “rádio fenomenológico”, que seria um tipo de rádio com uma programação com menor interferência possível ou sem interferência de quem o faz (colocar o microfone em um espaço e não interferir, apenas transmitir para outros espaços), o que levaria à criação de singularidades acústicas/ sonoras expressando a paisagem de cada lugar a partir dos sons que são específicos e característicos de cada região ou localidade.
O texto de Mauro Costa ainda ressalta o brilhantismo e ineditismo nas composições e instalações musicais de John Cage e relaciona seu pensamento ao de Deleuze e Guattari em muitos aspectos, entre eles a concepção de uma lógica pervasiva, que vai equiparar som e silêncio, quebrar a noção de espaço e de tempo da modernidade (tempo presente, passado e futuro) e dar espaço para o acaso, onde qualquer coisa pode acontecer durante a elaboração da obra, não havendo predominância de qualquer interpretação ou qualquer gosto do artista. Estabelece um paradoxo entre silêncio e som, caracterizado pelo tempo de duração, onde “nenhum som teme o silêncio que o extingue. E nenhum silêncio existe que não esteja pregnante de som.” (p. 51) O conteúdo de sua construção musical reúne sons musicais e ruídos registrados a partir dos meios eletrônicos, uma música inédita “sem propósito, aleatória, intempestiva, rompendo a barreira entre arte e vida, a música e os sons da vida, das ruas, do cotidiano-aprender a ouvir o mundo” (p. 40).
A perspectiva de Cage trata da desconstrução do compositor/autor diante dos equipamentos de áudio, especialmente o rádio, ou seja, é retirada a centralidade do artista no processo de criação. Entre as várias obras sonoras, criadas por Cage, fica marcante a diversidade na introdução, apresentação ou utilização do rádio. Ele acreditava que a música do futuro seria produzida a partir de instrumentos elétricos, sendo o rádio um dos principais instrumentos de trabalho do artista. Cage é considerado o inventor da radioarte, antes mesmo de ser criado esse conceito.
É discutido na obra de Mauro Costa, o rádio com grande potencial educacional, mas que enfrenta dificuldade de se desprender dos modelos padronizados e comerciais de fazer a programação.
Muitas vezes os programas têm um conteúdo revolucionário, mas seus formatos reproduzem padrões, não apresentam outras estéticas possíveis, outras vozes que destoem de um modelo predeterminado, ampliando as experiências possíveis nesse campo.
A leitura dessa obra é interessante para todos aqueles que estão buscando experiências outras de produzir conteúdos sonoros e comunicação; para aqueles preocupados com a construção de uma educação de resistência, colaboração e, ao mesmo tempo, de sensibilidade da escuta.
Salete de Fátima Noro Cordeiro – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia. E-mail: salete.noro@ufba.br
O gosto como experiência: ensaio sobre filosofia e estética do alimento – PERULLO (T-RAA)
PERULLO, Nicola. O gosto como experiência: ensaio sobre filosofia e estética do alimento. São Paulo: SESI SP Editora, 2013. 191 p. Resenha de: BENEMANN, Nicole Weber. Estética e experiência do gosto: contribuições para o debate sobre paladar, gastronomia e arte. Tessituras, Pelotas, v.3, n.2, p. 331-338, jul./dez., 2015.
Os questionamentos sobre a alimentação, o paladar e o gosto partem de uma análise dualística de ascendência platônica, que colocam em discussão noções como natureza e cultura, mente e corpo, sujeito e objeto. Essa construção é colocada na centralidade crítica na redação de Nicola Perullo que desenvolve o trabalho teórico através da reflexão filosófica na intenção de estudar o tema da percepção do alimento, através de uma conexão entre estética filosófica moderna e gastronomia, tratada por um viés menos exclusivista e mais flexível das relações humanas, cotidianas e ordinárias. A centralidade dessa abordagem reside na busca pelas respostas aos seguintes questionamentos: como percebemos alimentos e bebidas? Quais são os pressupostos, potencialidades e limites dessas percepções?
Para dar início às considerações sobre a própria estética, é necessário ressaltar que o status teórico do paladar tem sofrido deslocamentos ao longo do tempo. Historicamente, o paladar foi submetido à categoria dos sentidos inferiores, materiais e baixos, junto ao olfato e em contraposição a sentidos superiores, intelectuais e nobres, como visão e audição. Na perspectiva de Platão, a culinária seria comparável à retórica: uma atividade empírica, destinada a seduzir e a satisfazer uma necessidade primária e não atrelada ao conhecimento, já que não tem origem em leis dedutíveis e tampouco pertence ao domínio das artes, por não representar prazer intelectual. Ou seja, os resultados advindos do paladar seriam físicos, efêmeros e não dignos de um homem racional (PERULLO, 2013). De fato, a construção ocidental elevou o status da visão e audição como representantes do saber, da fé e da arte. O tato foi conectado a um sentido ambíguo, capaz de contato e proximidade, mas não capaz de interiorização. Paladar e olfato foram conectados a uma materialidade e a um prazer físico que atravessa o corpo. A pergunta que segue a essa construção é: esse paradigma sensorial foi abandonado na visão contemporânea? Perullo nos brinda com um exemplo na sua narrativa: Ferran Adriá, cozinheiro catalão reconhecido por sua cozinha vanguardista e criativa pautada na desconstrução de texturas e célebre por seu viés artístico, foi criticado por um filósofo em um editorial de um jornal espanhol. O argumento central da crítica estava na construção de que a gastronomia pertence ao universo do artesanato e que deveria ater-se ao efeito de saciar a fome, uma vez que a arte de fato apenas poderia existir depois da função biológica ou para além dela, condensando o argumento do paradigma filosófico antigo. Em resposta, a esta e outras críticas em relação ao seu restaurante e cozinha, Adriá definiu que a escolha de ir a seu restaurante significaria desejar uma experiência sensorial, estética, cultural e artística, colocando sua expressão em equivalência ao investimento na compra de um ingresso para uma peça de teatro, uma roupa de grife ou um jogo de futebol. Como contra argumentação, recebeu de seus críticos a consideração de que seu restaurante não oferece opções mais baratas, como os assentos de um teatro, e que um jantar não tem a durabilidade de uma peça de grife. Esse tipo de posicionamento esclarece três argumentos centrais do discurso da crítica: primeiro, a verdadeira arte diz respeito aos prazeres espirituais e fisiologicamente desinteressados; segundo, a gastronomia não faz parte da verdadeira diversão e cultura, como o teatro; e terceiro, o investimento em roupas seria melhor interpretado por ser um investimento duradouro. Por meio dessa argumentação podemos reconhecer as representações de três objeções em relação à comida, gastronomia e paladar: uma de origem epistemológica, uma de origem estética e uma de ordem ética. Epistemológica porque o paladar não pertence aos sentidos superiores, estética por não se tratar de uma arte “verdadeira” e sim de uma experiência fugaz; e ética por aproximar as pessoas de seus instintos animalescos e da glutonia.
Na contribuição de Perullo, muitos desses aspectos de marginalidade teórica se devem à concretude do paladar por tratar-se de uma atividade cotidiana e repetitiva e a sua fugacidade, efemeridade e caráter individual. Na visão do autor, essa marginalidade teórica com peso histórico deve ser assumida e compreendida, a fim de traçar um panorama crítico e um ponto de partida da reflexão sobre o tema, em que a culinária e a gastronomia compõem um “espaço ativo onde a filosofia, as ciências humanas, as artes e as ciências da natureza possam refletir sobre o seu tempo” (PERULLO, 2013, p. 39). De certa forma, a gastronomia desempenha hoje o papel que o cinema desempenhou em outras épocas, servindo como centro do debate para ajudar a redefinir as fronteiras do que compreendemos como arte. Esta construção menos dura e contemporânea toma forma com as concepções da estética moderna conhecida como a ciência do conhecimento sensível, da estética da relação e no conceito de performance que redefinem como espaço legítimo a sensibilidade, não limitando o intelecto à razão.
Pensar a experiência alimentar a partir desse novo posicionamento significa tomar como ponto de partida a ideia de uma oportunidade sensível ligada à própria natureza em que é constituída, a partir de um contato direto do sujeito com o objeto. Isso significa considerar a proposta de complexidade do fenômeno, gerada através de uma relação perceptiva e de um modo de reinterpretar as experiências do paladar. O paladar de acordo com essa abordagem não pode ser analisado um único sentido, uma vez que este processo se desenvolve com a participação do olfato e da atuação cerebral, que é também sensível aos estímulos físicos e a outros agentes influenciadores como a cultura e o contexto, por exemplo. Desse modo, podemos dizer que o paladar, bem como sua experiência, compõe um sistema perceptivo complexo, não sendo meramente mecânico ou instintivo, mas sim, um entrelaçamento de corpo e mente com o meio ambiente. Dadas às circunstâncias nas quais se desenvolve tal percepção, é necessária a compreensão do fenômeno do paladar através de uma dimensão qualitativa, em que se relaciona com a narração da experiência pessoal com as noções de valor do paladar. A experiência gustativa que ocorre e se desenvolve em diferentes contextos, entendidos aqui como um conjunto de conexões em um cenário de sentidos, não abriga regras de como apreciar e desfrutar o alimento. Almoçar em um restaurante renomado é muito diferente de fazer uma refeição na beira da estrada em uma longa viagem, mas não podemos afirmar que o prazer só pode ser encontrado no primeiro ou que a experiência do paladar apenas acontece no segundo momento, tampouco que esses momentos são construídos a partir de uma necessidade puramente biológica ou fisiológica. A saciedade, a companhia, a circunstância, a negação (sei que o sabor não é bom, mas tenho fome e como), o prazer refinado e outros aspectos têm influência direta sobre a experiência do paladar e isso é o ponto de partida da complexidade utilizada como referência nessa construção teórica.
Ou seja, para Perullo, refletir sobre o paladar significa refletir no paladar, sobre o “como fazer” experiência e “como viver” essa experiência, significa também tentar compreender uma relação corpo a corpo, entre sujeito e objeto, na qual o objeto é consumido com a finalidade de “transformar” o sujeito. Para conformar uma teoria estética do paladar é preciso compreender uma relação e uma implicação que tenta superar oposições rígidas, estáticas e dualísticas. Tratar do paladar significa, então, estar às margens da teoria da estética e construir uma teoria das margens ao tratá-lo sob uma ótica de continuidade e de interação na relação entre natureza e cultura. Prazer, conhecimento, necessidade, desejo, nutrição e gosto formam um único todo na experiência estética do paladar.
Nesse contexto de atravessamento entre natureza e cultura, comer é uma atividade social em que a natureza comparece e o paladar se apresenta como uma habilidade capaz de gerar prazer e conhecimento, através de uma característica endocorpórea atrelada a um cenário de sentido, a um saber perceptivo intrinsecamente relacionado ao corpo, que deve ser observado, refletido, introspectado, expresso, compartilhado e conceitualizado para dar conta de todas as suas possibilidades. A estética do paladar, em suma, é uma estética relacional.
No livro, O gosto como experiência, Nicola Perullo divide seu trabalho em quatro grandes temas para discutir a problemática do paladar. O primeiro deles é dedicado ao prazer. Neste desdobramento teórico, os enfoques das contribuições da discussão acontecem sobre os modos de acesso à experiência gustativa. De imediato, fica evidente que estes modos de acesso, o saber e o prazer, não são separados de forma rígida e tampouco estática e que “a relação estética enquanto prazer provoca, portanto, a receptividade plástica da percepção e abre à memória, à inteligência, à consciência e à linguagem” (PERULLO, 2013, p. 51).
O prazer desnudo, descrito no capítulo do prazer como um dos primeiros acessos à experiência do paladar, se refere a uma experiência perceptiva movida por impulsos e necessidades não conscientes, de um prazer naturalizado e mimético comumente relacionado ao paladar infantil como uma forma de atuação da natureza na cultura. O paladar adulto, por sua vez, estaria mais intimamente relacionado aos aspectos culturais do indivíduo, mas impossibilitado de dissociar-se da dimensão vital e corpórea do paladar. Nesse aspecto “a cultura acompanha o prazer, o responsabiliza, desenvolvendo-o ao compartilhamento e à linguagem pública” (PERULLO, 2013, p. 103).
Para a gastronomia, o prazer e o apetite, apresentados como elementos intimamente relacionados, desmistificam a noção de um conceito promovido puramente por uma fantasia, desejo, criatividade ou por um aspecto nutricional. Desse modo, a construção do argumento para o discurso sobre o prazer é sempre relacional e situado na interação entre natureza e cultura.
O saber, por sua vez, apresentado no segundo capítulo, está relacionado a uma construção de identidade, estilo e a uma apreciação qualitativa e valorativa da experiência. A percepção, nesse entendimento, é orientada de forma consciente em busca de um prazer intensificado e está relacionada com os modos com que o indivíduo se reconhece e avalia os outros, como o exótico e o pertencimento, por exemplo. De modo geral, o saber se liga ao modo com que o indivíduo se comporta em relação ao objeto e aos acessos básicos que são acionados através do paladar por meio do conhecimento e da cultura.
O saber do paladar também pode ser entendido como uma forma de educação que busca ensinar uma linguagem capaz de expressar uma apreciação racional do que é ingerido. Normalmente, esse é um processo gradual que atua na dimensão dos aspectos perceptíveis e mensuráveis, capazes de esclarecer os esqueletos dos processos de qualidade. Contudo, o processo de valoração da qualidade é socialmente compartilhado e intimamente vivenciado. Assim, a volúpia de um impulso vital na relação estética é uma percepção especializada que perpassa a apreciação cultural (PERULLO, 2013). Os dois significados coexistem no espaço do paladar como experiência.
O terceiro capítulo traz considerações sobre a indiferença, que conceitualmente não está atrelada ao desgosto, nem à abstenção, tampouco à aversão ou à patologia. A indiferença é entendida como uma distração, uma falta de atenção ao fluxo da experiência perceptiva na qual não conjectura uma experiência estética e opera em uma falta de potência do sentir. A indiferença pode ainda estar relacionada a uma experiência arrebatadora do prazer que transcende a experiência do paladar. Perullo reforça ainda a importância do neutro na experiência, como o ato de beber água, que representa uma percepção de introjeção e não de um prazer culturalmente elaborado ou estético.
A sabedoria, tratada como último tópico na abordagem do autor, é entendida como a capacidade de reconhecer e compreender a partir de uma percepção estética a emergência, a pertinência e a concomitância dos acessos de saber, prazer e indiferença. Desse modo, a experiência alimentar acontece desfrutando ou conhecendo, sentindo prazeres instantâneos ou intelectuais. O paladar pode ser prazer quando desfrutado, conhecimento quando conhecido e neutro quando a relação gustativa se retrai. A sabedoria, por sua vez, é o controle e a capacidade de regulação desses dispositivos, acionados na relação do objeto com o ambiente.
A contribuição da obra O gosto como experiência está em tentar encontrar um meio de definir a complexidade do fenômeno do paladar através do aspecto estético. Compreender a percepção gustativa significa aceitar a complexidade do fenômeno que é cultural e biológico, individual e coletivo, efêmero e durável, além de construído em um cenário de mistura de forças heterogêneas. Tratar do gosto como experiência estética significa tratar de seus componentes e acessos disponíveis através de um processo de absorção e assimilação durante a experiência alimentar.
Referências
PERULLO, Nicola. O gosto como experiência: ensaio sobre filosofia e estética do alimento. São Paulo: SESI SP Editora, 2013.
Nicole Weber Benemann – Professora de Gastronomia da Universidade Federal de Pelotas; Mestranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas. E-mail: nikawb@gmail.com .
Ciência e arte: a trajetória de Lilly Ebstein Lowenstein entre Berlim e São Paulo (1910-1960) – CYTRYNOWICZ M; CYTRYNOWICZ R (HCS-M)
CYTRYNOWICZ, Monica Musatti; CYTRYNOWICZ, Roney. Ciência e arte: a trajetória de Lilly Ebstein Lowenstein entre Berlim e São Paulo (1910-1960). São Paulo: Narrativa UM, 2013. 238p. Resenha de: LACERDA, Aline Lopes de. Arte e técnica a serviço do conhecimento: as ilustrações científicas. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.22, n.3, July/Sept. 2015.
Art and technique at the service of knowledge: the scientific illustrations
Para uma abordagem reflexiva sobre os usos e funções de ilustrações nas atividades científicas, podem ser adotadas diversas perspectivas de análise. A mesma pluralidade de enfoques está presente nos estudos sobre o desenvolvimento do papel da representação figurativa como dispositivo didático na trajetória da ciência como campo de conhecimento.
É possível, por exemplo, investigar essa rica relação na perspectiva da avaliação do papel das imagens na produção e divulgação do conhecimento. Imagens tanto produzidas manualmente quanto provenientes dos principais dispositivos técnicos de representação visual disponíveis, principalmente a partir do século XIX. Em um passo adiante, é possível estudar a própria constituição de uma forma mediadora de alcance do conhecimento da ciência na sua dimensão propriamente visual, que se tornará permanente e irremediavelmente associada ao trabalho científico. Assim, as interconexões entre a escrita científica e as ilustrações que a acompanham são debatidas por linhas de estudos que discutem as dimensões artísticas, pedagógicas, de popularização e difusão do conhecimento científico conjugadas no exercício de ilustrar por meio de imagens. As funções das ilustrações parecem ser tema que gravita em torno dessas discussões (Fabris, Kern, 2006).
É possível também abordar as conexões entre ciência e arte numa perspectiva de desenvolvimento institucional do ofício do desenhista ou ilustrador científico. No caso do Brasil, o foco incidiria sobre a institucionalização da ciência no país, principalmente na última metade do século XIX e, sobretudo, durante o século XX, quando são formados e consolidados institucionalmente centros importantes de produção científica em várias áreas. Nesse processo, as práticas científicas são também desenvolvidas de forma a dotar os trabalhos do rigor e da excelência pretendidos. Certos ofícios são requeridos como peças fundamentais ao desenvolvimento dos próprios trabalhos científicos nos seus cenários principais – laboratórios e trabalhos em campo – e, fundamentalmente, para compor o discurso científico a ser registrado, traduzido figurativamente, utilizado como prova, divulgado, ensinado e, finalmente, arquivado. Todas essas funções estão embutidas na valorização, nos espaços edificados para o trabalho científico, na existência de setores de desenho, fotografia, cartografia e de profissionais habilitados para exercer a função de “tradutores” entre linguagens distintas.
E é igualmente possível refletir sobre o tema das ilustrações científicas a partir da reconstituição analítica de uma trajetória individual, cujo ator foi peça importante em sua área de atuação, com projeção e reconhecimento entre os pares e que tenha desenvolvido um trabalho constante, alinhado às questões maiores – institucionais, profissionais, estéticas, técnicas – que constituem o contexto do modo de exercer o ofício no seu tempo.
O livro Ciência e arte: a trajetória de Lilly Ebstein Lowenstein entre Berlim e São Paulo (1910-1960), de Monica Musatti Cytrynowicz e Roney Cytrynowicz, parte desta última forma de abordagem, mas articula elementos analíticos das três possíveis abordagens apresentadas acima. Tendo como mola propulsora o desejo da neta de Lilly Ebstein Lowenstein – e guardiã de sua memória – de reconstruir a trajetória da avó, o livro serve de veículo para o acionamento da lembrança no âmbito familiar e a transformação dessa lembrança em memória compartilhada por meio de pesquisa e análise dos registros que dão suporte empírico à narrativa analítica presente na obra.
No caso de Lilly, a essas dimensões das relações entre imagem e conhecimento científico que seu trabalho oferece como fonte vêm se somar aspectos singulares de sua trajetória. Imigrante alemã que chega ao Brasil em 1925, formou-se, ainda em Berlim, em escola para moças que oferecia estudo técnico e científico no campo do desenho, da fotografia e das técnicas operacionais envolvendo essas áreas. Ao mesmo tempo mulher, imigrante e portando as credenciais necessárias para atuar profissionalmente no campo da ilustração científica, se insere como profissional em instituições científicas renomadas no Brasil e conquista uma carreira reconhecida num espaço profissional predominantemente masculino. Nas palavras dos autores na introdução do livro,
a trajetória de Lilly Ebstein Lowenstein pode ser narrada sob várias perspectivas que se integram e se entrelaçam. A primeira delas é a de uma vida que sintetiza o percurso das mulheres nas primeiras décadas do século 20, período de consolidação da emancipação e do acesso ao estudo e às profissões técnicas em países como a Alemanha, onde Lilly realizou a sua formação … A trajetória de Lilly é também a de uma mulher profissional, entre a ciência e a arte, que se lançou à imigração no Novo Mundo e conquistou um lugar de reconhecimento social, profissional e intelectual … É também uma trajetória no mundo da ciência e da pesquisa científica (p.11).
Fartamente ilustrado, como era de esperar, o livro não se atém apenas à exploração dos desenhos e ilustrações produzidos por Lilly – todos de técnica e estética impecáveis – e articula bem diversos tipos de fontes provenientes de ampla pesquisa documental. Todos os registros transformados, por sua vez, em imagens que integram uma boa narrativa visual que, em paralelo ao texto escrito, contribui para dar forma ao todo, ao objetivo do livro, o de oferecer múltiplos caminhos de observação dessa trajetória permeada pela interpenetração de aspectos tão singulares.
Partindo de dois documentos pessoais da desenhista – sua certidão de nascimento e seu boletim escolar – a pesquisa documental articula registros provenientes de diversos locais que Lilly percorreu, num movimento de construção narrativa biográfica multifacetada do ponto de vista da exploração das fontes, o que é um ponto alto do livro.
O leitor acompanha os primeiros estudos de sua formação técnica, ainda na década de 1910, numa escola em Berlim que investe na formação sistematizada dos “fotomicrógrafos”. No capítulo dedicado à formação de Lilly na Escola Lette-Verein ficam evidentes as conexões do olhar instrumental valorizado pelo domínio dos novos dispositivos técnicos de captação de imagens – e a fotografia é o centro desse universo no período – com a área da medicina. Não bastava o domínio técnico de obtenção da imagem, era esperado também o entendimento mais profundo, pelo operador, do objeto a ser representado. Um pré-requisito na formação técnica era o conhecimento nas áreas biomédica e botânica para que o ilustrador científico entendesse o objeto que estivesse retratando. Em consequência, durante a sua formação na Alemanha, a desenhista é obrigada a conhecer anatomia, por exemplo, o que a torna representante de uma formação técnica com forte embasamento científico, aspecto que se reflete em seu trabalho. O livro explora bem o preparo e a formação pelas quais Lilly passou para ter destreza no ofício de fotomicrografia. As técnicas para a elaboração dos registros visuais variavam, passando por colorização manual de fotos, por produção de desenhos a partir de fotos etc. Era necessário, ainda, ter um domínio técnico sobre o uso de lentes, de revelação, bem como de formatos e suportes fotográficos.
Sua vinda para o Brasil e seu ingresso na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo em 1926 – onde em pouco tempo se projeta como a principal desenhista e fotomicrógrafa – ocorrem num contexto de transformação do próprio campo científico, consubstanciado no incremento de pesquisas básicas, de atividades em laboratório, preconizados por uma medicina experimental. Esse contexto de desenvolvimento dos trabalhos científicos em outras bases metodológicas confere valor ao desenho científico como atividade integrante da estrutura operacional das instituições de ciência. Segundo os autores do livro, na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo o desenho científico ganha novo status pelas publicações, nas quais servia a diversas cadeiras da faculdade, como anatomia descritiva e topográfica, anatomia patológica (parasitologia, microbiologia, embriologia, histologia, técnica cirúrgica, clínica cirúrgica etc.). Havia igualmente demanda por ilustrações nas teses defendidas.
Alguns detalhes ajudam a entender o processo de profissionalização de Lilly. O uso de créditos nos trabalhos é um deles. No período, era comum a ausência de créditos nas ilustrações. Em muitos casos, os próprios professores ou cientistas ilustravam seus trabalhos. Para os autores do livro, a presença de créditos nos trabalhos de Lilly, mesmo considerando a existência de trabalhos seus sem assinatura, é um indício de reconhecimento do desenho científico como atividade autônoma, conferindo a esse trabalho estatuto científico e profissional.
O trabalho se vale de pesquisa bastante minuciosa e ao mesmo tempo abrangente em termos de escolha de fontes e uso das informações obtidas. Por exemplo, os autores recorrem ao levantamento, no Diário Oficial da União, dos proventos recebidos nos cargos ocupados por Lilly no período – no caso, desenhista micrógrafo – para, numa análise comparativa com outros cargos na mesma instituição, inclusive de direção, aferir a importância da atividade pela remuneração a ela conferida (que era alta à época!).
Em relação às funções mais gerais atribuídas às ilustrações científicas, o livro levanta aspectos interessantes. Um deles é a centralidade que a imagem técnica assume como veículo dos registros, por se apresentar como um discurso visual mais objetivado, nos trabalhos científicos em todas as áreas. A fotografia, nesse sentido, considerada a reprodução exata e fidedigna do modelo, abre caminhos de descrição, de registro e de arquivamento bastante úteis ao método científico (Fabris, 2002, p.33). Mas e o papel do desenho nesse processo? Muito antes do advento das imagens técnicas, ele era o principal meio de representação. Se, por um lado, a representação claramente mediada pela mão humana se vê objeto de críticas na comparação com as novas formas de representação objetivas, por outro, nas ilustrações científicas, é ainda o desenho que desempenha determinados papéis didáticos e de divulgação de difícil transferência às fotografias, como o livro demonstra.
É interessante observar que a busca do “realismo instrumental” (Fabris, 2002, p.39), que impulsiona o uso das imagens fotográficas nos trabalhos científicos, não se impõe como conduta absoluta, uma vez em que nem sempre o “efeito de real” fazia face à performance requerida da representação visual nos inúmeros trabalhos desenvolvidos. Em algumas funções, as linhas dos desenhos foram facilmente substituídas por essas imagens mais realistas obtidas por contrastes de luz. Esse é o caso das imagens microscópicas que inauguraram a possibilidade de acesso ao que era imperceptível à visão humana ao mesmo tempo em que propiciavam o registro para o trabalho descritivo e analítico a partir dos elementos constitutivos do objeto retratado tornados realidade visualmente observável. Segundo Frizot (1998, p.276-277), “o progresso científico alcançado dependia não apenas do acesso ao invisível como também da transcrição do que foi feito visível opticamente – em termos de forma, diferença de material, limitações de substância – e sobre a explicação dessas diferenças”. Ao reter as qualidades do original, o registro fotográfico permitia a sua revisão e reinterpretação, funções caras ao métier científico.
Já o desenho, segundo Correia (2011), mantém algumas vantagens sobre as fotografias, principalmente nas funções didáticas – explicativas, de síntese ou de guia –, a partir da imagem de um objeto ou fenômeno cujo conhecimento se pretende transmitir. O objetivo da ilustração científica, notadamente do desenho, seria representar tipificando o objeto ou fenômeno, o “elucidativo/representativo” do objeto em causa, com vistas a facilitar o seu reconhecimento (Correia, 2011, p.228). Essa performance específica atingida pela ilustração manual fica evidente nas palavras do Dr. Mario Marco Napoli, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP e ali estudante entre 1941 e 1946, citado em depoimento no livro, “o desenho tem a vantagem de documentar com pormenores que interessam e era bem mais real do que a fotografia, que não atingia esse resultado. … O que vale na medicina é a documentação. Por mais que a gente descreva, nunca é como o desenho, que fala, demonstra” (p.105).
Especificidades à parte, desenhos e fotografias se uniam na busca pela construção do discurso científico num processo que também alimentava a articulação discursiva desses dispositivos como arquivos da ciência. No caso em questão, as ilustrações, segundo os autores do livro, seriam, portanto, “parte importante do projeto de consolidação do ensino na Faculdade de Medicina, já que as imagens sistematizavam as práticas e permitiam a sua reprodução com exata precisão, seja para a identificação de uma doença, seu diagnóstico, seja seu tratamento, sejam as cirurgias, o que era ensinado em aulas práticas nas quais os alunos observavam e participavam e, principalmente, nas pesquisas” (p.74).
Acompanhando a linha cronológica do livro, em 1934 a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo passa a fazer parte da Universidade de São Paulo, e, nesse processo, Lilly torna-se então funcionária da universidade. Nessa mesma época naturaliza-se brasileira. Em 1944 passa a colaborar profissionalmente para o Hospital das Clínicas, associado à Faculdade de Medicina. Torna-se chefe do Departamento de Desenho e Fotografia e ministra cursos preparatórios de assistentes de documentação científica em desenho e fotografia, num movimento de formação de mão de obra para o ofício. Envolve-se na atividade de ilustração de anatomia com o Dr. Alfonso Bovero, responsável pela cátedra de Anatomia na Faculdade de Medicina, passando a produzir trabalhos de ilustração para as pesquisas de Bovero, bem como de muitos de seus discípulos, utilizando o desenho e a fotomicrografia.
A partir da década de 1930, Lilly passa a colaborar com o Instituto Biológico de São Paulo, fundado em 1927 com vistas ao combate à broca do café. Tendo como primeiro diretor Arthur Neiva, o instituto passa a ter Lilly como ilustradora atuante para a sua seção de anatomia patológica, vinculada à Divisão Animal do instituto. Essa fase foi marcada sobretudo pela parceria que Lilly estabelece com o médico e pesquisador José Reis, atuante nos estudos da ornitopatologia. A função das ilustrações produzidas nesse trabalho era integrar folhetos impressos para distribuição a produtores rurais, com o objetivo de ilustrar procedimentos no trato com o controle de doenças na criação de animais. Nesse veículo científico encontravam-se conjugados os aspectos de “divulgação” de conhecimento acumulado nas pesquisas médicas do instituto; de “veículo pedagógico”, posto que os folhetos visavam informar o melhor procedimento e ensinar a sua reprodução no trato com os animais (desde a forma de criação dos animais, passando pela identificação dos sintomas das doenças, até a conduta a ser seguida no tratamento); e de “veículo de popularização” do conhecimento científico, uma vez que eram construídos esquemas, tanto de detecção de doenças quanto de formas de seu tratamento. Os desenhos cumpriam a função de descrever visualmente os métodos a seguir observando um público heterogêneo de criadores de animais, complementando a descrição textual com detalhes descritivos só possíveis de ser apreendidos por meio da narrativa visual. Interessante pensar na presença de um ideal de receptor para as ilustrações, orientando o desenhista na construção da representação visual a ser veiculada nos diferentes tipos de publicações, seja ela para públicos especializados, seja para públicos mais amplos. Sobre essa questão, a da consciência de um tipo de público a que se destina a publicação na própria idealização e produção do registro visual pelo artista, é interessante citarmos o trabalho de Oliveira e Conduru (2004. p.336-338), no qual afirmam que o uso cognitivo da imagem é sempre ligado à ideia de um leitor, de um perfil de consumidor da informação visualmente registrada. Todo um aparato sintático é articulado no sentido de produzir um discurso visual com objetivo claro: a representação deve manter com o referente uma relação de verossimilhança e, ao mesmo tempo, abordá-lo do ponto de vista de quem quer explicar mostrando. As formas figurativas podem ser variadas, mas a sua função nos trabalhos científicos é sempre caracterizar o objeto, restringindo as possibilidades de interpretações subjetivas num discurso que se pretende objetivado.
Lilly se aposenta em 1955, completando 29 anos de atividade na Universidade de São Paulo. Seu último e grande trabalho é o livro de anatomia topográfica de Odorico Machado de Souza, anatomista e professor da Faculdade de Medicina, intitulado Anatomia topográfica. Parte Especial. Membro Superior, de 1956. Os originais que serviram a essa publicação hoje estão reunidos em um álbum e, segundo os autores, se “constitui [n]o mais completo conjunto de desenhos originais de Medicina realizados por Lilly (p.155). Ainda segundo os autores, trata-se de um trabalho clássico de desenho de anatomia que se insere na tradição histórica de desenhos desse tipo produzidos desde 1543 pelo famoso anatomista Andreas Vesalius.
O livro dedica o último capítulo à discussão sobre o uso da fotomicrografia nos trabalhos científicos, técnica fotográfica de obtenção de imagens ampliadas que permite o registro das imagens captadas pelo microscópio. Seu uso nos trabalhos científicos significou a possibilidade de observação de detalhes de estruturas invisíveis à observação visual humana, tais como células e micróbios. Assim, um inventário visual de tecidos, culturas, peças anatômicas e outros elementos do trabalho científico era produzido graças à presença da fotografia nas etapas do trabalho científico, forjando uma nova fonte de demonstração de aspectos morfológicos desses elementos biológicos. Os autores do livro observam que a fotomicrografia torna-se peça central no estudo da bacteriologia, principalmente com os trabalhos de Robert Koch. Como já apontado, um aspecto marcante introduzido pelo uso sistemático de registros visuais com capacidade de reprodução e que vai ter impacto na própria dinâmica do trabalho científico é a incorporação da técnica fotográfica como instrumento tanto de registro dos processos de visualização demandados pelas próprias pesquisas quanto de documentação das etapas das atividades de trabalho, visando ao arquivamento e função de prova dos conhecimentos gerados pelos estudos, além da função propriamente ilustrativa e descritiva das imagens.
Por todos esses aspectos, e pelo prazer visual que o livro proporciona, é leitura recomendada aos que se interessam pelo desenvolvimento da atividade científica no Brasil, bem como aos que apreciam análises sobre as funções das representações visuais para campos profissionais específicos – numa linha de investigação histórica sobre os usos sociais de dispositivos de registro visual como a fotografia e o desenho, por exemplo.
Referências
CORREIA, Fernando. A ilustração científica: “santuário” onde a arte e a ciência comungam. Visualidades, v.9, n.2, p. 221-239. 2011. [ Links ]
FABRIS, Annateresa. Atestados de presença: a fotografia como instrumento científico. Locus, v.8, n.1, p. 29-40. 2002. [ Links ]
FABRIS, Annateresa; KERN, Maria Lúcia Bastos (Org.). Imagem e conhecimento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2006. [ Links ]
FRIZOT, Michel (Ed.). A new history of photography. Köln: Könemann Verlagsgesellschaft. 1998. [ Links ]
OLIVEIRA, Ricardo Lourenço de; CONDURU, Roberto. Nas frestas entre a ciência e a arte: uma série de ilustrações de barbeiros do Instituto Oswaldo Cruz. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.11, n.2, p. 335-84. 2004. [ Links ]
Aline Lopes de Lacerda – Chefe do Serviço de Arquivo Histórico, Departamento de Arquivo e Documentação/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. lacerda@fiocruz.br
Memória e História: possibilidades de investigação /Monções/2015
História Agrária / Revista Brasileira de História / 2015
O conjunto de textos que compõem o dossiê temático “História Agrária” da presente edição da Revista Brasileira de História expressa as várias interfaces que essa área temática adquiriu nas últimas décadas no Brasil. Aqui não se fazem presentes os temas clássicos das estruturas agrárias, da construção das paisagens e das relações de trabalho no campo, que tantas contribuições trouxeram para a compreensão da sociedade brasileira do passado. As colaborações reunidas apontam para novos e renovados campos da produção histórica como a História Indígena, a História do Direito e uma História Social atenta às concepções e interpretações que os diferentes grupos sociais faziam de sua relação com a terra e seus direitos de acesso a ela.
Do período colonial à contemporaneidade, o leitor encontrará artigos em que se analisa o protagonismo indígena, as distintas concepções acerca do direito de propriedade da terra que manejam diversos grupos sociais e indivíduos, e a instituição, execução e resultados de políticas agrárias e fundiárias em variados contextos.
Vânia Maria Losada Moreira, em “Territorialidade, casamentos mistos e política entre índios e portugueses” aborda a ação indígena no contexto de aplicação do Diretório Pombalino, em vilas de índios do Espírito Santo. Contra as arremetidas dos brancos que arrendavam suas terras, a autora demonstra como os indígenas inverteram a lógica do projeto político assimilacionista, segundo costumes e interesses próprios, “mobilizando os casamentos entre mulheres indígenas e consortes portugueses ‘pardos’ e ‘brancos’ com vistas a manter o controle sobre suas terras e o modus vivendi local”.
Carmen Margarida Oliveira Alveal, em seu artigo “De senhorio colonial a território de mando: os acossamentos de Antônio Vieira de Melo no Sertão do Ararobá (Pernambuco, século XVIII)”, baseia-se nas noções de “senhorio colonial” e “território de mando” para analisar a atuação do sesmeiro de uma grande área e o domínio que exercia sobre a população local com a ajuda de uma milícia indígena, provocando denúncias e reações da Coroa.
Em “O Engenho da Rainha: feixes de direitos e conflitos nas terras de Carlota (1819-1824)”, Márcia Maria Menendes Motta perscruta diferentes concepções do direito de propriedade vigentes a partir de um litígio de terras entre membros da elite local do Rio de Janeiro e Carlota Joaquina, na conjuntura política específica da independência do Brasil e da promulgação de novos diplomas jurídicos como a Constituição portuguesa de 1822 e a brasileira de 1824.
Em “Lei de Terras de 1850: lições sobre os efeitos e os resultados de não se condenar ‘uma quinta parte da atual população agrícola'”, Marcio Antônio Both da Silva discute as interpretações de que a lei teria sido “letra morta” e defende que, em uma mirada mais ampla temporalmente, ela surtiu efeitos duradouros quanto à instituição da concepção de propriedade absoluta no Brasil.
Já Almir Antonio de Souza em seu artigo “A Lei de Terras no Brasil Império e os índios do Planalto Meridional: a luta política e diplomática do Kaingang Vitorino Condá (1845-1870)” desvela a eficiente atuação política de uma importante liderança Kaingang do sul do Brasil na defesa de terras indígenas, ao mesmo tempo em que aborda as ações do governo imperial no avanço da ocupação do território oeste das províncias do Paraná e Santa Catarina, e sua política com relação aos índios da região.
No outro extremo do país, Edson Holanda Lima Barboza com seu texto “Retirantes cearenses na província do Amazonas: colonização, trabalho e conflitos (1877-1879)” estuda a destinação dada aos migrantes cearenses, produto da grande seca desses anos: colônias agrícolas, construção da ferrovia Madeira-Mamoré e os seringais. De iniciativa do governo provincial, as diversas colônias chegaram a congregar quase cinco mil trabalhadores, mas rapidamente fracassaram em seu objetivo de abastecimento da capital amazonense.
Por fim, “A ‘reforma agrária assistida pelo mercado’ do Banco Mundial na Colômbia e no Brasil (1994-2002)”, de autoria de João Márcio Mendes Pereira e Darío Fajardo, coloca em confronto duas experiências de reforma agrária de países com elevados índices de concentração fundiária. A colombiana foi a primeira a ser implementada a partir das formulações do Banco Mundial nos anos 1990, logo seguida por várias na Ásia, África e Américas. Os autores apontam os limites e “contradições insolúveis” da aplicação da proposta, fundada no “neoinstitucionalismo neoclássico”.
Helen Osório – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS – Brasil. E-mail: hosorio@via-rs.net
OSÓRIO, Helen. Apresentação. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.70, jul. / dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
Oitocentos | SÆCULUM – Revista de História | 2015
O ano de 2015 tem sabor especial para a revista Sæculum, porque estamos justamente completando 20 anos de nosso periódico, cuja história foi permeada por percalços e muitas alegrias. A principal delas deve-se ao esforço coletivo de professores do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e dos professores vinculados ao Programa de Pós-Graduação História que também completa dez anos de existência.
Em meio a um clima de comemorações escolhemos uma nova organização editorial para a revista, em números temáticos que se alternarão com edições de artigos livres. Para a presente edição, o número temático tem por mote os Oitocentos, com o objetivo dar visibilidade aos esforços empreendidos pelos grupos de pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste e História da Educação no Nordeste Oitocentista, ambos alocados no PPGH da UFPB, assim como estimular o diálogo com os pesquisadores dedicados a esse período histórico em outros centros de pesquisa. Leia Mais
Cartas | Fênix – Revista de História e Estudos Culturais | 2015
“Meus escritos tratam de você, neles eu expunha as queixas que não podia fazer no seu peito”.
Franz Kafka, Carta ao Pai.
Do trecho da carta de Kafka insurgem alguns dilemas: ao procurar desvelar o íntimo, a introspecção, ao se acessar o privado empreendendo um mergulho naquilo que foi escrito um dia sem a pretensão de se tornar público, o historiador busca revelar algo novo ou fazer desaparecer o autor? Uma carta é um acerto de contas consigo e com o outro ou uma demonstração do apagamento do sujeito na escrita? Um texto íntimo, de alguém absorto em seu mundo subjetivo, carrega as angústias, dilemas, alegrias e medos ou é um documento inventariando pedaços de um sujeito que é construído com entulhos? Enfim, uma carta é uma revelação ou fuga de si?
O Dossiê Cartas, proposto pelos professores Dr. Francisco Alcides do Nascimento e Dr. Frederico Osanam Amorim Lima, tem como propósito refletir sobre estas e outras questões atinentes ao universo multifacetado da produção de si e do outro a partir das cartas. Trata-se, portanto, de dar visibilidade a um tipo de documento que mereceu destaque na historiografia só muito recentemente, sobretudo com a publicação de livros disponibilizando cartas de artistas, escritores, políticos, educadores, entre outros.
Ao dar evidência a este tipo de produção escrita, os organizadores esperam contemplar aspectos de uma História que mistura certa invasão no universo das subjetividades ao mesmo tempo em que celebra a possibilidade de entender o homem dentro de uma dimensão plural e, por vezes, contraditória. As cartas, neste sentido, oportunizam um deslocamento do olhar do historiador para a esfera privada, das emoções, dos olhares e sentidos que escapam à construção pública dos sujeitos.
Foi partindo destas questões que seis historiadores se debruçaram sobre o universo epistolar para produzir este Dossiê Cartas. São eles/elas: Ana Cristina Meneses de Sousa Brandim (UESPI), Audrey Maria Mendes de Freitas Tapety (PUC-SP), Durval Muniz de Albuquerque Jr. (UFRN), Francisco Alcides do Nascimento (UFPI), Frederico Osanam Amorim Lima (UFPI) e Yvone Dias Avelino (PUC-SP).
Esperamos que o Dossiê favoreça o desdobramento de discussões metodológicas, teóricas e revele novas fontes para os historiadores e pesquisadores dos relatos que são, por excelência, íntimos.
Boa leitura a todos.
Organizadores
Francisco Alcides do Nascimento – Doutor pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Associado IV / Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI. E-mail: falcide@uol.com.br
Frederico Osanam Amorim Lima – Professor Adjunto II da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Doutor em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E-mail: frederico.osanan@hotmail.com
Referências desta apresentação
NASCIMENTO, Francisco Alcides do; LIMA, Frederico Osanam Amorim. Apresentação. Fênix – Revista de História e Estudos Culturais. Uberlândia, v.12, n.2, jul./dez. 2015. Acessar publicação original [DR]
Federalismo e políticas públicas no Brasil – HOCHMAN; FARIA (HSC-M)
HOCHMAN, Gilberto; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Federalismo e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. Resenha de: LOTTA, Gabriela Spanghero. Federalismo e políticas públicas: abrangências e convergências temáticas desse campo de estudos no Brasil. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 n.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2015.
Nos últimos anos, a área de políticas públicas no Brasil tem tido um grande crescimento, tanto em termos de cursos de formação (graduação e pós-graduação) como na produção científica (livros, artigos, congressos). Esse crescimento responde, em grande medida, à expansão da importância que o Estado tem ocupado na produção de políticas públicas pós-Constituição Federal de 1988. No entanto, como já aponta a literatura, até recentemente sabíamos muito pouco a respeito do Estado brasileiro – sua estrutura e funcionamento (Hochman, Arretche, Marques, 2007; Souza, 2006). O desenvolvimento recente da literatura tem se aprimorado em apresentar e analisar a complexidade de elementos que constituem e estão relacionados ao Estado brasileiro, considerando suas particularidades em termos históricos, institucionais e de atores envolvidos, bem como suas relações com o sistema político e com a sociedade.
Um dos temas relevantes ressaltados pela literatura nestes últimos anos é o do federalismo, que tem apresentado como variável importante para explicar o funcionamento do Estado e a produção de políticas públicas, especialmente após as inovações que a Constituição Federal de 1988 propôs ao desenho federativo brasileiro.
Ao longo das últimas duas décadas, o federalismo se tornou um tema caro tanto aos cientistas políticos mais tradicionais – buscando compreender aspectos político-partidários – como para os analistas de políticas públicas – observando como as dinâmicas e resultados das politicas são condicionados pelo desenho e funcionamento do federalismo. Nos últimos anos, por exemplo, essa literatura já produziu autores consagrados e correntes analíticas em diversas discussões concernentes ao tema do federalismo, como, por exemplo, processos de centralização e descentralização, relações federativas, competências federativas, influência dos partidos nas dinâmicas federativas, entre outros.
Essa mesma literatura tem cada vez mais apontado a interferência do federalismo nas políticas públicas, observando como o desenho e a dinâmica específicas do federalismo brasileiro são relevantes para compreender os resultados dessas políticas. No entanto, embora a literatura reconheça a relação entre federalismo e políticas públicas, esse é um campo que ainda merece bastante aprofundamento, seja em termos de estudos setoriais, seja na análise de casos específicos ou na identificação de padrões processuais que se vêm constituindo no recente período pós-1988.
É na contribuição a esse campo que se situa a recente publicação de Federalismo e políticas públicas no Brasil (organizado por Gilberto Hochman e Carlos Aurélio Pimenta de Faria). O livro busca “divulgar estudos que têm o potencial de redirecionar as pesquisas na área, contribuir para o seu fortalecimento no campo de análise de políticas públicas no Brasil” (p.11). Os 12 trabalhos que o compõem foram selecionados, em parte, de artigos integrantes do Grupo de Trabalho de Políticas Públicas da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), coordenado pelos organizadores do livro entre 2007 e 2009, e, em parte, encomendados a reconhecidos especialistas na discussão de federalismo que, ou escreveram textos originais, ou revisaram e atualizaram artigos já publicados. E, como afirmam os organizadores na apresentação, “reunidos em livro, esses artigos ganharam novos sentidos e promovem inovadores e originais diálogos com a produção intelectual em políticas públicas” (p.11).
A obra é organizada em quatro partes, cada uma com três capítulos de diferentes autores e que guardam em comum, em grande medida, apenas os grandes temas abordados, visto que o recorte do objeto, a seleção de variáveis e metodologias variam internamente às partes.
A primeira delas busca compreender o processo de constituição e reforma do federalismo brasileiro. Nesse sentido, o federalismo se torna o objeto a ser explicado, compreendido por meio de análise comparativa das suas instituições (Rocha), por meio das regras que alteram a dinâmica do processo decisório (Arretche) ou por meio da produção de regras que alteram o próprio desenho do federalismo (Souza).
A segunda parte busca compreender as interfaces entre federalismo, competição eleitoral e políticas públicas. Para tanto, os artigos se valem de análise das regras do federalismo e do sistema político para compreender o desenho das políticas públicas (Borges), da análise do impacto das regras do federalismo e da dinâmica partidária e suas consequências para a dinâmica das políticas públicas (Ribeiro) e da análise do modo como as regras do federalismo, entre outras variáveis, impacta o processo de difusão de políticas públicas (Coelho).
A terceira parte é voltada para o tema da cooperação intergovernamental, buscando compreender como o desenho federativo brasileiro incentiva ou constrange ações de coordenação (Faria e Machado; Machado) e, por outro lado, como incentivos e punições podem e são estabelecidos para induzir mais coordenação e cooperação entre as partes (Sano e Abrucio; Machado).
A quarta e última parte analisa aspectos específicos de políticas setoriais, com ênfase em saúde, assistência social e educação. Os textos buscam analisar as relações entre políticas e federalismo, compreendidas como processos que se desenvolvem no tempo e no espaço (Hochman) e que são influenciadas por desenhos, mecanismos institucionais e comportamentos específicos que impactam a coordenação e descentralização (Costa e Palotti, Franzese e Abrucio).
Embora o federalismo seja o objeto comum que une todos os capítulos, o livro é marcado por uma grande diversidade – o que, por si só, já é uma das riquezas para os leitores que buscam adentrar o campo das discussões sobre federalismo. É, podemos dizer, quase um “mapa da mina” a respeito do que se tem produzido no Brasil sobre o tema nos últimos anos. Isso porque, como já se ressalta no objetivo acima apontado, o livro apresenta múltiplas perspectivas analíticas sobre o federalismo. Nesse sentido, além de conhecer múltiplas formas de se olhar para esse objeto, o leitor será apresentado a diferentes metodologias (qualitativas e quantitativas, e com técnicas variadas); diferentes enfoques analíticos (análise de instituições, análise histórica, análise de atores); distintos casos (análise de municípios, regiões metropolitanas, governos estaduais e federal, e análise comparada de diferentes governos federais); distintos setores (educação, saúde, assistência social, transferência de renda) e, especialmente, diferentes conclusões sobre a relação entre políticas públicas e federalismo.
Além disso, há diversidade inclusive na maneira como se busca analisar o federalismo: embora, na maioria dos capítulos, ele apareça como uma variável explicativa para os resultados ou dinâmicas das políticas públicas, em alguns textos o próprio federalismo é apresentado como a variável dependente, explicada por outros condicionantes históricos ou institucionais. Desse trabalho se conclui o quanto o desenho federativo brasileiro é único e diferenciado, ao contrário do que a literatura internacional sugeria como resultados esperados a partir de seu desenho.
Em seu conjunto, são basicamente três as questões que todos os capítulos buscam responder, embora com enfoques e graus distintos: (1) quais as características específicas do federalismo brasileiro – não apenas em termos de regras formais, mas também de atores que o compõem e dinâmicas que lhe dão vida; (2) que fatores explicam as origens e alterações desse desenho específico de federalismo brasileiro; (3) quais as consequências dessas características para as dinâmicas e os resultados das políticas públicas.
E é nas distintas formas de responder a essas questões que Federalismo… prima por apresentar ao leitor um profundo e variado panorama dos estudos sobre o tema no Brasil. Ao final do livro, o leitor poderá chegar a interessantes conclusões tanto a respeito do desenho e funcionamento do federalismo brasileiro como da literatura nacional – questões essas que sinalizam relevantes pontos para uma agenda futura de pesquisas.
Com relação ao federalismo brasileiro, o leitor terá como conclusão – e essa é uma das maiores contribuições do livro – que a compreensão dos resultados das políticas públicas prescinde de uma análise do desenho e da dinâmica do federalismo brasileiro (tanto elementos mais gerais como setoriais). A segunda grande conclusão é de que o oposto também é verdadeiro, ou seja, se não dá para entender os resultados das políticas sem olhar para o desenho federativo, também não dá para entender o desenho e o funcionamento do federalismo brasileiro sem compreender a natureza e a história das políticas públicas.
Nesse sentido, conclui-se, de forma geral, a partir do livro, que o “federalismo brasileiro” não é uma categoria estanque: ela se concretiza de diferentes formas, considerando-se as especificidades de cada setor, política ou momento histórico. E isso pode ser observado analisando-se as regras diversas, a história, a dinâmica dos atores e a dinâmica do sistema político eleitoral. Essas múltiplas possibilidades analíticas são, inclusive, parte importante das conclusões da obra.
Com relação às contribuições que o livro traz para a literatura, em primeiro lugar, ficará clara ao leitor a importância da construção de uma literatura nacional a respeito do federalismo, que analise suas características específicas e diferenciadas de outros modelos existentes no mundo. Como apontam alguns dos capítulos, embora a literatura internacional sobre o funcionamento dos sistemas federativos já tenha avançado em traçar comparações amplas e derivar as consequências das especificidades, há algumas características presentes no desenho e na dinâmica federativa brasileira que devem ser vistas cuidadosa e especificamente. Dessa conclusão se deriva uma agenda de pesquisas a ser ainda complementada no Brasil: a análise de mais setores, casos e enfoques específicos, que, em seu olhar de conjunto, permita à literatura nacional extrair retratos mais abrangentes e aprendizados gerais a respeito das especificidades brasileiras, em comparação a casos e à literatura internacional.
Em segundo lugar, o livro permite perceber que o campo de estudos sobre federalismo é amplo e vasto, mas ainda tem potencial para desenvolvimento de estudos originais. Isso porque, como se demonstra pela somatória de capítulos, as abordagens ainda são muito distintas entre si, permitindo que se explorem as interconexões entre elas e, ao mesmo tempo, especificidades de campos e setores que ainda foram pouco analisados pela literatura. Se, por um lado, alguns capítulos primam por realizar análises abrangentes e tirar conclusões mais gerais sobre o desenho e funcionamento do federalismo brasileiro, por outro lado, há capítulos que mostram que a análise das especificidades setoriais ou em relação a entes federativos é imprescindível para uma compreensão mais acurada do campo. Essa percepção é também mais uma contribuição à construção da agenda nacional de estudos do federalismo: o aprofundamento e complementação de estudos específicos e sua convergência em análises mais gerais.
Em terceiro lugar, percebe-se que há um potencial analítico ainda a ser aprofundado por estudos que analisem o federalismo numa perspectiva histórica mais ampla. Embora a Constituição Federal de 1988 seja um marco central para compreensão do desenho e funcionamento atual do federalismo, alguns dos trabalhos presentes no livro demonstram que a compreensão do momento atual só pode ser explicada olhando-se para períodos anteriores à Constituição. Trazer essa visão histórica mais abrangente é um ponto fundamental à literatura nacional, especialmente aos estudos ainda voltados para analisar casos específicos olhando apenas para o período pós-1988.
Em quarto lugar, fica evidente que a análise das instituições é um ponto fundamental para os avanços de estudos sobre o federalismo na literatura nacional. No entanto, como alguns dos capítulos demonstram, também é evidente a importância de integrar outros elementos e fatores à análise do federalismo – como fatores simbólicos, fatores político-eleitorais, análise de atores etc. – elementos que se tornam centrais para o aprimoramento da agenda nacional de estudos sobre o tema.
Como se pode perceber a partir da leitura do livro e de uma análise dos trabalhos sobre federalismo no Brasil, embora esse campo já tenha um importante e reconhecido acúmulo de estudos, há ainda um grande potencial a ser desenvolvido, fruto da própria complexidade do objeto analisado – o federalismo – e das múltiplas facetas nas quais ele se concretiza nas políticas públicas brasileiras. A diversidade contida no livro apenas reflete a diversidade analítica desse objeto e seu potencial para ser explorado nas mais diversas abrangências, perspectivas e metodologias. Assim, ao mesmo tempo em que o federalismo se apresenta como um profícuo objeto, com elementos ainda a explorar, tem sua importância reforçada, dada sua capacidade já reconhecida de interferir e explicar resultados de políticas públicas.
Referências
HOCHMAN, Gilberto, ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Org.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz. 2007. [ Links ]
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, n.16, p.20-45. jul.-dez. 2006. [ Links ]
Gabriela Spanghero Lotta – Professora, Bacharelado em Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas/Universidade Federal do ABC. gabriela.lotta@ufabc.edu.br
In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region – GARFIELD (HCS-M)
GARFIELD, Seth. In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region. Durham; London: Duke University Press, 2013. 368p. Resenha de: VITAL, André Vasques. Associações de agentes humanos e não humanos em perspectiva global na construção da Amazônia brasileira. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 n.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2015.
Lançado nos EUA em 2013, In search of the Amazon é o segundo livro do historiador Seth W. Garfield, professor do departamento de história da University of Texas at Austin. Garfield possui vários artigos lançados sobre temas que envolvem a Amazônia e a política indigenista brasileira na Era Vargas (1930-1945). Seu livro anterior foi traduzido para o português e lançado no Brasil em 2011 pela editora da Unesp com o título A luta indígena no coração do Brasil: política indigenista, a marcha para o oeste e os índios Xavante (1937-1988). O livro ora resenhado, no entanto, ainda não tem previsão de lançamento em português no Brasil.
In search of the Amazon analisa as redes constituídas por instituições, indivíduos, objetos e fenômenos no Brasil e EUA durante a Segunda Guerra Mundial que favoreceram uma série de processos que conformaram a paisagem amazônica e os modos de vida na região. Natureza e política não estão separadas nessa análise, que se constitui tanto como trabalho de história política quanto de história ambiental, embora o autor enfatize o seu afastamento em relação a referenciais teóricos da história ambiental. O aporte teórico-metodológico da obra baseia-se na noção de mediadores e redes compostas pela associação de humanos e não humanos, coprodutores de naturezas e sociedades. Trata-se do conceito de agência dissolvida entre humanos e não humanos do sociólogo da ciência Bruno Latour. Ao longo de cinco capítulos, seguidos de um epílogo, seringueiros, seringalistas, políticos brasileiros, produtos manufaturados de borracha, flagelados da grande seca na região Nordeste de 1941-1943, agências estatais brasileiras e norte-americanas, indústrias de borracha sintética dos EUA, políticos em Washington e outros emergem na obra enquanto protagonistas das transformações sociais e ambientais na Amazônia durante a Batalha da Borracha (1942-1945).
No primeiro capítulo é analisada uma conjunção de fatores de ordem interna e externa, que levaram o Estado brasileiro a realizar investimentos na Amazônia e adotar medidas visando à colonização e ao desenvolvimento econômico da região durante o Estado Novo (1937-1945). O aumento da demanda interna e externa por borracha devido ao estabelecimento de indústrias multinacionais de pneus em São Paulo e pela entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial foi entendido como uma nova oportunidade para a integração nacional da Amazônia. Longe de ser um objetivo novo, o autor aponta que a preocupação com o domínio estatal da região amazônica e sua transformação (de terra “selvagem” e abandonada para “civilizada” e fonte de riquezas para a nação) era uma questão antiga, já pensada e tentada ao longo dos séculos, desde o período colonial português. As principais diferenças das políticas implementadas pelo Estado Novo estavam na ênfase desenvolvimentista, que pregava a conquista da terra, o domínio das águas, a subjugação da floresta, ou seja, uma intervenção em larga escala para a reconstrução socioambiental da Amazônia.
Ainda no mesmo capítulo é destacado o papel de diversos agentes mobilizados pelo Estado visando à reconstrução da paisagem amazônica durante o Segundo Ciclo da Borracha. Oficiais militares, médicos sanitaristas, engenheiros, agrônomos, biólogos, geógrafos, literatos, cineastas e a máquina de propaganda do Estado Novo voltaram-se para a Amazônia, buscando sua remodelação material e imagética, dando caráter nacionalista à missão de seu desenvolvimento. O autor também destaca o papel das elites seringalistas no pacto oligárquico que, na prática, conformou os limites das políticas de Estado na Amazônia. Conhecedores do ecossistema local e associando essa condição à legitimidade política, as elites locais foram parte ativa no processo de transformação da paisagem amazônica.
O capítulo dois parte dos desdobramentos da drástica perda de suprimento de borracha dos EUA, com a invasão japonesa à península da Malásia, para analisar o histórico aumento da dependência social e política norte-americana a objetos feitos com látex. Essa dependência gerou a busca pela borracha da Amazônia e, ao mesmo tempo, intensificou diversos debates sobre modernidade e identidade nacional nos EUA. Contendo em torno de três mil peças de borracha, os automóveis ganharam cada vez mais espaço nos EUA ao longo das primeiras décadas do século XX, transformando as comunicações, a produção, o comércio, a saúde e a sexualidade dos indivíduos. A borracha, por meio do seu uso nos automóveis, tornou-se parte da vida humana, símbolo da modernidade e do progresso, além de ter fundamental importância na produção de material bélico. O início da Segunda Guerra Mundial gerou uma corrida pela estocagem de borracha por parte do governo norte-americano e da iniciativa privada das grandes empresas de borracha manufaturada, provocando tensões entre esses agentes. Diante da falta de suprimentos, as discussões no Congresso americano culminaram com a decisão de investir na importação de borracha vinda da Amazônia e no incentivo ao desenvolvimento de borracha sintética a partir de derivados do petróleo, de modo a acabar com a dependência externa. Em março de 1942, Brasil e EUA assinaram os “Acordos de Washington”, prevendo diversos investimentos em infraestrutura, suporte técnico, sanitário e militar no país e em especial na Amazônia, em troca de suprir a demanda norte-americana e de apoio contra a Alemanha. Os acordos previam também reestruturar o sistema de trabalho nos seringais, buscando promover bem-estar social aos seringueiros, mas Garfield enfatiza como as elites amazônicas, além de políticos e empresários conservadores dos EUA buscaram frear quaisquer intervenções estatais nos meios de produção.
O terceiro capítulo analisa o esforço binacional de prover a mão de obra necessária para a extração de borracha na Amazônia e modificar qualitativamente o perfil do seringueiro e sua relação com o meio ambiente, de modo a aumentar a produtividade nos seringais. Apontada como indolente e fisicamente degenerada, a população da Amazônia era vista como inapta para maximizar a produtividade. Após debates e propostas entre o governo brasileiro e o norte-americano, optou-se mesmo pelo incentivo à migração de pessoas vindas do interior dos estados do Nordeste brasileiro, como aconteceu no Primeiro Ciclo da Borracha. O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para Amazônia (Semta) ficou encarregado de promover a migração, selecionando os trabalhadores de acordo com o biótipo e as condições de saúde, dando assistência aos migrantes durante o trânsito. O autor analisa as estratégias de mobilização com o uso das mídias (jornais, revistas ilustradas, cinema e rádio), o apoio dado pela Igreja católica e o surgimento da expressão “soldado da borracha”, com a associação do seringueiro à defesa nacional brasileira e à liberdade do mundo diante da ameaça hitlerista. Garfield também analisa nesse capítulo o fracasso das tentativas dos governos brasileiro e norte-americano em padronizar as relações de trabalho nos seringais, que, na prática, mantiveram-se da mesma forma como ocorriam no Primeiro Ciclo da Borracha, por força das elites locais.
O capítulo quatro analisa, a partir das perspectivas política, social, econômica e cultural, as condições dos migrantes e famílias do interior do estado do Ceará e suas estratégias frente à grande seca de 1941-1943 e aos incentivos estatais de ida para a Amazônia. O autor destaca a crise econômica que se abateu sobre a região, as políticas públicas destinadas a minorar as condições de miséria das populações do interior, a ida de cearenses para a Amazônia, Minas Gerais e São Paulo, além do papel tanto dos incentivos estatais quanto das redes de transporte e informação na escolha dos migrantes pelo trabalho nos seringais. Cartas trocadas entre amigos e familiares, histórias de riquezas conquistadas e mortes trágicas durante o Primeiro Ciclo da Borracha, além da literatura de cordel, ajudaram na conformação do imaginário cearense sobre a floresta, levando muitos a optar pela longa travessia rumo aos seringais.
O último capítulo analisa como as autoridades brasileiras e norte-americanas, seringalistas e seringueiros, cada um com suas visões e projetos de poder, conformaram populações e paisagens na Amazônia. O Segundo Ciclo da Borracha favoreceu investimentos norte-americanos e brasileiros na região, dotando-a de infraestrutura, como aeroportos, rede de assistência à saúde nas principais cidades e políticas de bem-estar social. No entanto, os prejuízos advindos da suspensão dos trabalhos de extração no período de cheia dos rios, o fortalecimento das indústrias de borracha sintética e a própria dificuldade de intervir nos meios de produção na Amazônia levaram ao gradual rompimento dos acordos de cooperação por parte do governo dos EUA a partir de fins de 1943. Os seringalistas, remanescentes do Primeiro Ciclo da Borracha, economicamente conservadores e descrentes em relação ao discurso nacionalista do governo brasileiro, esforçaram-se por manter o antigo sistema de aviamentos, promoveram fraudes no sistema de crédito e contrabando, e desrespeitaram os contratos de trabalho assinados entre os seringueiros e órgãos do governo federal. Céticos de que o novo boom da borracha duraria, trabalharam para potencializar seus lucros, desafiando os ditames dos Estados e do mercado com o poder político advindo do controle da força de trabalho e do conhecimento que tinham do ambiente amazônico. Coube aos seringueiros desenvolver suas próprias estratégias individuais na floresta, o que incluiu o engajamento em outras atividades, a cobrança de indenizações na justiça e o uso do termo “soldado da borracha” na luta por reconhecimento e pensão na condição de ex-combatentes.
O epílogo analisa como o espaço amazônico foi sendo reconstruído em termos materiais e políticos nas décadas seguintes, especialmente durante o regime militar até a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Garfield analisa brevemente como a Amazônia, novamente palco de projetos desenvolvimentistas durante o regime militar, virou alvo de atenção transnacional devido à emergência dos movimentos ambientalistas e da percepção de necessidade de conservação da floresta para evitar drásticas mudanças climáticas globais. Frente a esses movimentos transnacionais, os seringueiros tiveram a oportunidade de repensar suas identidades e formas de representação, aliando-as a práticas tradicionais que preservavam a floresta, em contraposição ao avanço da fronteira agrícola, que promovia a devastação, potencializando a violência e a marginalização dos extrativistas remanescentes.
Não é difícil para o pesquisador que trabalha com história da Amazônia e deseja utilizar a noção de agência dissolvida ou agenciamento recíproco entre humanos e não humanos conseguir empreender de fato esse modelo de análise. Trabalhar com história da Amazônia é vantajoso nesse sentido por ser difícil separar cultura e natureza nesse extenso espaço aquático e florestal (Leonardi, 1999, p.15). Nesse sentido, a obra de Garfield tem êxito em empreender uma análise que efetivamente combina associações que transgridem fronteiras entre o local, o nacional e o global, bem como o arcaico e o moderno, o social e o natural, seguindo os conselhos de Latour (1994) e lançando interessante contribuição para uma história ambiental transnacional (White, 1999). Justamente pelo esforço do autor em agregar diversos agentes conformadores das transformações da Amazônia durante o Segundo Ciclo da Borracha, emerge na leitura a pouca visibilidade dos povos indígenas em sua análise. As experiências desses povos foram fundamentais para o conhecimento que os seringalistas adquiriram do ambiente amazônico, possuindo intensa presença na sua conformação socioambiental (Ranzi, 2008, p.71-98).
O livro, no entanto, torna-se referência importante para pesquisadores que analisam tanto o Segundo Ciclo da Borracha quanto o primeiro, já que lança luz sobre as continuidades entre esses dois ciclos. De agradável e fácil leitura, também tem potencial de ser apreciado por leitores em geral, que se interessem pela história da Amazônia.
Referências
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34. 1994. [ Links ]
LEONARDI, Victor. Os historiadores e os rios: natureza e cultura na Amazônia brasileira. Brasília: Paralelo 15; Editora UNB. 1999. [ Links ]
RANZI, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre. Rio Branco: Edufac. 2008. [ Links ]
WHITE, Richard. The nationalization of nature. The Journal of American History, v.83, n.3, p.976-986. 1999. [ Links ]
André Vasques Vital – Doutorando, Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. vasques_hist@yahoo.com.br
A história da poliomielite – NASCIMENTO (HCS-M)
NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. A história da poliomielite. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 416p. Resenha de: FARIA, Lina. Poliomielite: várias histórias da doença e de seus efeitos tardios. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 n.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2015.
Proteger uma criança da pólio é tão fácil quanto protegê-la da chuva: trata-se de colocá-la sob o equivalente médico de um guarda-chuva. Kofi Annan (Salgado, 2003).
Ao discutir a luta contra a poliomielite no Brasil, a obra A história da poliomielite, organizada pela pesquisadora da Fiocruz Dilene Raimundo do Nascimento, traz alguns capítulos sobre o enfrentamento da doença no Peru (Marcos Cueto et al.), Portugal (Inês Santos), Espanha (Juan Rodríguez Sánchez) e Paquistão (José Verani). No Brasil (Dilene Nascimento, André Campos, Ângela Pôrto) e nos outros países, o livro aborda, entre vários temas, as questões correlatas de “controle e erradicação” da pólio, a evolução das campanhas e dos resultados obtidos, os distintos contextos sanitários e a eficácia ou o fracasso das políticas sanitárias postas em prática em cada país.
Dividido em quatro partes, o livro constrói uma narrativa histórica e analítica do ambiente da saúde nacional e internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Chama a atenção para a formulação e execução de políticas de saúde que foram postas em ação e que tinham como meta a erradicação da doença – as estratégias nacionais de combate; o desenvolvimento de técnicas laboratoriais para diagnóstico; as campanhas de vacinação, que buscavam mudar o quadro da poliomielite no Brasil e no mundo.
Os debates tiveram início nas primeiras décadas do século XX, quando a enfermidade passou a se manifestar sob forma epidêmica em várias partes do mundo. A epidemia assolou tanto países ricos, como os EUA, a Inglaterra e a Suécia, quanto países periféricos, como a Índia, a Somália, a República Democrática do Congo, o Paquistão e o Sudão. Cada vez mais incontrolável e destrutiva, fazia vítimas fatais e deixava milhares de crianças e adultos paralisados.
Médicos e autoridades sanitárias desconheciam por que caminhos a pólio se disseminava: os caminhos eram difíceis de ser previstos; a doença, difícil de ser evitada e de ser tratada de forma eficiente. A partir de 1950 surgem novas tecnologias de controle e erradicação da doença, além da descoberta das vacinas Salk (em 1955) e Sabin (em 1961). A obra sugere que o trabalho desses cientistas e de seus companheiros, bem como dos que os antecederam nas primeiras pesquisas com o vírus, conduzidas a partir do início do século XX, foram fundamentais na luta pela erradicação, em várias partes do mundo.
Desde os primeiros estudos a seu respeito, a poliomielite constituiu um ponto de interrogação para as autoridades sanitárias em todo o mundo. Interessante é o depoimento do médico João Risi, segundo o qual, quando as condições sociais são precárias, a criança mais cedo exposta ao vírus dificilmente assume a forma paralítica da doença. O contato precoce garante maior possibilidade de desenvolvê-la em sua forma benigna, ficando menos suscetível às manifestações neurológicas da doença.
Diante das incertezas que a pólio impunha sobre o conhecimento médico, da diversidade de modelos e de terapias pouco eficazes, era frequente a atitude de “negação”, pelas autoridades médicas e sanitárias de alguns países, o Brasil entre eles, da existência de epidemias de poliomielite. Os capítulos assinados por Sánchez e Campos trazem, a propósito, noticiários e manchetes em jornais e revistas que indicam a desinformação, as “responsabilidades não assumidas”, a insistência sobre a “não existência” de epidemia de pólio.
A poliomielite no Brasil
Temas como os mencionados nos parágrafos anteriores são a primeira pista, para o leitor, da relevância da obra. A apresentação cuidadosa, pela organizadora, traça o plano geral do livro. A história da poliomielite, em sua primeira parte, é dividida em cinco capítulos sobre a trajetória da doença no Brasil, que focalizam o desenvolvimento e a legitimação das políticas públicas de controle. Os autores discutem os modelos científicos explicativos da pólio, o debate e as controvérsias no país, os surtos epidêmicos em vários estados, as vantagens e desvantagens das vacinas, as campanhas de vacinação e os dilemas dos cientistas brasileiros em relação à descrição clínica da doença.
O trabalho de André Campos, que abre o volume, investiga as primeiras epidemias que ocorreram no Rio de Janeiro, em 1911, e em São Paulo, em 1917; apresentam-se os diferentes modelos científicos explicativos da doença, em especial, as discordâncias entre Fernandes Figueira e Francisco de Salles Gomes Júnior no tocante à descrição clínica e ao tratamento mais adequado. Nas décadas de 1930 e 1940 foram registrados surtos na capital federal e nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; no Nordeste e Norte, foram atingidos a Bahia, Sergipe, Maranhão, Piauí e Amazonas. Neste período, a doença não havia recebido no Brasil a atenção que despertava em outros países, como nos EUA, Inglaterra e Suécia, com centenas de vítimas de pólio e de paralisia.
Chamava atenção a incapacidade da medicina de dar uma resposta eficaz ao problema e à forte influência do modelo de contágio direto para a pólio, dominante durante os anos de 1930 e 1940. De acordo com esse modelo, diz o autor, a pólio era transmitida por via respiratória – secreções nasais e bucais. Seu modo de transmissão era típico, portanto, das doenças respiratórias – o vírus penetrava pelas vias aéreas superiores e viajava diretamente para o sistema nervoso central, provocando uma paralisia flácida aguda em membros inferiores, com perda parcial ou total da capacidade de contração do músculo. Contudo, os avanços da virologia e o surgimento do microscópio eletrônico possibilitaram uma compreensão mais ampla da doença. No final dos anos de 1940 a pólio passou a ser vista não mais como doença neurológica e sim entérica, isto é, o vírus se multiplicava no trato gastrointestinal, e a infecção podia ser transmitida pela via fecal-oral.
O capítulo 2, que traz uma interessante discussão histórica sobre o desenvolvimento de vacinas, por Eduardo Ponce Maranhão, não focaliza o cenário brasileiro, apesar de constar da Parte 1 sobre o Brasil. Neste capítulo, o autor indica que a eficácia dos tratamentos dependia dos avanços científicos, que levariam à descoberta das vacinas Salk e Sabin, e dos ensaios e estudos de campo conduzidos em vários países em busca de medidas apropriadas para o isolamento dos vírus. Maranhão discute um capítulo fundamental da história da pólio no mundo: as pesquisas com cultura de tecido. Em 1949, cientistas dos EUA descobrem uma nova técnica para cultivar o vírus em tecidos mais simples (embriões de galinha) e não apenas em macacos. Em 1953 Jonas Salk anuncia as primeiras experiências de sua vacina em humanos com resultados positivos, e no ano seguinte a vacina é testada em grande escala. Em 1957 realiza-se o primeiro ensaio de campo com a vacina Sabin oral, em Cingapura. A vacina oral contra a pólio foi obtida a partir de um vírus vivo, diferentemente da vacina Salk, baseada em uma cepa morta do vírus. No Brasil, a vacinação pela vacina Salk é introduzida em 1955, em São Paulo e, no ano seguinte, no Rio de Janeiro. Em 1953, a epidemia atinge fortemente a capital federal.
É importante ressaltar que as ações de combate, iniciadas nos finais dos anos de 1950 no Brasil, se intensificaram nos anos de 1970 com o surgimento do Plano Nacional de Controle da Poliomielite estabelecido pelo Ministério da Saúde. Contudo, foi na década de 1980 que houve uma mudança de estratégia, de “controle”, para uma política de “erradicação” da poliomielite. Os anos 1980 marcam o processo de abertura política e da luta pela implantação de mudanças sociais. Na área da saúde, discute-se um novo modelo de atenção, mais abrangente, com a participação da comunidade em todos os níveis de governo, melhorando o acesso das populações menos favorecidas à saúde. A saúde passa a ser vista como uma questão social, o controle da poliomielite a inserir-se no movimento pela reforma sanitária. Alguns desses marcos históricos foram discutidos por Dilene Nascimento. A autora analisa o processo político na área da saúde, com base em seis marcos fundamentais: a introdução da vacina Sabin em 1961; o diagnóstico laboratorial do poliovírus, em 1961; o Plano Nacional de Controle da Poliomielite, em 1971; a implantação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, em 1975; os Dias Nacionais de Vacinação, em 1980, e a estratégia de erradicação da doença a partir de 1985.
A pólio produz repercussões na construção da identidade individual dos atingidos que precisam enfrentar as sequelas, sobretudo o estigma, ao longo de suas vidas. O trabalho de Ângela Pôrto reúne três depoimentos de mulheres com sequelas motoras graves, que contraíram a doença nos anos de 1950. O recurso às fontes orais permite recuperar vivências e memórias da doença, dando voz aos enfermos. Crescem o interesse pelos aspectos do cotidiano do indivíduo ou de grupos específicos e o conhecimento das experiências individuais, das estratégias de enfrentamento da doença e de suas sequelas. Busca-se pensar a doença, ou o doente, dentro do seu contexto sociocultural; qual a percepção dos indivíduos sobre sua saúde, considerada nos valores dentro dos quais vive? Quais são os limites impostos pela doença e os efeitos na sua vida diária? Os depoimentos recuperam a memória e reconstroem as identidades dessas pessoas, diz a autora; a doença não pode mais ser discutida como um evento médico, mas sim como um acontecimento social.
O último capítulo da primeira parte do livro, também organizado por Ângela Pôrto, reúne algumas imagens das campanhas do Ministério da Saúde, especialmente os Dias Nacionais de Vacinação, instituídos em 1980. Esse material, coletado pela autora, mostra mudanças, ao longo dos anos, no tipo de mensagem que se queria fixar em relação à doença e ao portador de deficiência.
A poliomielite fora do Brasil
A segunda parte do livro, dividida em quatro capítulos, reúne artigos sobre o controle e erradicação da poliomielite em outros países. Intitulada “A poliomielite na América Latina, Europa e Ásia”, talvez venha a sugerir ao leitor um cenário mais amplo do que aquele focalizado pelos capítulos, restritos na verdade a poucos países. Isso não impede que se note a relevância dos estudos de caso expostos. Na apresentação do livro, há menção à “novidade incomum” de a obra vir a “possibilitar análises histórico-comparadas de outras experiências nacionais”. Aqui há controvérsia. Os casos nacionais, trabalhados sem preocupação metodológica com a análise comparativa, dificilmente permitem ao leitor estabelecer contrastes ou semelhanças. Talvez a ausência de tal esforço comparativo na própria apresentação feita por Nascimento revele a dificuldade de se encontrar no texto a “novidade incomum”. O único esforço comparativo digno de nota está no texto de Nascimento e colaboradores sobre o processo de erradicação da pólio no Brasil e no Peru, nos anos de 1980, com ênfase nos contextos políticos, sociais e sanitários. Os autores indicam que, diferentemente do Brasil, onde o movimento social pela reforma sanitária, inaugurado nos anos de 1970, vinha reivindicando a participação da comunidade (ainda que com imensas dificuldades e limitações de toda sorte, acrescentamos), no Peru não se assistia a iniciativas de estímulo à participação ou envolvimento da população.
Inês Guerra, em estudo sobre a experiência portuguesa, mostra como a doença foi negligenciada durante várias décadas pelas autoridades sanitárias e políticas. Segundo a autora, o elevado número de mortes e de crianças e jovens incapacitados pela doença não foi suficiente para que a poliomielite fosse considerada oficialmente um problema de saúde pública. Contudo, o trabalho discute uma iniciativa importante, representada pelo Refúgio da Paralisia Infantil, fundado em 1926, pelo médico neurologista Henrique Gomes D’Araújo, destinado à assistência e ao tratamento gratuito de crianças pobres da cidade do Porto, na época, uma das cidades mais insalubres de Portugal. Embora dependente de contribuições externas para manter tratamentos gratuitos, o Refúgio contava com uma estrutura na qual funcionava, além do Serviço de Fisioterapia, a Hidroterapia, a Recuperação Funcional e a Cirurgia Ortopédica.
Juan Sánchez discute as “responsabilidades não assumidas” pelo Estado espanhol em relação à erradicação da poliomielite no país, nos anos de 1950 e 1960. Lembra que no pós-guerra tanto Portugal quanto a Espanha eram países com governos ditatoriais e de tradição confessional católica, “dois elementos determinantes da sua resistência a conceber saúde e assistência em termos de direito” (p.195). Essas características se concretizaram em campanhas de vacinação tardias, pouco difundidas e sem a eficácia esperada. Além disso, lembra o autor, a vacina não era oferecida gratuitamente à população, logo não podia tornar-se obrigatória. Minimizava-se a importância do problema, criavam-se dúvidas sobre a eficácia da vacina e negava-se a gravidade e existência de surtos epidemiológicos – para o Estado a vacina “não era necessária”. “Repressão e autocensura se aliaram para minimizar o problema sanitário” (p.206). Mas, diferentemente de outras doenças como a cólera ou a gripe espanhola, a poliomielite tinha como consequência sequelas paralíticas visíveis para a população, que desafiavam qualquer ocultação ou negação de seus efeitos.
O Paquistão é também um caso de ações tardias de combate à poliomielite. Lá, todas as atividades de erradicação tiveram o apoio financeiro de organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância e não governamentais, como o Rotary Internacional. Nos anos de 1980 tiveram início as primeiras campanhas, a partir da criação do Programa Ampliado de Imunização – BCG, pólio oral, DTP e antissarampo. Os postos e centros de saúde desempenharam papel de destaque na oferta de vacina de forma rotineira. Em 1994 foi organizada a primeira Campanha Nacional de Vacinação Antipólio. Segundo Verani, entre os anos de 1994 e 2000, durante o governo talibã, as campanhas não conseguiram atingir a cobertura esperada pelas autoridades sanitárias, em função do caráter localizado dos programas. Além disso, os fluxos de refugiados, as fronteiras tensas entre Afeganistão, Irã, Índia e China e a própria cultura islâmica fundamentalista, dificultando a acesso às mães pelas equipes de saúde pública, constituíram barreiras para a erradicação da doença.
Os efeitos tardios da poliomielite: “uma nova doença velha”
A terceira parte do livro, dividida em dois capítulos, discute a síndrome pós-poliomielite (SPP), um dos efeitos tardios da poliomielite, que compreende um conjunto específico de novos problemas de saúde originados pelo vírus da pólio e que vem atingindo pessoas acometidas pela doença décadas atrás. No final dos anos de 1970, os sobreviventes começaram a sofrer novos problemas, tais como fadiga, dor e fraqueza, resultando na diminuição da capacidade funcional e/ou no surgimento de novas incapacidades. Em função do aumento de números de casos da SPP no Brasil e do escasso conhecimento, pela comunidade médica, acerca dos efeitos tardios da pólio, a Associação Brasileira de Síndrome Pós-poliomielite (Abraspp) luta para que se estabeleçam políticas públicas que beneficiem aqueles com sequelas da pós-pólio.
O capítulo dez, sobre a conceituação e aspectos clínicos da SPP, contou com a participação de profissionais do Setor de Doenças Neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)/Escola Paulista de Medicina (EPM). É importante destacar que a primeira linha de pesquisas sobre as características clínicas da SPP, teve início em 2003, sob a coordenação do fisioterapeuta Abrahão Augusto Juviniano Quadros, no ambulatório de SPP do Setor de Doenças Neuromusculares da Unifesp. O capítulo discute de modo cuidadoso a SPP, uma neuropatia motora degenerativa, de etiologia multifatorial e de progressão lenta, que se manifesta em indivíduos portadores da poliomielite anterior aguda. Ocorre em indivíduos que tiveram pólio há pelo menos 15 anos, com ou sem sequela paralítica, e se caracteriza por nova fraqueza muscular progressiva, fadiga, dores musculares e/ou nas articulações, resultando numa diminuição da capacidade funcional e/ou surgimento de novas incapacidades. Um critério importante que fundamenta o diagnóstico é a confirmação da poliomielite anterior aguda com evidência de perda neuronal, por meio de exame neurológico e da eletroneuromiografia.
No capítulo seguinte, Solane Carvalho de Lima, diretora da Abraspp, fala dos desafios dessa “nova doença velha” para os profissionais de saúde e para os sobreviventes da pólio, além da importância de criação de uma instituição que represente os portadores da síndrome. De acordo com essa autora, a primeira descrição clínica da doença no Brasil foi publicada na Revista de Neurociências, em 2002. No ano seguinte, teve início o atendimento de sobreviventes da pólio, com sintomas da SPP, no Setor de Investigação em Doenças Neuromusculares da Unifesp/EPM. Além da contribuição para as primeiras pesquisas sobre a SPP e seus efeitos no Brasil, o grupo da EPM participou também da criação, em 2004, da Abraspp – espaço de debates e difusão de informações sobre a SPP – que busca facilitar o acesso de pessoas com SPP ao tratamento.
Os depoimentos
A última parte do livro apresenta os depoimentos dos especialistas João Baptista Risi Júnior e Ciro de Quadros, material que compõe o acervo do projeto “A história da poliomielite e de sua erradicação no Brasil” – acervo de depoimentos orais da Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz). Esses dois médicos estiveram na direção dos processos de controle e erradicação da poliomielite no Brasil e na coordenação da erradicação nas Américas. João Risi narra passagens importantes no cenário brasileiro, enquanto Ciro de Quadros discorre sobre o tema em âmbito internacional. As entrevistas tiveram como temática principal a história da poliomielite, mas foram abordados outros assuntos importantes para o entendimento da trajetória da enfermidade no Brasil e nas Américas.
Os leitores da obra A história da poliomielite muito se beneficiarão da consulta a uma obra já clássica na literatura mundial, O fim da pólio: a campanha mundial para a erradicação da doença, organizada pelo fotógrafo Sebastião Salgado (2003), com textos traduzidos dos originais em inglês de vários especialistas e estudiosos internacionais, entre os quais os médicos epidemiologistas Katja Schemionek e Chris Zimmerman e a escritora Carole Naggar, a quem o doutor Ciro de Quadros também concedeu uma entrevista, em dezembro de 2002, reproduzida na íntegra. Imagens belíssimas e impactantes, fixadas por Sebastião Salgado, acompanham o registro das campanhas de vacinação em países estrangeiros não abordados na obra organizada por Nascimento (alem do Paquistão, incluem-se relatos sobre as campanhas na Índia, na Somália, no Sudão e na República Democrática do Congo). Os autores da obra brasileira poderiam, talvez, ter buscado um diálogo com os textos do livro organizado e ilustrado por Salgado. Isso por certo não impede que a presente obra publicada pela Garamond, com apoio da Faperj, seja uma contribuição extremamente relevante à literatura. Por certo haverá novas edições da importante obra; quando isto se der, será oportuna a montagem de um cuidadoso índice onomástico e de assuntos, imprescindível em um texto de consulta obrigatória como A história da poliomielite.
Referências
SALGADO, Sebastião. O fim da pólio: a campanha mundial para a erradicação da doença. Fotos de Sebastião Salgado; prefácio de Kofi A. Annan. São Paulo: Companhia das Letras. 2003. [ Links ]
Lina Faria – Coordenadora do Curso de Fisioterapia/Universidade Federal de Juiz de Fora. lina.faria@ufjf.edu.b
A primeira guerra do Paraguai: a expedição naval do Império do Brasil a Assunção (1854-1855) | Fabiano Barcellos Teixeira
O historiador Fabiano Barcellos Teixeira realizou um belíssimo trabalho em sua obra A primeira guerra do Paraguai: a expedição naval do Império do Brasil a Assunção (1854-1855). Com maestria, Teixeira explora um tema pouquíssimo estudado pela historiografia platina, a imponente expedição naval feita pelo Império do Brasil ao Paraguai, sob o comando do chefe de esquadra Pedro Ferreira de Oliveira.
Publicado em 2012, pela editora Méritos, o livro tem 183 páginas organizadas em oito capítulos, contemplando desde a formação do Império do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai até a construção da política e da diplomacia na América Platina, com destaque minucioso para causas, itinerários, principais acontecimentos e consequências da expedição que o autor sagazmente intitula de a primeira guerra do Paraguai. Leia Mais
O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval – SCHMITT (FC)
SCHMITT, Jean-Claude. O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval. Petrópolis: Vozes, 2014. Resenha de: BORGONGINO, Bruno Uchoa. Uma abordagem antropolítica da Idade Média. Faces da História, Assis, v.2, n.2, p.198-201, jul./dez., 2015.
Jean-Claude Schmitt, proeminente discípulo de Jacques Le Goff, dedica-se aos estudos medievais desde a década de 1970. Ao decorrer de sua carreira, acumulou distinções honoríficas, como chevallier da Ordre des Palmes Academiques (2002) e da Légion d´honneur (2005) e doutor honoris causa da Universidade de Münster (2003), além de exercer o cargo de diretor da École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) desde 1983.
Em suas pesquisas, o historiador francês emprega métodos e referências teóricas da antropologia para compreender a sociedade e a cultura do Ocidente medieval, empreendendo, em livros e artigos, investigações sobre vários aspectos socioculturais como: a juventude; o suicídio; os gestos; o aniversário; entre outros. Dentre livros que escreveu, foram traduzidos para o português: O corpo das imagens, Os vivos e os mortos na sociedade medieval, História das superstições, História dos jovens,2 Dicionário temático do Ocidente medieval3 e, mais recentemente, O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval, que ora resenho.
Le corps, le rites, les rêves, le temps: essais d´anthropologie médiévale foi originalmente publicado em 2001 pela editora Gallimard, contudo, foi oferecido ao mercado brasileiro somente em 2014.4 Este atraso de treze anos pela versão nacional não faz jus à importância deste material, pois considera-se que nele constam dezessete artigos de Schmitt, selecionados pelo próprio autor, os quais representam a multiplicidade de suas contribuições aos estudos medievais. Tais artigos permaneceram sem uma versão traduzida oficialmente para a língua portuguesa, embora não fossem inéditos na época da primeira edição em francês e já constassem como referência clássica em determinados campos investigativos.
Cabe salientar que os textos compreendidos no livro, publicados ao decorrer de trinta anos da carreira do medievalista, não foram organizados de maneira cronológica, mas agrupados em quatro unidades – a serem ainda apresentadas mais adiante –, constituindo, cada uma delas, um eixo temático. Se, por um lado, a opção por agrupar os artigos em blocos de assuntos afins facilita a consulta pelo leitor a conjunto tão heterogêneo; por outro, a alternância de textos do início da sua trajetória acadêmica com reflexões mais recentes5 dificulta a percepção do processo de amadurecimento intelectual de Schmitt.
Pode-se constatar, ainda, que o material compilado foi originalmente vinculado em meios diversos, cada qual com suas orientações editoriais próprias e seu públicoalvo pretendido: alguns dos textos eram artigos de periódicos acadêmicos, outros, capítulos em livros. Por isso, há certa discrepância quanto ao tamanho dos escritos, assim como no nível de aprofundamento na abordagem.
Os artigos foram precedidos por um prefácio redigido pelo próprio Schmitt, no qual o autor relaciona sua formação intelectual aos debates acadêmicos mais populares durante o início de sua carreira; assim como aos cursos de renomados pesquisadores – como Georges Duby e Michel Mollat –, aos quais pôde assistir; e às leituras por ele realizadas. Além do diálogo com diversos campos da Antropologia, Schmitt destaca a relevância do comparatismo proposto por Marc Bloch e, depois, por Jean-Pierre Vernant, no qual o exercício de confrontação entre sociedades díspares ajuda a revelar as especificidades de cada uma. Logo, o livro é iniciado por um texto em que o autor contextualiza sua inserção como historiador e esclarece suas principais referências.
A exposição das influências acadêmicas feita pelo próprio Schmitt explicita a formação e atuação do autor em consonância com as propostas da Nova História. Peter Burke demonstrou como a terceira geração da Escola dos Annales, que surgiu após 1968, privilegiou a História das Mentalidades, a análise de fenômenos culturais e a aproximação com a Antropologia (BURKE, 1997, p. 79-107). Essas novas orientações para a pesquisa histórica propiciaram a emergência de novos problemas, novos objetos e novas abordagens.
Ao lado de pesquisadores consagrados como Jacques Le Goff e Georges Duby, Jean-Claude Schmitt contribuiu para a incorporação da Nova História aos estudos medievais ao se atentar para as dimensões simbólicas das representações e das práticas sociais na Idade Média e investigar temas outrora não contemplados pela historiografia, tais como o “corpo” ou o “futuro”.
O primeiro bloco temático, intitulado Sobre crenças e ritos, reúne reflexões sobre aspectos da religião medieval em cinco capítulos. Os artigos É possível uma história religiosa da Idade Média?, A noção de sagrado e sua aplicação à história do cristianismo medieval e Problemas do mito no Ocidente medieval pretendem problematizar os conceitos de “religião”, “sagrado” e “mito” respectivamente, a fim de apresentar as precauções metodológicas na aplicação de tais categorias na pesquisa em História Medieval. Em A crença na Idade Média e Sobre o bom uso do Credo, Jean- Claude Schmitt analisa os sistemas de classificação e os modos de produção e difusão das crenças legítimas, destacando a posição da Igreja nesses processos.
A segunda parte, Tradições folclóricas e cultura erudita, é composta por quatro textos. O capítulo inicial desse bloco, As tradições folclóricas na cultura medieval, apresenta as principais abordagens nos estudos sobre o “folclore” para, em seguida, delimitar os problemas e os princípios de análise para investigações a respeito do tema na sociedade feudal. Os três artigos subsequentes consideram tradições folclóricas medievais diversas.
O sujeito e seus sonhos é o título do terceiro bloco, que abarca três escritos. No primeiro, A “descoberta do indivíduo”: uma ficção historiográfica?, Schmitt parte de uma revisão historiográfica da tese do “nascimento do indivíduo” no século XII para compreender o conceito medieval de “pessoa”. Os dois capítulos seguintes, Os sonhos de Guibert de Nogent e O sujeito do sonho, têm como objeto as atitudes e teorias medievais a respeito do sonho.
A quarta e última parte do livro, O corpo e o tempo, reúne cinco capítulos. Em O corpo doente, corpo possuído, aborda as concepções medievais a respeito do corpo doente. O corpo na Cristandade também debate questões concernentes à corporeidade, considerando três aspectos: o corpo do homem individual, o corpo divino e o corpo social. No artigo Tempo, folclore e política no século XII, Schmitt relaciona as representações do tempo e ideologia a partir da obra do clérigo Walter Map. No capítulo seguinte, Da espera à errância: gênese medieval da Lenda do Judeu Errante, o medievalista francês aborda o tema literário moderno de um judeu que perambula o mundo desde que testemunhou a crucificação, argumentando que sua origem remonta a lendas do século XII. O texto que encerra o volume, A apropriação do futuro, estuda a maneira como os medievais percebiam o seu futuro.
A partir da leitura dos artigos de O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo, constatase o compromisso de Jean-Claude Schmitt com o rigor teórico-metodológico ao estudar a cultura medieval, independentemente do objeto que proponha.
Tanto nas abordagens de recorte espaço-temporal mais abrangentes, quanto nas análises de corpus documentais mais restritos, o autor tenta delimitar com a maior precisão possível o campo conceitual. Dessa forma, demonstra a relatividade das categorias que compõem nossa própria percepção do mundo, apresentando como na Idade Média elementos como o corpo, o sonho ou mesmo o futuro eram concebidos de outra maneira.
Esse esforço é empreendido recorrendo principalmente à Antropologia, tal como anunciado no subtítulo e no prefácio. Sendo o livro ora resenhado uma compilação de parcela considerável da produção de Jean-Claude Schmitt, sua publicação em português consiste numa oportunidade ímpar para que os medievalistas brasileiros possam aprofundar seu contato com a obra do autor.
Notas
2 Escrito em parceria com Giovanni Levi.
3 Em dois volumes. Organizado em parceria com Jacques Le Goff.
4 Apesar da editora informar em seu site oficial que o livro foi lançado em 2015, na ficha catalográfica indica 2014 como ano de publicação.
5 O artigo mais antigo data de 1976 e o mais novo, 2000. No total, dois textos foram escritos na década de 1970, oito na década de 1980, cinco na de 1990 e dois em 2000.
Referências BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia.
São Paulo: UNESP, 1997.
SCHMITT, Jean-Claude. O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval. Petrópolis: Vozes, 2014.
Bruno Uchoa Borgongino – Doutorando – Programa de Pós-Graduação em História Comparada – Instituto de Historia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Largo de São Francisco de Paula, 1, CEP: 20051-070, Rio de Janeiro – RJ, Brasil. Professor e pesquisador – Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio – Rod. Gen. Alfredo Bruno Gomes Martins, s/n, lote 19, CEP: 28909-800, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista CAPES. E-mail: uchoa88@gmail.com.
[IF]Ruralidades contemporâneas: modos de viver e pensar o rural na sociedade brasileira – CARNEIRO (B-RED)
CARNEIRO, Maria José. Ruralidades contemporâneas: modos de viver e pensar o rural na sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Mauad X/ FAPERJ, 2012. Resenha de: CORRÊA, Ana Pinto. O mundo rural para além do mundo agrícola. Estudos Históricos, v.28 n.56 Rio de Janeiro July./Dec. 2015.
Oposição campo/cidade. Realidades sociais e espaciais descontínuas, ratificando a dicotomia existente entre elas. O mundo rural como inexoravelmente agrícola. O agricultor como o personagem encarregado de manter o “campo tradicional”. Neste livro coordenado por Maria José Carneiro, esses paradigmas vão sendo quebrados, um a um, por meio da análise, principalmente, das experiências de agricultores e seus filhos, comerciantes, turistas, donos de pousadas ou confecções de localidades rurais (RJ, RS e MG). É pertinente, então, nos remetermos a Thompson (1981), para quem a experiência está no cerne da interpretação do processo histórico, ao tratar os sujeitos sociais como alguém que ajuda a tecer a teia da história e não apenas como seu mero espectador.
Dessa forma, ao longo de seus sete capítulos, os autores nos apresentam um locus rural em que a agricultura deixou de ser a atividade econômica fundamental no sustento familiar, o que não implica, necessariamente, o abandono da terra por seus donos, que se tornam pluriativos, ou seja, se valem de empregos – baixa qualificação e remuneração – em localidades próximas, que os ajudam a complementar sua renda mensal. Dificuldade de comunicação com mercados consumidores em potencial, dificuldade de transporte, ausência de uma política estatal agrícola eficiente e os preços baixos de seus produtos impulsionaram-nos a trabalhos outros. Esses problemas repercutem com mais profundidade nos jovens, que acabam por não se interessar em seguir o “tradicional” trabalho de seus pais. Além da questão econômica, eles tendem a considerar as ocupações não-agrícolas mais valorizadas simbolicamente.
A criação de signos ou a ressignificação dos já existentes, a necessidade de se incorporar o não material na esfera da produção também são destacadas. Nesse contexto, a natureza é o signo por excelência reelaborado e sobre o qual se constrói a nova noção de rural. Ela deixa de indicar um meio de produção e torna-se objeto de contemplação. A natureza assim entendida e visualizada passa a alimentar novas indústrias, quais sejam, a do turismo e a cultural. O foco, então, volta-se para a manutenção e recuperação do patrimônio rural (recursos naturais, bens arquitetônicos, festividades coletivas). Essa nova premissa da natureza, por sua vez, constitui-se em um dos recursos que viabilizam a pluriatividade referida anteriormente. Hotéis, pousadas, restaurantes, lojas, bares, entre outros, é que representam empregabilidade para membros de famílias tradicionalmente agrícolas, cuja sobrevivência é ameaçada pelos parcos recursos que essa atividade proporciona.
Por outro lado, a convivência entre sujeitos sociais e atividades díspares se faz presente no interior de um campo de forças tanto físico quanto simbólico. Para os agricultores, os organismos de proteção ambiental são vistos como autoritários, pois os obrigam a preservar uma área (mata) que poderia ser utilizada para a agricultura. Como agravante, essa situação provoca uma desvalorização da terra como bem de produção. No entanto, para os denominados neorrurais – que chegam por vezes a denunciar agricultores que derrubam a mata -, a natureza deve, de preferência, permanecer intocada, seja por seu senso ecológico, seja pela oportunidade em explorar o ecoturismo.
Cabe ressaltar que os agricultores geralmente se encontram em difícil situação econômica, ao passo que os novos residentes das localidades rurais, provenientes de centros urbanos maiores em busca da tranquilidade do campo quando, principalmente, de sua aposentadoria, são mais providos de capital. Por vezes também, possuem destacada voz ativa nas associações locais. Em algumas das áreas pesquisadas, as prefeituras promoveram melhorias como pavimentação de ruas, somente com a instalação daqueles moradores que, com seus estabelecimentos voltados para os turistas, contribuíram para a entrada de recursos nos cofres públicos.
É possível então vislumbrarmos, conforme defende Williams (1979), que o campo de forças no qual os atores sociais se “enfrentam” é permeado por uma cotidiana luta de classes na disputa por papéis hegemônicos nos espaços compartilhados. Variadas são as estratégias, inclusive simbólicas, utilizadas para se obter a referida hegemonia, uma vez que ela está constantemente se reconstruindo; nunca garantida. Entrevemos os neorresidentes respaldados pelo ethosambientalista, sendo vistos como modernos e responsáveis quando o assunto é a natureza. Eles recebem apoio do poder público local e assumem posições de destaque em associações locais. Já os nativos (agricultores) são vistos como agressores do meio ambiente, atrasados ou até mesmo outsiders nas palavras dos autores, possuindo pouca inserção nas organizações locais. Talvez fosse o caso de nos perguntarmos se o que é tachado como agressão não poderia ser transmutado em resistência. Paradoxalmente, nessa ressignificação rural, em que há o desmonte do campo tradicional, verificamos o anseio pela manutenção da imagem do agricultor como alguém que, inexoravelmente, existe em função da terra e de seus frutos. Mais irônico ainda: essa valorização vem na esteira da constante presença de turistas da “cidade grande”, que ainda se apoiam na figura lúdica do campo e do agricultor. É bem verdade que alguns agricultores, mesmo com as dificuldades apresentadas, preferem se manter exclusivamente no trabalho agrícola.
Tomando como parâmetro o dizer dos autores, que seria mais apropriado substituir o conceito de êxodo rural pelo de êxodo agrícola, bem como o de famílias rurais pelo de famílias agrícolas, as palavras de Todorov (1999) fazem muito sentido, pois para ele toda cultura viva muda, ainda que nem todas as mudanças sejam boas. Um exemplo positivo está no agora ativo papel econômico das mulheres. De um modo geral, atuando por trás dos bastidores nos serviços domésticos e com sua invisibilidade sancionada, elas passam a vivenciar uma atuação direta no ganha-pão da família, mesmo que, incontestavelmente, a imagem de provedor continue apontando para seus maridos. Essa situação torna-se ainda mais perceptível em Laranjeiras – nome fictício de uma das localidades fluminenses pesquisadas -, que ganhou certo vigor a partir da instauração de confecções de lingerie que, em sua maioria, são abertas por mulheres que representam também a própria mão de obra.
Por fim, infere-se que a ruralidade está constantemente em reelaboração, adaptação e incorporação (ou não) às novas experiências vividas por seus atores sociais. Essas novas e imbricadas relações tornam as referências identitárias cada vez mais móveis. É pertinente nos remetermos a Bhabha (1998), para quem a nação é uma construção discursiva e não uma comunidade imaginada, homogênea e horizontal. Ele nos propõe observá-la como uma forma de vida híbrida, que apresenta suas fissuras e tensões. Assim, para os “de fora”, o campo é pensado como uma realidade homogênea, cujos sujeitos são responsáveis por manter um modo de vida “autêntico”, mas as observações feitas pelos autores nos levam a perceber identidades múltiplas entre os próprios agricultores, bem como entre esses e os neorrurais, homens e mulheres, agricultores e turistas, turistas e neorrurais. Portanto, é premente que fiquemos atentos à alteridade, uma vez que ela pode nos proteger da tentação de criarmos uma imagem única e modelar da identidade.
Referências
BHABHA, Homi K. O local da cultura Belo Horizonte: UFMG, 1998. [ Links ]
TODOROV, Tzvetan. O homem desenraizado Rio de Janeiro: Record, 1999. [ Links ]
WILLIAMS, Raymond. IMaxismo e literatura Rio de Janeiro: Zahar, 1979. [ Links ]
Recebido: 30 de Junho de 2015; Aceito: 13 de Outubro de 2015
Ana Cláudia Pinto Corrêa – coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e professora dos cursos de Administração e Direito do Unifeg, e coordenadora da Pós-Graduação Lato-Sensu da PUC-Minas (Poços de Caldas) (anaclio@bol.com.br).
Algumas reflexões: formar para pesquisar, pesquisar para formar no ensino de história / Revista Mosaico / 2015
O dossiê que ora apresentamos, intitulado Algumas reflexões: formar para pesquisar, pesquisar para formar no ensino de história, visa estimular as reflexões sobre o Ensino de História, tendo como aspecto central a pesquisa no campo da formação.
As discussões acerca do ensino de história vêm ganhando corpo e densidade nos últimos tempos, a partir de importantes reflexões e pesquisas, fruto do trabalho de estudiosos e pesquisadores. Para isso, reunimos jovens professores-pesquisadores, oriundos de diferentes instituições brasileiras, com suas formações, concepções, práticas e histórias particulares, os quais pesquisam e ensinam na área de metodologias e práticas de ensino. O caráter cooperativo desse dossiê permitirá agregar pesquisadores – conhecedores da articulação entre os saberes históricos e pedagógicos, a didática, a metodologia e as práticas de ensino – em um esforço de superar a fragmentação da produção dos trabalhos em educação, criando condições que contribuam para se pensar a problemática, a partir da realidade regional e local e das suas articulações com a globalidade.
A produção da pesquisa na área do ensino de História, da prática dos docentes e do seu cotidiano escolar nos motivou a elaborar o dossiê. Ao propormos essa temática, queremos não só a compreender, como também avaliar seus avanços, seus impactos e contribuir para a formação teórica e epistemológica dos pesquisadores sobre o ensino de História. Introduzir a discussão sobre a investigação na prática educativa, notadamente na formação do professor de História, consubstancia um desafio e importante esforço para romper com uma discussão apenas afeita ao universo bacharelesco. Nesse sentido, entendemos que a investigação, no interior das formações, ganha relevo, também, na produção de novos conhecimentos. Todavia, a discussão da pesquisa na formação do docente de História ainda é um espaço a se consolidar, um desafio que não podemos dar por concluído.
Em sendo assim, juntamente com a Revista Mosaico, colocamos o atual número à disposição do público interessado em temas ligados ao ensino de História. Os textos apresentados oferecem aos leitores um variado leque de temas que se entrelaçam, permitindo o estabelecimento de conexões de forma articulada e contribuindo com a produção do conhecimento no âmbito do ensino e da formação docente. Para pensarmos a relação pesquisa e ensino é imprescindível que uma e outra estejam estreitamente relacionadas, visto que elas se constituem pilares do fazer docente.
Ana Carla Sabino e Raquel da Silva Alves, no artigo O relatório do estágio supervisionado: diálogos entre a prática de ensino e a formação do historiador que abre o presente dossiê, apresentam-nos as habilidades mobilizadas pelos alunos do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Ceará, na realização da disciplina de Estágio Supervisionado, a partir da utilização das fontes e dos relatórios das práticas docentes desenvolvidas nas escolas de educação básica da cidade de Fortaleza. Para tal, as autoras consideram os saberes docentes e profissionais do professor de História da educação básica – em permanente diálogo com o professor da disciplina / atividade de estágio – e a cultura escolar das instituições onde se situa o ofício do historiador, como fonte e objeto para a pesquisa e a aprendizagem da didática e da prática de ensino de História, dimensionando, socialmente, a escrita sobre os saberes e o seu caráter formativo na escola.
No artigo Por uma Cartografia dos Saberes Docentes: o PARFOR e o agenciamento de novas subjetividades no ensino de História, Andreza de Oliveira Andrade traz uma reflexão em torno da construção de saberes mobilizados para o ensino de História e de sua didática. Busca, por conseguinte, fazer dessa reflexão um exercício de cartografar alguns caminhos que levam à vivência das experiências de ensino e formação de estudantes da graduação em História, na Licenciatura ofertada pelo Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR), em cidades do interior do Rio Grande do Norte, atendidas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Angela Ribeiro Ferreira no seu texto convida-nos a pensar A relação teoria e prática nos currículos de formação de professores de História no Brasil, um recorte de sua tese defendida em 2015, em que analisa o discurso expresso nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) dos cursos de licenciatura de História de diversas regiões do Brasil, sobre a indissociabilidade entre ensino / pesquisa e teoria / prática, diante da ampliação da carga horária obrigatória de prática de ensino, com a Resolução CNE / CP 2 / 2002. A autora nos alerta, em seu instigante texto, que a Resolução, ao dissociar a prática da formação, reforça nos PPC a dicotomia entre teoria e conteúdo e a prática profissional.
Carlos Augusto Lima Ferreira apresenta, em seu artigo Pesquisa quantitativa e qualitativa: perspectivas para o campo da educação, uma reflexão teórica dos métodos de investigação qualitativos e quantitativos e suas principais problemáticas e, ainda, como esses se apresentam nos campos do conhecimento. Apesar de historicamente ser um tema marcado por debates entre os pesquisadores “quantitativistas” e “qualitativistas”, temos experimentado um crescimento do número de abordagens que se utilizam dos dois métodos para a pesquisa. O autor evidencia as perspectivas de utilização de ambas, nos estudos referentes à educação, especialmente, na área da formação de professores.
Elaine Lourenço, em seu texto Formação e Atuação de Professores: o jogo dos currículos convida- -nos a refletir sobre diferentes currículos de formação de professores do curso de História da Universidade Nove de Julho, no decorrer da primeira década do século XXI, confrontando o percurso formativo de alguns de seus alunos com sua posterior atuação em sala de aula. Para tal, escolheu o caminho da História Oral, como uma metodologia que tem ganhado cada vez mais visibilidade e que permitiu dar voz ao professor, ao mesmo tempo em que proporcionou inúmeras informações relevantes para o entendimento dele como um sujeito, com uma trajetória e modos de vida, facilitando a compreensão de suas experiências vividas.
Juliana Alves de Andrade descortina O fazer-se ao torna-se professor de História: a pesquisa como elemento articulador da prática docente, socializando e problematizando as experiências vivenciadas entre os anos 2014-2015 na disciplina Prática de Ensino de História I, ofertada no Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A autora nos apresenta em seu texto as estratégias utilizadas na disciplina, evidenciando a pesquisa, como componente articulador das atividades pedagógicas, assim como o efeito dessas ações sobre a prática pedagógica dos futuros professores de História. Ao partir dessa perspectiva, o texto nos mostra que se tornar professor de História, hoje, só pode ser compreendido pelo processo histórico de como se formar (fazer-se) professor de História no Brasil. Dessa maneira, ao adotar como corpus de análise os relatórios dos estudantes, nas atividades de observação, os documentos oficiais (Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso de História), anotações individuais das aulas e os planos de intervenção pedagógica, a autora nos convida a pensar sobre o sentido e o valor da formação de docentes de História.
Lademe Correia de Sousa, por sua vez, no estudo Ensino e Pesquisa: História Local através da produção de Jornal apresenta as atividades desenvolvidas, no Projeto PIBID / História, na Universidade Federal do Oeste do Pará, com a História local associada ao estudo do meio. Para a autora, essas duas estratégias de aprendizagem mantêm relações muito próximas entre si, pois tanto o estudo do meio, quanto a História local objetivam viabilizar um contato direto dos discentes com um contexto e seu passado, num cruzamento entre História, memória e patrimônio cultural. Além desses aspectos, a autora também traz, em seu texto, uma discussão quanto às relações entre o saber acadêmico e o saber escolar, que serviram de inspiração para o desenvolvimento do Projeto PIBID. Para ela, a escola não pode ser vista como um espaço onde o saber ensinado é mera simplificação do saber acadêmico, mas, sim, como um local em que o conhecimento pode ser construído com um saber próprio, lugar portador de uma cultura escolar, não mais como um espaço de reprodução, mas sim de produção de conhecimento.
Marcella Albaine Farias da Costa, com o trabalho Tecnologia, temporalidade e História digital: interpelações ao historiador e ao professor de História busca analisar como as narrativas históricas contemporâneas se veem ampliadas, modificadas e desafiadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, que influenciam e transformam a forma de ensinar História nos espaços escolares. Assim, a autora busca situar o debate da chamada História digital, aprofundando-se nos estudos sobre temporalidade e tecnologia, pois a problemática da História digital e os desafios dela advindos abarcam questões relativas à produção do conhecimento histórico e à sua recontextualização didática, envolvendo, portanto, os que estão no meio acadêmico e os que militam no espaço escolar. Ao considerar esses aspectos, a pesquisadora nos alerta que tanto a dimensão do ensino, quanto a da pesquisa na referida área estão, perceptivelmente, afetadas e com desafios importantes a enfrentar neste começo de século.
Mônica Martins da Silva trata de questões relevantes acerca da temática afro-indígenas no texto Formação de Professores de História e práticas de pesquisa: experiências de implementação das leis 10639 / 03 e 11645 / 2008 por meio do Estágio Supervisionado. O artigo apresenta reflexões sobre a formação inicial de estudantes de História nas disciplinas de Estágio Supervisionado, incorporando a pesquisa na formação, articulada à produção de materiais didáticos para a educação básica, a partir de novas abordagens sobre a História dos povos africanos, afrodescendentes e indígenas, em diálogos com as leis 10639 / 03 e 11645 / 08, construídos a partir da inter-relação teórica e metodológica entre conhecimento histórico escolar e produção historiográfica. O ensino de História desses povos ganhou um novo impulso com a legislação que definiu a obrigatoriedade desses temas nos currículos da educação básica. Por certo, a temática afro-indígena tem englobado a escola e necessita ser incorporada no e pelo cotidiano escolar nas diferentes disciplinas do currículo, rompendo com as amarras pedagógicas que excluem e, muitas vezes, cerceiam qualquer possibilidade de ser respeitada e valorizada no âmbito escolar. Para a autora, apesar de essa questão ser uma preocupação recorrente, as leis 10639 / 2003 e 11645 / 2008, desde sua promulgação, apresentam normas e orientações que definem o papel dos currículos escolares na inclusão de conteúdos específicos sobre esses grupos, na perspectiva de uma educação afirmativa, propiciando meios para a formação de cidadãos atuantes, democráticos, tolerantes e capazes de lutar pela construção de uma sociedade inclusiva, que valorize as diversidades culturais, as quais nos formam um país multiétnico e pluricultural.
Nadia Gaiofatto Gonçalves envereda pelos caminhos da produção acadêmica sobre a formação de professores de História no Brasil em sua Pesquisa na formação de professores para o ensino de História: produção acadêmica (1970-2014), em que analisa como o ensino de História foi abordado em periódicos acadêmicos de Educação, de Ensino e de História, a partir dos anos de 1970, marco inicial dos Programas de Pós-Graduação, até o ano de 2014. Para a autora, esta pesquisa pode ser compreendida como um estado da arte ou estado do conhecimento. Sua fonte foram periódicos acadêmicos nacionais, constantes no Qualis – CAPES, com classificação mínima entre A1 e B3, das áreas de Educação, História e Ensino. Ao assumir os artigos dos diversos periódicos para o seu trabalho de pesquisa, a autora mostra-nos que o princípio formativo para professores vem se configurando como uma tendência nas proposições, embora ainda de forma tímida, mesmo na produção sobre formação de professores para o ensino de História. E essa tendência decorre e dialoga com referenciais teóricos que vêm ganhando força na produção educacional no Brasil, a partir do final do século XX, relacionados ao professor reflexivo e aos saberes e práticas docentes, bem como se reporta a referências que têm se fortalecido gradativamente no campo do ensino de História, a partir do início do século XX, derivados da Educação Histórica ou da Didática da História.
Por fim, Susane Rodrigues de Oliveira analisa em seu texto A Formação de Professores-Pesquisadores no curso de História da UNB: uma análise da proposta curricular e das atividades de estágio supervisionado, os fundamentos e os modos de efetivação da proposta curricular de formação de professores-pesquisadores no curso de licenciatura em História da Universidade Nacional de Brasília. Para isso, analisou a estrutura curricular estabelecida pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso que vem caminhando, gradativamente, na busca da articulação do ensino e pesquisa na formação de professores. A autora considera que muito ainda precisa ser feito, a fim de que se mude o quadro atual do ensino de História, no Brasil, e, também, para que as atividades de pesquisa no contexto escolar, exercidas por professores em formação inicial e continuada, possam ter ainda mais apoio, estímulo, reconhecimento e suporte adequados, gerando uma aproximação horizontal e transformadora entre a universidade e a escola.
Além desses artigos que compõem o dossiê a Revista Mosaico apresenta três artigos em sua seção temas livres, a saber: Militarização das Escolas Públicas do Estado de Goiás: uma reflexão sob os olhares de Gloria Anzáldua e Michel Foucault de Leandra Augusta de C. M. Cruz em co-autoria com Maria do Espírito Santo Rosa C. Ribeiro; Jogos do Sensível na História da Mídia: o Caso da Rádio Iguaçu- AM 670, de Edgar Cesar Melech e de Albertina Vicentini, Apontamentos sobre o regionalismo em literatura hoje.
De nossa parte, não objetivamos no dossiê resolver toda problemática acerca da formação de professores, bem ao contrário, esperamos que este seja um espaço para pensar, repercutir e levantar questões enfrentadas pelos professores, no âmbito da universidade, da escola e fora dessas instituições visando às mudanças nas práticas docentes.
Esperamos que esses artigos possam ampliar o debate nos campos do Ensino de História, da educação e da formação docente. Dessa forma, convidamos o leitor a se deixar “seduzir” pelos textos aqui apresentados. Excelente leitura!
Carlos Augusto Lima Ferreira – Professor Doutor. Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
Editor deste número
FERREIRA, Carlos Augusto Lima. Editorial. Revista Mosaico. Goiânia, v.8, n.2, jul. / dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
L’adieu à l’Europe. L’Amerique latine et la Grande Guerre (Argentine et Brésil, 1914-1939) – COMPAGNON (Tempo)
COMPAGNON, Olivier. L’adieu à l’Europe. L’Amerique latine et la Grande Guerre (Argentine et Brésil, 1914-1939). Paris: Fayard, 2013. 394 p.p. Resenha de: FERRERAS, Norberto. A Grande Guerra e a América Latina. Tempo v.21 no.38 Niterói jul./dez. 2015.
A relação entre América Latina e Europa já foi estudada muitas vezes,algumas a partir do ponto de vista da influência e outras,da rejeição. Não são poucos os autores que podem ser arrolados entre os especialistas do tema em ambas as perspectivas. O mesmo poderíamos dizer da Grande Guerra (1914-1918),principalmente numa data tão marcante quanto o centenário. Sem ir muito longe, no Brasil vários seminários foram realizados e deles resultaram (ou virão a resultar) livros e artigos. As datas comemorativas sempre geram ondas expansivas de bibliografia relacionada ao tema em questão e essas ondas criam uma massa de títulos que em alguns casos será rapidamente esquecida junto com as efemérides. Esse não é o caso do livro aqui resenhado.
No livro L’adieu à l’Europe…, Compagnons e propõe a analisar o período de entre guerras que já tinha analisado anteriormente do ponto de vista das circulações entre América e Europa, quando estudou os vínculos entre o catolicismo e a reconfiguração do nacionalismo latino-americano. Acompanhando a história das circulações e dos contatos – a “história conectada” -, vemos que ele tanto aborda o vínculo intrínseco estabelecido entre Europa e América, quanto analisa o imaginário e a imagem criada pela Grande Guerra nos países latino-americanos, mais especificamente, na Argentina e no Brasil. Ao mesmo tempo, devemos entender este livro como um ensaio de história global, acompanhando a terminologia de época. Este é um estudo que, utilizando as fronteiras nacionais, as ultrapassa e redefine. Coloca-nos a pensar sobre o impacto de uma guerra europeia lutada em frentes que ultrapassaram os países e os continentes, que estabeleceram coalisões definidas pela afinidade política e econômica antes que pela territorialidade e que levou à reflexão acerca do modelo cultural e político europeu iluminista e de progresso constante. A Grande Guerra colocou os paradigmas existentes em xeque e fez seus contemporâneos e descendentes imediatos refletirem sobre o rumo da civilização ocidental e sua primazia, trazendo à tona outras possibilidades e alternativas desde o regional, rivalizando com o farol universal que pretendia ser Europa.
O livro propõe-se a estudar a Grande Guerra de uma perspectiva original.Nãoenfoca os fatos, nem volta àtentativa de revisão dos impactos europeus ou coloniais da guerra. Sem desconhecê-los, analisá-los não é o objetivo principal. O tema é a relação entre Europa e América Latina em um momento-chave para a história regional e para pensar a história latino-americana. O período em questão dialoga com a história global, mas é umaépoca de redefinições da latinidade e, ao mesmo tempo e num nível mais profundo, da nacionalidade. O autor tentará estabelecer as relações e influências da Grande Guerra no imediato e nas reflexões sobre o vínculo americano com a Europa.
Para desenvolver a sua hipótese, Compagnon divide o seu trabalho em três partes. A primeira parte, titulada “Da guerra europeia à guerra americana”, trata de como a guerra europeia é também uma guerra americana. A preocupação é pelo impacto mais imediato do conflito, como o mesmo levou ao posicionamento dos grandes atores políticos do período, principalmente como se portaram as elites políticas em uma conjuntura de redefinição de alianças, modelos e paradigmas. O livro estabelece um recorte nos dois grandes países da América do Sul, a Argentina e o Brasil; isso não implica negligenciar as linhas de força daqueles países que, de forma semelhante e por diversos motivos sentiam a influência da guerra, como o México e o Chile. Nesta primeira parte o interesse recai sobre a conformação de um campo aliadófilo e outro germanófilo com as diferentes estratégias de posicionamento entre os dois. Esses posicionamentos levaram grupos governantes terem que lidar com a Real Politik nas relações internas e internacionais, oscilando entre o neutralismo e a participação. Ao mesmo tempo, na primeira parte, analisa-se a construção da opinião pública em relação à guerra, com o posicionamento de intelectuais e políticos, mas também com a participação das coletividades de imigrantes. No caso argentino, os imigrantes terão uma voz potente sobre os acontecimentos de além-mar. Mas este é o momento fundante da constituição da opinião pública nacional. Certamente existiam grupos de ação política e intelectual, mas para a Argentina,trata-sedo momento de constituição de uma imprensa autônoma do poder econômico, no mesmo momento em que o Estado também inicia um processo de autonomização perante as oligarquias e o seu poder econômico e simbólico. A multiplicação das vozes e a emergência de novos atores, como os trabalhadores, colocará em questão a Real Politik,diferente do que acontecia no Brasil.
Na segunda parte do livro, “A Europa bárbara”, temos outro tipo de aproximação do conflito. O autor avança em duas perspectivas complementares: a história da cultura e a das sensibilidades. A recepção do sofrimento e a expansão dos sentidos gerados por este sofrimento em relação à guerra, assim como as reflexões sobre seus horrores pela via da literatura testemunhal, como Barbusse, Aldous Huxley ou Erich Maria Remarque, levam a guerra ao plano do pessoal, ao sofrimento em primeira pessoa. Compagnon explora os impactos de reduzir o foco de análise por parte dos escritores e dos jornalistas, colocando em primeiro plano os civis e os soldados, fossem estes os próprios compatriotas que participavam na guerra ou as vítimas dos confrontos. Em princípio, para criar empatia com os bandos em disputa, mas também para apresentar o sofrimento em primeira pessoa, tentava-se criar uma corrente de opinião contrária ao conflito bélico. Aqui a Real Politik sai de cena. As pessoas de carne e osso mostravam os limites da civilização europeia e as suas pretensões de universalidade. O capítulo cinco,“A Noite Europeia”, um dos mais interessantes do livro, analisa os posicionamentos dos intelectuais brasileiros e argentinos acerca da Grande Guerra. O sentimento de inferioridade em relação aos feitos culturais europeus passam a ser questionados, a América pode ser modelo de si própria e para isso precisava realizar uma devassa da Europa. Rui Barbosa, José Ingenieros, Afrânio de Melo e Franco, entre outros pensadores e intelectuais,identificam esse período como o do declínio europeu. As interpretações podem ser diferentes, mas a América como contraponto de paz e civilidade são comuns. O binômio estabelecido por Domingo Sarmiento em meados do século XIX estava invertido: a América era a civilização e a Europa era a barbárie.
A última parte do livro, “A Grande Guerra, A Nação, A Identidade”, é destinada a analisar os impactos culturais imediatos da Grande Guerra, enfocando o nacionalismo na Argentina e no Brasil. É esse o legado cultural e intelectual da Grande Guerra? É daqui que partem as famílias que se diferenciam do modelo Europeu? O que o autor vai explorar é o nacionalismo cultural anterior ao político. Para isso,Compagnon analisa as diversas vertentes desses nacionalismos, estabelecendo um estudo em paralelo de dois autores argentinos, Borges e Leopoldo Lugones, e o Movimento Antropofágico no Brasil. O contraponto permite acompanhar o impacto de longa duração nas gerações que vivenciaram o período de entre guerras: Borges e Lugones. O nacionalismo democrático e o autoritário. A renovação e a restauração, as duas correntes que, do campo intelectual, demarcariam territórios políticos por longo tempo.
A pesquisa realizada por Compagnon, especialista em história intelectual, mostra a necessidade de lidar com fontes de origens diferentes e com registros narrativos diversos para poder realizar uma síntese sobre a questão da Grande Guerra na América Latina. A história intelectual dialoga com a história política e cultural. A narrativa factual é necessária para públicos pouco familiarizados com a Grande Guerra ou com a América Latina para poder dar lugar a sofisticadas análises sobre a produção artística e literária latino-americana. Esperamos que o resultado seja o de estimular novas pesquisas deste tipo e com esta perspectiva.
A versão francesa do livro apresenta algumas diferenças da brasileira. A capa original foi trocada. A brasileira optou por uma previsível foto da guerra de trincheiras. A edição francesa reproduz a portada da partitura do tango El Marne, de Eduardo Arolas. A escolha é significativa e mostra os efeitos duradouros da guerra na cultura da região. Sem pretender ser exaustivo no forte impacto cultural da Grande Guerra na região, vou tentar mostrar a relação estabelecida com os círculos vinculados ao tango.
Para isso, voltemos ao tango El Marne. Quando Eduardo Arolas compõe este tango era um jovem bandoneonista argentino, filho de franceses. Arolas teve a trajetória arquetípica de um tanguero do período. Nasceu em Barracas, na cidade de Buenos Aires, e morreu produto do alcoolismo,em Paris,aos 32 anos, longe da cidade que abandonou para fugir da relação estabelecida entre seu irmão e sua esposa. El Marne, escrito neste exílio voluntário, é uma peça que,mesmo sendo de profunda melancolia,entrou no repertório das grandes orquestras, parte do estilo do tango dançante por décadas. Escrito em 1919, este tango continua a receber novas versões e é frequentemente revisitado. Posteriormente e para ser mais palatável aos dançarinos, recebeu uma letra que falava de um amor a orilhas do Rio Marne, deturpando a sua origem vinculada a uma batalha com centenas de milhares de mortos, mas dando-lhe sobrevida.
Mas o tango e a Grande Guerra mantiveram o seu vínculo. Em princípio, porque a década de 1910 é o momento fundacional desse estilo musical. De fato, o grande ícone do tango, Carlos Gardel, escreveu um tango-canção para homenagear os combatentes franceses. Silencio foi escrito em 1932 e apresentado no filme Melodia de Arrabal, de 1933. O tango é claramente um manifesto antibélico. No filme, Gardel interpreta um cantante de tangos que, no palco que o consagraria, canta Silencio. O importante é a interpretação da letra: um melodrama. A letra faz referência a um caso, verdadeiro ou mítico pouco importa, de cinco irmãos operários que se alistam para lutar pela pátria, a França, e morrem. A mãe deles, la viejita, lamenta a morte dos filhos. Ela fica com os túmulos e as medalhas. A música começa com um clarim e um coro acompanha Gardel com uma canção de ninar. Quando conclui, ele, sorridente, abraça a sua namorada. Está consagrado, é um momento festivo. A Grande Guerra, na década de 1930, é uma temática que faz parte do universo narrativo. Ainda está presente, porém sem a carga dramática que tinha para Arolas. A guerra permaneceria no imaginário coletivo sobre o que podiam ser imprimidas imagens e sentimentos, como o sacrifício, a dor e a perda geradas pela guerra. Estes exemplos mostram o impacto de longa duração da guerra apresentado por Compagnon e que pode ser ampliado por novas pesquisas e novas perspectivas analíticas. Finalmente, essa pequena relação estabelecida entre o tango e a capa tem como objetivo mostrar a capacidade de síntese temática evidenciada na capa da edição francesa e a indefinição apresentada na capa brasileira, que confunde o leitor sobre os temas e as abordagens.
Norberto Ferreras – Professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói(RJ) – Brasil. E-mail: ferreras@vm.uff.br.
Mundo Rural / Estudos Históricos / 2015
Este número de Estudos Históricos consagra-se à temática do mundo rural. Os artigos destacam o processo histórico brasileiro, ainda que a realidade paraguaia seja examinada por um dos textos publicados.
Pode-se dizer que a História e as Ciências Sociais surgiram no país tomando o mundo rural como um de seus objetos centrais. Lugar no qual viveu a maioria da população brasileira na maior parte da história, o campo converteu-se em tema de reflexão acadêmica associado ao atraso. Suas supostas expressões religiosas (como o messianismo), formas políticas (como o coronelismo) e conformação econômica (guardando semelhanças com o feudalismo) atestavam o arcaísmo que intelectuais de variadas colorações ideológicas desejavam fosse superado como condição para o desenvolvimento do Brasil. Ao longo do tempo, essa perspectiva foi se atenuando, abrindo espaço para a análise de fenômenos recentes, compreendidos não necessariamente na chave do atraso, tais como a consolidação de movimentos sociais vigorosos e de um capitalismo sustentado pelo agronegócio. O presente número de Estudos Históricos pretende contribuir para o esforço de uma compreensão matizada e mais abrangente do mundo rural, sem deixar, contudo, de jogar luz sobre suas mazelas e contradições.
O primeiro artigo, “Transformações na legislação sesmarial, processos de demarcação e manutenção de privilégios nas terras das Capitanias do Norte do Estado do Brasil”, analisa as vicissitudes do instituto da sesmaria na colônia, especificamente, entre fins do século XVII até meados do seguinte.
O segundo artigo, “O colonato na região serrana fluminense: conflitos rurais, direitos e resistências cotidianas”, acompanha o desenvolvimento desse regime de trabalho na cafeicultura e seu impacto sobre os trabalhadores a ele submetidos. “Quem é mais útil ao país: aquele que planta ou o que fica na cidade só comendo?: os trabalhadores rurais fluminenses e a luta por desapropriação de terras (1962-1963)”, debruça-se igualmente sobre o mundo do trabalho no campo, ao examinar a mobilização de posseiros de Magé (Rio de Janeiro). Os trabalhadores rurais, mais particularmente os canavieiros, também são estudados em “Cultura, política e direitos no canavial da ditadura militar brasileira”.
Por sua vez, em “O pobre solo do celeiro do mundo: desenvolvimento florestal e combate à fome na Amazônia”, a problemática tratada é a atuação de duas agências internacionais, a UNICEF e a FAO, na Amazônia nos anos 1950 e 1960. “As transformações socioambientais da paisagem rural a partir de um desastre ambiental (Paraná, 1963)” concentra-se num incêndio de grandes proporções ocorrido em 1963 para refletir sobre as mudanças experimentadas pela paisagem rural paranaense no período.
O artigo “Estado e mercado na reforma agrária brasileira (1988-2002)” tem como tema a política de reforma agrária no período posterior à promulgação da atual Constituição, privilegiando a interação entre Estado e mercado na elaboração dessa política. Finalmente, “Capitalismo agrário e os movimentos campesinos no Paraguai” analisa a formação e o desenvolvimento de uma economia agrária nesse país baseada na grande propriedade e voltada ao mercado externo, a partir da ditadura Stroessner.
Luciana Heymann Quillet – Professora da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV).
Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos – Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV).
Paulo Fontes – Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC / FGV).
Os editores
HEYMANN, Luciana Quillet; MATTOS, Marco Aurélio Vannucchi Leme de; FONTES, Paulo. Editorial. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.28, n.56, jul. / dez. 2015. Acessar publicação original [DR]
La Inmortalidad de nuestras Culturas Milenarias – BERGAGNA (ER)
Membros da Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO) em [2016]. www.facebook.com/ceupo.unsa/
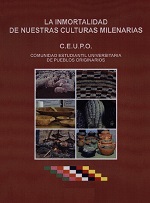 BERGAGNA, María Alejandra. La Inmortalidad de nuestras Culturas Milenarias. Salta: Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO), 2013. Resenha de: ZAPATA, Laura Marcela. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.40, n..3, jul./set., 2015.
BERGAGNA, María Alejandra. La Inmortalidad de nuestras Culturas Milenarias. Salta: Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO), 2013. Resenha de: ZAPATA, Laura Marcela. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.40, n..3, jul./set., 2015.
El estudio de los procesos culturales implicados en las prácticas educativas desarrolladas en situaciones de interacción interétnica se ha multiplicado en los últimos años. El encuentro interétnico en el ámbito escolar bien puede ser interpretado como la interacción de dos sistemas de comunicación, el indígena y el occidental, cuya mutua inteligibilidad demanda un esfuerzo meta-comunicativo. Aunque sea fundamental para que algún aprendizaje tenga lugar, buena parte del trabajo meta-comunicativo corre por las vías del lenguaje implícito. Por ello, pocas veces las instituciones educativas se comprometen en su explicitación reflexiva, máxime cuando la dominación étnica, precisamente, obtiene su eficacia de este y otros silenciamientos. La tematización del conjunto de reglas que ordenan la interacción y la interpretación, al interior de un proceso escolar, también llamada reflexividad, ofrece grandes oportunidades para conocer, desde el punto de vista de los actores sociales, la naturaleza y significado del orden social y las posibilidades para su transformación.
El texto La inmortalidad de nuestras culturas milenarias retrata de manera sensible y certera una experiencia educativa de carácter reflexivo, orientada a explicitar, desde el punto de vista de los docentes no indígenas y de un grupo de estudiantes indígenas, los pactos simbólicos que organizaban el proceso de aprendizaje en el ámbito universitario, que llevaban a los estudiantes al fracaso académico y a la deserción. Se trata de un pequeño pero sugestivo libro digital aparecido el año 2013 en la provincia de Salta, noroeste argentino, editado por la Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y compilado por la trabajadora social, profesora de la UNSa y coordinadora del Servicio de Orientación y Tutoría de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Alejandra Bergagna.
Dos grandes bloques organizan el texto. Mientras que Bergagna, Verónica Vila, psicóloga perteneciente al Servicio de Orientación, y Juan M. Díaz Pas, un estudiante avanzado de la carrera de Letras de la UNSa, escriben una amplia introducción, “Escritores originarios: la apropiación de la voz”, catorce estudiantes indígenas son los autores de la segunda parte del libro. Ellos son: Osvaldo ‘Chiqui’ Villagra, Ervis Díaz, A.C. Cielo, Sol, Emanuel Tapia, Marcos, Lidia, Magy, Vilma, Graciela, Rix, Robustiano Ramos, Amílcar y Anahí. Sus lugares de origen se hallan entre el Chaco Salteño-Jujeño (adonde residen grupos guaraníes y wikyi) y la Puna Jujeña (habitada, entre otros, por grupos kolla).
En la primera parte los autores describen el servicio de tutoría por el cual un grupo de estudiantes universitarios avanzados no indígenas acompañó, durante los años 2012 y 2013, a un grupo de estudiantes indígenas en su aclimatamiento institucional. A través de la organización de un Taller de Comprensión y Producción de Textos – del que participaron cinco tutores/as, estudiantes universitarios avanzados, no indígenas – se propusieron aproximar el lenguaje científico y académico a los estudiantes originarios, con objeto de facilitar su comprensión. En el transcurso del taller tutores/as y coordinadores/as hicieron varios descubrimientos. Primero, que los lazos entre la escritura y el poder se expresaban en las dificultades que tenían los estudiantes para comprender el discurso académico. Segundo, que esa incomprensión era el fruto de una “[…] estrategia de exclusión social más o menos evidente, más o menos formulada como proyecto” (Bergagna, 2013, p. 27). Tercero, y quizá el hallazgo más significativo, que
[…] no basta con enseñar a ‘comprender’ (es decir a leer, a consumir) los sentidos elaborados por otros, es necesario colaborar para que todos o muchos más accedan a ‘producir’ esos sentidos, a formularlos con su propia voz, en sus propios términos, según su propio ritmo, con el estilo de una lengua que los identifique con aquello que dicen (Bergagna, 2013, p. 28-29).
Los coordinadores, impulsados por los estudiantes indígenas, abandonaron el lenguaje científico como objeto. Se concentraron en la “escritura creativa”; eludieron las nociones de “aprobado/ desaprobado” para calificar la escritura de los estudiantes y en su lugar trabajaron con los conceptos de “edición” reflexiva: “[…] elaboración de estrategias de adecuación discursiva al contexto de participación, a los objetivos perseguidos por los participantes, a las representaciones mentales de los eventos de escritura y a las intenciones puestas en juego” (Bergagna, 2013, p. 33-34). De ello derivaron algunos de los tópicos sobre los que versó la escritura de los estudiantes: “[…] qué es ser kolla, qué es ser wicky [sic] o guaraní en la universidad nacional de Salta a principios del siglo XXI” (Bergagna, 2013, p. 36). Veamos entonces cómo respondieron a esta pregunta en la segunda parte del libro los autores wikyi, guaraní y kolla.
Además de una entrevista realizada por estudiantes secundarios de la ciudad de Salta a Osvaldo ‘Chiqui’ Villagra, predominan en la segunda parte del libro textos autobiográficos que se intercalan junto a relatos tradicionales (que describen el coquena, el origen del maíz, el origen del río Pilcomayo, las luciérnagas, entre otros). La lengua que usan los estudiantes para escribir es el español, aunque algunos textos (relatos tradicionales) son traducidos de manera simultánea a sus lenguas maternas, wikyi y guaraní. La mayoría de los autores firman sus textos recurriendo a sus nombres de pila (Celeste, Amílcar) o, aun, a sus sobrenombres (Magy, Rix), como si la comunidad de sus lectores pudiera reconocerlos, como lo hacen sus parientes y vecinos, a través de estas señales que emergen en el seno de la interacción cara a cara.
Consideradas en conjunto las autobiografías muestran lo inconmensurables que resultan los sistemas de aprendizaje propios de las culturas de los pueblos de los que provienen los estudiantes universitarios con respecto a la enseñanza escolar y universitaria. Veamos cómo producen estos autores esa ininteligibilidad en la que se halla comprometida su propia sobrevivencia en el ámbito universitario. Osvaldo Villagra, estudiante avanzado del Profesorado en Ciencias de la Educación de la UNSa, perteneciente al pueblo wikyi de la comunidad La Puntana, ubicada en el departamento de Rivadavia, Provincia de Salta, explica cómo aprendió a nadar y a pescar:
Uno de mis grandes desafíos cuando tenía apenas 6 años de edad era aprender a nadar, junto con otros chicos de la comunidad lo hacíamos en ‘pelhat´ilis’ que en español sería lagunas – aguas estancadas dejadas por las lluvias o el río -, y siempre con la presencia de una persona mayor, como primera regla; aprender a nadar a la perfección y luego sumergirse dentro del agua sin abrir los ojos ya que el agua es turbia, solo hay que guiarse con las manos y brazos. Antes de ir al río tenía que recibir una aprobación para poder hacer la otra parte más difícil, la de nadar en el río, y conocer los secretos del agua, es decir, reconocer su movimiento para detectar las partes profundas y menos profundas, así poder atravesarla hasta el otro lado, cruzar y nadar por la noche. Todo esto es para luego no tener tanta dificultad a la hora de aprender a pescar (Bergagna, 2013, p. 48).
De esta explicación entendemos varias cosas sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje local. Primero, los aprendices de la cultura wikyi son entrenados en los mismos contextos donde desempeñarán sus funciones una vez que hayan adquirido la pericia necesaria para ejecutarlas. Se trata de un conocimiento total que incluye una compleja teoría sobre el entorno y una delicada práctica, indisociables. Segundo, la división del trabajo del grupo (que separa a hombres de mujeres y niño/as de adultos/as) garantiza que todo miembro pleno de la comunidad acceda a los conocimientos mínimos que garanticen su sobrevivencia. El acceso a ese conocimiento no es objeto de monopolio de una elite que se lo reserve para sí como medio de dominación. Tercero, la función instrumental del aprendizaje (aprender a nadar para aprender a pesar y saciar una necesidad vital) no se haya disociada del valor lúdico y recreativo del entrenamiento, que se presenta ante el niño como un “gran desafío”.
Los autores originarios no oponen de manera tajante el sistema nativo de aprendizaje – holista y comprensivo – con respecto al sistema escolar occidental – abstracto, violento y compartimentalizado. La jerarquía, más o menos elaborada, está presente en todas las experiencias, nativas y escolares. Se trata más bien de la significatividad asociada a los nuevos saberes, a eso que Jean Lave denomina “aprendizaje como participación en comunidades de práctica” que se hacen inteligibles al sujeto, le dan un lugar en el mundo, transformando al mundo y él/ella en un solo movimiento.
Lidia, por ejemplo, cuenta cómo la emocionaba leer poesías en los actos escolares, a los que su madre asistía orgullosa, y que antes de los diez años comenzó, incluso, a escribir un libro sobre su vida (Bergagna, 2013, p. 121); Graciela, con ayuda de su familia, desde muy pequeña “leía todo lo que tenía a […] [su] alcance” (Bergagna, 2013, p. 127); y, Amílcar antes de ir a jardín de infantes aprendió junto a su abuela a leer el cartel que estaba frente a su casa, que decía en letras grandes “Municipalidad de Santa Victoria Oeste” y en letras chicas: “Por un futuro mejor”. Según estos autores, leer o escribir surgía del esfuerzo que hacían para ganarse un lugar digno al interior de un mundo en el que su presencia era requerida, deseada y reclamada.
Esta no es la experiencia de la mayoría de los escritores que aquí reseñamos. Muchos de ellos asocian el aprendizaje de la lecto-escritura con el “aprendizaje de la letra” y a este con el dolor de cabeza, el aburrimiento, la limitación de las horas de juego junto a los pares para hacer la “bendita tarea”, a situaciones de humillación colectiva, a través de los ejercicios de lectura en voz alta en el aula o en la casa frente a los compañeros, parientes y amigos, y a ejercicios que demandan como condición la soledad, el aislamiento del grupo de amigos o de la dinámica familiar. La posibilidad legítima de ser objeto de castigos y de desaprobación pública, a través de órdenes impartidas con gritos, por parte de maestros/as y familiares adultos, para muchos de los estudiantes está en íntima relación con los libros y las bibliotecas. Por ejemplo, Vilma señala en su texto: “De a poco empecé a leer pero nunca me sentía contenta con lo que leía porque me sentía incapaz de leer como mi maestra. Pero igual no me ponía a practicar, porque decía: ¿de qué me sirve leer?, es como que estaba confundida todo el tiempo” (Bergagna, 2013, p. 125).
Relatos auto-biográficos de estas características son los que predominan en la segunda parte del libro. Los textos son el resultado parcial de lo que sucedió con el Taller que organizó el Servicio de Orientación y Tutorías de la UNSa. En la primera parte Bergagna cuenta que durante los primeros encuentros los estudiantes manifestaban desinterés por el discurso científico que les era presentado como objeto de trabajo. La letra críptica aparecía como la representante de un mundo que denegaba persistentemente su presencia efectiva, como miembros de pueblos originarios, en la Universidad. Los desconocía como agentes capaces de producir significado en los términos de una voz, ritmo y estilo propios. Ante este desinterés por parte de los estudiantes originarios los coordinadores modificaron los términos en que era pensado el taller y abandonaron la “enseñanza magistral”, dicen haberse concentrado en la “escucha” (Bergagna, 2013, p. 37).
De ello emergieron varias iniciativas por parte de los estudiantes. Organizaron una feria universitaria donde mostrar sus ropas, bailes, canciones y productos que fabricaban con sus manos. Comenzaron a dictar cursos de idioma y cultura wikyi en la escuela secundaria que dependía de la UNSa. Finalmente, organizaron el CEUPO que le dio una representación política en el ámbito universitario. Escribir sobre los derroteros, muchos veces violentos, a través de los cuales estos estudiantes habían llegado a la universidad, transformó al taller y el propio concepto de escritura. Usada como performance junto a otras actividades expresivas, apareció como un instrumento a través del cual modificar los términos en los cuales la exclusión y la denegación eran incluidas como principios implícitos de interacción y base de la enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario.
La enseñanza universitaria simplemente ignoraba a quiénes tenía frente a sí, los saberes que portaban y sus culturas de origen, considerándolos simples receptores pasivos de un conocimiento magistral. Se trata de un principio que pocos estudiantes (indígenas o no indígenas) logran problematizar. Este grupo lo hizo sosteniendo que sus culturas de origen eran “milenarias” e “inmortales”. El título del libro, una afirmación existencial y política, presenta la intención de este grupo de estudiantes: que la institución reconociera su origen étnico como propiedad y principio ineludible para su existencia efectiva en el medio universitario.
Si la transmisión de la cultura supone una teoría acerca de cómo es producido y reproducido el conocimiento por parte de los miembros de un grupo social, es decir, si entendemos a la cultura como un lugar adonde se elaboran epistemologías, entonces hay en los escritos de los autores indígenas de este libro un esfuerzo por mostrar sus propias maneras de aprender y enseñar diversas dimensiones de su cultura y de su entorno. Comprendemos, de la mano de los estudiantes, que en nuestras Universidades conviven diversas epistemologías. Reconocerlas, como condición de nuevos aprendizajes, es un primer paso, y en esta línea se halla el libro que reseñamos. El segundo paso es el diálogo, en igualdad de condiciones, de diversas epistemologías que conviven, de hecho, en el ámbito universitario. Esto es una materia pendiente para la enseñanza universitaria y para la investigación. Como sostiene Alcida Rita Ramos, para el caso de la Antropología Social, las teorías nativas acerca del saber y las teorías académicas podrían no sólo dialogar sino, incluso, fertilizarse mutuamente, colaborando en la institución de una verdadera “ecumene teórica”, una congregación de teorías sociales. Ello transformaría, enriqueciendo, nuestra manera (homogénea y autoritaria) de producir conocimientos.
“La inmortalidad de nuestras culturas milenarias” es fruto del proyecto “Interculturalidad e inclusión en contextos regionales. Un análisis de las dimensiones vinculadas al ingreso a la universidad en estudiantes indígenas”, que fue desarrollado en la UNSa con el apoyo de la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación del estado nacional argentino. Escrito a partir del método “Sistematización de Experiencias”, se trata de un esfuerzo intelectual por mostrar los desafíos culturales y políticos comprometidos en las prácticas educativas cuando son desarrolladas en situaciones de interacción interétnicas. De ello surge el valor por comentar su aparición y promover su lectura.
Referencias
BERGAGNA, María Alejandra. La Inmortalidad de nuestras Culturas Milenarias. Salta: Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO), 2013. 153 p. E-Book. [ Links ]
Laura Marcela Zapata – Es antropóloga social. Investigadora adscripta al Centro de Antropología Social, Instituto de Desarrollo Económico y Social. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de José C. Paz. E-mail: lauramarcelazapata@yahoo.com.ar
Urbanidades / Mnemosine Revista / 2015
Em boa hora chega este Dossiê Temático, o qual surge em atendimento a duas exigências: de um lado, para fins de manter periodicidade da Revista Mnemosine e, de outro, para criar um canal de reflexão em torno dos estudos acadêmicos sobre o urbano, um campo que vem ganhando cada vez mais força no seio da comunidade historiadora e que ocupa um lugar garantido na historiografia brasileira nos dias que correm.
A Revista Mnemosine, ainda que tenha sido criada para ser uma espécie de caixa de ressonância das pesquisas orientadas nas linhas de pesquisa do PPGH / UFCG, sempre foi além desse caráter endógeno, abrindo-se desde o momento de sua criação para as devidas interações e trocas historiográficas, extensivo a outros saberes no âmbito das humanidades, isto em termos regionais e / ou nacionais, imprimindo, por assim dizer, uma linha de editoração também de caráter exógeno. A prova está neste Dossiê, em que, como veremos abaixo, comporta não só um conjunto significativo e diverso de contribuições de pesquisadores de diversas partes do país sobre o urbano, como pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, História, Geografia, Recursos Naturais.
Dossiê também chega numa hora propícia se se considera que se trata de uma proposição da Linha de Pesquisa I, do PPGH / UFCG, denominada Cultura e Cidades, em que seus pesquisadores têm em mente, com esta publicação, duas metas: contribuir para o enriquecimento do debate interno com os pós-graduandos da Linha; criar um canal permanente de diálogo com pesquisadores do urbano Brasil afora, em especial com os que estão vinculados ou estiveram vinculados aos inúmeros cursos de pós-graduação em história e áreas afins nas diversas regiões do país. De resto, para que se conheça e ganhe maior visibilidade o que tem sido feito em Campina Grande, desde que o nosso Mestrado foi criado, no tocante à afirmação de um corpo de pesquisadores em história urbana com forte acento na História Cultural e na História Social, aos quais vieram se somar, em anos recentes, profissionais que pesquisam sobre o urbano com recortes temáticos sugeridos pelos Estudos Culturais.
O fato é que a linha de pesquisa Cultura e Cidades, do PPGH / UFFG, ainda que profundamente marcada por toda uma diversidade temática e epistemológica – fruto das muitas influências que marcaram seus pesquisadores nos cursos de pós-graduação em História e áreas afins na UNICAMP, UFPE, UFPB, entre outras IFES -, tem funcionado com um mínimo de coesão interna, significando, com isto, que diversidade na unidade tem sido o leitmotiv dos que a fazem. Portanto, foi com base nessa perspectiva de pluralidade temática e epistemológica que este Dossiê foi pensado, em que se garante um mínimo de autonomia autoral e textual para cada um dos trabalhos, mas sem perder de vista certa convergência no trato do urbano em sintonia com o espírito da linha de pesquisa referida, a saber, seus inúmeros recortes sobre o urbano, seus vínculos epistemológicos com a História Cultural, a História Social, a História Política, os Estudos Culturais, seu lugar-comum no tocante à ideia de que não existem ilhas de história e, por conseguinte, sua apreensão da vida cotidiana e seus devidos nexos com dimensões totalizantes, holísticas etc.
Os dez artigos que compõem este Dossiê formam sem dúvida um conjunto multifacetado. Provenientes de diversas partes do país ou do próprio PPGH / UFCG, os artigos em questão comportam diferentes recortes temáticos associados à história urbana e diferentes olhares em termos de epistemologia e / ou aporte teórico. Também diversas são as fontes pesquisadas por cada autor, com o consequente uso dos métodos hoje na ordem do dia para fins de bem processá-las.
O artigo intitulado CIDADE SOB A ORDEM SANITARISTA (JACOBINA – BAHIA – 1955- 1959), de autoria de Edson Silva, focaliza um conjunto de ações normativas e disciplinares, em âmbito público e privado, no cotidiano da cidade mencionada no título. Trata-se, entre outras coisas, de demonstrar as práticas de resistência e / ou rebeldia da população jacobinense às exigências de certa gestão municipal, com o beneplácito de profissionais da imprensa, no tocante à adoção de hábitos de feição médico-sanitarista.
O artigo com o título CORPO, SAÚDE E TRABALHO: O(S) DISCURSO(S) ANARQUISTA E SOCIALISTA EM RELAÇÃO AO(S) CUIDADO(S) DE HIGIENE EM PORTO ALEGRE (1900-1910) é de autoria de Eduardo da Silva Soares e Glaucia Vieira Ramos Konrad. Texto se debruça sobre periódicos anarquistas relativamente à cidade de Porto Alegre do início do século XX, confrontando-os em seguida com a bibliografia corrente acerca do tema. Desses usos e confrontos, emerge uma proposta de análise preocupada, entre outros, com os fatores que seguem: detecção dos sonhos anarquistas no tocante a uma sociedade livre dos poderes constituídos e, consequentemente, da opressão; identificação das precárias condições de vida e trabalho da gente oprimida em contraste com a vida burguesa; mapeamento das doenças, a tuberculose incluída, que afetam o bem estar físico e mental dos trabalhadores; enfoque de todo um universo imagético, com destaque para as linhas críticas de caráter anarquista, com vistas ao fomento de uma consciência de classe, vale dizer, ao modo como os trabalhadores traçam de forma consciente os caminhos da luta contra a opressão.
O artigo IMAGENS DA MODERNIZAÇÃO NO CONTEXTO TEATRAL: SERTÃO, URBANIZAÇÃO E PROGRESSO NA CUIABÁ DOS ANOS 1940 PELA OBRA DE ZULMIRA CANAVARROS é de autoria de Antonio Ricardo Calori de Lion. Voltado à análise dos traços arquitetônicos da Cuiabá – capital matogrossense – dos anos 1940, o texto explora, por meio de um vínculo visível com a História Cultural, os elementos sensíveis, esteticamente falando, da nova arquitetura implicada no processo de modernização da cidade, e tudo isto com base na apropriação / recepção da produção cultural de Zulmira Canavarros, que, segundo palavras do próprio autor, “se firmou enquanto personalidade influente no cenário cultural cuiabano”.
O artigo assinado com o título de AS SOMBRAS DAS IMAGENS: A GUERRILHA URBANA NO CARIRI CEARENSE EM 1967 é de autoria de Assis Daniel Gomes. A guerrilha urbana contra a ditadura militar no Brasil, como é público e notório, tem sido costumeiramente recortada como objeto de estudo no tocante ao eixo Rio – São Paulo. Tanto é assim que existe uma significativa historiografia a respeito. Poucos sabem da existência de guerrilha urbana em outras áreas do país, menos ainda em se tratando do Cariri cearense. Pois é exatamente de guerrilha urbana na região caririzeira cearense que trata este trabalho. Por meio do periódico intitulado “Jornal Unitário”, relativo ao ano de 1967, o autor colige todo um feixe de discursos e imagens visuais presentes em suas páginas, com vistas à demonstração do modo como forças da repressão entraram em ação para, nas palavras do autor, “desorganizar e exterminar a formação de guerrilheiros nesse território”. De resto, um jornal a serviço do regime ditatorial recém-implantado, deixando claro sua pretensão, devidamente explorada pelo autor, no tocante ao convencimento de que os guerrilheiros eram inimigos da nação, devendo prevalecer na região, por isso mesmo, uma espécie de lei do silêncio.
O artigo FORMAÇÃO DAS FAVELAS NUMA CAPITAL PLANEJADA: Belo Horizonte e Região Metropolitana, assinado por Francis Albert Cotta e Wellington Teodoro da Silva, analisa as contradições do planejamento da capital mineira, um planejamento incapaz de comportar / incomodar toda uma massa empobrecida. O resultado não poderia ser outro, favelização em meio ao propalado planejamento e tentativa de ordenamento urbano. O corolário de tudo isso? Uma cidade cujo projeto de racionalização da ordem urbana, que se queria higienizada / disciplinada, se desfaz ante toda uma torrente de gente empobrecida que, em sua maioria oriunda do êxodo rural, se vê obrigada a morar nas favelas, à margem de qualquer política pública, praticamente desamparada no que se refere à presença do Estado.
O artigo intitulado ITINERÁRIOS CAMPINENSES NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: PERCURSOS, MEMÓRIAS E TERRITÓRIOS, de João Paulo França, se propõe a descortinar os possíveis itinerários das vivências cotidianas nas ruas, becos e logradouros da Campina Grande da primeira metade do século XX. Lançando mão de fontes como jornais, propagandas e fotografias, o autor rastreia os percursos, territórios e memórias dos campinenses e / ou forasteiros que eram atraídos pela cidade na temporalidade referida. E mais: ainda que não tenha certezas à mão, o autor aceita o desafio de explorar o passado campinense, com o que é possível explorar, o mais proximamente possível, isto é, em termos verossímeis. Ademais, comparando-se a um flâneur, que sentia-se em casa ao adentrar a flanerie, o autor parece estar a exigir do leitor uma certa cumplicidade para fins de que ele, leitor, também sintase igualmente em casa ao percorrer esses itinerários da vida campinense à época mencionada.
O artigo ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE URBANA MUNICIPAL: UMA ANÁLISE DA GESTÃO URBANA DE CAMPINA GRANDE-PB, de Maria de Fátima Martins e Gesinaldo Ataíde Cândido, tem a pretensão de refletir sobre o quanto um espaço urbano dado precisa de mecanismos de sustentabilidade para tornar a cidade minimamente viável em termos econômicos, urbanísticos e ambientais. Com este fim, os autores lançam mão do Plano Diretor da cidade de Campina Grande relativo ao ano de 2006, estabelecido pela Lei Complementar n° 003, de 09 de outubro, em conformidade com o que estabelece o Estatuto da cidade. Partindo do pressuposto de que os espaços urbanos carecem de mecanismos de sustentabilidade, os quais devem ser geridos por políticas públicas adequadas devidamente monitoradas, os autores se debruçam sobre o Plano Diretor referido para verificar até que pontoo Índice de Sustentabilidade Urbana em Campina Grande tem pontos positivos. Enfim, um modelo de análise criado, a partir de certos indicadores, para avaliar a experiência de Campina Grande, mas que, como admitem os autores, poderia ser aplicado a outras realidades, desde que se atente para as peculiares de cada local. No caso em apreço, a parte da vida urbana campinense que requer mais atenção em termos de sustentabilidade, é a dimensão urbanística, isto em decorrência “da cidade dispor de infra-estrutura básica de funcionamento com sistemas de abastecimento de água, energia, coleta de resíduos, esgotamento sanitário, transporte público, espaços públicos com áreas de lazer, entre outros”. Mas claro, nada disso pode ser melhorado a contento; nada disso pode ser incrementado de modo dinâmico; nada disso, enfim, tornar-se-á realidade se o Plano Diretor Municipal não puder contar, para fins de viabilizar políticas públicas para tornar a cidade sustentável, se não estiver associada a uma gestão democrática e participativa. Ora, sem uma estrutura institucional e política que dê garantias democráticas no tocante à participação dos munícipes, nenhum plano diretor viabilizará a cidade em termos sustentáveis.
O artigo A SOCIONATUREZA DOS RIOS URBANOS: A EVOLUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO RIO COMO INTANGÍVEL NO IMAGINÁRIO DA CIDADE, da autoria de Luiz Eugênio Carvalho, volta-se à explicação da reconstrução conceitual em se tratando das ações de drenagem urbana. Ao invés das antigas apreensões dicotômicas entre homem e natureza ou entre materialidade e representação, o texto chama a atenção para o caráter híbrido dessas relações. Portanto, nada de colocar construção material de um lado, representações do outro. Com a própria palavra o autor: “a construção material de cidades ambientalmente mais adequadas passa pela transformação das representações que temos de seus elementos componentes, neste caso com destaque para os rios urbanos”. Se posicionando contra certa noção naturalizada acerca dos rios que cortam as cidades, o autor esclarece não são tão intangíveis assim como nos quer fazer crer a legislação
Gervácio Batista Aranha – O autor é doutor em história pela UNICAMP e professor da UFCG.
ARANHA, Gervácio Batista. Apresentação. Mnemosine Revista. Campina Grande, v.6, n.3, jul. / set., 2015. Acessar publicação original [DR]
Remuneração Variável de Professores: produzindo um superador de metas – EVANGELISTA (ER)
EVANGELISTA, Simone Torres. Remuneração Variável de Professores: produzindo um superador de metas. Rio de Janeiro: ComPassos Coletivos, 2013. Resenha de: VALENTIM, Igor Vinnicius Lima. Remuneração Variável: subjetivação e produção do professor-vendedor. Educação & Realidades, Porto Alegre, v.40, n.3, jul./set., 2015.
A remuneração variável em si não é uma novidade. A importação de políticas neoliberais para o setor público e até mesmo para a área da Educação no Brasil também não o são. Mas a equação se torna mais complexa e preocupante quando se criam políticas que unem remuneração variável como instrumento para gerir a educação e o trabalho de docentes em escolas públicas.
Simone Torres Evangelista nasceu e sempre residiu no Rio de Janeiro. Filha de pai motorista e de mãe artesã e costureira, sempre estudou na rede pública de ensino. Pedagoga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense, Simone trabalha há mais de quinze anos na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ). Nos dois primeiros anos na Administração municipal, atuou como agente administrativo e, a partir de então, ocupou o cargo de professora, atuando como regente, coordenadora pedagógica, para além de cargos na gestão, tanto em Coordenadoria Regional de Educação (CRE) quanto na própria Secretaria Municipal de Educação (SME).
O livro Remuneração Variável de Professores: produzindo um superador de metas mergulha no universo das políticas de gestão da educação pública do município do Rio de Janeiro, com especial atenção aos impactos trazidos pela adoção da remuneração variável como política de gestão do trabalho docente. O que sentem os professores e professoras? Como lidam com essa política? Como isso afeta o trabalho que realizam, seus cotidianos, saúde e vidas? Essas são algumas das fundamentais perguntas que esse livro busca aprofundar.
A obra tem como principal objetivo analisar os impactos – na produção de subjetividades – da adoção da remuneração variável por desempenho como parte da política de gestão da educação e do trabalho dos professores da rede municipal de educação do Rio de Janeiro.
Utilizando-se de uma abordagem conceitual apoiada em autores como Deleuze, Guattari e Foucault, a autora compreende a remuneração variável de professores da PCRJ como uma política de subjetivação, ou seja, de produção de subjetividades. Neste sentido, em um trabalho denso e coeso, analisa as legislações que regem o trabalho docente na rede carioca, lócus bem escolhido por adotar essa política desde a eleição do atual prefeito Eduardo Paes e da consequente nomeação de Claudia Costin como Secretária Municipal de Educação à época.
Para além do estudo documental, a autora vai a campo em prosseguimento à pesquisa teórica já publicada por Educação e Realidade (Evangelista; Valentim, 2013), vivendo períodos de observação participante e realizando diversas entrevistas com docentes da rede.
No capítulo um, Mudanças na Gestão do Trabalho Docente, Evangelista analisa diversas mudanças relacionadas à gestão do trabalho ao longo da história. A obra tem um mérito digno de reconhecimento e, muitas vezes, raro nos dias atuais: vai aos originais de Taylor e de Ford para mostrar a atualidade de suas proposições e políticas, apontando, por exemplo, que Taylor já propunha a remuneração variável como indutora de comportamentos desejados pelas empresas.
Passeando por teorias administrativas mais recentes como o Toyotismo proposto por Ohno, a autora bebe em Foucault e aponta que ainda que possa ser admitido que as relações laborais sejam um pouco menos coercitivas que no início do século vinte, isso ocorre porque se percebe que é mais lucrativo que o poder seja exercido de modo mais tênue sobre os corpos. Esse capítulo também aborda transformações do capitalismo e indica efeitos do neoliberalismo na gestão do trabalho no setor público, para além da análise de diversos aspectos trazidos pela emblemática Reforma Gerencial da Administração Pública Brasileira e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). A partir da racionalidade administrativa presente no PDRAE, o capítulo mostra diversas mudanças no cenário da educação pública brasileira, na autonomia docente e na avaliação da educação brasileira.
Dois aspectos levantados pela autora são centrais para o debate proposto pelo livro: o aumento da responsabilização e as mudanças na avaliação educacional brasileira. Com relação ao primeiro aspecto, a autora salienta que com a reforma educacional trazida pela LDB (Brasil, 1996) aumenta-se a responsabilização, “[…] que atribui o fracasso escolar à falta de competência da escola e de seus professores, desconsiderando que a ação educativa é afetada por problemas estruturais” (Evangelista, 2013, p. 47). Aponta ainda que “[…] mais que uma reforma gerencial, o que se viu foi um mecanismo de reformatar os papéis dos servidores públicos e suas subjetividades, assim como ocorreu com os trabalhadores de empresas privadas com o advento da reestruturação produtiva do capitalismo” (Evangelista, 2013, p. 49).
Já com relação ao segundo aspecto, é fulcral notar que a avaliação educacional passa a incluir a cultura da performatividade (Ball, 2005), utilizando julgamentos, comparações, exposições de resultados e indicadores como mecanismos de controle. A utilização de provas de avaliação em massa, com suas consequentes políticas contemporâneas no Brasil, não deixam dúvidas de que cada vez mais a avaliação passa a se basear em números, convertendo a vida em morte (Ferreira, 1996) ou, nas palavras da autora, “[…] o uso do IDEB promove uma quantificação do desempenho das diversas instituições de ensino público do país e também um ranking das mesmas, na medida em que faz com que cada uma passe a ter um índice como objetivo, um número como meta maior” (Evangelista, 2013, p. 49).
Por fim, o capítulo mostra que apesar da remuneração variável, como política de gestão da força de trabalho, já ser usada há dezenas de anos, a novidade está justamente quando essa política, oriunda da gestão de organizações privadas voltadas exclusivamente para o lucro, chega a ser utilizada para a gestão do trabalho docente nas instituições escolares públicas, feito que, na SME/RJ, teve início em 2009.
O capítulo dois olha para a prefeitura do RJ como organização. Passando rapidamente por um breve histórico, a análise da estrutura organizacional conduz os leitores a compreender um pouco mais a respeito de como a SME se insere dentro do governo. Traz informações relevantes a respeito da então secretária de Educação, responsável pela implantação da remuneração variável como política de gestão do trabalho docente. Essas informações apresentam especial interesse já que, na sequência, a autora analisa a política educacional da SME iniciada desde então, tentando caracterizar a nova política de remuneração docente da PCRJ como supostamente meritocrática.
É no capítulo três que Evangelista avalia profundamente o plano de cargos, carreira e remuneração dos professores da PCRJ, bem como as mudanças introduzidas juntamente com a remuneração variável. Aponta como as metas de desempenho vão sendo introduzidas para a rede municipal de educação, com base no IDEB de cada unidade escolar. Junto com a responsabilização, é introduzido o prêmio para aqueles professores lotados em unidades escolares que atinjam suas metas, ou melhor, as metas estabelecidas para eles pela Administração Municipal, de cima para baixo.
Ao descer mais um degrau na profundidade da investigação e olhar para as legislações pertinentes à implantação da remuneração variável para professores da PCRJ, é possível notar como a prefeitura do RJ não relaciona o prêmio apenas ao atingimento das metas relacionadas ao IDEB, mas também ao número de ausências dos professores durante o ano letivo.
Que mérito então essa política supostamente meritocrática aborda? Nas palavras da autora,
[…] toda a legislação que regulamenta a nova política de remuneração variável por desempenho se baseia em uma gestão do trabalho que bonifica pelo suposto mérito de elevar o desempenho escolar dos alunos, medido pelo alcance das metas do IDEB ou IDERIO por unidade escolar. Essa ideia consiste em atrelar desempenho escolar, controle do absenteísmo e estímulo financeiro, aplicando o método de eficiência de Taylor à administração de pessoal. Método que, teoricamente, está longe de preocupar-se com as necessidades humanas. Com esse método, o que a PCRJ pretende, com sua nova gestão, é uma reconfiguração dos papéis funcionais através de estímulos e sanções que moldam comportamentos, fazendo surgir novas subjetividades ao levar o docente tomar para si metas que são da SME/RJ (Evangelista, 2013, p. 87-88).
Na mesma linha de argumentação, a autora afirma, ainda, que
[…] [h]á uma tendência de julgar e responsabilizar os docentes por uma situação que, muitas vezes, lhes foge ao controle, já que seu desempenho é medido através dos resultados dos estudantes nas avaliações externas (Evangelista, 2013, p. 89, grifo da autora).
A parte mais rica da obra está compartilhada com os leitores no capítulo quatro. Nele, a autora relata a pesquisa de fôlego que fez com professores de pelo menos cinco escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, com o intuito de investigar como a remuneração variável por desempenho da PCRJ impacta a vida dos docentes. A autora chegou a fotografar marcas de tiros nas paredes de uma escola, conversou com professores da rede a respeito da remuneração docente, do plano de carreira, da mudança na remuneração docente na PCRJ e, obviamente, da remuneração variável e seus impactos no cotidiano desses professores.
São numerosas as polêmicas trazidas pela embasada pesquisa da autora que, sem romper as fronteiras da ética e preservando as identidades dos participantes da investigação, traz diversos exemplos de como a política implantada estimula a venda da educação, tratada como mercadoria.
Foram vivenciadas situações nas quais foi percebida a atuação de professores doentes para não perderem o prêmio. Surgiram também, nos diálogos trazidos pela obra, questões relacionadas à perda da autonomia docente, à utilização de cadernos pedagógicos (apostilamento) e ao direcionamento da prática em função das avaliações em massa, via treinamento de alunos. Apareceram também condutas de professores que sugeriam a seus alunos que fizessem provas a lápis, entre outras. Não seria exagerado o entendimento de alguns que consideram que a utilização da manipulação de resultados para garantir um adicional ao salário fere a ética na educação, reduzindo-a a mera mercadoria e estimulando um utilitarismo que enterra o compromisso social da função docente. Mas o livro não traz o intuito de culpabilização. Muito pelo contrário. A análise é fiel ao seu quadro teórico-conceitual ao apontar a triste constatação de que esses comportamentos são estimulados na medida em que se implanta uma política como a analisada.
Talvez um dos mais tristes efeitos da obra seja constatar como a política de remuneração variável premia o entendimento do estudante como meio, e não mais como finalidade da educação. E isso não ocorre sem o sofrimento dos professores. Se de um lado fazem o que podem para tentarem assegurar uma parcela adicional em sua baixíssima remuneração, de outro sofrem ao controlarem os colegas, os estudantes e a se controlarem cada dia mais em prol de objetivos e metas das quais nem sequer participaram da construção. Nas palavras de uma das professoras participantes da investigação:
[…] eu acho que eu não tô sendo mais eu, eu professora. Eu fico muito ansiosa por querer um dinheiro a mais (Evangelista, 2013, p. 153).
Outro depoimento é ainda fundamental para ilustrar o argumento aqui analisado: […] eu me sinto assim muito angustiada, é uma coisa que eu não consigo me adaptar. Quer dizer, eu me adapto, mas eu não aceito. Não acho que prêmio é bacana (Evangelista, 2013, p. 153).
A pesquisa mostra casos de problemas na saúde de professores e até de desistência e de burnout (Codo, 1999). A temática do adoecimento docente não é nova, porém, cabe observar-se – em estudos futuros – em que medida vem se intensificando com a nova política, principalmente em um momento que o valor do professor, na visão da Administração Pública, parece estar cada vez mais reduzido a ser um permanente superador de metas.
Nas palavras de Deleuze, “[…] não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” (Deleuze, 1992, p. 212). Não se pode mais esperar para quebrar com a naturalização de políticas e objetivos que foram estabelecidos por outras pessoas e organizações e que não potencializam a vida. É fundamental nos questionarmos mais a respeito das implicações daquilo que fazemos, muitas vezes sem nos dar conta, daquilo que concordamos, inclusive quando silenciamos.
Em um mundo dominado por mercados de compra e venda, os índices que medem a qualidade da educação também estão à venda. E custam cada vez menos aos cofres públicos, comprometendo cada vez mais o cotidiano de professores e estudantes e a própria qualidade da educação se esta for compreendida como ligada à formação de cidadãos críticos.
Não importam as condições de vida dos estudantes, nem as condições de trabalho nas escolas, nem tantas outras numerosas influências no desempenho de um estudante. Também não importa o tipo homogeneizante e conteudista de avaliação realizado. Os estudantes foram convertidos em meios para avaliar o trabalho docente, como se seus desempenhos dependessem única e exclusivamente dos trabalhos destes professores e professoras. E, igualmente grave, como se suas notas em avaliações em massa pudessem ser relacionadas apenas à qualidade da educação. Só importam os resultados obtidos pelos estudantes nas avaliações em massa. Essa é a qualidade naturalizada por todos sem ter sido sequer discutida.
Construímos cotidianos nos quais a pressa é cada vez maior e a reflexão pouco valorizada e até mesmo criticada. Este livro é leitura obrigatória não apenas para professores, mas para estudantes, pais e todos aqueles que desejam um entendimento da educação pública que estamos produzindo. Ele nos dá a oportunidade de refletir que não existem completos inocentes com relação ao sistema educacional contemporâneo. Embora a responsabilidade daqueles que elaboram políticas cruéis tais como aquelas aqui apresentadas seja inegável, cada atitude nossa, inclusive a de permanecer em silêncio ou de não questionar aquilo que (vi)vemos, ajuda a construir, ainda que pelo consenso ou pela passividade, o que nem sempre temos a coragem de criticar em nossas atitudes.
Obra corajosa, não só pelo tema, mas por escancarar os mecanismos utilizados para tentar contornar pressões, conseguir remunerações minimamente dignas – que nunca se tornam justas perante a responsabilidade que têm. Por ouvir os professores e construir sem medo o triste modus operandi da educação pública carioca em nível municipal hoje. Resistências e possibilidades? Submissão e complacência? Tudo parece desesperador quando se pensa na educação que se está construindo, bem como nos meios e políticas utilizados. Nos hábitos e subjetividades.
A pesquisa aponta o caráter doente e criador de doenças de nossa sociedade. Traça conexões entre políticas de gestão, subjetividade, adoecimento e culpa. São desnudadas as políticas de subjetivação em curso, ligadas à gestão do trabalho e da vida, como importantes elementos na construção de modos de ver, sentir, estar e trabalhar que conduzem grande parte das pessoas a enfermidades que não são apenas físicas, mas sociais, econômicas e, simultaneamente, existenciais.
Este livro é um contra-ataque em prol de subjetividades mais comprometidas com outros mundos e valores, diferentes daqueles hoje dominantes em nossas sociedades doentes, construídas por relações baseadas na repetição, na morte, na competição.
Não parece coincidência que os meses de agosto e setembro de 2013 testemunharam mais uma greve dos professores da municipal do Rio de Janeiro. E uma das reivindicações foi justamente relativa ao fim da remuneração variável. Entretanto, com um sistema judiciário de cegueira muitas vezes duvidosa, a greve foi declarada ilegal.
Por fim, espera-se que a obra possa servir como estímulo na direção de lutas, mobilizações e resistências em prol da produção de outras subjetividades e da construção de outras concepções de educação e de vida.
Referências
BALL, Stephen. Profissionalismo, Gerencialismo e Performatividade. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, Fundação Carlos Chagas, v. 35, n. 126, p. 539-564, set./dez. 2005. [ Links ]
BRASIL. LDB. Lei 9394/96. Lei de Diretrizs e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996. P. 27833. Disponível em: . Acesso em: 20 set. 2014. [ Links ]
CODO, Wanderley (Coord.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 1999. [ Links ]
DELEUZE, Gilles. Conversações (1972-1990). Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. [ Links ]
EVANGELISTA, Simone Torres. Remuneração Variável de Professores: produzindo um superador de metas. Rio de Janeiro: ComPassos Coletivos, 2013. [ Links ]
EVANGELISTA, Simone Torres; VALENTIM, Igor Vinicius Lima. Remuneração variável de professores: controle, culpa e subjetivação. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 38, n. 3, p. 999-1018, jul./set. 2013. [ Links ]
FERREIRA, José Maria Carvalho. Pedagogia Libertária Versus Pedagogia Autoritária. 1996. Disponível em: . Acesso em: 20 set. 2014. [ Links]
Igor Vinicius Lima Valentim – É professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: valentim@gmail.com
Península de recelos – MARCOS (RH-USP)
MARTÍN MARCOS, David. Península de recelos. Portugal y España, 1668-1715. Madri: Marcial Pons, 2014. Resenha de: MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.Aug 25, 2015.
Após a ênfase das historiografias nacionalistas sobre os conflitos entre os estados modernos europeus, bem como o seu reforço pelos regimes autoritários vividos na península ibérica do século passado, nas últimas décadas, os temas da união das coroas e da Restauração portuguesa foram revistos por novos estudos.2 Mas os contatos entre Portugal e Espanha depois da chancela formal da independência lusa em 1668-1669 careciam de um maior aprofundamento. A lacuna foi parcialmente preenchida por Rafael Valladares, ao priorizar a perspectiva da monarquia hispânica para tratar da rebelión de Portugal.3 Agora, pela pena do jovem historiador David Martín Marcos, vê-se o ampliar da conjuntura abarcada e o formular de um novo nexo interpretativo em torno do reconhecimento paulatino da secessão portuguesa, consolidado pelos países ibéricos e potências europeias apenas no tratado de Utrecht.
No entanto, Martín Marcos trata dessas relações enfatizando os temores de Lisboa, cruzando-os a outros registros vindos de Madri, Paris, Londres, Viena, Haia e Turim. Receios de reanexar-se Portugal, pois a atenção dos embaixadores lusos ao descumprimento cerimonial, flagrando desrespeito espanhol aos escudos da soberania portuguesa, era uma constante. Receios sobre as reivindicações dos vassalos dos Habsburgo ou Bragança com terras no país vizinho. E acerca das fronteiras peninsular e ultramarina – querelas que seriam reincidentes na Guerra de Sucessão da Espanha. Entre os fins de duas guerras, David Martín narra um contexto outrora nebuloso sobre o qual as histórias e historiografias ibéricas andavam separadas. A secção foi fruto da própria propaganda lusa forjada após 1640 e do nacionalismo característico de vários trabalhos tradicionais. A narrativa é mesmo uma forte marca do livro, no qual o autor prefere não descrever e/ou comentar a maioria das fontes. Todavia, os documentos são referenciados nas notas e interpretados no texto principal, ao incorporar-se os seus sentidos ao enredo diacrônico tecido.
Pelos fios soltos deixados pelas dinastias de Bragança e Habsburgo no tratado de 1668, Martín Marcos aborda a difícil conjuntura ibérica, com o esgotamento do erário público, das tropas e o descontentamento das populações pelo longo conflito. Em Portugal, o imbróglio envolvendo os filhos de d. João IV indicava a fragilidade do novo poder régio. Após a queda de Castelo Melhor, d. Pedro deveria firmar-se como regente. Embora buscasse a neutralidade no plano externo, internamente sobreviviam os partidários de d. Afonso e da reintegração à monarquia hispânica, fazendo com que as tropas ficassem em alerta na fronteira e a urbes lisboeta em paranoia. Na Espanha, apesar da supressão do Conselho de Portugal, deixava-se aberta a chance de reintegrar o país vizinho. Mas, ali, os nobres lusos fiéis aos Habsburgo pressionavam para proteger seus patrimônios em Portugal, na verdade ambicionando pensões e bens na nova pátria. Em Madri ou Lisboa, os embaixadores tendiam a ser tratados de modo hostil. E a diplomacia francesa valia-se dessas tensões para aproximar-se de Portugal. Martín Marcos perscruta assim um cenário mais complexo de afirmação da identidade nacional lusa sob a égide Bragança – algo excessivamente resumido em vários trabalhos pelo jargão explicativo da aliança inglesa, ratificada no propalado casamento de Catarina de Bragança com Carlos Stuart. Além dos insumos documentais oriundos de diversos arquivos europeus, o historiador vale-se da recente internacionalização da historiografia lusa, dos estudos de história diplomática e das biografias em voga sobre príncipes e regentes.4
Entretanto, os embaixadores lusos e espanhóis em Madri e Lisboa protagonizam o primeiro capítulo do livro. Suas performances foram decisivas nas regências de Pedro de Bragança e Mariana de Áustria, e também no reinado de Carlos II – um tempo de fidelidades recentes e oscilantes. Por exemplo, o conde de Miranda e o marquês de Gouveia, incertos no reclame de bens de portugueses na Espanha, foram mais atentos à prática do correto protocolo; já o espanhol conde de Humanes implicou-se na conspiração que planejava libertar d. Afonso VI em 1673, sendo por isso removido do cargo. Os franceses valiam-se dessa “calma tensa” para propor acordos com Portugal, com apoios internos importantes, mormente da princesa d. Maria Francisca de Saboia e do duque de Cadaval. Porém, na Espanha, fatos como a ascensão de Juan José de Áustria e o casamento de Carlos II alteravam frequentemente o quadro. A fundação de Sacramento era o espelho ultramarino dessas tensões ibéricas, chegando a provocar preparativos de guerra no Alentejo.
Entre o reinado de d. Pedro II e a morte de Carlos II, o segundo capítulo centra-se nas tratativas de casamentos e mortes de príncipes como elementos propulsores de reviravoltas políticas. A documentação de Turim enriquece a análise do plano frustrado de d. Maria Francisca para casar a infanta Isabel de Bragança com seu primo, o duque saboiano. Sucedem-se as mortes de d. Afonso, da própria rainha e o novo casamento de Pedro II, indicando uma aproximação com Madri. Se na Espanha havia tensões com o frágil reinado de Carlos II, em Portugal, vários clérigos, soldados e fidalgos eram favoráveis à união. Mas d. Pedro mantinha-se neutro, receando contrariar Paris ou outro poder. No ambiente tenso dos reinos europeus e no ultramar, David Martín analisa os arranjos diplomáticos e tratados de partições entre Londres, Viena, Paris e Haia, que adiantavam o problema sucessório espanhol. E evidencia o memorial então divulgado sobre os pretensos direitos do rei Bragança.5 No entender do embaixador Cunha Brochado, recordar que d. Pedro II era hispânico e podia herdar o trono poderia trazer compensações futuras. Mas havia controvérsias sobre a conveniência do partido Bourbon tomado por d. Pedro.
O terceiro capítulo trata da Guerra de Sucessão e das negociações de Utrecht. No teatro das embaixadas em Lisboa, a inépcia do espanhol Capecelatro contrastava com a argúcia dos Methuen, pai e filho. Martín Marcos vale-se da revisão historiográfica sobre o célebre tratado6 e de escritos como o do futuro conselheiro ultramarino António Rodrigues da Costa, doravante alarmado com os impactos da guerra na América portuguesa. E, pelas cartas diplomáticas, detalha a oscilação lusa que culminaria na nova aliança em prol de Carlos Habsburgo. O livro atinge o ápice ao narrar o desembarque do arquiduque austríaco no Tejo em 1704, a decoração festiva de propaganda e sua viagem a Madri em companhia de Pedro II, sublinhando o uso político da situação pelo rei português. Mais ao sul da nova base aliada na Catalunha, a fragorosa derrota na batalha de Almansa gerou críticas ao desempenho dos soldados lusos.7 Todavia, o apoio do Império a Portugal foi reforçado no casamento de d. João V com a irmã de José I – como se sabe, a morte deste imperador, abrindo o trono austríaco ao novo arquiduque Carlos, favoreceu o fim da guerra. Martín Marcos contextualiza então as querelas luso-hispânicas por questões de fronteira e territórios ultramarinos, pequenas no quadro de pressões maiores das grandes potências, como a reivindicação inglesa por Gibraltar. Em Utrecht, os hábeis Tarouca e Luís da Cunha esgrimiam a sua experiência política. Os acordos reservaram a Portugal concessões nas margens do Amazonas e Sacramento, mas as fronteiras ibéricas ficaram incólumes, como antes da secessão. Contudo, nesse “quase nada” de ganhos territoriais, David Martín sublinha o feito do reconhecimento real da soberania de Lisboa ao libertar-se do fantasma de Madri que, mesmo enfraquecida, ainda se comportava, após 1668, como sede de uma pretenciosa monarquia.
À maneira de um romance, no epílogo, David Martín Marcos reflexiona sobre as razões desse percurso singular: um simples duque sendo aclamado novo rei de Portugal era, com efeito, algo insólito para a Espanha, que tendeu a considerar a sublevação lusa uma mera questão interna; também a geografia corroborava essa visão, fazendo os portugueses participarem de uma monarquia plural e ao mesmo tempo castelhana. Mas isso também validava o argumento de uma Hispânia liderada por Lisboa, justamente no momento de afirmação diplomática da independência de Portugal. O jogo de forças maiores explica porque o tímido pleito de Pedro II não foi considerado. Ainda assim a ideia era plausível, pois os Bragança eram reis naturais de Portugal, em contraposição aos estrangeiros austríacos e franceses. Paradoxalmente, a consolidação de Portugal como reino autônomo, outrora favorecido com o enfrentamento intermitente franco-espanhol, ocorreu somente no fim desta contenda, com a entronização de Felipe V. Um reconhecimento em troca do fim da neutralidade lusa, postura usualmente adotada desde os primeiros tempos da Restauração. Doravante, as duas monarquias ibéricas seriam empurradas para os lados de Inglaterra ou França.
Portanto, sem afãs patrióticos, o historiador nascido e formado em Valhadolid – corte da velha Castela e próxima ao régio arquivo de Simancas – desloca o prisma do tempo para captar a península nas décadas seguintes à secessão ibérica, período sem dúvida menos glorioso para a monarquia espanhola. Fá-lo num estilo narrativo semelhante ao dos livros de Evaldo Cabral de Mello,8 com detalhes de escaramuças políticas e diplomáticas perscrutados nos arquivos europeus, não obstante a maior síntese empreendida pelo historiador espanhol. Entretanto, o olhar de Martín Marcos – diferentemente do ex-diplomata brasileiro, que sempre escreveu sobre Pernambuco – também viajou no espaço, ao privilegiar o estudo dos receios de Portugal, e não tanto de Espanha, no exato momento de sua afirmação enquanto reino ibérico livre e expressivo no exterior. Em suma, o prêmio ganho pela obra em sua casamater, que permitiu justamente a sua publicação, denota uma significativa ampliação e um despojamento dos horizontes acadêmicos “nacionais”, fruto das atuais políticas de fomento europeias. Sem receios, David Martín Marcos aproveitou bem a oportunidade de unir histórias e historiografias em torno de uma narrativa consistente e calibrada.
Referências
ALBAREDA, Joaquim. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica, 2010. [ Links ]
BRAGA, Paulo Drumond. Dom Pedro II. Uma biografia. Lisboa: Tribuna, 2010. [ Links ]
CARDIM, Pedro. Portugal en la guerra por la sucesión de la monarquía española. In: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (org.). La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada. Madri: Sílex, 2009, p. 205-256. [ Links ]
CARDOSO, José Luís. Leitura e interpretação do tratado de Methuen: balanço histórico e historiográfico. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2002, p. 11-29. [ Links ]
COSTA, Fernando Dores. A participação portuguesa na Guerra de Sucessão da Espanha: aspectos políticos. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2003, p. 71-96. [ Links ]
FARIA, Ana Maria Homem Leal de. D. Pedro II, o Pacífico. Dinastia de Bragança (1683-1706). Lisboa: QuidNovi, 2009. [ Links ]
KAMEN, Henry. La Guerra de Sucesión en España (1700-1715). Barcelona: Grijalbo, 1974. [ Links ]
LOURENÇO, Maria Paula Marçal. D. Pedro II. O Pacífico. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006. [ Links ]
MARTÍN MARCOS, David. El papado y la Guerra de Sucesión española. Madri: Marcial Pons, 2011. [ Links ]
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates. Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. [ Links ]
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A guerra de sucessão de Espanha. In: BARATA, Manuel Themudo & TEIXEIRA, Nuno Severiano (org.). Nova história militar de Portugal, vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004, p. 301-306. [ Links ]
MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O rei no espelho. A monarquia portuguesa e a colonização da América 1640-1720. São Paulo: Hucitec, 2002. [ Links ]
SCHWARCZ, Lília Moritz (org.). Leituras críticas sobre Evaldo Cabral de Mello. Belo Horizonte/São Paulo: Editora UFMG/Fundação Perseu Abramo, 2008. [ Links ]
VALLADARES, Rafael. A independência de Portugal. Guerra e Restauração 1640-1680. Tradução de Pedro Cardim. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2006. [ Links ]
VALLADARES, Rafael. La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica. Valhadolid: Junta de Castilla y León, 1998. [ Links ]
2Os muitos estudos impedem uma remissão detalhada. Mencione-se, contudo, o interesse de historiadores provenientes de universidades espanholas sobre Portugal na monarquia hispânica e a restauração de sua independência, em suas dimensões política, religiosa e social, como de Fernando Bouza Álvarez, Rafael Valladares Ramirez, Federico Palomo del Barrio, Ana Isabel Lopes-Salazar Codes, Santiago Martínez Hernández e Antonio Terrasa Lozano.
3VALLADARES, Rafael. La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica. Valhadolid: Junta de Castilla y León, 1998. Por razões editoriais, o livro foi publicado em Portugal com o título A independência de Portugal. Guerra e Restauração 1640-1680. Tradução de Pedro Cardim. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2006.
4Em especial as biografias de d. Pedro II que conjecturam sobre sua personalidade pública: LOURENÇO, Maria Paula Marçal. D. Pedro II. O Pacífico. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006; BRAGA, Paulo Drumond. Dom Pedro II. Uma biografia. Lisboa: Tribuna, 2010 e FARIA, Ana Maria Homem Leal de. D. Pedro II,o Pacífico. Dinastia de Bragança (1683-1706). Lisboa: QuidNovi, 2009. No entender do autor, esta última seria mais equilibrada por dar atenção aos elementos da difícil conjuntura internacional que incidiam no comportamento hesitante do príncipe regente e depois rei português, não o entendendo apenas como uma personagem manietada pela nobreza.
5Discurso político de hum gentil homem espanhol retirado da corte. A proposta que lhe fes hum ministro de Estado, do Conselho de Madrid, sobre á sucessão de Carlos Segundo, ao trono daquela Monarchia [1697], S. l., Academia das Ciências de Lisboa, série Azul, 121, fols. 107-122.
6A título de exemplo, CARDOSO, José Luís. Leitura e interpretação do tratado de Methuen: balanço histórico e historiográfico. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2002, p. 11-29.
7Para este capítulo são recrutados trabalhos de síntese como os de KAMEN, Henry. La Guerra de Sucesión en España (1700-1715). Barcelona: Grijalbo, 1974 e ALBAREDA, Joaquim. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica, 2010, e estudos sobre a participação portuguesa, como COSTA, Fernando Dores. A participação portuguesa na Guerra de Sucessão da Espanha: aspectos políticos. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2003, p. 71-96; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A guerra de sucessão de Espanha. In: BARATA, Manuel Themudo & TEIXEIRA, Nuno Severiano (org.). Nova história militar de Portugal, vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004, p. 301-306 e CARDIM, Pedro. Portugal en la guerra por la sucesión de la monarquía española. In: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (org.). La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada. Madri: Sílex, 2009, p. 205-256. Vale lembrar que o autor possui sua tese doutoral publicada sobre a participação da Santa Sé na referida guerra. MARTÍN MARCOS, David. El papado y la Guerra de Sucesión española. Madri: Marcial Pons, 2011.
8A título de exemplo, MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates. Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Ver também SCHWARCZ, Lília Moritz (org.). Leituras críticas sobre Evaldo Cabral de Mello. Belo Horizonte/São Paulo: Editora UFMG/Fundação Perseu Abramo, 2008.
Rodrigo Bentes Monteiro – Professor associado de História Moderna no Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, pesquisador da Companhia das Índias e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. E-mail: rodbentes@historia.uff.br.
Uma história do roubo na Idade Média – CANDIDO (RH-USP)
CÂNDIDO DA SILVA, Marcelo. Uma história do roubo na Idade Média. Bens, normas e construção social do mundo Franco. São Paulo: Fino Traço, 2014. 152 pp. Resenha de: COELHO, Maria Filomena. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
O livro de Marcelo Cândido preenche uma lacuna importante da história do Direito – o roubo na Idade Média –, mas, sobretudo, propõe uma forma de olhar para esse crime/delito que abarca outro problema central do medievo, que é o do crescimento e institucionalização da Igreja no seio da sociedade. Portanto, trata-se de uma obra de História que apresenta um problema e o interpreta de maneira complexa, o que permite ao leitor vislumbrar as várias ramificações e implicações que atravessam a vida em sociedade, mas que, muitas vezes, por defeito da necessidade de transformá-la em objeto de estudo, são reduzidas pelos historiadores a fenômenos isolados, cujas interpretações reforçam a tendência às explicações atomizadas e compartimentadas sobre o passado. É o que encontramos, por exemplo, em algumas “histórias da Igreja” elaboradas na primeira metade do século XX. Uma história do roubo na Idade Média mostra que é possível e necessário fazer História de outra maneira.
As fontes escolhidas para embasar o livro são velhas conhecidas dos historiadores que se dedicam ao estudo dos reinos merovíngio e carolíngio, na Alta Idade Média: hagiografias, crônicas, leis, atas conciliares. Assim, o autor parte de documentação já utilizada pela historiografia para oferecer uma interpretação que se afasta radicalmente de algumas propostas consagradas que foram naturalizadas pelo campo da História e se transformaram em espécies de “conclusões óbvias” de referência, às quais deveriam chegar todos os trabalhos que se dedicassem ao tema. No caso do roubo, não é difícil lembrar, por exemplo, de um tipo de abordagem social que insiste em sublinhar que, diante da justiça, os poderosos serão poupados e os pobres punidos. É a conclusão a que chega, por exemplo, Anne-Marie Helvétius em seu estudo sobre os relatos de vingança dos santos na hagiografia franca. Mas, ao se esquadrinhar as fontes e ver o que elas têm a dizer sobre o roubo, descobre-se uma realidade que é muito mais rica e complexa do que os esquemas “explicativos” comportam. Ao mesmo tempo, a decisão de ampliar a tipologia das fontes e colocar em xeque velhas classificações anacrônicas que predeterminavam a adequação entre temas de investigação e documentos a utilizar, o historiador vislumbra um panorama sistêmico e dinâmico, no qual se entrelaçam valores políticos, religiosos, jurídicos, como se se tratasse de uma só coisa. Ainda na ordem das “conclusões óbvias” que precisam ser desfeitas, Marcelo Cândido chama a atenção para a velha ideia de que as leis na Idade Média seriam apenas o resultado escrito de costumes e práticas sociais antigas, com pouquíssimo espaço para a criação do novo. De fato, é já senso comum reduzir os tempos medievais às suas características consuetudinárias, a ponto de se entender que as iniciativas legislativas de caráter inovador transformar-se-iam fatalmente em letra morta. A recente renovação dos estudos sobre o poder e a justiça, de viés societário, parece inspirar-se nessa perspectiva, ao acentuar a tendência que os medievais teriam para a resolução de conflitos por meio da composição entre as partes, longe da autoridade e dos tribunais. Aliás, também cabe aqui certa ideia de que os medievais desconheciam o direito individual sobre bens, preferindo a fórmula da posse coletiva sobre as coisas. Estas propostas, é bom que se diga, colocam-se no polo oposto ao dos institucionalistas (que têm em François-Louis Ganshof um dos mais ilustres representantes entre os medievalistas), mais antigo, no qual não era difícil encontrar interpretações que atestassem o poder mágico das leis, que dependeriam apenas de encontrar governantes eficientes que as aplicassem com rigor, de forma a mudar a sociedade de acordo com seu projeto político e institucional. Enfim, nem uma coisa nem a outra, tal como podemos acompanhar ao longo de Uma história do roubo na Idade Média.
Marcelo Cândido da Silva é professor de História Medieval na Universidade de São Paulo (USP), onde fundou o Laboratório de Estudos Medievais (Leme). Suas atividades de pesquisa há muito se voltam para a Alta Idade Média e, mais concretamente, para os reinos merovíngio e carolíngio, com diversos artigos publicados em revistas científicas nacionais e estrangeiras, capítulos de livros em obras coletivas que reúnem os resultados de pesquisas realizadas em torno dessa mesma temática, bem como de livros, entre os quais se destaca A realeza cristã na Alta Idade Média. Os fundamentos da autoridade pública no período merovíngio (séculos V-VIII), desdobramento de sua tese de doutorado defendida na Université de Lyon em 2002. Embora o livro que agora se resenha seja parte dessa trajetória, percebe-se, na forma como está estruturado, tratar-se de uma obra de maturidade, fruto de um percurso intelectual que permite cruzar diversas perspectivas com erudição.
O livro está composto por cinco capítulos: 1) Normas e construção social; 2) O roubo nas hagiografias; 3) O roubo na legislação real; 4) O roubo nos cânones conciliares; 5) O problema dos bens da Igreja. Esta configuração representa a própria estruturação do problema, uma vez que o autor parte da discussão teórica e historiográfica do papel das normas na Idade Média, na perspectiva da construção daquela sociedade, para, em seguida, detalhar a forma que o roubo assume nas vidas dos santos, nas leis do rei e nas decisões dos concílios, com o objetivo de mostrar que aquilo que a historiografia muitas vezes entende pertencer a dimensões diferentes compõe uma unidade substantiva e inseparável. Isso é especialmente visível na construção e diferenciação da parte mais especial da sociedade cristã: a Igreja. Nas palavras do autor:
O ladrão, o proprietário e os bens são criações documentais tanto quanto personagens da vida social: toda a dificuldade está em tentar definir os limites entre uma e outra manifestação! Talvez a tarefa dos historiadores esteja menos em tentar resolver essa ambiguidade (o que dificilmente poderia ser feito sem o recurso à dicotomia entre “ideal” e “realidade”) do que em entender a sua dinâmica, compreender a sua função. Não se trata, evidentemente, de negar a existência do real, mas de levar em conta a mediação realizada pelos textos em toda a sua amplitude (…). Eles permitem que se alcance o universo das concepções sociais acerca do roubo, do furto e da violência em geral e, mais importante ainda, as formas pelas quais as normas que coíbem essas práticas, que também são o fruto de uma autoridade pública, participam do processo de construção das relações sociais e dos próprios sujeitos (p. 15).
A maneira como a sociedade constrói e manifesta seus valores positivos e negativos tem, no plano simbólico, sua dimensão preferencial. Nesse sentido, a História encontrou na Antropologia reflexões importantes que permitiram compreender que tais construções e manifestações não se reduziam às relações sociais, mas que se estendiam com igual peso às relações que os sujeitos estabeleciam com os bens. Assim o demonstra também Marcelo Cândido, ao sublinhar esse mesmo aspecto nas fontes que sustentam seu trabalho. Ou seja, como o combate ao roubo e a práticas similares é fundamental para a definição relativa da posição que os sujeitos e os bens ocupam na sociedade. É possível constatar grande variedade de termos para designar aquele que rouba, com acentuada conotação moral, e percebe-se que a preocupação não recai sobre “o comportamento do criminoso, mas no estatuto do proprietário dos bens atacados” (p. 23), sem que isso se reduza ao que entendemos hoje por capacidade econômica dos envolvidos. Tal evidência é particularmente nítida nos casos de roubo de bens eclesiásticos, que servem como fio condutor ao livro e que permitem também compreender que as normas dedicadas a combater o delito constroem, juntamente com as hagiografias e as crônicas, a sociedade cristã. Seguindo de perto os debates recentes dos historiadores do direito em torno do papel das normas na Idade Média, presentes, sobretudo, na obra de Ian Thomas, o autor considera que elas não podem ser vistas unicamente como instrumentos de repressão a comportamentos desviantes, mas, sobretudo, como discursos mediadores de situações de conflito e, talvez o mais importante, como formulações jurídicas que “alteram a própria identidade das pessoas e das coisas que essas normas buscam preservar” (p. 31).
Ao se analisar as hagiografias do mundo franco, percebem-se aspectos fundamentais no que diz respeito ao roubo. O primeiro é que não há, de acordo com nossos padrões atuais, uma conexão lógica entre o valor econômico dos bens roubados e a punição, ou o perdão. O segundo é que, como já se disse, não se confirma que a justiça dos santos privilegiasse os mais ricos em detrimento dos mais pobres. A lógica opera com outros parâmetros, entre os quais se destacam o arrependimento explícito do transgressor e a restituição dos bens roubados. Trata-se de ofensa e dano infligidos aos santos e aos bens eclesiásticos que, ao serem considerados como entes e patrimônio da esfera do sagrado/divino, somente podem ser satisfeitos em sua essência jurídica por meio da restauração da situação anterior ao crime. Entretanto, o mais importante é que as situações apresentadas nas hagiografias não se resumem ao plano espiritual nem tampouco ao plano exemplar e moralizador. Elas fazem parte da formulação em curso na sociedade sobre os bens e sua propriedade, em conjunto com as leges bárbaras e os cânones conciliares.
Para entender melhor as bases em que se assentam as leis régias sobre o roubo, Marcelo Cândido sublinha que o fato de que os textos jurídicos pareçam dar destaque às noções de posse e utilização dos bens não elimina o direito de propriedade. Ambas as situações são contempladas pela norma e, frequentemente, para um mesmo caso. Partindo do Pactus Legis Salicae, por ser o corpus legal com maior ressonância na organização jurídica do mundo franco, o autor pretende descobrir “em que medida a qualificação jurídica do roubo nele estabelecida está presente em textos de outra natureza (cânones conciliares, hagiografias, histórias), através dos esquemas de qualificação jurídica, independentemente da imposição de normas sob a forma da coerção” (p. 71). Tal como nas hagiografias, constata-se grande preocupação com a composição/pacificação e a devolução dos bens roubados, em detrimento da qualificação dos bens e da tipificação das ações. Mas, o mais importante é perceber que, dependendo da situação, a norma desloca as fronteiras entre sujeitos e bens, com grande potencial criativo.
A partir do procedimento de assimilação entre sujeitos, sujeitos e coisas, e de sua qualificação, as normas no mundo franco conciliam seu potencial técnico em modificar a vida social com uma natureza, na qual todos os componentes, inclusive as instituições e o Direito, são ordenados segundo os imperativos da Salvação (p. 78). A ficção jurídica consiste em travestir os fatos, declará-los distintos daquilo que realmente são, e tirar dessa adulteração e falsa suposição as consequências normativas que se ligariam à verdade conscientemente simulada. A ficção requer, portanto, a consciência daquilo que é falso (p. 81).
No que tange aos cânones conciliares, o roubo aparece, evidentemente, circunscrito aos bens eclesiásticos, e, embora os concílios possam ser considerados parte do exercício do poder monárquico, para Marcelo Cândido eles não são uma “extensão da legislação real”, uma vez que têm especificidades que os identificam como textos da Igreja, coisa que de resto pode ser comprovada na forma como neles se caracterizam as relações entre os sujeitos e os bens. Assim, o direito de propriedade dos bens eclesiásticos não deve se submeter aos princípios do uso e da posse, bem como a qualquer outro que comprometa o poder amplo e irrestrito da Igreja sobre seus bens e direitos. A elaboração textual vai se tornando cada vez mais intrincada, mas claramente na direção de elevar os bens da Igreja acima dos demais, recorrendo a associações poderosas, como a de “bens de Deus” ou a de “bens dos pobres”. Isso faz daquele que rouba bens eclesiásticos um ladrão de Deus ou um ladrão dos pobres. Neste ponto, destaca-se a intenção transformadora da lei, que atinge a própria divindade:
As raízes dessa “personificação” da divindade estão na necessidade de defender os bens da Igreja contra os ataques dos laicos. A relação da norma com as práticas sociais reside, precisamente, em que o ponto de partida para a elaboração dessas normas é uma situação precisa que a sociedade pretende alterar. Seria um equívoco buscar na norma um retrato das práticas sociais; o que se encontra nela é uma reconstrução dessas mesmas práticas. O Deus dos textos conciliares não é o mesmo dos textos teológicos, mas uma espécie de Deus-proprietário, um qualificativo jurídico. Eis porque o estatuto daquele que se ataca aos bens eclesiásticos nada importa em face do estatuto Daquele que é o seu proprietário legítimo (p. 100).
Como resultado do aumento de casos de desrespeito aos bens da Igreja, observa-se também nos textos hagiográficos um crescimento em torno da qualificação jurídica e da presença de procedimentos judiciários nas narrativas. A vingança divina (ultio divina) manifesta-se com frequência como punição ao roubo, num claro sintoma do que se acaba de dizer. Também os que atuam como juízes nas diversas situações obedecem às lógicas da justiça, como no tocante à revelação da intenção oculta da actio criminalis. Nem sequer os animais escapam ao enquadramento jurídico, como sujeitos da lei: animal-ladrão. Enfim, bens eclesiásticos em disputa transformam-se em causas da Igreja, que precisam ser esvaziadas de sua concretude e reelaboradas por meio daquilo que se entende ser a sua natura e o genus causae para serem finalmente apresentadas como questio universa. É esta a realidade! Por meio das narrativas hagiográficas, Marcelo Cândido mostra que, nos casos de roubo, é possível ver o processo de construção dessa realidade essencial que trans-forma as relações entre pessoas e coisas em relações entre sujeitos e bens.
Enfim, o livro mostra que, para o contexto analisado,
o roubo não era considerado um crime contra os bens. Eles são secundários. É a partir do proprietário que todas as formas de qualificação, inclusive aquelas que conduzem à definição da natureza dos bens, são elaboradas e projetadas sobre os diversos casos de roubo. A qualificação do roubo no mundo franco não considerava o valor de mercado dos bens roubados, mas o estatuto daquele que era vítima do roubo (p. 137).
Nesse sentido, portanto, os artifícios da lei criam a optima pars da sociedade cristã que dava vida ao reino dos francos: a Igreja.
Maria Filomena Coelho –Doutora em História Medieval pela Universidade Complutense de Madri. Estágio pós-doutoral em História do Direito e das Instituições – Universidade Nova de Lisboa. Professora adjunta do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas.
O ódio à democracia – RANCIÈRE (RH-USP)
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014. Resenha de: GAVIÃO, Leandro. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
Nascido em Argel, no ano de 1940, Jacques Rancière formou-se em filosofia pela École Normale Supérieure e lecionou no Centre Universitaire Expérimental de Vincennes – atual Universidade de Paris VIII – entre 1969 e 2000, quando se aposentou. Foi um dos discípulos de Luis Althusser, embora tenha rompido com seu mentor a partir do desenrolar dos movimentos parisienses de maio de 1968.
No que concerne à sua mais recente obra, objeto desta resenha, dificilmente haveria título mais autoexplicativo. Em O ódio à democracia (tradução literal do original: La haine de la démocratie), o autor consegue a proeza de analisar com maestria interdisciplinar temas de elevada complexidade envolvendo as sociedades democráticas da atualidade. À luz de uma abordagem que reúne História, Sociologia, Filosofia e clássicos do pensamento universal, Rancière realiza uma verdadeira façanha ao lograr tal feito em pouco mais de 120 páginas, produzindo um texto de teor ensaístico de rara competência, sem abdicar da elegância acadêmica e, simultaneamente, aderindo a uma linguagem acessível ao público amplo.
O livro é fracionado em quatro capítulos que versam sobre: (i) o surgimento da democracia, (ii) as suas peculiaridades em face dos regimes estruturados na filiação, (iii) as suas relações com os sistemas representativo e republicano e, por fim, (iv) as razões hodiernas do ódio à democracia.
Na visão de Jacques Rancière, a essência da democracia é a pressuposição da igualdade, atributo a partir do qual se desdobram as mais ferrenhas reações de seus adversários. Longe de ser uma idiossincrasia restrita à contemporaneidade, o ódio à democracia é um fenômeno que se inscreve na longa duração, haja vista que os setores privilegiados da sociedade nunca aceitaram de bom grado a principal implicação prática do regime democrático na esfera da política: a ausência de títulos para ingressar nas classes dirigentes.
Todos os sistemas políticos pretéritos lastreavam a legitimidade dos governantes em dois tipos de títulos: a filiação humana ou divina – associadas à superioridade de nascença – e a riqueza. A democracia grega emprega o princípio do sorteio, subvertendo a lógica vigente ao deslocar para o âmbito da aleatoriedade a responsabilidade de legislar e de governar, agora ao alcance de qualquer cidadão da polis, independente de suas posses ou do nome de sua família.
Isto posto, Rancière questiona os princípios do modelo democrático representativo, invenção moderna que se vale de uma nomenclatura considerada paradoxal pelo autor, haja vista seu distanciamento em relação à democracia dos antigos. O sistema assentado na representação nada mais seria do que um regime de funcionamento do Estado com base parlamentar-constitucional, mas fundamentado primordialmente no privilégio das elites que temiam o “governo da multidão” e pretendiam governar em nome do povo, mas sem a participação direta deste. “A representação nunca foi um sistema inventado para amenizar o impacto do crescimento das populações” (p. 69), mas sim para assegurar aos privilegiados os mais altos graus de representatividade. Rancière é enfático ao afirmar que os pais da Revolução Francesa e Norte-Americana sabiam exatamente o que estavam fazendo.
O termo “democracia representativa” vivenciou um verdadeiro giro semântico, deixando de significar um oximoro para ganhar o status de pleonasmo. Além de ofuscar o princípio do “governo de qualquer um”, ao substituí-lo pelo “governo da maioria”, o sistema representativo criado pelos legisladores e intelectuais modernos era excludente ao apresentar a solução da cidadania censitária, num claro intento de priorizar a participação das classes proprietárias, embora reconhecendo a inevitabilidade do advento de determinados preceitos da democracia.
Esta última só experimenta um processo de ampliação após uma sequência de exigências populares e de lutas travadas nos mais variados âmbitos, permitindo sua gradual expansão para outros segmentos sociais. O sufrágio universal nunca foi decorrência natural da democracia. A sangrenta história da reforma eleitoral na Inglaterra é apenas um dos exemplos capazes de denunciar o idílio de uma tradição liberal-democrata e de expor a hipocrisia por trás do conceito de igualdade para as elites, que apenas a defendem enquanto o beneficiário é ela própria.
Por outro lado, a igualdade não é uma ficção, mas, sim, a mais banal das realidades. A tese de Rancière sobre a pressuposição da igualdade apresenta as relações de privilégio como constructos históricos cuja origem está sempre situada numa relação que a princípio é igualitária, no sentido de ser travada entre entes que a priori são iguais. As vantagens que geram a desigualdade são fabricadas e precisam se legitimar socialmente para operar, tendo por base leis, instituições e costumes aceitos ou tolerados pela comunidade. Para o sábio ditar as regras, é preciso que os demais compreendam seus ditames, reconheçam sua autoridade ou ao menos tenham interesse em obedecê-lo.
Após se consolidarem no poder, os governos e suas elites tendem a separar as esferas pública e privada, estreitando a primeira e impelindo os atores não estatais para a segunda. A tensão intrínseca ao processo democrático consiste justamente na ação pela reconfiguração das distribuições desta díade, assim como do universal e do particular, com os agentes não estatais reivindicando a ampliação da esfera pública em detrimento da privatização da mesma, que redunda na exclusão política e na privação da cidadania.
A mulher, historicamente dotada de um papel social confinado à vida privada, é quem melhor representa a longa duração da exclusão da participação na vida pública. No mesmo sentido, o debate em torno da questão salarial, por exemplo, girava em torno da desprivatização da relação capital-trabalho, até então fundada na alegação falaciosa de que o trato entre o empregador e o empregado se dá meramente entre entes privados, ao passo que, ao contrário, reside ali uma inexorável essência coletiva, dependente da discussão pública, da norma legislativa e da ação conjunta. A exigência por direitos tende a ocorrer por intermédio de identidades de grupo construídas com a intenção de reconhecer suas demandas e inseri-las na dimensão pública.
Portanto, este combate contra a divisão do público e do privado, que assegura uma dupla dominação das minorias oligárquicas no Estado e na sociedade, não consiste no aumento da intervenção do Estado, como argumentam os liberais. Implica, sim, em garantir o reconhecimento universal da cidadania, modificar a representação como lógica destinada ao consentimento com os interesses dominantes e assegurar o caráter público de determinados espaços, instituições e relações outrora acessíveis apenas aos mais abastados.
A democracia não é uma forma de Estado, mas um fundamento de natureza igualitária cuja atividade pública contraria a tendência de todo Estado de monopolizar a esfera pública e despolitizar – no sentido lato – a população. O ceticismo de Rancière se traduz na afirmação de que vivemos em “Estados de direito oligárquicos”, onde predomina uma aliança entre a oligarquia estatal e a econômica. As limitações impostas ao poder dos governantes ocorrem apenas no reconhecimento mínimo da soberania popular e das liberdades individuais. Ambas devem ser encaradas não como concessões, mas como conquistas obtidas e perpetuadas por meio da ação democrática, ou seja, pela participação cidadã na esfera pública.
Ademais, o enfraquecimento do Estado-nação, em face da contingência histórica do capitalismo liberal, seria apenas um mito. Ocorre, de fato, um recuo da plataforma social, especialmente no que tange ao desmonte do welfare State. Mas, por outro lado, há um fortalecimento de outras instâncias estatais, que beneficiam as oligarquias e sua sede por poder. O fetiche da intelligentsia liberal por um arquétipo iluminista de progresso linear é surpreendentemente análogo ao estilo de fé que levava os marxistas vulgares de outrora a acreditarem num movimento mundial rumo ao socialismo. As similaridades são evidentes: o movimento das ações humanas é tido como racional e o progresso como unidirecional. A única ruptura relevante é o alvo da crença: o triunfo e a eficiência inconteste do mercado.
Com base na retórica liberal, artificiosamente alçada à condição de lei histórica inelutável, à qual seria inútil se opor, pretende-se governar sem povo, sem divergências de ideias e sem a interferência de “ignorantes” questionadores do discurso pseudocientífico apresentado pelos asseclas do liberalismo. Assim, a autoridade dos governantes imerge numa contradição: ela precisa ser legitimada pela escolha popular, mas as decisões políticas e econômicas supostamente certas derivam do conhecimento “objetivo” de especialistas intolerantes com heréticos. Daí que as manifestações filiadas a outras propostas ideológicas ou mesmo o questionamento pontual à plataforma liberal – que atualmente detém o “monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social”, conforme definição de Pierre Bourdieu2 – são atos que incutem em seus locutores os rótulos sumários de “atrasados”, “ignorantes” ou “apegados ao passado”.
O cenário torna-se ainda mais complexo devido a outros problemas, tal como a atual ambivalência da democracia, manifestada no tratamento díspar que a mesma recebe quando se observam as dinâmicas dirigidas para o plano doméstico e para o plano externo. Internamente, as elites consideram-na “doente” quando os desejos das massas ultrapassam os limites impostos ao povo e este passa a exigir maior igualdade e respeito às diferenças, deixando assim de ser um agente passivo para converter-se em sujeito político atuante e, por decorrência, “perigoso”. Simultaneamente, as mesmas lideranças consideram a democracia “sadia” quando logram mobilizar indivíduos apáticos para esforços de guerra em nome dos mesmos valores que supõem defender com afinco.
A contradição que permeia as campanhas militares supostamente orientadas para disseminar a democracia é justamente a existência de dois adversários opostos: o governo autoritário e a ameaça da intensidade da vida democrática. O qualificativo “universal” que imprimem à democracia justifica a sua imposição à força e a violação da soberania alheia, mas essa mesma democracia é limitada no país que a exporta e será igualmente limitada naquele que virá a recebê-la.
Em suma, a paradoxal tese dos que odeiam a democracia pode ser sintetizada na seguinte sentença: somente reprimindo a catástrofe da civilização democrática é que se pode vivenciar a boa democracia. Rancière resgata as conclusões de Karl Marx sobre a burguesia, categoria social cuja única liberdade sem escrúpulos a ser defendida é a liberdade de mercado – origem da reificação do mundo e dos homens – e a única igualdade reconhecida é a mercantil – que repousa sobre a exploração e a desigualdade entre aquele que vende sua força de trabalho e aquele que a compra.
Os juízos outrora direcionados com maior intensidade contra os totalitarismos – que se autodenominavam “democracias populares” – tornam-se obsoletos após a implosão do bloco soviético. Doravante, intensifica-se a crítica ao excesso de democracia ao estilo ocidental, exatamente como a Comissão Trilateral já havia alertado na década de 1970:
[A democracia] significa o aumento irresistível de demandas que pressiona os governos, acarreta o declínio da autoridade e torna os indivíduos e os grupos rebeldes à disciplina e aos sacrifícios exigidos pelo interesse comum (p. 15).Por fim, a democracia sofre de outra ambivalência inata: a sua existência se equilibra na ausência de legitimidade. Isto é, títulos. O ódio à democracia decorre de sua própria natureza, haja vista que o “governo de qualquer um” está permanentemente sob a mira rancorosa daqueles munidos de títulos, seja o nascimento, a riqueza ou o conhecimento.
Conquanto sua definição de democracia difira de outros autores clássicos, tais como Norberto Bobbio3 e Jean-Marie Guéhenno,4 é praticamente impossível não se inquietar com as questões complexas e atuais elencadas por Jacques Rancière.
O diagnóstico apresentado pelo autor certamente provoca desassossego naqueles que ainda se preocupam com a manutenção da democracia e o seu aperfeiçoamento, mormente numa época em que o vínculo entre o grande capital e a oligarquia estatal é cada vez mais simbiótico e as alternativas à nova “necessidade histórica” representada na retórica liberal da ilimitação da riqueza engendra efeitos deletérios tanto nas relações entre os homens como na relação destes com o meio ambiente. Por outro lado, as oposições a esta imposição programática acabam por ocorrer na forma do crescimento da extrema-direita, dos fundamentalismos religiosos e dos movimentos identitários que resgatam o antidemocrático princípio da filiação para reagirem ao consenso oligárquico vigente.
A concepção de democracia como um valor desvinculado de instituições governamentais específicas, sua peculiar situação de perpétua vicissitude, seu caráter inconcluso e sua urgente necessidade de ampliação e de retomada da esfera pública pelos sujeitos políticos são apenas algumas das relevantes contribuições que Jacques Rancière expõe com inteligência e clareza em um de seus livros mais instigantes. Isso se enfatiza em uma época sombria como a nossa, quando indivíduos politicamente passivos se ocupam de suas paixões egoístas em detrimento do bem comum e um simulacro de alternância de poder entre agrupamentos políticos semelhantes satisfaz o gosto democrático por mudança, não obstante as similaridades de agenda política daqueles que se revezam nas instâncias governamentais.
2BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Bertand Brasil, 1989.
3Ver: BOBBIO, Norberto. Qual democracia?. 2ª edição. São Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 2013.
4Ver: GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia: um ensaio profundo e visionário sobre o próximo milênio. 2ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
Leandro Gavião – Doutorando em História Política no Programa de Pós-Graduação em História, no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina (NEIBA-UERJ) e bolsista da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. E-mail: l.gaviao13@gmail.com.
Poesia e Polícia – Redes de comunicação na Paris do Século XVIII – DARNTON (AN)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 228p. Resenha de: MATTOS, Yllan; DILLMANN, Mauro. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 357-362, jul. 2015.
Em 2014, a comunidade de historiadores brasileiros recebeu a tradução de mais um livro do renomado historiador norte-americano Robert Darnton. Trata-se de Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII, publicado originalmente nos EUA, em 2010, (no mesmo ano de O Diabo na água benta, com tradução no Brasil em 2012). A obra é dedicada ao estudo dos circuitos de comunicação e poderes políticos de difamação na Paris de meados do século XVIII, uma continuidade e um complemento dos seus próprios estudos sobre o tema da arte da calúnia política.
Autor de obras historiográficas de grande repercussão internacional, como O grande massacre de gatos (1985) e O Beijo de Lamourette (1990), entre outras, o professor da Universidade de Harvard nos brindou com este novo livro que busca constatar as referidas “difamações” a partir da consulta a diversas fontes como poemas, canções, panfletos, cartazes e uma série de escritos críticos que imiscuíam política e moral contra o rei francês Luís XV [1710-1774].
A pesquisa de Darnton traz à luz a “mais abrangente operação policial” da Paris de 1749, seguindo a trilha deixada por seis poemas sediciosos (p. 8). Darnton está interessado em analisar os sistemas de comunicação e de circulação de informações na Paris semialfabetizada do século XVIII, através da poesia, seja em sua forma escrita, recitada ou cantada. Para tal, busca apreender a “opinião pública” (a atmosfera de opiniões, a “voz pública”) expressa nas poesias e nas canções que circulavam na época. Ao mesmo tempo, mas com menor envergadura, procurou compreender a maneira como as pessoas ouviam as canções, buscando recuperar os “sons do passado” para uma compreensão mais rica da história, a fim de “fazer a história cantar” e “[…] reconstituir alguns padrões de associação ligados a melodias populares” (p. 11, p. 85, p. 102). Em suma, Darnton busca rastrear uma rede de comunicação oral desaparecida, como ele enfatiza, há 250 anos, argumentando que “[…] a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p. 134).
Neste empreendimento, Robert Darnton parte de uma operação policial de 1749, grifada na capa do inquérito pelos algozes como “caso dos catorze”, quando a polícia prendeu catorze indivíduos na Bastilha acusados de difamar o rei Luís XV através da poesia. Uma das funções da polícia, à época, estava na “supressão da maledicência acerca do governo” (p. 09), pois difamar o rei era crime. O “caso dos catorze” foi o mote encontrado por Darnton para analisar a rede de comunicação oral e escrita e a circulação de informações, mas também de disputas políticas na França do Antigo Regime.
No que tange à comunicação oral, Poesia e polícia não consegue ir além daqueles que escreviam e copiavam poemas e versos sediciosos contra o rei e sua política, chegando muito pouco ao mundo dos analfabetos (ou semianalfabetos, como quer o autor) e pobres, quando muito aproxima-se daqueles que se envolviam com tais escritos, sejam clérigos, estudantes ou habitantes do Quartier Latin. É acertado que a memorização fora um instrumento importantíssimo nesses tempos, mas, no caso desses poemas, funcionava mais a rede escrita de bilhetes que circulavam de bolso em bolso, colete a colete. A leitura dos poemas em voz alta promovia uma “cadeia de difusão”, devido às amplas redes de comunicação que pouco puderam ser mapeadas tanto pela polícia do Antigo Regime quanto pelo historiador da atualidade, porque não deixaram registros facilmente identificáveis. Por outro lado, os poetas eram, em geral, filhos de chapeleiros, filhos de professores, escreventes, ex-jesuítas, estudantes, advogados, clérigos e os autores das poesias eram provenientes socialmente tanto da Corte quanto das camadas mais baixas (p. 119). Havia também um círculo clerical clandestino, já que era comum a presença de ideias políticas entre o clero e os padres interessados em literatura (p. 25), sobretudo quanto à temática acerca do jansenismo (p. 53-56).
Como argumenta Darnton, as poesias e canções não representavam nada de excepcional, mas revelavam o descontentamento social e o sistema de comunicação (p. 60) na França, uma vez que eram publicações irreverentes, sediciosas, satíricas, dadas ao escárnio.
Assim, o autor identifica a variedade de poesias e de gêneros, caracterizando-as em diversas categorias, como jogos de palavras, zombaria, piadas, tiradas de espírito, baladas populares, cartazes burlescos, cantos de natal burlescos, diatribes (p. 109-121).
O que Darnton enfatiza é o caráter político dos poemas, pois eram escritos que convertiam política em poesia (p. 49). Os protestos populares vinham desta rede de comunicação, dos poemas, das canções, dos impressos, cartazes e das conversas (p. 34). Alguns poemas tornavam-se odes, ou seja, “[…] versos trabalhados à maneira clássica e com um tom elevado, como se tivessem sido feitos para a declamação no palco ou numa tribuna pública” (p. 61). Poesias e odes tornavam-se facilmente canções, Chansonniers, cujos temas giravam em torno de diversas questões sociais, principalmente escárnio ao rei e críticas à administração pública. Cantores e canções moviamse nas escalas sociais; folhetos e manuscritos eram comercializados em Paris e a música estava na rua, o espaço do violino, da flauta e da gaita de fole. Essas canções eram, de fato, numerosas e, na sociedade semianalfabeta, as canções eram como jornais. Os versos compostos entre 1748 e 1750 pelos catorze incluíam 264 canções e o rei certamente via nessas canções o ódio de seu povo (p. 48).
A obra explicita claramente a metodologia empregada pelo historiador no manejo e na exploração de suas fontes, além do cuidado em apresentar os documentos como “prova” de seus argumentos, suas justificativas, suas interpretações, considerando, evidentemente, as dificuldades e os limites de apreensão da comunicação oral para um recorte temporal bastante recuado. O autor busca, então, os “ecos” dessa oralidade em outros textos, como epigramas, charadas, diários e cadernos de anotações (p. 81). Do mesmo modo, confessa a dificuldade do historiador para constatar a “recepção”, levando em conta que a análise textual não oferece conclusões sólidas sobre difusão e recepção (p. 108). De qualquer forma, ele busca a “reação dos contemporâneos aos poemas” (p. 122). Essa “reação” é indicativa da “recepção” e Darnton busca em fontes como diários e memórias. Para acessar a opinião pública, Darnton vale-se de uma série de documentos como diários, memórias, arquivos da Bastilha, fichas da polícia. O livro é justamente uma tentativa de recuperar as mensagens transmitidas em redes orais, em redes de comunicação, a “paisagem mental” composta de atitudes, valores e costumes, como Darnton refere na conclusão.
A metáfora do historiador-detetive, empreendida por Collingwood (A ideia de história) e Carlo Ginzburg (no famoso ensaio Sinais: raízes de um paradigma indiciário), é retomada por Robert Darnton, colocando em discussão o ofício do historiador: interpretar a interpretação, interpretar o significado, vinculados ao contexto de sua produção, ou em suas palavras: “[…] os detetives trabalham de modo empírico e hermenêutico […]”, interpretando pistas, seguindo fios condutores e montando o caso “[…] até chegar a uma convicção” (p. 146). Portanto, ele buscou interpretar a interpretação da política e da polícia, além do significado dos panfletos no contexto de comunicação do século XVIII francês.
É nesse sentido que a obra aproxima-se da metodologia de Clifford Geertz (1989). A inicial exposição descritiva do caso dos catorze e dos poemas (thick description, se quisermos usar o termo do antropólogo) segue-se à interpretação cultural, tomando por princípio a recusa à teorização, discordando tanto das perspectivas de Michael Foucault como das de Jürgen Habermas sobre a construção da “opinião pública”. Para este caso, além das explicações que faz em todo o livro, a discussão poderia ganhar mais fôlego se Darnton colocasse suas análises em relação a outros autores ligados a esta temática, tais como como Arlette Farge (Dire et mal dire: l’opinion au public XVIIIème siècle), Mona Ozouf (Verennes) ou Roger Chartier (entre outros: Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Règime e Origens culturais da Revolução Francesa), oferecendo bons contrapontos à sua análise. Um dos problemas da noção de “voz pública” é que se deixam de lado as diferenças sociais de todo tipo para dar ênfase ao que é comum. Lendo o livro de Darnton, pode-se ter a impressão de que todas as pessoas estavam imersas na crítica ao rei, à sua amante e às decisões reais. Embora o autor coloque em dúvida essa premissa (p. 132), não discorre muito sobre essa questão. Por outro lado, talvez nesse Poesia e polícia, Darnton tenha melhor utilizado a construção hermenêutica através do registro documental, recorrendo fartamente à contextualização, contrabalanceando com o uso do texto documental em si.
Por fim, considerando alguns aspectos formais, o livro é feito para atrair um público além dos historiadores: bastante conciso, com pouco mais de 140 páginas de texto, subdivididos em 15 curtos capítulos, e 44 páginas de anexos brevemente comentados, constituindo- se de fácil e prazerosa leitura, em que o leitor encontrará não poucas repetições de argumentos. Ressaltam-se, também, alguns desacertos da tradução, como “Velho Regime” ao invés de Antigo Regime, e ortográficos. Os anexos, por sua vez, são apresentados como apêndices e trazem a transcrição dos poemas analisados, divulgados em meados do século XVIII francês, e com um hiperlink para aquele leitor mais curioso que quiser ouvir as canções. Vale escutar essas canções subversivas através da voz de Hélène Delavault, acompanhada pelo violão de Claude Pavy, no seguinte endereço eletrônico: <www.hup.harvard.edu/features/dapoe>. Para melhor demonstrar essa circulação, Darnton construiu um diagrama com indicação do esquema de distribuição, do circuito de comunicação dos catorze homens das camadas médias, considerados “jovens intelectuais”, que foram presos pela polícia (p. 23). O livro também traz imagens dos documentos pesquisados, dos “pedaços de papel”, das “folhas rasgadas”, dos poemas manuscritos e rabiscados em folhas avulsas que chegaram aos dias de hoje, pois foram apreendidos e arquivados pela política francesa. Além disso, o autor ilustra a obra com pinturas retratando cantores e vendedores de livros e imagens de livros de canções manuscritas (p. 90-93).
O livro de Robert Darnton certamente interessará aos estudiosos das práticas de escrita e leitura, aos pesquisadores das ideias do Antigo Regime e da cultura política e aos interessados, especialistas ou não, em História Moderna, em História da Literatura ou em Crítica Literária. Uma boa leitura – poder-se-ia dizer adorável e prazerosa, se considerarmos a atual discussão que os historiadores brasileiros vêm fazendo a respeito da função social da História e da necessidade de significação histórica para além da academia – de um trabalho de historiador que nos brinda com uma diferente concepção da cultura política do Antigo Regime francês.
Referências
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009.
___________. Leituras e Leitores na França do Antigo Regime. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
COLLINGWOOD, R. G. A ideia de história. Portugal: Editorial Presença, 1981.
FARGE, Arlette. Dire et mal dire: l’opinion au public XVIIIème siècle. Paris: Seuil, 1992.
GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura.
In: A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989, p. 13-41.
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 143-80 .
OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realiza, 21 de junho de 1791. Tradução de Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Yllan de Mattos – Doutor em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense e professor do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ (UNESP, campus Franca). Contato: yllanmattos@yahoo.com.br.
Mauro Dillmann – Doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS -RS). Professor do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
A História, a Retórica e a Crise de paradigmas – BERBERT JR (AN)
BERBERT JÚNIOR, Carlos Oiti. A História, a Retórica e a Crise de paradigmas. Goiânia: Universidade Federal de Goiás/Programa de Pós-Graduação em História/Funape, 2012, 296p. Resenha de: PASSOS, Aruanã Antonio dos. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 351-355, jul. 2015.
Mais de quarenta anos depois de seu início, o debate ainda causa polêmica. De um lado, os defensores de uma tradição que almeja à história o estatuto de ciência, rainha das humanidades. Do outro, alguns estudiosos interessados na dimensão narrativa e discursiva da história tentando mostrar que essa pretensão à ciência só se sustenta na cabeça de alguns sujeitos que monopolizam um saber e estão mais interessados em suas dimensões políticas e legitimidade institucional. Do olhar mais superficial de um jovem estudante que se inicia na difícil tarefa de entender uma profissão tão antiga, esses dois grupos mostram-se contraditórios e uma avaliação preliminar desse mesmo jovem tende a ressaltar que definitivamente as posições são irreconciliáveis. Ledo engano, como bem mostra o livro A História, a retórica e a Crise de Paradigmas, de Carlos Oiti Berbert Júnior, que vem a público pela editora da Universidade Federal de Goiás.
Apresentado como tese de doutorado defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília, o trabalho soma méritos ao campo da teoria da história e da historiografia no Brasil de forma consistente, e vem a enriquecer os debates sobre o pós-modernismo no campo do conhecimento histórico. Sob este aspecto, cabem aqui algumas observações. A primeira refere-se ao crescimento da teoria da história em território nacional. É inegável que ela nunca esteve ausente dos gabinetes e da pena dos historiadores.
Tampouco foi subordinada fiel ou joguete na mão daqueles que procuravam legitimar ideais e posturas políticas. Ao contrário, esse crescimento de publicações, cursos, livros, programas de pós- -graduação, eventos que se voltam para a teoria da história, pode ser entendida pelo próprio momento em que a historiografia vive. Nas palavras de François Dosse, um momento de “retorno do sentido”, em que após as críticas que emergiram de um lado pela linguistic turn norte-americana, além do esgotamento do estruturalismo e do marxismo, a sensação era de pós-orgia, metáfora que empresto do pós-moderno Jean Baudrillard. E nesse contexto a teoria passou a ser encarada como leitmotiv para uma reconstrução epistemológica e metodológica que superasse as aporias da pós-modernidade.
A segunda ressalva refere-se ao caráter inerente da escrita da história e sua narração, objeto de atenção especial por parte de Berbert Júnior. Podemos especular que desde que Heródoto e Tucídides iniciaram a escrita da história tal como a concebemos, o elemento da “narrativa” sempre esteve entre as preocupações dos historiadores.
O que não podemos negligenciar é a natureza da discussão em torno da narrativa no final do século XX. Em muito esta discussão tem por pano de fundo a “crise” dos paradigmas estruturalistas, marxistas e dos Annales do final dos anos 1970 e, por outro lado, um “retorno” à narrativa enquanto elemento de especificidade do conhecimento histórico que em muito se aproximaria da narrativa literária. O caráter de cientificidade almejado pelos Annales teria passado definitivamente por cima do caráter narrativo da história, por mais latente que esse caráter atualmente nos pareça e ainda que muitas das grandes obras produzidas por Marc Bloch e Lucien Febvre contemplem elementos literários (p. 19).
Como pano de fundo de todo o debate estabelecido em torno desse suposto “retorno” da narrativa, encontramos o estabelecimento de novas posturas teóricas e metodológicas em relação à produção de conhecimento histórico. Neste mesmo contexto, encontramos a micro-história italiana, a “new left” inglesa e, mais posteriormente à própria “guinada linguística” nos EUA, escrevendo – literalmente – o passado de forma diferente dos grandes modelos. A análise de Berbert Júnior leva esse contexto à tona a partir da constatação de que há uma
crise de paradigmas no interior da própria narrativa histórica (p. 9), o que já é ponto de grandes controversas ainda hoje. Assim, o autor define as dimensões do seu estudo: “[…] principalmente, apresentar os caminhos que levaram à crise que resultou, simultaneamente, no rompimento com o paradigma moderno e no estabelecimento de um novo paradigma, denominado pós-moderno” (p. 9).
Ao extremo, podemos observar Hayden White proclamando a história enquanto ficção documentada. Os efeitos causados pela historiografia da chamada “guinada linguística” caíram em erro ao absolutizar o estatuto do passado. Essa postura acabou por tornar qualquer compreensão do passado como ultrassubjetivista, em que a categoria moderna da “universalidade” assumindo contornos absolutos demoliu com a diferença entre as culturas (p. 223).
Porém, não se pode negar que a noção de White de imaginação histórica é fundamental dentro da epistemologia da história atual e os desdobramentos afetam vários campos do saber histórico: cultural, político, simbólico, religioso etc. O que Berbert Júnior revela de fundamental é que o paradigma pós-moderno acabou por relegar a retórica a uma simples questão de poder, quando, e aqui temos outro ponto forte do livro, a retórica está no centro de tensão entre as rupturas que pós-modernos almejaram fazer com as metanarrativas universais modernas (p. 10).
Assim, o coração da obra ressignifica a retórica como uma chave não apenas interpretativa, mas como alternativa diante das aporias tanto de modernos quanto de pós-modernos. Uma via para superação da crise de paradigmas: “[…] a retórica possui outras funções na teoria da história que não somente aquelas que foram destacadas pelos autores vinculados ao paradigma pós-moderno”, já que: “[…] a possibilidade de retomar o caráter de referência da narrativa a partir da capacidade do texto historiográfico de se referir ao passado”, efetiva-se na própria retórica (p. 227-229).
Ancorado em farta bibliografia, o trabalho divide-se em três capítulos, em que tanto o debate quanto autores fundamentais dos dois paradigmas – Dominick LaCapra, Paul Ricouer, Carlo Ginzburg, Jörn Rüsen, Hayden White, Terry Eagleton, Michel de Certeau, Frank Ankersmith, Keith Jenkins – são tratados de forma clara e ao mesmo tempo sem prolixismos ou vulgarizações que empobrecem a tessitura dos acontecimentos e muitas vezes tornam qualquer discussão teórica abstrata demais e descolada da realidade.
Um dos primeiros desafios é a definição do paradigma pós- -moderno, que também demonstra uma das tônicas de toda obra: sua acessibilidade e a escolha das interlocuções. Acertadamente, o texto foge das polemizações e se concentra no cerne do debate em que se definem as diferenças e surpreendentemente desvela as similitudes entre modernos e pós-modernos. Assim, “[…] a ruptura estabelecida entre o chamado paradigma pós-moderno e o moderno concede ao primeiro uma excessiva ênfase na interpretação” (p. 26).
Ao invés de estudar-se a “obra em si”, passou-se a dar maior valor às interpretações sobre a obra. A realidade em si não teria, dessa maneira, mais interesse central nas preocupações dos historiadores, já que a “[…] atribuição de significado e a interpretação estariam muito mais vinculadas a determinados esquemas a priori (tais como os encontrados em estratégias definidas a partir da ‘elaboração do enredo’, da ‘formalização da argumentação’ e das ‘implicações ideológicas’) do que à pesquisa histórica propriamente dita” (p. 36).
No limiar dessa perspectiva, como bem demonstra o capítulo dois (Universalidade, contingência a teoria da história: uma análise de categorias), ao analisar as asserções de Keith Jenkins, percebe-se que a relativização de toda abordagem dos historiadores é o resultado eminente da perspectiva pós-moderna, já que: “[…] se não existe, a certeza de que a história possa apreender diretamente do passado, a consequência maior será a relativização de todas as abordagens e o abandono da epistemologia no que se refere à análise do discurso entendido com ou um todo” (p. 43). Aqui encontramos outro ponto alto da análise da obra. Para além do mapeamento das premissas dos dois paradigmas, interessa a percepção dos caminhos alternativos que “[…] consigam evitar tanto o reducionismo objetivista, preconizado pelo paradigma moderno, quanto o voluntarismo subjetivista, exortado pelo paradigma pós-moderno, quando da atribuição do significado” (p. 45).
E, para a percepção dos possíveis caminhos alternativos, é a noção de retórica que, em diálogo com o direito, pode estabelecer uma compreensão das dimensões teóricas do debate. Nas palavras do autor: “[…] advogamos uma concepção de retórica que considere os aspectos cognitivos e o papel dinâmico da relação entre o historiador, os textos e o contexto e, que está inserido” (p. 77). Talvez aqui tenhamos uma pista importante para se pensar nas formas de superação das aporias e armadilhas que o debate coloca ao nosso jovem estudante, o qual antes não acreditava nessa possibilidade.
Por fim, é inegável que a obra contribui sobremaneira para a teoria da história e historiografia atuais, pela acessibilidade, clareza e pela qualidade das análises. Ao final, o leitor sente-se estimulado a avançar naquilo que o texto não pôde fazer: a crítica da recepção do debate em território nacional, ponto esse tangenciado no primeiro e segundos capítulos de forma breve. Mas a essa tarefa caberia outra obra tão ou mais densa quanto esta.
Aruanã Antonio dos Passos – Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Contato: aruana.ap@gmail.com.
Sobre o Estado – BOURDIEU (RH-USP)
BOURDIEU, Pierre, Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: BEZERRA, Marcos Otavio. Revista de História (São Paulo) no.173 São Paulo July/Dec. 2015.
Os cursos de Pierre Bourdieu reunidos em Sobre o Estado apresentam um conjunto de formulações teóricas, indicações metodológicas, interrogações, esboços de análises empíricas e pistas de investigações importantes para as pesquisas atuais sobre questões relacionadas ao Estado moderno. De imediato, gostaria de remeter a dois aspectos centrais explorados analiticamente ao longo das vinte e três aulas. Primeiro, a principal contribuição teórica do autor reside na incorporação do poder simbólico como dimensão essencial do Estado. Concebido como uma forma de crença, uma ilusão bem fundamentada, ao Estado é atribuído o poder de organizar a vida social através da imposição de estruturas cognitivas e de consensos sobre o sentido do mundo. Segundo, investigar a gênese do Estado é investigar a formação de um setor do campo de poder ou metacampo. Este é assim designado pelo fato de condicionar o funcionamento dos demais campos e intervir na definição da posição que cada um deles mantém em relação aos demais. Assim, a análise realizada pelo autor em Sobre o Estado se inscreve em seu projeto de elaboração de uma teoria geral do espaço social.
Publicado originalmente em 2012, o livro é fruto das aulas proferidas por Pierre Bourdieu no Collège de France nos três cursos dedicados ao Estado nos meses de dezembro de 1989-fevereiro de 1990, janeiro-março de 1991 e outubro-dezembro de 1991. Ele integra um projeto mais amplo de edição dos cursos e aulas do autor. Com a publicação na íntegra dos cursos, o leitor brasileiro tem a possibilidade de seguir as escolhas analíticas feitas pelo autor e a construção de suas ideias sobre o tema. Uma breve, mas esclarecedora, análise feita pelos editores do livro sobre o lugar tardio que ocupa o Estado nas pesquisas realizadas por Pierre Bourdieu é incluída no final do livro. Graças a ela, constata-se que a definição de Estado explorada em seus cursos – como “instância oficial, reconhecida como legítima, isto é, como detentora do monopólio da violência simbólica legítima” (p. 490) – é elaborada inicialmente em seu livro Homo academicus, de 1984. A edição brasileira conta também com um artigo do sociólogo Sergio Miceli da Universidade de São Paulo. Nele, o autor retoma as formulações de Bourdieu sobre a transição do Estado dinástico ao Estado moderno e destaca o papel que, no processo, desempenham os juristas como formuladores do desinteresse e da universalização, princípios e valores centrais que se encontram associados ao Estado.
O trabalho de transformação das aulas em textos coube a antigos colaboradores de Bourdieu, falecido em 2002. Eles optam pela apresentação de uma transcrição não literal, mas editada, do material gravado, obedecendo a princípios adotados pelo próprio autor ao revisar suas transcrições. O resultado é uma agradável surpresa, especialmente para os leitores que só têm acesso aos livros e artigos nos quais são publicados os resultados de pesquisas. Em sintonia com o espírito que anima o ensino no Collège de France – ensinar a pesquisa que se encontra em desenvolvimento -, o leitor tem a oportunidade de acompanhar, através das aulas, como recursos intelectuais e conceitos elaborados pelo autor – como a reflexividade, a comparação, o uso da história, a construção de modelos analíticos e as noções de habitus, campo e dominação simbólica, entre outros – são mobilizados no processo de construção de uma pesquisa. Mantido o formato das aulas, é possível observar a elaboração e o desenvolvimento de ideias, suas articulações com o material empírico, o confronto com modelos explicativos disponíveis, os desvios pedagógicos tidos como necessários ao avanço da reflexão, as repetições de coisas já ditas, as hesitações e as indicações de caminhos possíveis de exploração. A preservação em texto do estilo do discurso oral contribui para transmitir ao leitor a sensação de estar acompanhando as aulas e o andamento da pesquisa ao vivo.
O Estado, concebido como um conjunto de agentes e instituições, que exerce a autoridade soberana sobre um agrupamento humano fixado num território e que expressa de forma legítima esse agrupamento é, na visão de Bourdieu, um fetiche político. Essa representação dominante do Estado é interpretada pelo autor ao mesmo tempo como condição de sua existência e um de seus efeitos. O Estado é definido, portanto, como produto de uma crença coletiva para a qual contribuem teorias políticas e jurídicas. Analisar o trabalho de produção dessa representação e de fundamentação dessa crença é uma tarefa a que se dedica Pierre Bourdieu, especialmente em seu primeiro curso. A empreitada é indissociável do exame do Estado como fonte de poder simbólico, isto é, como local onde se produzem princípios de representação legítima do mundo social.
A definição do Estado como instituição que reivindica o monopólio da violência física e simbólica legítima no âmbito de um território decorre de um posicionamento do autor em relação às tradições estabelecidas do pensamento sociológico sobre o Estado. De Max Weber ele retém a interrogação a respeito da legitimidade do Estado, o monopólio da violência física, à qual acrescenta a violência simbólica. Da formulação de Émile Durkheim afasta-se no que ela conserva da visão de teóricos liberais (como Hobbes ou Locke), que alçam o Estado a promotor do bem comum, e retém a sugestão de pensá-lo como fundamento da integração moral (através da difusão de valores) e lógica (através do partilhamento das mesmas categorias de percepção) do mundo social, isto é, como princípio de construção de consensos e em torno dos quais, acrescenta Bourdieu, se estabelecem os conflitos. Em relação à “tradição marxista”, a critica é dirigida à ênfase posta na análise sobre a função de coerção exercida pelo Estado em favor das classes dominantes em detrimento da reflexão sobre as condições de sua própria existência e estrutura. O autor retém, porém, o argumento de que o Estado contribui para a reprodução das condições de acumulação do capital, mas atribui isso, retomando Durkheim, ao poder do Estado de organizar esquemas lógicos de percepção e consensos sobre o sentido do mundo. A submissão ao Estado passa a ser entendida como algo que deve menos à coerção física do que à crença em sua autoridade.
Para compreender os fundamentos dessa autoridade e dos mecanismos que promovem o seu reconhecimento, Bourdieu deixa de lado as formulações abstratas e privilegia a análise de medidas e ações do Estado. Assim, ele retoma pesquisas realizadas nos anos 1970 sobre o mercado da casa própria na França, especialmente a investigação efetuada sobre uma das comissões criadas – a Comissão Barre – para tratar do assunto. A comissão, exemplo de uma invenção organizacional, condensa, do ponto de vista do autor, o processo de gênese da lógica estatal. O estudo sobre seu funcionamento permite elucidar o mistério que dota os agentes, atos e efeitos do Estado de seu caráter oficial, público e universal.
Ao acompanharmos o argumento do autor constatamos que é na “crença organizada”, na “confiança organizada”, que se encontra a chave para se decifrar a lógica de constituição do poder simbólico do Estado. Estamos muito próximos aqui das formulações de Marcel Mauss sobre a magia. Um ato de Estado é um “ato coletivo”, realizado por pessoas reconhecidas como oficiais, e, portanto, “em condições de utilizar esse recurso simbólico universal que consiste em mobilizar aquilo sobre o que todo o grupo supostamente deve estar de acordo” (p. 67). Através da oficialização, agentes investidos de legitimidade transformam um ponto de vista particular – uma gramática, um calendário, uma manifestação cultural, um interesse etc. – em regras que se impõem à totalidade da sociedade. Examinar os mecanismos que fundam o oficial é, portanto, uma via para tornar compreensível como um ponto de vista particular é instituído como o ponto de vista legítimo. O efeito de universalização é, por excelência, um efeito de Estado.
A formação do Estado como lugar de elaboração do oficial, do bem público e do universal é indissociável de dois outros aspectos desenvolvidos pelo autor em suas análises. Primeiro, os agentes identificados com o bem público – como funcionários e políticos – encontram-se também submetidos às obrigações próprias ao campo administrativo. A demonstração de que estão a serviço do universal, do interesse coletivo e não de um interesse particular, por exemplo, é um meio de usufruir do reconhecimento social associado a esta condição, isto é, de se beneficiar dos lucros simbólicos que se encontram diretamente vinculados às manifestações de devoção ao universal. O autor lembra ainda, e este é o segundo aspecto, que as lutas que definem os processos de universalização são acompanhadas de lutas entre agentes sociais interessados em monopolizar o acesso ao universal. Estas lutas se dão entre agentes do mesmo campo e entre agentes de diferentes campos (jurídico, político, econômico, intelectual etc.). A concepção do espaço social como formado por campos diferenciados, com seus agentes e lógicas próprias, que entram em concorrência entre si, é uma ideia forte na teoria do autor. No processo de diferenciação, é localizada a gênese do Estado e a gênese de um poder diferenciado designado como campo de poder. O poder do Estado – como metapoder capaz de intervir em diferentes campos – é objeto de concorrência entre agentes concorrentes interessados em fazer com que seu ponto de vista e seu poder prevaleçam como o legítimo.
Uma vez esclarecida a natureza específica do poder do Estado, Pierre Bourdieu interroga-se sobre o modo como se dá a concentração do capital simbólico do Estado. Para isso, propõe realizar uma sociologia histórica que torne compreensível a sua gênese. O Estado passa a ser examinado como um objeto histórico e a história é incorporada à análise como um princípio de compreensão. O recurso à história é defendido como um instrumento fundamental de ruptura epistemológica. Como ressalta o autor nas primeiras aulas, o risco de se refletir sobre o Estado através de pré-noções é grande. O fato de o Estado ter uma participação significativa na estruturação das representações legítimas do mundo social contribui para que o pesquisador, ao se propor a pensar o Estado, o faça segundo as categorias e termos do próprio Estado. A historicização opera, portanto, como um antídoto contra os mecanismos de naturalização. A abordagem genética proposta visa restituir o momento inicial, aquele em que é possível identificar as possibilidades disponíveis para os agentes sociais, em que as lutas estão se desenrolando, as escolhas estão sendo efetuadas e naturalizadas. Trata-se de olhar para o momento em que se desenrolam as lutas que antecedem a oficialização e a universalização. A partir desta perspectiva, Bourdieu visa compreender a lógica específica que está na origem da constituição do campo burocrático como espaço autônomo em relação, por exemplo, à família, à religião e à economia. Para isso, retrocede à Idade Média europeia. Fazer a gênese do Estado é, desse modo, fazer a gênese de um campo em que as lutas políticas são travadas em torno da apropriação de um recurso particular que é o universal.
A incorporação da história à sua perspectiva analítica – o autor considera sem sentido a fronteira entre a sociologia e a história – não ocorre, no entanto, sem crítica a certa abordagem histórica. A despeito de historiadores constarem entre os autores mais citados nos cursos, Bourdieu os censura por se limitarem, em razão dos constrangimentos próprios à disciplina, a acumular histórias. Ele lamenta que suas análises não se desdobrem no sentido da elaboração de modelos analíticos. Essa crítica, no entanto, não é nova e apenas atualiza debates desenvolvidos no âmbito da própria historiografia. É um modelo, portanto, que ele propõe construir através de sua história genética também chamada de sociologia histórica. Através do exame de um número delimitado de casos particulares, Bourdieu se propõe a descrever a lógica da gênese do Estado, a elaborar um modelo teórico capaz de dar inteligibilidade a inúmeros fatos históricos.
Mas se o sociólogo, segundo sua compreensão, faz história comparada de um caso particular do presente, ele o faz de modo distinto do historiador em relação a um caso particular do passado. O primeiro, de acordo com a abordagem genética, constrói o caso presente como a realização de um dos casos possíveis. O segundo, ao ressaltar a unilinearidade dos processos, contribui para eliminar os possíveis que a abordagem genética propõe evidenciar. As leituras de Bourdieu sobre a história e seus usos na construção de seu modelo da gênese do Estado não ficaram sem respostas. Número recente da revista Actes de la Recherche em Sciences Sociales dedicado à razão do Estado (n. 201-202, de março de 2014), fruto de uma jornada de estudo realizada em janeiro de 2012 por ocasião da publicação de Sobre o Estado, dedica quatro de seus artigos a reações de três historiadores e um sociólogo às formulações de Bourdieu. Pierre-Étienne Will reflete sobre o modelo apresentado por Bourdieu a partir do caso chinês. Tendo em mente a questão do desenvolvimento do poder simbólico do Estado, Jean-Phillippe Genet chama atenção para a importância da literatura sobre a Igreja na Antiguidade e na Idade Média, não examinada por Bourdieu. Christophe Charle se concentra no debate entre história e sociologia e George Steinmetz critica as formulações de Bourdieu à luz de variações estatais como o Estado colonial e o Império. Como indicam estes textos, o modelo de gênese do Estado elaborado por Bourdieu, construído a partir de uma comparação entre os casos francês, inglês e incursões pelo japonês, tem sido avaliado quanto a sua pertinência e limite a partir do confronto com outras experiências.
A análise comparativa dos casos selecionados através da leitura critica de trabalhos de sociólogos que produziram comparações históricas (como Shmuel N. Eisenstadt, Perry Anderson, Barrington Moore, Reinhard Bendix e Theda Skocpol) e de historiadores permite a Bourdieu propor uma teoria da gênese do Estado como o resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital. Considerado dessa perspectiva, o Estado é interpretado como princípio de unificação e instrumento de organização social forjado em sociedades que se desenvolvem no sentido da constituição de espaços sociais diferenciados. Em sua interrogação sobre a gênese do Estado, Bourdieu não minimiza a importância da dimensão material e institucional em sua formação, ressaltada pela literatura por ele trabalhada. Ele investe, porém, na questão que considera mais essencial e menos resolvida, qual seja, a do consentimento, da aceitação da autoridade do Estado. A ela responde através de observações sobre o processo de concentração do capital simbólico do Estado.
A demonstração sobre as diferentes formas de acumulação do capital resulta na definição do Estado como o lugar de totalização, de constituição de um poder que se impõe sobre os demais. Restrinjo-me aqui a apenas indicar os tipos de capital, cujas etapas de acumulação ocorrem de modo interdependente, incorporados pelo autor a seu modelo e aos quais se articulam a criação de espaços sociais relativamente autônomos. A concentração do capital da força física é associada à origem da formação de uma força pública (militar e policial) encarregada da manutenção da ordem. A concentração do uso legítimo da violência no âmbito do Estado é acompanhada da expropriação desse recurso das mãos de outros agentes sociais. A segunda dimensão destacada pelo autor é a do capital econômico. A criação de um sistema fiscal e de tributos obrigatórios e regulares assegura ao Estado os recursos indispensáveis à manutenção de suas despesas e financiamento de suas ações e serviços. Mas a arrecadação de impostos de forma ordenada e permanente só é viável à medida que a administração é capaz de produzir informações confiáveis e de organizá-las. O uso da estatística, da geografia e a produção de outras técnicas dirigidas ao conhecimento do mundo social, como os serviços secretos, asseguram ao Estado a acumulação de um importante capital informacional. Estas informações não são só reunidas, mas reelaboradas e difundidas de modo desigual. Uma dimensão importante do capital informacional é o processo de acumulação do capital cultural. Aqui é destacado o papel do Estado na construção dos símbolos nacionais, na unificação dos códigos linguísticos, métricos e jurídicos e a homogeneização das formas de comunicação através das classificações administrativas, dos sistemas escolares e a imposição de uma cultura dominante. A acumulação desse conjunto de formas de capital converge no sentido da produção do reconhecimento da autoridade do Estado, isto é, de seu capital simbólico. Este, por sua vez, se objetiva particularmente sob a forma do capital jurídico. A mobilização do direito e a participação dos juristas são essenciais no processo de constituição do universal como princípio da administração e do Estado como uma ficção jurídica.
Esse processo é considerado com atenção no último ano do curso, dedicado à compreensão da transição de um poder que se confunde com a pessoa do rei para um poder concentrado na burocracia. A interrogação sobre a gênese leva Bourdieu a refletir, portanto, sobre a passagem do Estado dinástico ao Estado burocrático. A chave analítica para a compreensão dessa transformação que conduz à constituição da razão de Estado, ao domínio público como um universo excluído das regras ordinárias, é a estratégia de reprodução própria a cada um destes poderes. “A verdade de todo o mecanismo político”, defende o autor, “está na lógica da sucessão” (p. 322). Assim, Bourdieu vê um sistema fundado no direito de sangue dar lugar a um sistema fundado na competência cultural e escolar. Ao longo dessas aulas, o leitor é convidado a acompanhar o surgimento de técnicas administrativas, de regulamentações, de instituições, de formas de pensamento e de agentes sociais que investem na desfamiliarização do poder. À medida que o Estado se consagra como poder impessoal e lugar do universal, os laços domésticos aí presentes passam a ser repudiados em nome de uma moral pública.
A análise da transição do Estado dinástico a um Estado mais “despersonalizado” introduz o fenômeno da corrupção como questão relacionada à formação do Estado moderno. A partir de um artigo de Pierre-Étienne Will sobre a China, Bourdieu propõe um modelo teórico da corrupção como fenômeno institucionalizado. Para entendê-lo cabe lembrar que o processo de gênese do Estado é interpretado como um processo de diferenciação, que produz o aparecimento de novos dirigentes, e de distribuição do poder concentrado na pessoa do rei através de uma cadeia de agentes interdependentes. O exercício do poder supõe, portanto, a concessão de poder a agentes intermediários. Essa delegação produz múltiplos pontos de autoridade na rede complexa que constitui o Estado e, desse modo, amplia as possibilidades de que esses pontos – a partir dos quais são controlados informações, recursos, execução de ordens e direitos – sejam utilizados em benefício dos próprios detentores. Os desvios no uso do poder, impulsionados não raramente pela introdução da lógica doméstica onde deveria prevalecer a razão do Estado, possibilidade inscrita na estrutura de distribuição de poder, é o que faz com que o autor interprete a corrupção como estrutural. O que me parece interessante no modelo não é tanto o risco tido como inerente à delegação de poder, mas o reconhecimento da força e a capacidade que possui a lógica doméstica de se impor à moral pública. Mas se a corrupção aparece como um bom lugar para se entender a formação do Estado, creio, no entanto, que é preciso considerá-la, o que não faz o autor, como mais um dispositivo administrativo e jurídico do Estado que, por um lado, delimita, em diferentes situações e momentos, as condutas tidas como próprias ou não ao mundo público e, por outro, contribui, através das denúncias de práticas irregulares ou desvios, para renovar a dimensão imaginada (ficcional) do Estado. Ao apontar para condutas tidas como inapropriadas ao Estado, as denúncias de corrupção disseminam a descrença no Estado em sua forma cotidiana e, ao mesmo tempo, como uma forma de teodiceia pública, atualizam a crença num Estado idealizado.
Em suas últimas palavras do curso, Bourdieu retoma o tema da corrupção e o associa à corrosão da confiança no serviço público. A perda de convicção no Estado como promotor do justo e do bem comum favorece as apropriações e usos inadequados de seus poderes. Como evidencia Bourdieu ao longo de toda sua análise, a construção do Estado como espaço público, como lugar do universal é uma obra inacabada e permanente, produto do interesse de distintos agentes e de lutas. Por isso, é também um processo reversível e uma obra passível de ser demolida. Os cursos reunidos em Sobre o Estado foram realizados no início dos anos 1990, momento em que a Europa vê-se confrontada mais diretamente com as políticas liberais de reforma do Estado e processos de dissolução do mesmo são colocados em marcha. Como observa o autor, do ponto de vista analítico, a interrogação sobre a gênese tem valor semelhante ao da interrogação sobre sua desconstrução. Indicações desse processo e suas consequências trágicas são retratadas no livro A miséria do mundo.
O Estado continua a ocupar, nos dias que correm, o centro dos debates políticos. Divide opiniões e ocupa lugar distinto em projetos concorrentes de sociedade. Violência policial, corrupção, garantia e violação de direitos individuais, promoção de oportunidades universais e garantia de bem-estar social são apenas alguns temas que lhe são diariamente associados. As aulas reunidas em Sobre o Estado são um instigante ponto de partida para uma discussão qualificada sobre essas e outras questões. O livro é um convite ao aprofundamento e à reflexão necessária sobre essa invenção nomeada Estado, ao qual estão atrelados tantos destinos individuais e coletivos.
Marcos Otavio Bezerra – Doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: motavio.bezerra@gmail.com.
Outros Tempos. São Luís, v.12 n. 19, 2015.
Dossiê: África: gênero, nação e poder
Apresentação
- APRESENTAÇÃO
- TATIANA RAQUEL REIS SILVA, TERESA CRUZ E SILVA
Artigos
- COM ZELO, INTELIGÊNCIA E LIMPEZA DE MÃOS: Eugênio Freyre de Andrade e as Casas da Moeda na primeira metade do século XVIII
- IRENILDA R. B. R. M. CAVALCANTI
- COLÔNIA-QUILOMBO: Retirantes cearenses e abolicionismo na Colônia Benevides (Pará, 1877-1884)
- EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA
- ESPAÇO DE RELIGIOSIDADE E TRAÇOS DA MODERNIDADE: memórias de moradores do Pântano do Sul (Florianópolis/SC, 1970-1980)
- MARIANE MARTINS
- UMA HIGIENE MORAL E DO CORPO: educação moral e cívica, as atividades físicas, esportivas e de lazer durante a ditadura militar
- REGINALDO CERQUEIRA SOUSA
- HISTÓRIA E MEMÓRIA: quadro antigo do cemitério ecumênico São Francisco de Paula
- CARLA RODRIGUES GASTAUD, BRUNA FRIO COSTA
Dossiê
- A FORMAÇÃO SOCIAL DO ESTADO-NAÇÃO E A CRÍTICA PÓS-COLONIAL: o surgimento da história crítica em Moçambique
- MILTON CORREIA
- PREDADORES: quando a literatura narra as relações de poder em Angola
- SILVIO DE ALMEIDA CARVALHO FILHO
- A QUESTÃO DE GÊNERO NA AGENDA PÚBLICA E POLÍTICA DE CABO VERDE, ÁFRICA:Papel das ONG Feministas na Luta pelos Direitos das Mulheres
- CARLA SANTOS DE CARVALHO
- MERCADO DE SUCUPIRA: práticas comerciais e cotidiano das rabidantes cabo-verdianas
- TATIANA RAQUEL REIS SILVA
- O ESTADO DA ARTE DOS ESTUDOS DE GÊNERO NA GUINÉ-BISSAU: uma abordagem preliminar
- PATRÍCIA GODINHO GOMES
- POLÍTICAS SOCIAIS E LEGISLAÇÃO NO APARTHEID SUL-AFRICANO
- VIVIANE DE OLIVEIRA BARBOSA
- HOSPITALIDADE E ANTROPOLOGIA NA ÁFRICA DO SUL CONTEMPORÂNEA
- ANTONÁDIA BORGES
Estudo de caso
- TESTEMUNHOS DE VIOLÊNCIA NUM REGISTRO JUDICIAL DURANTE A OCUPAÇÃO COLONIAL NO NORTE DE MOÇAMBIQUE
- FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ
- LUANDA, 4 DE FEVEREIRO DE 1961: o olhar dos Estados Unidos
- FÁBIO BAQUEIRO FIGUEIREDO
Entrevista
Resenhas
- BEZERRA, Nielson Rosa; ROCHA, Elaine (Org.). Another Black Like Me: the construction of identities and solidarity in the African diaspora. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 230 p.
- DANIELA CARVALHO CAVALHEIRO
- INFORMAÇÕES EDITORIAIS
- Anissa Ayala Cavalcante
Publicado: 2015-07-01
Recôncavo – Revista de História da UNIABEU | Belford Roxo, v. 5, n.9, 2015.
Recôncavo – Revista de História da UNIABEU. Belford Roxo, v. 5, n.9, 2015.
Editorial
Editorial | Andrea Santos Pessanha | PDF
Artigos
- REFLEXOS DO BIPARTIDARISMO NA POLÍTICA MUNICIPAL: NOVA IGUAÇU. | Allofs Daniel Batista | PDF
- A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO PELO “GRITO DO POVO” | Cláudia Santos | PDF
- IMPEACHMENT E INTERVENÇÃO MILITAR – SIMILITUDES QUE MARCAM A HISTÓRIA RECENTE DE UM PAÍS REDEMOCRATIZADO HÁ 50 ANOS | Edwaldo Costa, Suélen Keiko HAra Takahama | PDF
- “MENOR ATENÇÃO DAS AUTORIDADES” VERSUS MAIOR PRODUÇÃO ACADÊMICA: NOVOS ESTUDOS SOBRE OS MOVIMENTOS SOCIAIS NA BAIXADA FLUMINENSE DURANTE A DITADURA | Felipe Augusto dos Santos Ribeiro, Adriana Maria Ribeiro | PDF
- RIO DE JANEIRO: DA CIDADE INSALUBRE À VERSALHES TROPICAL | Humberto Fernandes Machado | PDF
- O ELO FORTE DA CORRENTE: A IMIGRAÇÃO PORTUGUESA E O CATOLICISMO NA BAIXADA FLUMINENSE, 1950–1959 | kátia Luciene oliveira santana, Rodrigo Gomes da Costa | PDF
- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CAPITALISMO: UMA COEXISTÊNCIA CONTRADITÓRIA | Luciano Bispo dos Santos, Elmo Rodrigues da Silva | PDF
- INFLUÊNCIA BRITÂNICA NO IMPÉRIO: AS PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES MINERAIS NA BAHIA | Rute Andrade Castro, Cristiane Batista da Silva Santos | PDF
Resenha
- A PRESENTE RECODIFICAÇÃO DO PASSADO EM A MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓIS | Shirley de Souza Gomes Carreira | PDF
Recôncavo – Revista de História da UNIABEU | Belford Roxo, v.5, n.8, 2015.
Recôncavo – Revista de História da UNIABEU. Belford Roxo, v.5, n.8, 2015.
Editorial
Editorial | Andrea Santos Pessanha | PDF
Artigos
- MEMÓRIA, CULTURA E IDEOLOGIA: NOTAS PARA UMA INVESTIGAÇÃO | Diogo Cesar Nunes | PDF
- UMA ANÁLISE DA HISTÓRIA DA ARTE MEDIEVAL: O ELEMENTO IMAGÉTICO DENTRO DA PLURALIDADE CULTURAL DE AFONSO X NA ILUMINURA MS. T.I.6, FOL.65 DO LIBRO DE LOS JUEGOS (1283) | Elaine Cristina Senko | PDF
- O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO E A CAPTURA DOS ESPAÇOS ADORMECIDOS A PARTIR DE UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | Everaldo Lisboa Santos, Lidiane Cristine da Silva | PDF
- AS TENSÕES DA MANUMISSÃO E DA ABOLIÇÃO NO BRASIL, SÉCULOS XVII-XIX | Ronaldo Teixeira Couto | PDF
- O DIFÍCIL COMBATE: AS PICHAÇÕES COMO UM PROBLEMA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL EM RECIFE DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR | Thiago Nunes Soares | PDF
História & Educação
- CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESPÍRITO SANTO | Ramofly Bicalho dos Santos, Marizete Andrade da Silva | PDF
Prata da Casa
- O ENSINO DE HISTÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E NO REFORÇO DE IDENTIDADES | Thereza Azeredo | PDF
Resenha
- OS JOVENS EM UM MUNDO INSTÁVEL | Wladimir Cerveira de Alencar | PDF
História, Memória e Comemoração / Revista Brasileira do Caribe / 2015
Em março de 2015 a Revista Brasileira do Caribe divulgou uma convocatória de artigos para compor um dossiê dedicado ao tema História, Memória e Comemoração. Nossa intenção era problematizar uma ideia do historiador Pierre Nora – segundo a qual estaríamos imersos na Era da Comemoração – testando sua aplicabilidade ao espaço/tempo caribenho, uma vez que o espaço, o momento, o contexto e as razões dessa ideia são visivelmente eurocêntricos, uma reavaliação dos 200 anos da Grande Revolução de 1789 quando o socialismo dos países do Leste começava a se desconstruir e se acelerava o processo de unifi cação europeia.
Não há mais lugar para o espelhismo que hegemonizou o século XIX e uma boa parte do século XX, assumindo A Era da Comemoração como uma categoria universal imediata. No entanto, não há como ignorar, por um lado, a presença histórica de um considerável contingente criollo da população, distribuído desigualmente entre as várias partes do continente, um dado empírico relevante que não pode ser ignorado – com uma notável exceção, o Haiti, onde os brancos foram substituídos pelos indigènes. E, principalmente, não há como negar a existência empírica do Estado (concebido segundo padrões internacionais ou, se quisermos, eurocêntricos) e a importância de estruturas e projetos estatais conformando a realidade que pretendemos encarar.
Nossa convocatória assumia que, tanto na América Latina como possivelmente no Caribe, aquele futuro desencantado que Pierre Nora vislumbrava na época do Bicentenário da Revolução Francesa não tem lugar no Bicentenário das Independências latinoamericanas (e também, talvez, nas principais comemorações caribenhas?). Aqui, poderosas utopias (bem como seus fortes adversários) ainda operam, embora o que mais comova milhares dentre nós seja a procura da verdade no passado.
Antecipávamos que seria quase inútil procurar em todo o Caribe insular por reverberações do Bicentenário da Independência da América Latina, com duas notáveis exceções: o Bicentenário da Independência do Haiti – tragicamente engolfado pelo terremoto de 2010 – e o Cinquentenário da Revolução Cubana, apoiado no bolivarianismo do Bicentenário venezuelano.
Ocupando-se do tema “O bicentenário bolivariano no eixo VeneCuba”, o artigo do historiador brasileiro Jaime de Almeida identifi cou um projeto audacioso de articulação política entre nações que, alicerçado por uma conjuntura mundial favorável aos países exportadores de commodities, especialmente o petróleo, entrelaçou duas comemorações de ordem e origem diferentes: dois séculos da independência da Venezuela e meio século de socialismo em Cuba. A projetada federação ou confederação entre os dois países era o eixo, o coração pulsante de um imenso e heterogêneo conjunto em que se articulariam o Caribe insular e a América do Sul (denominação que explicita a ausência do México). Os nomes adotados pela ideia de futuro anunciado nessa dupla comemoração permanecem vigentes: ALBA e Socialismo do Século XXI. No entanto, o artigo sugere que a morte do presidente Hugo Chávez, a queda abrupta dos preços internacionais do petróleo e a conquista da maioria parlamentar pela oposição na Venezuela marcam uma quebra de ritmo no processo de união entre os dois países. O sinal mais evidente é a recente normalização das relações entre Cuba e os Estados Unidos.
O Bicentenário da Independência da América Latina, aberto em 2009 na Bolívia, continua em desenvolvimento e só começará a encerrar-se com uma nova rodada de comemorações que começarão na Argentina em 2016 e culminarão na Bolívia em 2025. No primeiro desses países, a conjuntura política se alterou há poucos meses e tudo indica que o ciclo comemorativo se encerrará com um discurso praticamente oposto ao discurso peronista de abertura em 2010. No segundo, ainda não se sabe se Evo Morales, reeleito para presidir o país até 2020, ainda estará – como pretende – no comando do país que comemorará o desfecho da batalha de Ayacucho em 2025.
O dossiê prossegue com dois artigos focalizando dinâmicas festivas na região caribenha da Colômbia que, ao introduzir como que um contraponto, contribuem para nossa tentativa de desenhar uma percepção geral da dinâmica do processo comemorativo no Caribe contemporâneo. O historiador brasileiro Milton Moura apresenta “O drama étnico e político do 11 de novembro em Cartagena de Indias”. Começando com um balanço dos estudos que problematizam festa, etnicidade e política, focaliza a história da principal comemoração cívica da principal cidade caribenha da Colômbia.
Tomamos a liberdade de sugerir aqui ao leitor que atente para uma transição. Vimos que o artigo de Jaime de Almeida, focado no dinamismo do projeto de união entre Cuba e Venezuela para a construção do Socialismo do Século XXI, concentra a atenção no protagonismo de homens de Estado como Hugo Chávez e Fidel Castro – dois indivíduos excepcionalmente poderosos que nenhuma historiografi a poderia ignorar: um deles permanentemente em cena perante as massas venezuelanas, o outro chefi ando por mais de meio século a burocracia do Estado e do Partido.
Já o artigo de Milton Moura se concentra no protagonismo da sociedade local e regional nas festas de Cartagena de Índias, procurando pelas mudanças recentes observadas na sua confi guração. Destaca em especial a relação entre a participação dos jovens e adolescentes nos festejos da Independência e sua história, fortemente marcada pelos confl itos armados no interior da Colômbia. Assim, temos a oportunidade de aproximar-nos a algo que, embora sugerido no texto de nossa convocatória, não pôde ser sufi cientemente contemplado no artigo de Jaime de Almeida: se o Socialismo do Século XXI fi gura no discurso do Bicentenário como a mais poderosa utopia, o arti go de Milton Moura e, como veremos, mais ainda o de Daleth Restrepo Pérez, trazem para de perto de nossos olhares os mais fortes adversários dessa utopia.
Milton Moura procura aproximar-se com sensibilidade ao ponto de vista dos desplazados (migrantes forçados) produzidos por “uma guerra civil que se estende por pouco mais de 50 anos entre setores populares compostos na sua maioria de camponeses e habitantes de pequenas cidades, de um lado, e guerrilheiros, narcotrafi cantes e milicianos paramilitares, de outro” que se acumulam nas grandes cidades colombianas como Cartagena de Indias. Com esses novos moradores urbanos, a polarização social vem adquirindo novas confi gurações, com novos atores coletivos que buscam se expressar no universo da Festa, colidindo “com as formas tradicionais legitimadas diante das elites ou outras formas que, se não propriamente legitimadas, eram toleradas”.
Retomaremos a resenha do artigo de Milton Moura depois de abordar o artigo da historiadora colombiana Daleth Restrepo Pérez que põe o dedo na ferida de seu país: “La cultura festiva del Caribe colombiano en la encrucijada de la guerra: fi esta y paramilitarismo en Necoclí-Antioquia”. Antes que pensemos numa paisagem tipicamente montanhosa do interior da Colômbia, a autora nos situa justamente no primeiro assentamento colonial do litoral caribenho da América do Sul, ocupado pelo povo Kuna Tule que ensinaria a Francisco de Balboa o caminho para o Mar do Sul. [1] Daleth Restrepo Pérez analisa a transformação da cultura festiva em Necoclí, província antioquenha de Urabá, num contexto de extrema violência e controle social estabelecido por forças paramilitares. Sua inquietação é a relação entre o poder e o simbólico: a violência simbólica, o lugar e a territorialidade.
O artigo problematiza a cultura festiva necocliseña a partir das identidades étnicas, da memória e da história local. O retrato é trágico: entrelaçados, o confl ito armado e o paramilitarismo transformam e degradam as dinâmicas sociais tradicionais da comunidade, particularmente no campo das práticas festivas, dancísticas e musicais. Felizmente, o artigo indica que as respostas sociais frente a esta nova ordem social em construção se expressam sutilmente de dentro da própria festa, apoiadas na tradição e na reconstrução de comunhão e comunidade.
É muito impactante a coincidência entre a temporalidade dos processos sociais e culturais do Caribe colombiano, estudados por Milton Moura e Daleth Restrepo Pérez, e a temporalidade estudada por Jaime de Almeida. Na Colômbia que celebra o Bicentenário da Independência, fi nalmente se torna possível a superação de um confl ito de meio século – confl ito que não deixou de sincronizar-se com a perspectiva bolivariana, como sabemos.
Como resultados parciais das negociações entre o governo da Colômbia e as FARC, iniciadas com a ajuda dos presidentes Hugo Chávez e Raúl Castro, já se esboçam processos que não podem mais ser vistos como utopias distantes. A Comissão Histórica da História do Confl ito e suas Vítimas, fruto do esforço de diversos setores do governo e da sociedade civil colombianos para superar o drama da guerra civil, ajuda na implementação de políticas governamentais de reparação e no enfrentamento do preconceito e discriminação contra os desplazados estigmatizados pela vulnerabilidade.
Encerrando o dossiê, o historiador haitiano Vertus Saint- Louis procede a uma minuciosa radiografi a do culto cívico à memória de Jean-Jacques Dessalines, começando pelo exame das possíveis razões de seu assassinato por seus próprios companheiros em 1806. Este esforço investigativo nos parece notável por não deixar-se envolver em esquemas de explicação que reduzem os problemas do Haiti às pressões externas. No processo da revolução haitiana e construção da nação, Vertus Saint-Louis mostra que além dos confl itos entre senhores e escravos, e também entre negros e mulatos livres – tema este que ele abordou em profundidade num artigo publicado no Brasil [2] – não se pode ignorar os frequentes confl itos entre chefes negros e mulatos – nascidos no Haiti, que se percebiam como indigènes – e os negros ditos boçais, designados como congos, africanos, marrons, ou principalmente cultivateurs.
A memória de Dessalines foi reabilitada no Haiti em 1845, pouco depois que a França festejava com com todas as honras os restos mortais de Napoleão Bonaparte (1840) e a Venezuela fazia o mesmo com os de Simón Bolívar (1842). Vertus Saint- Louis mostra com clareza que foi sob a pressão crescente da grande massa negra da população que os mulatos iniciaram o processo de reabilitação da memória de Dessalines, fi nalmente consolidado pelo imperador negro Soulouque que instituiu a festa nacional dos Antepassados (2 de janeiro de 1854). Aliás, é nessa conjuntura que começa a fl orecer a historiografi a haitiana, bifurcada em duas vertentes – negra e mulata – que persistem até a atualidade.
Esse artigo poderá ser muito útil àqueles que se interessam pela longa duração da história do Haiti, principalmente por fornecer abundante informação coletada em arquivos haitianos e estrangeiros e na historiografi a local. Entendemos como uma de suas principais contribuições a aproximação em profundidade aos problemas e conjunturas do século XIX num Haiti visto por dentro, um tempo pouco conhecido no Brasil, já que a bibliografi a disponível geralmente se concentra nas razões e sentido da revolução e em seguida mergulha nos problemas atuais.
Por um feliz acaso, dois dos artigos avulsos que estamos publicando neste número da Revista Brasileira do Caribe também se referem ao Haiti, de modo que o nosso dossiê sobre História, Memória e Comemoração se prolonga para além do seu próprio recorte.
A socióloga Pâmela Marconatto Marques e o antropólogo José Carlos Gomes dos Anjos, brasileiros, publicam “Quem quer ser Toussaint Louverture? Banalização e silenciamento na produção de narrativas ofi ciais sobre a história haitiana”. O título chama nossa atenção para o personagem mais identifi cado no Brasil (e possivelmente no mundo) com a revolução haitiana.
Diferentemente do caminho adotado por Vertus Saint-Louis, que como vimos concentrou-se nas políticas de memória (e de esquecimento) relativas a Jean-Jacques Dessalines – em torno de quem giram hoje quatro das cinco festas nacionais haitianas – ao longo de 200 anos, os autores fazem um vasto e detalhado painel que abarca as distintas narrativas – principalmente as hegemônicas – que vêm sendo formuladas acerca do Haiti no mesmo período, tanto no Haiti como no exterior.
Por sua vez, o sociólogo porto-riquenho Gabriel Alemán Rodríguez traz uma excelente contribuição com um criterioso estudo das ideias de Jean-Price Mars, importante intelectual haitiano (nascido em 1876), expostas num livro pouco conhecido na América Latina, publicado em 1919: La vocation de l´élite. [3] Médico, tal como são tantos outros intelectuais de seu país, Price-Mars interpelava diretamente as elites haitianas do início do século XX, convocando-as a assumir sua vocação e papel na organização e condução do coletivo social. Seu objetivo explícito era reconstruir um novo nacionalismo haitiano capaz de restabelecer moralmente o povo e restaurar a independência nacional. Gabriel Alemán Rodríguez indica uma ironia, os ideólogos do intervencionismo norte-americano chegaram a recorrer aos textos que Price-Mars vinha publicando como justifi cativa para a intervencção militar de 1915. Em meio à crise moral produzida pela intervenção, Price-Mars reuniu os seus textos e publicou-os em 1919.
Para se ter uma ideia do radicalismo da leitura crítica do país feita por Jean Price-Mars no coração do tempo comemorativo do Centenário das Independências, há 100 anos atrás: a própria abolição da escravidão que tanto sangue havia exigido, teria produzido apenas uma mudança superfi cial, dando lugar a uma forma híbrida de escravidão com uma simples troca de pessoas e de responsabilidades. Expulsos os senhores brancos, a nova sociedade teria conservado de forma insidiosa e tácita o sistema de classes da antiga colônia. E Price-Mars não estava sozinho, se nos lembrarmos das duras palavras do também médico Rosalvo Bobo rechaçando qualquer comemoração do Centenário.
Como se vê, nesse entrecruzamento de leituras sobre o Haiti temos uma boa oportunidade de pensar o Haiti por dentro e não somente a partir daqui de fora onde estamos.
Os demais artigos nos convidam a circular por outros temas, espaços e problemas caribenhos. O artigo das historiadoras mexicanas María del Rosario Rodríguez e Olimpia Reyes “La doctrina Monroe ¿una política caribeña? Las percepciones de Estados Unidos y Brasil” provocará talvez alguma supresa entre os leitores brasileiros, mostrando com profusão de dados o alinhamento explícito da política externa republicana brasileira com o intervencionismo norte-americano no Caribe – voltado naquela altura, principalmente para o Panamá, Cuba e Porto Rico – durante a Terceira Conferência Panamericana. Celebrada no Rio de Janeiro, o evento foi, muito signifi cativamente, a inauguração do Palácio Monroe, que havia sido criado e exibido dois anos antes na Exposição Mundial de Saint Louis nos Estados Unidos. Os dois principais personagens observados quase passo a passo pelas autoras, que pesquisaram em arquivos mexicanos e norte-americanos, são Joaquim Nabuco (embaixador brasileiro em Washington) e Elihu Root (secretário de Estado dos Estados Unidos).
Com “A eleição de Barack Obama vista da Martinica: expectativas e intuições”, Luana Antunes Costa – pós-doutoranda em Letras Vernáculas, especialista em literaturas africanas e afro-brasileira – apresenta a leitura densa e poética de uma carta aberta enviada pelos literatos martiniquenhos Edouard Glissant e Patrick Chamoiseau ao recém-eleito presidente Barack Obama em 2009. A carta se chama A intratável beleza do mundo.
Que nos seja permitida mais uma licença. Tanto a carta de Glissant e Chamoiseau, como a delicada análise feita por Luana Antunes Costa neste artigo avulso trazem muito oportunamente uma ideia-chave que de vez em quando poderia ter afl orado nas entrelinhas dos textos sobre o tempo do nosso Bicentenário – e que afl ora aqui, graças ao seu artigo.
Tal ideia, resumida por Patrick Chamoiseau e recolhida pela autora, diz para quem sabe ouvir: E esta realidade, esta ideia de relação, esta poética da relação é alguma coisa que nos permite inventar não uma alternativa ao capitalismo, não simplesmente um regulamento dos confl itos, mas nos permite imaginar um outro mundo. E a emergência simbólica de Obana é que ela torna possível. Todo o possível… Ela torna possível todo o possível. Tal emergência política me parece, aqui, absolutamente considerável.
Pensando em outros mundos possíveis, o pintor mexicano Humberto Ortega Villaseñor – especializado nos campos combinados de fi losofi a, comunicação, arte, cultura, criatividade plástica e literária – e o filósofo eslovaco Tibor Máhrik publicam aqui o artigo “The Search for Genuine Self in the Caribbean Cultural Horizon and Mesoamerican Civilization”. Podemos dizer que este artigo vem trazer, produto das milenares sabedorias nahua e maia, temperado com os saberes/sabores migrantes do Caribe ancestral, um bálsamo para as dores atrozes que o artigo de Daleth Restrepo Pérez nos mostra em Necoclí, coração da Abya Ayala dos Kunas Tule e encruzilhada do mundo entre o Caribe, o continente e o Pacífico.
Fechando este número da RBC, a educadora e museóloga Joseania Miranda de Freitas e o historiador Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, brasileiros, comparam (em espanhol) a obra de dois intelectuais afro-latino-americanos em “Memorias afrodiaspóricas en diferentes territorios caribeños y latinoamericanos en las perspectivas de Manuel Raimundo Querino y Manuel Zapata Olivella”. Os autores do artigo identifi cam no brasileiro Manuel Raimundo Querino (que viveu na Bahia, 1851-1923) e no colombiano Manuel Zapata Olivella (nascido no Caribe colombiano, morreu em Bogotá; 1920-2004), que viveram em épocas bastante distanciadas, a mesma inquietação: em quais suportes os africanos deportados para a América puderam transportar e transmitir seus registros do passado necessários para viver os novos tempos a que estavam condenados, a não ser os seus próprios corpos humanos sofridos e desterritorializados? Agradecemos o apoio constante de Olga Cabrera nas tarefas necessárias para a preparação de mais um número da Revista Brasileira do Caribe.
Notas
1. A propósito, sobre os Kuna Tule da Colômbia e Panamá atualmente, v. Jaime de Almeida. A arte encantadora das mulheres kunas. Postais ano 3 n. 4, 2015, p. 139-147. Disponível na web: http://issuu.com/culturacorreios/docs/ revistapostais_4_2015.
2. Vertus Saint-Louis. A Guerra do Sul e as apostas do comércio internacional. Textos de História n. 13, n. 1-2, 2005, p. 37-52. Disponível na web: http://periodicos.unb.br/ index.php/textos/article/view/6038.
3. Price-Mars tornar-se-ia muito conhecido (e reconhecido) internacionalmente pela obra Ainsi parla l´oncle, publicado em 1928.
Jaime de Almeida
ALMEIDA, Jaime de. História, Memória e Comemoração. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.16, n.31, jul./dez. 2015. Acessar publicação original. [IF].
A religião vai à escola pública | Ciências da Religião | 2015
Em 2015, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso convocou uma audiência pública para discutir o ensino religioso em escolas públicas. Com isso, ele pretendia amparar o parecer que emitiria a respeito da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n. 4.439 pro‑ posta em 2010 pela então vice‑procuradora da República Debora Duprat, visando ao reconhecimento da natureza não confessional do ensino religioso. De acordo com a petição inicial da Procuradoria‑Geral da República (PGR), o ensino religioso deve ser garantido conforme o disposto no artigo 33, parágrafos 1º e 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD – Lei n. 9.394/96), e no artigo 11 do anexo do Decreto n. 7.107/2010 (que estabeleceu acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé1 ); não pode, contudo, ser vinculado a uma religião específica, de‑ vendo ser “histórico e doutrinário, com a exposição neutra de todas as principais religiões”. Leia Mais
Sensível ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista – ROSENDO (RTF)
ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista. Curitiba: Editora Prisma, 2015. Resenha de: COSTA, Laís Dias Souza da. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 8, n. 2, jul.-dez., 2015.
Nature is a feminist issue ou em uma tradução livre: a natureza é uma questão feminista. Essa frase, de acordo com a filósofa estadunidense Karen J. Warren, pode ser considerada o lema do ecofeminismo, definido por Daniela Rosendo em sua dissertação de mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como […] uma posição que leva em consideração a perspectiva feminista e as teorias ambientais, com o objetivo de conjugar ambas e superar o sistema de opressão caracterizado pela relação de subordinação às quais as mulheres a natureza são submetidas pelos homens.1 Warren se dedica a filosofia ecofeminista há mais de 30 anos, sendo uma das referências quando se fala no tema, especialmente após a publicação de sua obra Ecofeminist philosophy, no ano 2000, onde apresenta sua versão de ética. Nela, a filósofa rejeita teorias baseadas em direitos e argumentos racionais que negam as emoções e são universalisantes, enquanto a ética sensível ao cuidado reconhece a pluralidade e os interesses morais e heterogêneos entre os humanos e os não-humanos, de acordo com o contexto em que se dão essas relações.
Mas é a partir da dissertação de mestrado de Daniela Rosendo com o mesmo título do livro que a filosofia ecofeminista warreniana é apresentada detalhadamente, no Brasil, já que, ainda, nenhuma obra da estadunidense foi traduzida e publicada em português, restringindo o acesso de pesquisadoras e pesquisadores interessados no tema.
Atualmente cursando doutorado em Filosofia na UFSC, Rosendo também é professora e integrante do Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos daMulher (CLADEM Brasil) e assina duas colunas sobre ecofeminismo, uma no portal Justificando e outra publicada pela Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA).
“Sensível ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista” foi publicado em 2015 pela Editora Prismas e tem como objetivo “[…] analisar se a ética sensível ao cuidado é factível para a superação da discriminação sofrida pelas mulheres e pela natureza, e se ela se constitui como uma ética ambiental genuína”.2 Para a filósofa e professora doutora da UFSC, Sônia T. Felipe, que apresenta o livro de Rosendo aos leitores, a doutoranda realiza quatro movimentos para “entrever seu método de investigação. […] Primeiro, o da visita à caverna. Como resultado dessa visita, somos apresentadas ao que resultou de visitas feitas por Warren às concepções ambientais e animais que ela julga não terem superado os limites da dominação machista”.3 No segundo, de acordo com Felipe, Daniela Rosendo […] nos apresenta às visitantes admitidas por Warren em sua proposta ética, às teses, conceitos e teorias recebidos por Warren de outras feministas, incorporados por ela em sua própria concepção, ensejando a nós, leitoras e leitores, a compreensão da estratégia de argumentação da feminista.
No terceiro movimento, temos uma primeira saída da caverna, quando nos são apresentadas por Rosendo as visitantes que, antes dela, também já fizeram o percurso investigativo e crítico da concepção ecofeminista de Warren.4 Sônia T. Felipe explica, por fim, que ela […] elabora sua crítica ao alcance aos limites da concepção da ética sensível ao cuidado de Warren, apontando falhas que sequer foram percebidas por outras feministas que a antecederam em suas visitas ao texto de Warren, especialmente as relativas ao silêncio dela sobre suas escolhas dietéticas (grifo da autora).5 A lógica da dominação como premissa moral Utilizando o gênero como uma categoria de análise, o ecofeminismo questiona os sistemas de dominação que oprimem diferentes grupos, entre eles, de afrodescendentes, pobres, idosos, crianças e de mulheres, considerados por Warren os “Outros humanos” (human Others), além dos “Outros terrestres” (earth Others), grupos constituídos por animais e florestas, todos discriminados injustificadamente. Citando a ecofeminista indiana Vandana Shiva, uma das referências presentes na obra de Warren, Rosendo explica que para Shiva, “[…] o desenvolvimento ocidental é na verdade um ‘subdesenvolvimento’ (maldevelopment), um desenvolvimento destituído do feminino, que vê todo trabalho que não gera lucro e capital como improdutivo”.6 De acordo com Rosendo (2015), para Warren “[…] há interconexões entre a dominação das mulheres e a dominação da natureza, cujo conceito compreende animais não-humanos, plantas e ecossistemas”,7 justificando, assim, a existência de uma teoria que considere moralmente a natureza e consiga abolir essa discriminação.
Ela apresenta a existência de dez tipos de interconexões na teoria de Warren: histórica, conceitual, empírica, socioeconômica, linguística, simbólica e literária, espiritual e religiosa, epistemológica, política e ética. Cada uma delas descreve diferentes formas de opressão social das mulheres e de exploração da natureza, mas Warren destaca a conexão conceitual como o elemento central da filosofia ecofeminista que apresenta diversas correntes.
Estruturas conceituais não são intrinsecamente opressoras. Contudo, a partir do momento em que passam a ser afetadas por fatores como gênero, raça, classe, idade, orientação afetiva, nacionalidade, formação religiosa etc., elas passam a ser opressoras, ou seja, elas são usadas para explicar, manter e “justificar” as relações de dominação e subordinação injustificadas. Assim, uma estrutura conceitual opressora de viés machista “justifica” a subordinação das mulheres pelos homens.8 A partir da estrutura conceitual, Warren identifica cinco características: pensamento de valor hierárquico (up-down), “[…] no qual se valoriza, confere mais status ou prestigia mais os ‘de cima” (up) e menos os ‘de baixo’ (down)”;9 dualismos de valor opostos (oppositional value dualisms), “[…] marcados por características opositoras e excludentes, ao invés de complementares e inclusivas, valorizando mais uma característica em detrimento da outra”;10 “[…] poder entendido e exercido como poder de dominação […]; […] criação, manutenção ou perpetuação da concepção e prática de privilégio concedido aos ‘de cima’ (ups) e negado aos ‘de baixo’ (downs)” e, por fim, “uma estrutura de argumentação que visa justificar a subordinação (lógica da dominação)”.11 Quando Warren fala sobre as pessoas e grupos “de baixo”, ela faz associação às mulheres, afrodescendentes, natureza e corpo, já os “de cima” são relacionados aos homens, brancos, a cultura e a mente (racionalidade). Para Rosendo (2015), “[…] Warren afirma que esse pensamento de valor hierárquico legitima a desigualdade ao invés de afirmar somente que existe a diversidade”.12 Com menos poder e privilégio institucional que os homens, as mulheres se mantêm na parte “de baixo” dessa hierarquia, já que os “[…] benefícios criados, mantidos e sancionados institucionalmente refletem o poder e o privilégio dos ‘de cima’ sobre os ‘de baixo’ e perpetuam os ‘ismos de dominação’ (sexismo, racismo, classicismo, heterossexismo, etnocentrismo)”.13 Essa lógica de dominação é apontada pela autora, a partir da teoria warreniana, como a premissa moral utilizada enquanto justificativa ética para perpetuar “[…] a subordinação dos ‘de baixo’, nas relações de dominação e subordinação, pelos ‘de cima’, ela é basilar para as estruturas conceituais opressoras”.14 Para Warren, as mulheres foram falsamente conceituadas como inferiores, em relação aos homens, baseando-se em três equívocos: o determinismo biológico, essencialismo conceitual e universalismo. A existência de uma “natureza” feminina e de características que ligam biologicamente as mulheres à natureza, por conta de sua capacidade reprodutiva, são difundidas pelos deterministas como atributos inerentes a existência das mulheres.
O essencialismo conceitual pressupõe erroneamente que o conceito de mulher é unívoco, que capta condições essenciais da mulher ou da feminilidade. O universalismo supõe incorretamente que todas as mulheres compartilham um conjunto de experiências simplesmente pelo fato de serem mulheres.15 Ao longo do livro Ecofeminist Philosophy, traduzido e apresentado por Rosendo em sua dissertação, Warren diferencia a opressão da dominação e afirma que a primeira sempre “[…] ‘envolve dominação. Em contrapartida, nem toda dominação envolve opressão’. A opressão implica em tolher a liberdade de fazer escolhas e opções. Portanto, não-humanos, por não terem tal liberdade, não podem ser ‘oprimidos’, apenas ‘dominados’”.
16 Ao considerar os não-humanos, Rosendo explica a proposta de Warren para reformular o feminismo, a filosofia feminista e a ética ambiental, por meio de outro argumento, onde o feminismo tradicional poderia incorporar o feminismo ecológico ou ecofeminismo, visando a consideração moral dos humanos para os não-humanos e a abolição do naturismo (dominação injustificada na natureza). “(1) O feminismo é, minimamente, um movimento para pôr fim ao sexismo. (2) O sexismo é conceitualmente ligado ao naturismo. (3) O feminismo é (também) um movimento para pôr fim ao naturismo”.17 Cuidado como fundamento ético Apesar de não formular uma ética ambiental inédita, de acordo com Rosendo, a proposta de Warren incorpora elementos existentes em outras teorias com um viés crítico que rejeita a faceta masculina da ética baseada em direitos, regras e princípios porque esses elementos não consideram outros conceitos defendidos pelas ecofeministas como a “singularidade” e a “vulnerabilidade”. Rosendo cita a ecofeminista e filósofa Sônia T. Felipe, precursora do tema no Brasil, que defende esses conceitos como sendo os “únicos que permitem considerar interesses naturais animais com a mesma seriedade com a qual consideramos interesses naturais humanos, semelhantes aos deles”.18 Para elaborar sua ética, Warren relacionou a teoria feminista à teoria da hierarquia, considerada a principal sobre a ecologia dos ecossistemas, e à ética da terra, elaborada por Aldo Leopold, que tem como princípio moral constitutivo o amor e o respeito a terra.
Warren conjuga essas duas teorias e afirma que, juntas, elas fornecem a base para considerar a filosofia ecofeminista uma posição ecológica. Por outro lado, ela argumenta que a filosofia ecofeminista pode contribuir tanto para a ecologia quanto para a ética da terra. O elo entre as três perspectivas (teoria da hierarquia, ética da terra e filosofia ecofeminista) é a orientação ecológica para o mundo, sobre a qual cada um contribui à sua maneira.
A ética sensível ao cuidado é caracterizada por três elementos: capacidade para o cuidado; universalismo situado e práticas do cuidado. Sobre a primeira característica, a filósofa faz referência à inteligência emocional que compreende entre as habilidades básicas a capacidade de cuidar. “Cuidar do outro, expressa uma capacidade cognitiva, uma atitude em direção àquele que está sendo cuidado, que merece tratamento respeitoso e independe de ter sentimentos positivos em direção a ele”.20 Quanto ao universalismo situado, a segunda característica da ética sensível ao cuidado, Warren desenvolve a ideia de que existem princípios éticos universais, mas que essa universalidade não consiste em eles serem princípios abstratos, transcendentais e essencialistas, guiados somente pela razão. O princípio orientador do universalismo situado é: “a universalidade reside na particularidade”.21 Sobre as práticas do cuidado, elas são responsáveis por manter, elevar ou promover a saúde, provocando bem-estar, e entre essas práticas estaria o vegetarianismo moral contextual. Para Warren, uma dieta vegetariana é uma “[…] atitude moralmente correta que se tem com relação aos animais”22 porque os não-humanos também são considerados membros de uma comunidade ecológica.
Rosendo apresenta os limites e os alcances da teoria warreniana, considerando entre os aspectos limitadores os momentos em que Warren não avança, “[…]seja por silenciar ou fazer propostas sem coerência com sua teoria ou uma ética genuína”.23 Um desses limites diz respeito ao vegetarianismo moral contextual que estaria ligado apenas a abstenção de comer carne, excluindo da lista outros produtos de origem animal como o couro utilizado em roupas e sapatos. Para Sônia T. Felipe (2012), Warren silencia o consumo humano de bilhões de seres sencientes, além dos produtos derivados como os laticínios, e acredita que a transformação proposta pela estadunidense só pode ser feita por meio do abolicionismo vegano.
Entre os alcances da ética sensível ao cuidado, Rosendo destaca o caráter político do cuidado “[…] com a ‘saúde’ das instituições, que, ‘adoecidas’, oprimem”.24 Além disso, ela reafirma o distanciamento de Warren da concepção essencialista da mulher, apesar das críticas de algumas ecofeministas, e, ainda, que “[…] a estratégia de argumentação é clara e mostra que os sistemas de opressão estão interligados, sendo necessário superar todas as formas de discriminação”.25 A perspectiva filosófica apresentada por Rosendo torna-se referência imediata para os “feminismos” discutidos e problematizados dentro e fora das universidades brasileiras com destaque para o caráter inédito da obra que se insere em um contexto onde as normativas essencialistas estão sendo debatidas. Assim, a natureza continua sendo uma questão feminista para Karen J. Warren, Daniela Rosendo, Sônia T. Felipe, mulheres e homens que consideram pertinente confrontar noções essencialistas nas quais o “Homem” ainda é considerado o sujeito universal, e a natureza, assim como as mulheres tentam ser invisibilizadas. Ao dedicar o livro “Sensível ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista” às vozes dissidentes, Rosendo “escuta” os ecos de Warren e “fala” aos humanos e não-humanos sobre uma outra possibilidade de se colocar no mundo e se relacionar com todos os seres que o habitam.
Sobre a autora: Laís Dias Souza da Costa Mestre e doutoranda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Jornalista.
1 ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista. Curitiba: Prismas, 2015, p. 23.
2 ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado, Op. cit., p. 191.
3 Ibidem, p. 16.
4 Idem.
5 Ibidem, p. 17.
6 ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado, Op. cit., p.37.
7 Ibidem, p. 34.
8 Ibidem, p. 47.
9 Ibidem, p. 48.
10 Idem.
11 ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado, Op. cit., p. 48.
12 Ibidem, p. 49.
13 Ibidem, p. 50.
14 Ibidem, p. 51.
15 Ibidem, p. 56.
16 ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado, Op. cit., p. 58.
17 Ibidem, p. 61.
18 Ibidem, p. 77.
19 Ibidem, p. 79.
20 ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado, Op. cit., p. 101.
21 Ibidem, p. 103.
22 Ibidem, p. 108.
23 Ibidem, p. 169.
24 Ibidem, p. 195.
Laís Dias Souza da Costa – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Correspondência: Programa de Pós-graduação em História – Universidade Federal de Mato Grosso Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 – Boa Esperança Cuiabá – MT – Brasil. CEP: 78060-900 E-mail : laisdscosta@hotmail.com.
Nietzsche contra Darwin – FREZZATTI JÚNIOR (CN)
FREZZATTI JÚNIOR., Wilson Antonio. Nietzsche contra Darwin. São Paulo: Edições Loyola, 2014. 2ª edição ampliada e revista. Resenha de: RIBEIRO, Nuno. Cadernos Nietzsche, v.36 n.2 São Paulo jul./dez. 2015.
A relação entre os pensamentos de Nietzsche e de Darwin é complexa e multifacetada. Se, por um lado, encontramos referências a Darwin e ao darwinismo ao longo dos textos de Nietzsche, por outro lado, essas referências não são isentas de críticas. O livro Nietzsche contra Darwin, de Wilson Frezzatti Jr., publicado em 2014 e correspondente a uma segunda edição revista e ampliada, constitui-se como uma incursão pelas complexas relações entre o pensamento filosófico nietzschiano e os conceitos presentes nos escritos darwinianos. O livro encontra-se dividido em quatro capítulos que são precedidos por uma apresentação à segunda edição e por uma introdução e seguidos de uma conclusão.
Na “Apresentação à segunda edição” Frezzatti Jr. apresentanos as vicissitudes e questionamentos que levaram à redação de Nietzsche contra Darwin. O autor explica-nos que essa obra, publicada pela primeira vez em 2001 na decorrência de uma tese de mestrado defendida na Universidade de São Paulo sob a orientação da Professora Doutora Scarlett Marton, se enquadra no intuito originário de estudar a questão da doença e da saúde em Nietzsche, questionamento esse que conduziu, nas palavras de Frezzatti Júnior, a “investigar a presença de Darwin e do darwinismo na obra nietzschiana”. (p.13) O autor destaca também, antecipando os aspectos desenvolvidos ao longo do livro, que o ponto central das censuras nietzschianas à luta pela existência, seleção natural, seleção sexual e desenvolvimento da moral têm o seu eixo numa divergência entre Nietzsche e Darwin a respeito da concepção da vida. Enquanto para Darwin o impulso básico vital é a conservação, Nietzsche apresenta-nos a vida como um movimento de autossuperação contínua. A “Apresentação à segunda edição” relata ainda a importância do livro Nietzsche contra Darwin para posteriores estudos realizados por Frezzatti Jr. relativos ao papel da biologia na filosofia de Nietzsche, nomeadamente no seu livro A fisiologia de Nietzsche: a superação da dualidade cultura/biologia, publicado em 2006 na sequência do trabalho de doutorado do autor também defendido na Universidade de São Paulo sob a orientação da Professora Doutora Scarlett Marton.
Na “Introdução” ao livro Nietzsche contra Darwin, Frezzatti Jr., passando em revista diversos comentadores do pensamento nietzschiano, discute as múltiplas formas pelas quais se tem filiado o pensamento de Nietzsche ao darwinismo. De acordo com Frezzatti Jr., todas as formas pelas quais se tem filiado o pensamento nietzschiano ao darwinismo partilham de um fundo comum: o carácter genérico da aproximação entre o pensamento de Nietzsche e o de Darwin e a ausência de uma definição aprofundada do que seja o conceito nietzschiano de darwinismo. Com efeito, como nos diz o autor de Nietzsche contra Darwin, o darwinismo “assumiu diversos e vários sentidos conforme o lugar, a época e o autor”. (p.29) Assim, a definição do que seja o “darwinismo” para Nietzsche é uma condição prévia para a compreensão das relações entre Nietzsche e o darwinismo. Frezzatti Junior refere também que outra dificuldade da interpretação das relações entre o pensamento nietzschiano e o darwinismo diz respeito à circunstância de as referências diretas a “Darwin”, ao darwinismo e aos conceitos darwinistas não perfazerem um corpo coeso, sendo que a maioria delas se encontra nos escritos não publicados por Nietzsche. Seguindo a periodização metodológica das obras de Nietzsche apresentada por Marton, o autor refere ainda como facto significativo que mais de metade das referências se encontra no terceiro período da produção filosófica de Nietzsche (1883-1888), o que se constituiria como um indício da importância das considerações relativas ao darwinismo para a consolidação do pensamento maduro nietzschiano. Tecidas essas considerações, a “Introdução” de Nietzsche contra Darwin diz-nos que a discussão dos conceitos que Nietzsche nos apresenta como darwinianos deve ter por base a crítica a dois conceitos: primeiro, a “luta pela existência como conservação” (p.36); segundo, “a seleção natural como mecanismo de progresso da espécie humana”. (p.36)
O Capítulo 1 do livro Nietzsche contra Darwin, intitulado “Darwinismo e darwinismos”, procura fornecer o quadro conceptual a partir do qual se deve entender as considerações de Nietzsche relativas a Darwin e ao darwinismo. O capítulo começa com um esclarecimento relativo ao surgimento do termo “darwinismo”, uma noção que, de acordo com Frezzatti Jr., é mencionada pela primeira vez por Thomas Henry Huxley em Abril de 1860. A sequência do Capítulo 1, partindo de uma contextualização dos antecedentes do evolucionismo e fornecendo um relato do desenvolvimento histórico do “darwinismo”, apresenta alguns dos múltiplos sentidos que o termo darwinismo vai assumindo ao longo do século XIX, dando especial ênfase às noções de darwinismo social e de darwinismo como ideologia dos darwinistas. Frezzatti Jr. assinala também que, apesar de ser possível constatar tanto em Nietzsche como em Darwin a presença de aspectos antimetafísicos semelhantes relativos às ideias dominantes do século XIX (a recusa do criacionismo, do essencialismo, do finalismo e do determinismo newtoniano), porém, esses aspectos dizem respeito a determinações de pensamento muito gerais que não indicam com precisão o que está em causa na especificidade do pensamento de cada um desses pensadores. Assim, é no quadro da compreensão do que Nietzsche entende por darwinismo que o Capítulo 1 de Nietzsche contra Darwin procura fornecer a crítica de Nietzsche a Darwin e ao darwinismo. De acordo com Frezzatti Jr., a crítica de Nietzsche em relação ao darwinismo pode ser sintetizada em duas perguntas, que constituem o mote dos dois capítulos seguintes do livro: “1. Qual é o significado da crítica nietzschiana à luta pela existência de Darwin? 2. Qual é o significado da crítica que Nietzsche faz à seleção natural, seja em relação ao desenvolvimento orgânico, seja em relação ao desenvolvimento da moral?” (p.66)
O Capítulo2 de Nietzsche contra Darwin, intitulado “A crítica de Nietzsche à luta pela existência”, procura fornecer um enquadramento da visão nietzschiana sobre a luta pela existência darwiniana. O eixo central do Capítulo 2 assenta na oposição entre a luta pela vida darwiniana e a vida como autossuperação nietzschiana. De acordo com Frezzatti Jr., embora a noção de luta seja um elemento fundamental tanto no pensamento de Darwin quanto no de Nietzsche, ambos diferem no que concebem como sendo o elemento definidor da noção de luta. Conforme nos diz Frezzatti Jr.: “Ainda que, tanto para o filósofo alemão quanto para o cientista, a vida esteja baseada na luta, esta ocorre por motivos diferentes.” (p.71) Enquanto para Darwin a luta é entendida como luta pela sobrevivência, no sentido da conservação da vida e de produção de descendentes, para Nietzsche a luta ocorre não pela mera conservação da vida, mas antes para afirmação e expansão da força daqueles que combatem. A respeito da noção nietzschiana de luta, Frezzatti Jr. afirma ainda: “A conservação é apenas uma consequência indireta da busca por maior potência pelas forças do organismo: o vencedor desse conflito persiste.” (p.71) Assim, o elemento central da crítica de Nietzsche à luta pela existência de Darwin assenta na crítica que o filósofo alemão faz à noção de conservação subjacente ao pensamento do naturalista inglês. Nietzsche opõe à noção de conservação, como elemento central da luta pela existência, a noção de vontade de potência, como ponto fundamental da definição de luta.
No Capítulo 3 de Nietzsche contra Darwin, intitulado “A vida como superação contra a seleção natural”, Frezzatti Jr. esclarece o significado da crítica que Nietzsche faz à noção de seleção natural. De acordo com o Capítulo 3, a crítica nietzschiana à noção darwiniana de seleção natural tem como alvo a concepção que Darwin apresenta de seleção natural como preservação de variações favoráveis às espécies e recusa de variações desfavoráveis. Para Darwin, a seleção natural consiste na afirmação de que serão selecionadas e transmitidas aos descendentes as características vantajosas que permitem ao indivíduo sobreviver na luta pela vida. É justamente esta ideia da seleção das características vantajosas para a sobrevivência do indivíduo que é rejeitada por Nietzsche. De acordo com Frezzatti Jr., Nietzsche defende que são as características mais frequentes, e não as mais vantajosas, que são transmitidas à geração posterior. Para além disso, outro aspecto fundamental criticado por Nietzsche, que pode ser visto como uma consequência da afirmação darwinista segundo a qual a seleção natural seleciona as características vantajosas, diz respeito à ideia de progresso presente na seleção natural de Darwin. Segundo Frezzatti Junior, “Nietzsche declara que o darwinismo considera os processos evolutivos como progresso: o progresso é uma ‘ideologia darwinista’.” (p.107) O Capítulo 3 de Nietzsche contra Darwin apresenta dois motivos principais subjacentes à crítica nietzschiana da noção de progresso. O primeiro motivo consiste na ideia de que as formas mais elevadas surgidas no seio das espécies sucumbem face à superioridade numérica das outras formas. O segundo motivo assenta na afirmação de que a maior complexidade de uma forma implica a maior probabilidade da sua destruição.
Outro aspecto importante desenvolvido no Capítulo 3 de Nietzsche contra Darwin diz respeito à crítica nietzschiana ao progresso moral defendido por Darwin. Segundo Frezzatti Jr., apesar de a seleção natural darwinista não defender uma estrutura física ideal a ser atingida pelo organismo, o mesmo não acontece no que diz respeito à proposta de Darwin no campo da evolução moral. Segundo Frezzatti Jr., a moral é para Darwin uma qualidade com valor intrínseco. É precisamente neste ponto que Nietzsche se diferencia de Darwin ao pôr em causa, com o método genealógico, o valor dos valores morais. A defesa darwiniana do valor da compaixão, como elemento de conservação das espécies, é para Nietzsche sintoma de decadência, permeada pelo instinto de rebanho que luta apenas pela conservação. A uma moral da conservação de cunho darwiniano Nietzsche antepõe uma moral da criação, entendida como superação dos valores do rebanho e criação de novos valores.
O Capítulo 4 de Nietzsche contra Darwin, intitulado “Nietzsche contra a biologia de sua época: Haeckel, Lamarck e Darwin”, constitui-se como uma novidade na segunda edição desse livro, como clarifica Frezzatti Jr. na “Apresentação à segunda edição”. Esse capítulo encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte, intitulada “1. Nietzsche contra Haeckel: aspectos da crítica ao mecanicismo no século XIX”, incide, como o próprio título indica, sobre as críticas que Nietzsche faz às teorias mecanicistas suas contemporâneas. Partindo de uma breve apresentação do desenvolvimento das teorias mecanicistas, com especial ênfase nos princípios mecanicistas subjacentes à filosofia monista de Haeckel, Frezzatti Jr. destaca que a crítica de Nietzsche ao mecanicismo da sua época se sintetiza naquilo que o filósofo alemão denomina de “psicologia grosseira”, a qual, de acordo com o autor de Nietzsche contra Darwin, se apoiaria em duas falsas crenças: em primeiro lugar, a crença na causalidade, isto é, a convicção de que para cada efeito existe algo, um sujeito, que é sua causa; em segundo lugar, a crença na existência de “átomos”, isto é, de unidades últimas e indivisíveis. Estas duas crenças denunciadas por Nietzsche, seriam, de acordo com Frezzatti Jr., subsidiárias dos preconceitos subjacentes à crença no “Eu” considerado como realidade dotada de vontade e unitária. Assim, enquanto a crença na causalidade seria o resultado de uma projeção para o mundo exterior da falsa crença na vontade do sujeito como causa das suas próprias ações, a crença em “átomos” da natureza seria, em contrapartida, resultado da projeção da falsa crença no sujeito como realidade unitária.
A segunda parte, intitulada “2. A construção da oposição entre Lamarck e Darwin e a vinculação de Nietzsche ao eugenismo”, é consagrada à elucidação e desmascaramento de algumas das teses que vinculam o pensamento nietzschiano a teorias eugenistas. Começando com a elucidação dos elementos comuns e de diferenciação entre o lamarckismo e darwinismo, a segunda parte do Capítulo 4 prossegue com a discussão acerca da análise de Claire Richter, na sua obra Nietzsche e as teorias biológicas contemporâneas, relativa à presença das teorias evolutivas no pensamento nietzschiano. De acordo com Frezzatti Jr., Richter defende a presença de um “lamarckismo semi-inconsciente” na obra de Nietzsche, isto é, o autor alemão seria um lamarckista sem o saber, uma vez que não teria lido diretamente as obras de Lamarck (assim como não teria lido também as de Darwin), considerando ao mesmo tempo a impropriedade daqueles que consideram Nietzsche como darwinista. Através de uma detalhada exposição da argumentação de Claire Richter na sua obra Nietzsche e as teorias biológicas contemporâneas, Frezzatti Jr. destaca que a classificação de Nietzsche como lamarckista serve o propósito implícito, presente na obra de Richter, de classificar o pensamento do autor alemão como eugenista, intuito esse que visaria o propósito da própria autora em divulgar ideias associadas ao eugenismo.
Na “Conclusão” de Nietzsche contra Darwin encontramos justamente o desmascaramento da ideia de que o pensamento de Nietzsche seria eugenista. Conforme nos diz Frezzatti Jr.: “Vários excertos da obra do filósofo alemão mostram que sua associação com ideias racistas, antissemitas ou relativas a um ‘arianismo’ ou ‘germanismo’ não passa de um erro grosseiro.” (p.206) Assim, segundo o autor de Nietzsche contra Darwin, os ideais eugenistas de uma raça pura ou superior, seriam do ponto de vista nietzschiano, estratégias de conservação de tipos decadentes. Por outro lado, a ideia de progresso em vista de um tipo ideal fixo que deva ser o ponto culminante do desenvolvimento da humanidade seria igualmente contrária à concepção nietzschiana de vida como autossuperação. O organismo e os seus impulsos, afetos e instintos são movidos pela continua autossuperação, a qual se dá não nível coletivo, mas a nível individual. Desta forma, a proposta eugenista de um tipo fixo a ser alcançado é, segundo Frezzatti Jr., inteiramente contrária ao quadro conceptual presente no pensamento nietzschiano.
Assim, todos os aspectos que temos vindo a expor permitemnos considerar o livro Nietzsche contra Darwin, na sua segunda edição revista e ampliada, como um importante contributo não só para os estudos relativos às relações entre Nietzsche e a tradição darwinista, mas também para elucidação de algumas das mais importantes conexões entre o pensamento nietzschiano e a biologia, abrindo o caminho para futuras investigações, debates e questionamentos sobre essas temáticas.
Nuno Ribeiro – Doutor em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente realiza pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Endereço eletrônico: nuno.f.ribeiro@sapo.pt.
Theodosius II: Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity – KELLY (H-Unesp)
KELLY, Christopher (org.). Theodosius II: Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity. Cambridge/UK: Cambridge University Press, 2013. eBook. Resenha de: FIGUEIREDO, Daniel de. História [Unesp] v.34 no.2 Franca July/Dec. 2015.
Teodósio II governou o Império Romano do Oriente, já separado administrativamente da porção ocidental, por longos quarenta e dois anos (408-450 d.C.). Um dos primeiros registros que se dispõe da sua personalidade é fornecido pelo escritor eclesiástico Sócrates de Constantinopla que o descreveu, no livro VII da sua História Eclesiástica, como “extremamente doce em comparação a todos os homens que estão sobre a terra”. Relatos dessa natureza, dentre outros do período, que chegaram até nós, certamente contribuíram para a construção, pela historiografia antiga e moderna, de uma imagem de desaprovação desse imperador. Nesses relatos, Teodósio II é associado a um governante ineficiente, fraco e suscetível de ser manipulado pelas redes de influências de poderosos cortesãos e bispos da hierarquia eclesiástica em construção.
Essa perspectiva negativa das ações de Teodósio II frente aos desafios que lhes foram apresentados foi, em grande medida, realçada pelos intermináveis conflitos teológicos protagonizados por diferentes facções episcopais que buscavam se afirmar como referência em ortodoxia a ser seguida. A sensação de caos que teria caracterizado aquele contexto, de acordo com algumas análises historiográficas, projetava uma falta de autoridade das ações imperiais na condução desses conflitos. Isso poderia, inclusive, ameaçar a sua posição de governante. Contudo, esse viés de análise tem sido reavaliado por pesquisas mais recentes que buscam encarar a documentação textual do período como artefatos discursivos retóricos de alta carga subjetiva. Como já alertava Jean-Michel Carrié (1999) – na introdução da obra conjunta com Aline Rousselle, L’Empire Romain en Mutation: des Sévères à Constantin – 192-337 – muitas vezes produzida em momentos de conflitos, a documentação do período, à primeira leitura, pode induzir o historiador a interpretar os acontecimentos em conformidade com as paixões partidárias das facções em confronto. Não podemos deixar de perceber, ainda, o interesse propagandístico que norteou a preservação e a transmissão desses documentos que, certamente, pode ter contribuído para enaltecer a imagem de aliados ou destruir a reputação de desafetos.
A proposta dessa obra ora resenhada, Theodosius II: Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity (2013), conforme indica o seu organizador Christopher Kelly, não se trata de uma tentativa revisionista em ampla escala da reputação desse imperador. Trata-se, acima de tudo, de reavaliar os aspectos chave da política administrativa por ele conduzida, em conjunto com seus auxiliares mais próximos. As estratégias implementadas a partir dessa colaboração possibilitou a sua permanência como o governante que por mais tempo administrou o império, a despeito das deficiências que lhes são atribuídas. Além de trazer importantes considerações sobre o governo de Teodósio II, na sua apresentação da obra, Kelly faz uma abrangente revisão historiográfica acerca do período teodosiano e estabelece um rico diálogo com e entre os capítulos subsequentes, assinados por historiadores de destaque no tema.
Esse objetivo de releitura do governo teodosiano muito vem a contribuir para o entendimento mais amplo do período que se convencionou chamar de Antiguidade Tardia. Essa periodização, atualmente melhor estabelecida entre meados do século III até o século VIII d.C., busca observar as transformações pelas quais passou a sociedade romana nas diferentes esferas da vida social, política, econômica e cultural. Desse modo, ao até então propalado “declínio e queda” do império descortina-se novos modos de enxergar o período como num momento rico em possibilidades de análises e singular em relação ao período clássico precedente e ao medievo que o sucedeu. A presente obra contribui para esse novo olhar a partir de uma leitura enriquecedora da documentação explorada, que em muito pode contribuir para as reflexões dos pesquisadores que trabalham com diferentes tipos de textos produzidos no período. Como exemplo de documentos trabalhados na presente obra citamos o Código Teodosiano, a Notitia Dignitatum, as Histórias Eclesiásticas, asNovellae (novas leis emitidas entre 438 e 441), os Acta Conciliorum Oecumenicorum,Panegíricos, dentre outros.
Nesse sentido, além do Capítulo 1 introdutório, que compõe toda a Parte I do livro, de autoria do organizador, Christopher Kelly, seguem-se mais dez capítulos, divididos em três diferentes áreas de interesses. A Parte II, intitulada Arcana imperii (Capítulos de 2 a 5), busca analisar os problemas de se construir um relato satisfatório da complexa dinâmica política do império e, em particular, o papel e a influência dos grupos que competiam na Corte em Constantinopla. Na Parte III,Past and present (Capítulos de 6 a 8), são expostas algumas preocupações contemporâneas dos autores teodosianos no sentido de apresentar uma retórica de unidade do império que, de fato, já se encontrava dividido política e administrativamente. A Parte IV, Pius princeps (Capítulos de 9 a 11), explora as dificuldades de apresentar, louvar e relembrar uma imagem de Teodósio II como um pio governante cristão.
Afunilando as três áreas de interesses acima citadas, no Capítulo 2 intituladoMen without women: Theodoisus’ consistory and the business of government, Jill Herries indica sua percepção, a partir da análise do Código Teodosiano, da forma colegiada com que as decisões eram tomadas na Corte imperial em Constantinopla. Ao estabelecer diálogo com a obra de Kenneth Holum,Theodosian Empresses: Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, de 1982, a autora minimiza a ascendência atribuída àAugusta Pulquéria, irmã mais velha de Teodósio II, como canal de influência poderoso nas decisões tomadas na Corte. Para ela, a dinâmica dos grupos de interesses em uma Corte multipolar, cujos membros eram prestigiados pelo imperador, é uma resposta à estabilidade do governo teodosiano. No Capítulo 3, Theodosius and his generals, Doug Lee percebe a mesma estratégia imperial de privilegiar a diversidade no campo militar em consonância com o que indicou Harries na sua análise sobre o Consistorium. Lee observa que a inexistência de tentativas a usurpações pode estar relacionada à escolha de generais portadores de diferentes visões político-religiosas. A análise prosopográfica por ele empreendida identificou generais não cristãos, arianos e de outras tantas formas de cristianismos que interagiam na sociedade romana do período. Essa estratégia dinástica teodosiana teria tido o efeito de dissuadir as ambições de ascensão de qualquer desses generais ao comando do poder imperial.
No capítulo 4, Theodosius II and the politics of the first Council of Ephesus, Thomas Graumann analisa duas comunicações oficiais do imperador (sacrae) e uma carta dirigida ao bispo Cirilo de Alexandria. Nesses documentos, Graumann indica como, na perspectiva imperial, o primeiro Concílio de Éfeso, reunido em 431, foi conduzido por funcionários imperiais no sentido de dar uma percepção de unidade à Igreja a despeito do relacionamento tenso entre os vários grupos de interesse, de modo que nenhuma facção emergisse dominante. Encerrando essa segunda parte, no Capítulo 5, Olympiodorus of Thebes and eastern triumphalism, Peter Van Nuffelen destaca como o cronista não cristão Olimpiodoro, cuja obra foi perdida, mas resumida por cronistas posteriores, oferece um valioso relato dos eventos ocorridos no Ocidente entre 407 e 425. Ao buscar descrever sua percepção de instabilidade reinante na porção ocidental, Olimpiodoro o faz em contraste com a construção de uma imagem de um império oriental estável. Nesse sentido, Nuffelen inova ao mostrar como Olimpiodoro, ao escrever sua história do Ocidente tendo como espelho o Oriente, contribuiu para difundir uma ideologia triunfalista e integradora do império oriental teodosiano.
No Capítulo 6, Mapping the world under Theodosius II, Giusto Traina percebe como além do Código Teodosiano, a Notitia Dignitatum – documento que elenca a estrutura administrativa civil e militar tanto do Oriente quanto do Ocidente – serviu a propósitos propagandísticos como expressão da importância que o regime teodosiano dava a uma ideia de Império Romano como estrutura unitária, embora tal unidade fosse apenas virtual. No contexto da sua elaboração (datada em torno de 401 para a parte oriental e atualizada na década de 420 no Ocidente), a Notitiabuscava oferecer uma visualização ideológica do poder imperial em termos geográficos. No Capítulo 7, “The insanity of heretics must be restrained”: Heresiology in the Theodosian Code, Richard Flower explora os tratados de heresiologia como oDe haeresibus, de Agostinho de Hipona, e oPanarion, de Epifânio de Salamina, e os compara com um pronunciamento de Teodósio II, emitido em 428, e preservado na forma de lei com o títuloDe haereticis no Código Teodosiano 16.5.65. De acordo com Flower, embora esses tratados de literatura técnica, para ele fonte de conhecimento mais seguro e confiável, tenham em alguma medida inspirado a lei de repressão aos heréticos inscrita no Código Teodosiano 16.5.65, essa legislação deve ser lida no contexto da sua aplicação. Esse cuidado decorre da prevalecente tendência de condenação de oponentes teológicos visando à criação de uma autoridade religiosa durante o governo de Teodósio II. Ou seja, o autor busca demonstrar uma seletividade no momento da aplicação da lei.
Finalizando a terceira parte do livro, no Capítulo 8, Classicism and compilation, interaction and tranformation, Mary Whitby nos fornece uma interessante análise de como os textos da literatura grega do século V d.C. estabeleceram interação com os gêneros clássicos. Para ela, essa tendência estava associada a crescente importância do cristianismo na sociedade romana. Whitby analisa uma pletora de gêneros literários como as Vidas, orações fúnebres, a História Lausíaca, osflorilegia, diálogos, enciclopedismos, paráfrases bíblicas e histórias eclesiásticas. Tais análises buscam observar a riqueza da produção literária durante o governo de Teodósio II, bem como a forma flexível e criativa com que os autores cristãos estabeleceram diálogo com as formas literárias do passado no sentido de dar autoridade aos seus escritos através uma retórica refinada.
No Capítulo 9, Stooping to conquer: the Power of imperial humility, Christopher Kelly novamente trás sua contribuição através da análise das cerimônias de humildade imperial (como ex. transferência de relíquias de mártires, longas procissões lideradas pelo imperador com pés descalços). Na sua leitura, tais acontecimentos estavam relacionados a estratégias orquestradas em que cerimônia religiosa e ideologia imperial se uniam tanto para dar sensação de proximidade com os cidadãos como para promover a piedade imperial. Estabelecendo um diálogo entre os panegíricos escritos no período com o Panegírico a Trajano, de Plínio o Jovem, Kelly demonstra como essas atitudes de humildade paradoxalmente aproximavam a família imperial de seus súditos e, ao mesmo tempo, acentuava a distância entre governante e governados com o intuito de justificar e legitimar a autocracia imperial. No Capítulo 10, The imperial subject: Theodosius II and panegyric in Socrates’ Church History, Luke Gardiner considera os problemas encarados pelo escritor eclesiástico Sócrates de Constantinopla na sua escrita sobre o regime teodosiano, ao qual era contemporâneo, particularmente em termos da reivindicação pública de piedade imperial. Gardiner observa uma estratégia similar adotada por Sócrates de Constantinopla, em sua História Eclesiástica, àquela adotada por Eusébio de Cesareia quando escreveu sobre o imperador Constantino. Os destaques e as habilidades atribuídas ao imperador, nesses panegíricos, serviam como estratégia para nuançar julgamentos de reprovação das decisões imperiais, em vista do risco de se criticar um imperador que ainda se encontrava no poder.
Encerrando essa quarta parte e finalizando a obra, o Capítulo 11, sob o títuloTheodosius II and his legacy in anti-Chalcedonian communal memory, Edward Watts analisa a forma como o governo de Teodósio II foi avaliado em quatro textos egípcios escritos entre os séculos V e VIII d.C.: o Plerophories, de João Rufus, a História de Dióscoro, do Pseudo-Theopistus, asCrônicas, de João de Nikiu e o Synaxary – um catálogo que lista os santos comemorados em cada dia do calendário egípcio. Watts observa que a tendência desses textos em realçar aspectos positivos do governo de Teodósio II, descrevendo aquele momento como o auge do império cristão e o paraíso da ortodoxia, tinha por estratégia estabelecer um contraste com o governo do imperador Marciano (450-457). No Concílio de Calcedônia, em 451, cujas decisões foram respaldadas por Marciano, ficou definido a natureza dual do corpo do Cristo encarnado, decisão essa que colidia com a doutrina que apregoava a união dessas naturezas, bastante popular na tradição egípcia e inspirada nos ensinamentos do bispo Cirilo de Alexandria.
Em vista da riqueza das temáticas analisadas, bem como a originalidade com que a documentação textual é trabalhada nos diferentes capítulos, consideramos que a presente obra passa a se constituir referência para os estudiosos dispostos a enfrentar os desafios de melhor entender o governo de Teodósio II. A grande quantidade de documentos remanescentes desse período encontra-se a espera de outras tantas abordagens instigantes como as que foram oferecidas nessa coletânea. Esse livro certamente trará, também, valiosas contribuições a todos os pesquisadores que se debruçam sobre o recorte cronológico denominado de Antiguidade Tardia, assim como aos historiadores em geral por seu caráter inovador na leitura da documentação.
Daniel de Figueiredo – Doutorando em História Antiga. Programa de Pós-graduação em História da Faculdade Ciências Humanas e Sociais. UNESP – Universidade Estadual Paulista – Campus de Franca – Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, n. 900, CEP: 14409-160, Franca, São Paulo, Brasil. Bolsista FAPESP.
Literatura e ética: da forma para a força – KLINGER (A-EN)
KLINGER, Diana. Literatura e ética: da forma para a força. Rio de Janeiro: Editora da Rocco, 2014. Resenha de ANDRADE, Antonio. A força ética de uma reflexão. Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.2, july/dec., 2015.
O livro Literatura e ética: da forma para a força, de Diana Klinger – lançado pela coleção Entrecríticas (coordenada por Paloma Vidal) – situa, a meu ver, os leitores e pesquisadores da literatura contemporânea diante da problemática mudança de paradigmas que o declínio de valores éticos e estéticos da modernidade provoca. A passagem do campo da autonomia da obra de arte – do objeto literário, ficcional ou poético – para o “pós-autônomo” – termo utilizado por setores da crítica dedicados à reflexão sobre a produção contemporânea que se afasta das ideias de literariedade e autorreferencialidade do texto literário para aderir a um modo de escrita que se faz “em continuidade com os dados da realidade” (KLINGER, 2014: 41) – implica, para esta ensaísta, a necessidade de se repensar pressupostos teóricos que instrumentalizam o estudioso da literatura, com vistas a estabelecer uma rede de conceitos e estratégias de leitura capazes de funcionar como critérios de escolha e positivação de autores e textos.
Esse movimento do discurso crítico-ensaístico de modo algum é simples. Na verdade, constitui no texto de Diana um profundo empenho de ressubjetivação que se produz por meio de mecanismos de endereçamento, haja vista a mescla do gênero epistolar com o ensaio nas três cartas à amiga Luciana Di Leone, que marcam momentos fundamentais do livro: pela forte presença do autobiográfico na escrita crítica, configurada pela articulação da narrativa memorialística com a argumentação teórica ou analítica; pela construção de um lugar de autoria que joga, de maneira proposital, com referências dialógicas de ordens distintas ao desdobrar, por exemplo, reflexões em torno de poemas ou estudos críticos produzidos por amigos, alunos e colegas, ao lado de citações e discussões sobre Nietzsche, Adorno, Benjamin, Deleuze, Blanchot etc. Tal empenho não se produz, sem dúvida, isento de contradições. Ao buscar uma espécie de tom “menor” para seu ensaio, incorre na negação (psicanalítica) daquilo que se é, ou se deseja: “Os textos sobre esses autores não são de crítica literária nem têm essa pretensão. São anotações de pensamentos suscitados por essas leituras” (KLINGER, 2014: 14 – grifos meus). Não à toa, em alguns momentos centrais do texto, a autora não se vexa em assumir a enunciação assertiva, e até certas construções de caráter prescritivo, no afã de conduzir/persuadir seus leitores/destinatários: “A literatura não é uma força, mas é preciso transformá-la numa força” (ibidem: 191); “O que a poesia de Tamara encena é […]” (KLINGER, 2014: 107 – grifos meus). E, decerto, devido à percepção dessa contradição, enxerga a necessidade de modalizar suas formulações, que, se por um lado, “apostam” na recuperação ressignificada da ideia de resistência da literatura, por outro compreendem a relatividade do alcance da potência discursiva do literário – a qual parece advir de sua própria fragilidade: “Talvez seja possível, no entanto, apostar numa forma de resistência mais ‘fraca’ ou sutil” (KLINGER, 2014: 162).
Buscando através dessas sutilezas uma forma de expressão crítica que se coadune à ideia de crise, Diana tenta em seu texto configurar, retomando Barthes, o lugar tensivo de uma meia distância, isto é, de um distanciamento crítico “que não quebre o afeto” e que seja atravessado pela “delicadeza” (KLINGER, 2014: 118). Isso significa, em outros termos, ruptura com os valores de objetividade e frieza que tanto o estabelecimento de critérios de correferencialidade e padrões esteticistas canônicos da arte autônoma quanto os parâmetros generalistas da aparente “chave de leitura” concebida pela perspectiva pós-autônoma parecem projetar. Em oposição a eles, seu olhar crítico mobiliza-se em torno das ideias de singularidade, diferença e excepcionalidade, locupletando, por sua vez, o forte anseio por modos “singulares” de expressão e de subjetivação configurados pelos discursos teóricos relacionados às questões do contemporâneo. Cito, como exemplo, sua justificativa para a eleição dos autores focalizados no livro (a saber: Cortázar, Barthes, Kamenszain e Bolaño): “Trago Bolaño aqui não apenas porque ele me ajuda a pensar a vivência do medo. Também porque ele, como os outros autores a que me referi antes, sugere em sua obra uma aproximação com a própria vida que não tem nada a ver com propostas performáticas e autoficcionais de sua geração” (KLINGER, 2014: 134).
Nota-se, então, que nesse recorte está embutida certa “queixa” – a meu ver, também, bastante necessária – em relação à replicação de modelos estéticos que se tornaram hegemônicos na literatura atual. Entretanto, não se pode negar que suas escolhas, pelo menos as mais aprofundadas, se assentam sobre nomes consagrados do passado e do presente, cujo valor já constitui uma espécie de “indubitável”. Desse modo, não haveria já um forte processo de singularização desses autores e de seus textos? Se concordamos que sim, é possível compreender, então, que a tarefa crítica é menos a de desvelar singularidades camufladas em meio ao “semsentido” – para usar um termo empregado pela ensaísta -, e mais a de mediar a relação de seus interlocutores com essas vozes “singulares”.
Outro ponto que se explicita na construção de seu critério eletivo é a importância da relação literatura e vida, que fomenta e atravessa toda a discussão em torno do afeto e da ética no livro. Tal relação serve-lhe de base para pensar a escrita “como uma prática ou ritual, uma forma de estar no mundo” (ibidem: 49), concebendo-a assim fora do modelo estético da representação. E, também, para pensar a leitura, ou melhor, o modo como o sujeito pode ser afetado pelos textos, aproximando pois literatura e leitor no complexo processo de procura do sentido da vida. A condição paradoxal, no entanto, dessa busca é que ela se faz justamente negando tudo aquilo que se considera banal, tudo que estaria submetido à ordem do capitalismo cultural, ou preso às diretrizes da “sociedade de controle”, para usar um conceito deleuzeano discutido pela autora. Nesse sentido, a afirmação da vida, bem como a inscrição da ética no âmbito da imanência – de acordo com os pressupostos filosóficos que engendram aí a articulação entre Spinoza, Nietzsche, Foucault, Deleuze e Guattari – interpelam intelectuais como Diana a assumir um posicionamento contradiscursivo, avesso ao funcionamento comum da linguagem e aos dispositivos habituais de produção dos sentidos – sobretudo os que se ligam ao poder midiático.
“Da forma para a força” é a formulação postulada já no subtítulo da obra para sinalizar o movimento de passagem de uma instância de reflexão sobre o biopoder para a proposição de uma biopotência afirmativa: força de resistência não imobilizada pelo espectro das representações, e sim propulsora de “práticas alheias aos modos de subjetivação estatal” (KLINGER, 2014: 81), com o intuito de “construir um plano de consistência para afetos que não estejam atravessados pela axiomática da troca” (KLINGER, 2014: 71). O trajeto argumentativo de Literatura e ética é, portanto, o de afirmação desse lugar singular da potência: o que seria, em si mesmo, já uma atitude ética. Contudo, não só o fato de tal atitude ser pensada a partir da dicotomia entre gestos especiais, repletos de “intensidade”, e práticas cotidianas, ainda mais esvaziadas de sentido se vistas com as lentes desta ótica filosófica, mas também a consciência de um iminente fracasso da literatura nesse intento de criar e difundir práticas que liberem o desejo, os afetos e as relações dos aparatos culturais e discursivos que os (re)capturam a todo instante, deslocam qualquer grau de certeza em relação à noção de ética para o espaço de um interrogante: o que é ético? Esta atitude é realmente ética?
Percebe-se, em diversos momentos do texto de Klinger, a dimensão problemática dessa dúvida. Não à toa, no capítulo “O remorso da literatura” assinala-se a questão da culpa como aporia constitutiva tanto da arte autônoma quanto da pós-autônoma. Já em “O sentido da escrita”, a ensaísta trata de dar sustentação teórica à afirmação da ideia de potência e à aposta na literatura como forma de promessa, que, conforme demonstra sua releitura de Benjamin, deve ser contínua e simultaneamente desauratizada e apropriada como meio de busca do sentido em face do vazio e da banalidade. A construção dessa perspectiva, que para alguns leitores pode soar como demasiado positiva, é dialetizada pelo capítulo “Em nome próprio”, em que, por meio da incursão no terreno autobiográfico, tensamente relacionado à leitura de Tamara Kamenszain, Diana produz uma interessante reflexão a respeito das noções de fuga, esquecimento e sobrevivência, chamando a atenção para as possibilidades de proposição de novos agenciamentos políticos a partir da perda.
Todo o desenvolvimento dessa discussão parece impelir Diana a endossar uma visão filosófica negativa da ideia de comunidade, na clave de Bataille, Nancy e Blanchot. Isso é bem perceptível em “A comunidade em suspenso”, capítulo que, se por um lado revela grande fôlego teórico da autora/pesquisadora, não obstante conduz, por outro, a um fechamento da leitura, na medida em que desinveste os traços identitários que constituem os diversos tipos de arranjo comunitário de qualquer potencialidade possível, chegando a realizar afirmativas como: “o que os seres compartilham é a diferença que os singulariza” (KLINGER, 2014: 111). A meu ver, este tipo de frase tende a certa clicherização na esfera crítico-acadêmica. É preciso, portanto, ler nas dobras da contradição que esse discurso deixa escapar a produtividade da tensão entre fuga e pertencimento: note-se que, embora a ensaísta seja uma argentina radicada no Rio de Janeiro, suas escolhas afetivas de leitura nesse livro revelam a priorização de escritores também hispânicos – dois argentinos (Cortázar e Kamenszain) e um chileno (Bolaño) que, como ela, viveu durante muito tempo fora de seu país natal. E é justamente em “Queime os livros!”, capítulo onde analisa a obra de Bolaño, que o texto de Diana alcança grande capacidade de captura do leitor: após belo momento autobiográfico sobre a violência e o medo que ocupam suas memórias de infância e juventude na Argentina, a autora desenvolve a seguinte reflexão no bojo de sua leitura do romance 2666: “A literatura está imersa nesse território da violência, nesse deserto onde só cabe desaparecer; por outro lado, a literatura é o único território” (KLINGER, 2014: 140), reafirmando assim sua aposta no literário como espaço de potência ética.
Essa perspectiva ainda se desdobra no capítulo “Spinoza e a potência da literatura”, no qual se oferece ao leitor um bom estudo sobre os modos de recuperação e reverberação do pensamento spinoziano na filosofia contemporânea (Negri & Hardt, Deleuze & Guattari, sobretudo), e em “Uma pequenina luz”, capítulo em que chama a atenção para o caráter dúplice que o poder de resistência da literatura enceta: “força ambígua, ao mesmo tempo desmesurada e desesperançada. Essa frágil força do desejo” (KLINGER, 2014: 183-184). Porém, é sob essa luz pequenina, sob essa força frágil, que Diana ensaia o risco de uma escrita original e instigante, que, em vez de partir do prognóstico apriorístico da impotência do discurso literário na contemporaneidade, investe na indagação dessa potencialidade problemática, perguntando-se, ao longo de todo o percurso: “o que pode a literatura?” (KLINGER, 2014: 135).
Antonio Andrade – Professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como docente permanente do programa de pós-graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Desenvolve pesquisas nas áreas de análise do discurso, formação de professores e literatura contemporânea. Publicou diversos artigos em livros e revistas acadêmicas, dentre os quais se destacam “Diálogos e tombeaux: Haroldo de Campos, Néstor Perlongher e Severo Sarduy” (Gragoatá, v. 31) e “Literatura e comunidade na formação de professores de Espanhol/LE (Abehache, v. 4). E-mail: antonioandrade.ufrj@gmail.com.
[IF]
Monstros e arquivos. Textos críticos reunidos – ECHEVARRÍA (A-EN)
ECHEVARRÍA, Roberto González. Monstros e arquivos. Textos críticos reunidos. Organização e apresentação: GONZÁLES, Elena Palmero. Tradução de Ary Pimentel. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2014. Resenha de: GUTIÉRREZ, Rafael. Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.2, july/dec., 2015.
A publicação pela primeira vez, no Brasil, de um conjunto de textos do crítico literário cubano e professor da Universidade de Yale Roberto González Echevarría permite ao leitor brasileiro um percorrido detalhado por autores, temas e obsessões críticas em torno da literatura hispano-americana, assim como algumas de suas conexões com a literatura espanhola.
De Cervantes a Severo Sarduy e Alvaro Mutis, passando por Calderón, Góngora, Lezama, Carpentier, Borges e García Márquez, os ensaios de González Echevarría aprofundam na análise textual das obras destes autores, revelando diversas interpretações, influências e conexões inusitadas. Embora seu enfoque seja, primordialmente, sobre as literaturas hispano-americanas e espanhola, tem um destaque especial sua aproximação a Euclides da Cunha e Os sertões, obra-chave em um de seus textos críticos mais conhecidos Myth and archive: a theory of latin american narrative (1990) e que, na coletânea agora publicada no Brasil, é novamente retomada no ensaio “De Sarmiento a Euclides: natureza e mito”.
Tal como aparece no título e é sublinhado pela introdução da professora Elena Palmeiro ao volume, esses dois conceitos, “Monstros e Arquivos”, funcionam como núcleos de atração que vinculam grande parte dos ensaios reunidos. Monstros, no sentido de figuras feitas de rasgos contraditórios e que se exibem, escritores e textos marcados pela sua excepcionalidade. Palmeiro lembra, nesse sentido, a expressão cervantina usada no prólogo a suas Comedias y entremeses, na qual Cervantes chama Lope de “monstro da natureza” para destacar seu talento dramático.
A figura do monstro é central no ensaio que González dedica à obra de Calderón A vida é sonho, mas também aparece ao falar de um personagem como Antônio Conselheiro. Em palavras de González Echeverría: “Como Facundo Quiroga, Antônio Conselheiro é um monstro, um mutante, um acidente. Seu caráter evasivo, como um objeto de observação e de perseguição militar por parte da República, deve muito a essa falta de antecedentes classificáveis” (ECHEVERRÍA, 2014: 245). E em outro lugar do livro em que o tom ensaístico do volume tende para a anedota e as intimidades da vida literária hispano-americana, Lezama é também retratado desde uma certa monstruosidade: “A gula desaforada e a resultante gordura, que o forçava a escrever sentado em uma poltrona, pois sua barriga não lhe permitia trabalhar confortavelmente em uma escrivaninha, davam a ele um aspecto monstruosamente ridículo” (ECHEVERRÍA, 2014: 216).
A apropriação particular do conceito de arquivo, como Echeverría explicita no prólogo ao volume, surge de seus estudos sobre o direito na Espanha e no Novo Mundo dos séculos XVI e XVII e se manifesta em seu ensaio sobre o amor e o direito em Cervantes, mas também em suas análises sobre as formas em que a própria materialidade dos recipientes utilizados para a atividade de arquivar se manifesta metaficcionalmente em obras centrais da literatura hispano-americana como El Aleph de Borges e Cien años de Soledad, de García Márquez.
Além da rigorosidade acadêmica que demonstra a escrita de González Echeverría, o livro está atravessado de maneira permanente por uma força afetiva e autobiográfica que permeia as análises e que se evidencia mais explicitamente nas cartas e homenagens póstumas que fazem parte da seleção de textos (cartas a Alejo Carpentier e ao economista cubano Carlos Díaz Alejandro, assim como textos de despedida para Severo Sarduy, Emir Rodríguez Monegal e Álvaro Mutis).
A amizade e proximidade do crítico com vários dos escritores estudados, especialmente com Severo Sarduy, assim como sua cercania com outros críticos destacados no contexto da literatura hispano-americana como o uruguaio Emir Rodríguez Monegal, fazem com que muitos dos ensaios de González Echeverría funcionem, eles mesmos, como uma sorte de arquivo afetivo e íntimo da vida literária e crítica hispano-americana da segunda metade do século XX. Expondo sua própria intimidade muitas vezes de forma expressiva e radical, o crítico parece atualizar aquela máxima de Oscar Wilde: “The highest, as the lowest, form of criticism is a mode of autobiography”.
Embora não seja seu eixo central, Cuba ocupa um espaço privilegiado nos ensaios de González, não somente pela importância que ocupam em suas análises os escritores cubanos, mas também em sua preocupação pela cultura popular e a formação da nacionalidade no ensaio intitulado “Literatura, dança e beisebol no (último) fim de século cubano”. O caso de Cuba, afirma González Echeverría neste que poderia ser considerado um ensaio de história cultural sobre as origens do danzón1e da prática do beisebol na ilha: “[…] pode fornecer lições para o estudo da emergência das nacionalidades modernas, que quase sempre são pensadas com base em atividades políticas e intelectuais, ignorando-se outras de caráter mais material ou físico, como os jogos, os rituais coletivos, as danças e até mesmo a cozinha” (ECHEVERRÍA, 2014: 276).
Cuba e a política é também um tema inevitável quando se trata de abordar a figura de Severo Sarduy. Neste caso, especialmente no texto de despedida que González dedica a Sarduy, publicado originalmente em 1993, o crítico deixa claro seu posicionamento de defesa do amigo frente aos ataques dogmáticos e homofóbicos sofridos por Sarduy nos anos 1960 e 1970 por parte de críticos próximos do regime.
No entanto, no ensaio em que analisa a obra De donde son los cantantes (1967), o crítico expõe seu sentimento de dúvida sobre o valor atual da obra de Sarduy, fazendo eco a alguns questionamentos que vinculam sua obra com uma cronologia específica (boom, estruturalismo, pós-estruturalismo) e mostra seu ceticismo frente a algumas das posições do escritor, especialmente seu entusiasmo lacaniano e sua rejeição de um autor como Alejo Carpentier. Parece-me que a tensão revela a tentativa de González de manter certo distanciamento crítico com a obra de Sarduy, ao tempo em que tenta compreender o fascínio que lhe produz e a sua influência na sua própria obra crítica.
Escrevendo precisamente sobre Sarduy, González declara um dos princípios centrais de sua prática leitora e crítica: “[…] ler obras modernas e contemporâneas como se já fossem clássicos, ler Sarduy como leio Cervantes e Shakespeare” (ECHEVERRÍA, 2014: 333). A seleção de textos reunidos em “Monstros e Arquivos” se configura nessa permanente oscilação entre autores clássicos e contemporâneos e a partir das conexões, continuidades e rupturas que o autor decifra na tradição literária hispano-americana.
***
Finalmente, quero destacar a relevância desta iniciativa, levada a cabo pela professora Elena Palmero, da UFRJ, e acolhida pela editora da UFMG, que permitiu reunir e dar a conhecer ao público brasileiro parte significativa do trabalho de um dos críticos mais reconhecidos no campo dos estudos literários hispano-americanos dos últimos anos, assim como a cuidadosa tradução do professor Ary Pimentel, que consegue manter em português a fluência narrativa e o ritmo da prosa de González.
Tomara que este tipo de iniciativas continuem se afiançando no âmbito editorial brasileiro, no sentido de promover a difusão do pensamento crítico hispano-americano com traduções em língua portuguesa. Um campo de intercâmbio que, historicamente, apresenta lacunas, desencontros e algumas reticências, mas que, acredito, configura um caminho produtivo e interessante a ser mais explorado e discutido. Gênero musical que, com o tempo, seria identificado com a música cubana.
Rafael Gutiérrez – Escritor, crítico literário e tradutor. Doutor em Estudos de Literatura da PUC-Rio e mestre em Literatura Latino-americana da Universidade Javeriana de Bogotá. Atualmente, realiza pós-doutorado no Departamento de Letras Neolatinas da UFRJ. É autor do romance Como se tornar um escritor cult de forma rápida e simples (Rio de Janeiro: 7Letras, 2013) e organizador do livro NósOtros. Diálogos literários entre o Brasil e a América Hispânica (Rio de Janeiro: 7Letras, 2010).
[IF]Lições de História: caminho da ciência no longo século XIX- MALERBA (Topoi)
MALERBA, Jurandir. Lições de História: o caminho da ciência no longo século XIX. Rio de Janeiro: FGV Editora, Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010. 492pp. MALERBA, Jurandir. Lições de História: da história científica à crítica da razão metódica no limiar do século XX, Rio de Janeiro: FGV Editora, Porto Alegre: EdiPUCRS, 2013. 539pp. Resenha de: FREIXO, Andre de Lemos. Legados da disciplina histórica: experiências na fronteira entre consensos e horizontes. Topoi v.16 n.31 Rio de Janeiro July./Dec. 2015.
Em Lições dos mestres, George Steiner nos apresentou um ensaio sobre relações entre mestres e discípulos, professores e alunos, todos eles “clássicos”, por assim dizer: Sócrates e Platão, Jesus e seus apóstolos, Confúcio e os budistas, Virgílio e Dante, Husserl e Heidegger, entre muitos outros. No cerne de sua reflexão está o problema da educação. E ele indaga sobre essa questão a partir do significado da ideia de “transmissão” e de para quem seria legítimo transmitir saberes, bem como sobre as relações (de continuidade e descontinuidade) entre traditio – “aquilo que se transmite” – e o que os gregos chamavam paradidomena – “aquilo que se transmite agora“.1 Em suma, o que significa passar adiante o patrimônio cultural acumulado e herdado? E como fazê-lo? Em escala mais restrita, pode-se dizer que a coleção Lições de História se coloca na esteira dessas reflexões, mesmo que não as tematize ou confronte diretamente.
A coleção tem dois volumes e foi organizada por Jurandir Malerba, titular livre de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seguindo o modelo clássico das antologias, o resultado final é uma obra de história intelectual cujo “público-alvo” parece ser o de estudantes de história e jovens professores em busca de material de qualidade a respeito dos autores que, segundo o organizador, “deixaram um legado monumental para o pensamento moderno” (I, p. 7),2 em especial para a historiografia.
Deste modo, pode-se pensar em uma questão de educação e transmissão aqui também. Ou, pelo menos, de uma “herança” ou perspectivas nesse sentido, enfeixadas num enredo mais ou menos já conhecido: contar uma parte considerada muito importante da história da formação do campo disciplinar da história. Seja como for, ela precisa ser lida e pensada como uma história possível da história. Como uma leitura para sua formação disciplinar. O que provavelmente é realizado sob as lentes de quem se considera parte constituinte do processo. Que hoje reconhece nesses pioneiros algo do que fazemos (embora não façamos mais da mesma maneira) quando escrevemos história. Nesse sentido, digo que elas seguem um enredo “já conhecido”, ilustrando um relativo consenso.
Evidentemente, toda seleção implica o descarte de outras referências que poderiam igualmente ser consideradas (pelas mesmas razões propostas pela coleção) tão relevantes quanto as elencadas. No entanto, os autores que figuram nos volumes abarcam um recorte longo, que se estende, aproximadamente, entre 1785 até a década de 1930. Assim, cabe ressaltar o mérito em ultrapassar alguns limites do já referido acordo consensual. Isso enriquece nosso quadro não apenas de autores conhecidos (ou apresentados), mas ajuda a complexificar o entendimento, por vezes simplista, esquemático e teleológico, do processo de configuração do campo disciplinar da História, suas idas e vindas, desafios e dilemas. Traduções de textos de Voltaire, Pierre Daunou, Georg G. Gervinus, Thomas B. Macaulay, Louis Bordeau, Ernst Troeltsch, Karl Lamprecht, Wilhelm Windelband, Friedrich Meinecke, Heinrich Rickert, Benedetto Croce, Robin G. Collingwood, Charles Beard, Carl Becker, James Harvey Robinson, entre outros, ampliam o rol de referências e tradições intelectuais disponíveis aos jovens estudiosos brasileiros de História.
Eleito pela Revista Brasileira de História e Ciências Sociais o “Livro do Ano” (2011), o primeiro volume da coleção apresenta, além dos textos dos mestres modernos, introduções às obras desses autores realizadas por quinze profissionais brasileiros de latitudes geográficas bastante distintas. A introdução do volume ficou a cargo de François Dosse. Seu texto é sintético e procura dar tom e diapasão àquele conjunto de referências, que tem por objetivo (re)traçar o caminho da história oitocentista “rumo à ciência”. Caminhos bastante diferentes, como observa Malerba (I, p .8), mas que na introdução de Dosse não se evidenciam em toda sua extensão, uma vez que este prioriza as contribuições francesas para esse desenvolvimento. Os esforços para constituir disciplinarmente qualquer saber necessitam de um relativo consenso sobre quais as referências que devem figurar como incontornáveis para o desenvolvimento da “nova” disciplina. Isso não significa desconsiderar as tensões envolvidas no processo. Erudito e competente, embora por vezes excessivamente simplista, o texto de Dosse destoa um pouco da proposta mais alargada que a coleção promete, mantendo-se fiel ao consenso francês. Seu conceito de historicismo, assim, torna-se restrito, referindo-se quase exclusivamente a uma “história ligada ao particular” que teria “nascido” apenas com Wilhelm von Humboldt (I, p. 25) no seu texto “Sobre a tarefa dos historiadores” (1821).3 Além disso, como se poderá ver nos textos introdutórios assinados por Julio Bentivoglio, Sérgio da Mata, Sérgio Duarte, Arthur Alfaix Assis, entre outros, a historiografia oitocentista alemã formulou propostas inovadoras e originais, amparada em sólida erudição e profunda sensibilidade epistemológica, cujas preocupações envolviam reflexões sobre método, crítica documental, ética, valores, o papel e função social dos historiadores, a problemática da escrita histórica, entre outras. O recurso a comparações entre as historiografias francesa e alemã também figura como fator mais problemático do que propriamente problematizado por Dosse. Com algum exagero, assevera, por exemplo, que a Introduction aux études historiques (1898), de Langlois e Seignobos, seria capaz de concorrer com o Grundriss der Historik (1857-1858) de Johann Gustav Droysen (I, p. 28).4 Tratam-se de textos de naturezas muito diversas. Inclusive, o compêndio de Droysen (outro autor decisivo, porém não contemplado nesta coleção) sintetiza as reflexões de natureza teórica e metodológica que pouco se assemelham à definição das etapas da pesquisa à escrita histórica e à deontologia científica dos historiadores proposta no manual dos franceses.5 Evidentemente, não se trata de criar ou sustentar competições inócuas, mas evidenciar que a historiografia oitocentista e os historicismos foram muito mais ricos e multifacetados do que a já bastante datada dicotomia do “velho” e do “novo” permitem perceber. Na economia do texto introdutório de Dosse, portanto, o conceito de historicismo termina por funcionar como a preparação ideal para a triunfal emergência da Sociologia (durkheimiana) para colocar ordem na “casa de Clio” (I, p. 30). Não há nada de errado nisso, mas apenas conserva-se o já conhecido e tradicionalíssimo consenso historiográfico francês a este respeito.
Quanto aos textos escolhidos para tradução, o primeiro volume nos apresenta belos testemunhos de épocas passadas. Suas perspectivas e sociedades são reveladoras de muitos e distintos aspectos das relações entre tempo e história, passado e presente. Muitos dos autores podem ser caracterizados como filósofos, no sentido pleno da expressão (por sua capacidade de análise conceitual e abstrata), pois refletem sobre história a partir do que julgavam ser o seu caráter, se literatura ou ciência.
Não caberia aqui debater todas essas leituras em filigrana, a maioria delas é composta por traduções de textos inéditos em língua portuguesa. Mas são dignas de nota as palavras de Voltaire em suas meditações sobre história, ou melhor, histórias. Isso pode deixar o leitor contemporâneo relativamente surpreso diante dos muitos sentidos que ele definia o conceito de história, já grafado no singular, mas que podia ser “sagrada ou profana”, “filosófica” ou “pragmática”, com suas certezas possíveis e algumas incertezas também, de utilidades como a ilustração moral dos homens de Estado pela via da exemplaridade e da comparação entre culturas, e suas finalidades universais, assim como dotada de algumas “desvantagens” – como as histórias “satíricas”: que apesar de dever ser sempre verdadeira e nunca omitir-se, não deveria revelar aspectos particulares que afrontam ao bem maior (dos Estados), sendo portanto avessas ao espírito que defendia. O texto ajuda o leitor brasileiro a elucidar alguns pontos relativamente enigmáticos, por exemplo, da dissertação de Carl F. Ph. Von Martius, sem dúvida leitor de Voltaire, acerca do como deveria ser escrita a História do Brasil (1843). Seus comentários sobre método e estilo na escrita, uma arte rara, diziam ambos, que envolvia beleza, elaboração, eloquência, gravidade, acuidade e erudição, sempre tomando por base mestres antigos como Tito Lívio, Tácito e Políbio. No mesmo espírito universal do filósofo da história Voltaire, Pierre Daunou, catedrático de História e Moral no Collège de France, republicano francês de primeira hora (1789) e opositor ferrenho de Robespierre e do Terror, relacionava o valor da história a sua utilidade de ilustrar os homens. Em sua preleção de posse à cátedra citada (em 1819), a história e a instrução da prudência contemporânea assumem lugar central. “Cabe à história começar o que acaba o hábito dos negócios, lançar nos espíritos atentos os primeiros elementos do conhecimento dos homens e os germes dessa verdadeira sabedoria que se compõe de prudência e de probidade {…}” (I, p. 80).
As inspiradoras palavras de Lord Acton, aos “companheiros estudantes”, sobre o poder das ideias de movimento e mudança presentes na perspectiva dos historiadores modernos sobre a chave da “Lei da Estabilidade”, que compele os homens “a compartilhar da existência de sociedades mais amplas que as nossas próximas, a sermos familiares com tipos diferentes e exóticos {…}” (I, p. 265). Ou ainda as instigantes reflexões de Louis Bordeau sobre a necessidade lógico-existencial do progresso para a vida humana: a “lei de um contínuo crescimento, de um porvir sem final previsto” (I, p. 304-305). Isto é, a necessidade da história de educar, de transmitir e de estimular o desenvolvimento da capacidade de aprimoramento humana no seu processo de civilizar-se, ou seja, de aumentar sua capacidade para o bem-estar de todos. As prudentes observações de Ernst Troeltsch sobre a “crise da ciência histórica” (1922) igualmente têm interesse bastante atual. À sua época, e em sua leitura, a crise se inseria entre os muitos rescaldos dos acontecimentos da Guerra Mundial (1914-1918). Nesse sentido, o “gigantesco alimento” espiritual (cultura histórica) produzido pela ciência histórica vigorosa, organizada, especializada e profissional paulatinamente afugentava interesses mais espontâneos da juventude na qual sua geração depositava as esperanças por um futuro melhor. A ciência histórica tornou-se impessoal demais, rígida demais, curiosamente se aproximando daquilo que as ciências naturais faziam há tempos. A juventude, agora acusada de a-histórica, espantava-se diante do monumento de erudição exigido pela ciência da história. Eis o problema: “A opção pela barbárie, que para muitos hoje nos ronda como espectro ameaçador ou como salvação sedutora, é onde se instala a consequência de amplas transformações mundiais, e não a resolução de uma juventude afogada em livros” (I, p. 451). Em uma palavra, a crise dos fundamentos filosóficos gerais, das concepções dos valores históricos e dos elementos constitutivos do pensamento histórico diante dos rumos da humanidade, das necessidades da vida, dos dilemas do presente, que clamam por respostas novas. Fundamentos formulados em tempos “de paz” já não dariam mais conta de embasar uma ciência humana diante das experiências e eventos terríveis como a guerra de trincheiras, por exemplo.
Neste espírito, o segundo volume segue a forma do anterior, igualmente refletindo sobre a natureza da história. Com o texto introdutório a cargo de Allan Megill, tem-se um autor em maior sintonia com o volume que ele apresenta e com o espírito da coleção. A seleção de autores segue a mesma linha analisada anteriormente, porém, prioriza as críticas ao historicismo – ou à “razão metódica” – que emergiram num contexto em que as certezas do progresso e da civilização do mundo liberal burguês europeu do fin-de-siècle: um “em tempo de crise existencial” (II, p. 11). Megill conduz sua introdução seguindo o fio das formulações da “teoria da história”, ou de um “segundo tempo” de teóricos da história que julga decisivo para a reestruturação do lugar e do papel da história como saber científico (moderno) no mundo ocidental.
Primeiramente, cabe destacar que Megill emprega um conceito específico de teoria da história, cuja afinidade maior repousa sobre o grande projeto de Jörn Rüsen, evidentemente ao lado de outros historiadores vinculados ao que se poderia chamar de “Droysen Renaissance“. Assim, teoria da história é aqui compreendida como elaboração de uma reflexão do sujeito do conhecimento sobre si mesmo e sua operação enquanto produção de conhecimento científico. Assim, a teoria da história acontece como autorreflexão incessante do pensamento histórico: que antecede (torna possível), ultrapassa (é intersubjetivo) e, necessariamente, atravessa de uma ponta a outra o trabalho histórico.6 Em uma palavra, para Megill, teoria da história não é mero adereço (ou apêndice) ao trabalho empírico, mas o próprio âmbito reflexivo que constitui e torna exequível e reconhecível a pesquisa e a escrita como sendo históricas a partir da reflexão sobre princípios, conceitos, procedimentos, estratégias e funções daquilo que fazem os historiadores quando fazem história buscando, com isso, compreender criticamente tudo o que está envolvido em tal operação.
É neste sentido que Megill enreda os autores selecionados para o segundo volume a partir do conceito de teoria da história. Ou seja, compreender e distinguir a história de outras ciências ou saberes seria o objetivo ideal que confere coesão a esse grupo. Diante do desafio positivista de formular “a” ciência de uma vez por todas, rejeitando quaisquer outras formas de história como a-científicas, a própria exploração teórica dos projetos historiográficos tornou-se parte do fazer histórico. Nesta análise, a questão fundamental é: “Qual a natureza da disciplina histórica?” (II, p. 19-20). De muitas formas ela é atravessada por antinomias, como a diferenciação entre ciências do espírito (Geisteswissenschaften) das ciências da natureza (Naturwissenschaften). Sob essa luz pode-se entender, por exemplo, a questão do particular e do geral de W. Windelband (II, p. 152-169), K. Lamprecht (II, p. 137-146) e F. Meinecke (II, p. 263-271); a diferenciação entre ciências nomotéticas e idiográficas, presentes no idealismo neokantiano de H. Rickert (II, p. 185-199) e W. Dilthey (II, p.1 24-129); ou ainda as duas éticas de M. Weber (II, p. 226-230), a “ética de convicção” (vida pessoal) e a “ética de responsabilidade” (vida política). Essas últimas figuram como parte da solução weberiana para o crítico debate sobre qual seria o procedimento mais indicado para a produção de conhecimento sobre as coisas humanas. A aliança entre história e sociologia, ambas compreensivas, na proposta de Weber, em que a primeira estaria irremediavelmente atada aos desenvolvimentos conceituais (formulações oriundas de reflexões empíricas de um inventário das diferenças) da segunda, para pensar casos individuais de modo comparativo. Há outras alternativas, é claro.
O nome de um filósofo como Nietzsche não poderia, no entanto, ser facilmente integrado a este conjunto. E se autores como Weber, Collingwood ou Croce podem figurar ali, para Megill a presença do Solitário de Sils Maria entre os eminentes historiadores e teóricos resulta em incômodo. Os primeiros teriam conseguido, como “verdadeiros” teóricos da história, “redefinir a objetividade histórica”, de modo a preservar “sua utilidade como, no mínimo, uma ideia reguladora” (II, p.35). De modo que, se por um lado ele reconheceu o mérito de Nietzsche ter afirmado que tudo passa, “não há fatos eternos” (II, p. 18), por outro, pesa-o como um crítico assaz feroz da cultura moderna e de seu projeto crítico. Não posso deixar de notar em sua crítica o peso de seu posicionamento epistêmico (pró-objetividade, rigor e verdade). Isto é, sua artilharia se volta mais às alternativas teóricas inspiradas no pensamento de Nietzsche, como a meta-história de Hayden White, por exemplo, do que ao filólogo propriamente. Porém, não deixa de estigmatizar como o “santo padroeiro do ataque contra as noções impregnadas de progresso” (II, p. 26) como uma personalidade que “os historiadores poderiam facilmente desprezar – afinal de contas, era um extremista, um louco e um filósofo” (II, p. 27).
Ora, apesar de a coleção ser “de história, sobre historiadores e feito por historiadores”, como esclarece o organizador (I, p. 7), há também espaço para a sempre bem-vinda interdisciplinaridade. Isso prevalece no primeiro volume, com as contribuições da antropóloga Lilia Moritz Schwartz, do filósofo e educador Leandro Konder (1936-2014), da socióloga e cientista política Teresa Cristina Kirschner e da tradutora, mestre e doutora em Letras Daniela Kern. Evidentemente, os historiadores de ofício (Teresa Malatian, Julio Bentivoglio, Sérgio Campos Gonçalves, Marco Antonio Lopes, Temístocles Cezar, Helenice Rodrigues da Silva, Raimundo Barroso Cordeiro Júnior, José Carlos Reis e Sérgio da Mata, além, é claro, de Dosse e do próprio organizador da antologia) prevalecem em número e, sem dúvida, parte decisiva da atividade profissional deles envolve pesquisas sérias em história intelectual, das ideias e/ou da historiografia. O segundo volume é praticamente todo composto por contribuições introdutórias de historiadores profissionais (Cássio Fernandes, Oswaldo Giacoia Jr., José Carlos Reis, Sérgio Duarte, Carlos Oiti Berbert Jr., Sérgio da Mata, René Gertz, Pedro Caldas, Arthur A. Assis, Núncia Santoro de Constantino, Cristiano Arrais, Sérgio Campos Gonçalves, Edgar e Mauro de Decca, Carlos Aguirre Rojas, Raimundo Barroso Cordeiro Jr., além de Allan Megill e Jurandir Malerba). Talvez o recorte disciplinar privilegiado no segundo volume tenha por meta evidenciar a importância e a necessidade do campo histórico como sendo parte de um conjunto de reflexões racionais, mais e mais especializadas, de um projeto crítico do qual o “segundo tempo de teóricos da história” faz parte e ainda poderia ensinar muito, no qual a história se tornou o que de melhor poderia se esperar: uma ciência – como, ao final do volume poderá ser identificada nas palavras de Lucien Febvre (II, p. 488). Ou ainda, como sustenta Megill, que as tarefas do historiador consistiriam somente em conduzir pesquisas históricas, ensinar história e produzir relatos da história – levando em conta os dilemas e desafios da contemporaneidade. Aliás, a questão da contemporaneidade da história pode ser analisada de modo excepcional nas obras daqueles que versaram sobre a relação da história com o presente, como Benedetto Croce, Robin George Collingwood, ou ainda de autores como Charles Beard, James Harvey Robinson e Marc Bloch e Lucien Febvre.
Seria injusto destacar méritos individuais aqui, uma vez que todos os ensaios introdutórios cumprem com sua função de relacionar aspectos importantes da vida e obra do autor apresentado ao texto inédito deste que se segue, tendo os artigos sido realizados por um grupo de profissionais de reconhecida experiência e competência. Alguns desses textos são mais concisos. Outros, contudo, ultrapassam bastante as expectativas, sendo tão analíticos e pormenorizados que, por vezes, ultrapassam os limites dos textos que deveriam apresentar. É o caso, por exemplo, da introdução de “Fado e história”,7 de Nietzsche, de Oswaldo Giacoia Junior. Seu texto aprofunda passo a passo as meditações sobre a utilidade e desvantagens da história (Historie) para a Vida, escrita por Nietzsche quase vinte anos depois de “Fado e história” (1874), assim como seus desenvolvimentos em sua Genealogia da moral e Para além do bem e do mal. Mais do que isso, apresenta claramente ser um leitor de Nietzsche na esteira de Martin Heidegger, para o qual o historicismo, como perspectiva de consideração da história, perderia de vista o essencial:
{…} que o sentido histórico, é antes de tudo, o vetor que se abre no sentido da historicidade da condição humana, cuja natureza essencial se determina em relação ao tempo, à passagem do tempo, nas dimensões do passado, do presente e do futuro, e, portanto, em relação às experiências fundamentais do ser humano com a finitude, o sofrimento e a morte, cujo sentido somente se descerra no horizonte existencial do tempo. (II, p. 93)
Assim, ao terminar a leitura, não posso deixar de lamentar que a coleção se encerre apenas nestes dois volumes. Retomando um pouco a referência ao texto de George Steiner, com a qual escolhi abrir esta resenha, e a diferença entre traditio e paradidomena, é de se lamentar que tenha ficado de fora do projeto todo o debate contemporâneo (de 1945 até os dias de hoje), com autores importantes e questões decisivas da historiografia que, ainda hoje, suscitam debates. Isto renderia alguns volumes interessantíssimos e enormemente enriquecedores nos quais poderiam ser abordadas as reflexões sobre duração (Braudel); a importante História dos Conceitos (Begriffsgeschichte) e as reflexões sobre o tempo histórico (Reinhart Koselleck); a micro-história italiana (Carlo Ginzburg e Giovanni Levi); a problemática da operação historiográfica na sociologia do conhecimento histórico de Michel de Certeau; as contribuições da epistemologia histórica de Michel Foucault, que reconstrói estruturas de regimes discursivos e propõe uma arqueologia do saber (por períodos epistêmicos) na fronteira entre linguagem, economia e vida; o projeto teórico de Jörn Rüsen; as relações entre história e psicanálise (Jan Assmann e Peter Gay); entre história e trauma (Dominick LaCapra, Saul Friedlander); a retomada do debate sobre as relações entre história e literatura (Stephen Greenblatt); o debate sobre ética e poética em historiografia desde o Metahistory de Hayden White (seguido por autores tão diferentes quanto Keith Jenkins, Frank Ankersmit, Herman Paul e outros); as questões e problemas suscitados pelo linguistic turn; a viragem para o tratamento da historicidade na fenomenologia ontológica de Martin Heidegger; a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer; as reflexões de Paul Ricoeur sobre as problemáticas relações entre memória, história e esquecimento (e perdão); a defesa do niilismo (ativo) de Gianni Vattimo; as recentes e promissoras reflexões entre história e filosofia da presença (Hans Ulrich Gumbrecht e Ethan Kleinberg); o giro ético-político, o deslocamento do pensamento de matriz metafísica pela ética e pelo engajamento no mundo (Jacques Derrida); entre tantos outros autores/temas. Tais obras fariam uma enorme diferença no panorama apresentado, pois daria sequência a importantes diálogos presentes nos dois volumes que constituem a coleção.
Inclusive, o aumento exponencial de referências e debates auxiliaria a desfazer o panorama em que o formato “histórico-sociológico-científico” da história (o projeto crítico moderno) – profundamente enraizado no paradigma historicista -, apesar de toda sua autocrítica, autorreflexão e erudição, parece ainda constituir o “sentido” (ou o “fim”) de um desenvolvimento linear e progressivo da disciplina. Avanço retilíneo no qual o tempo dos historiadores (configurado em suas narrativas) se confunde com o tempo “em si” e com a própria história. Ora, está em questão aqui um desejo por transmissão; uma herança captada que se quer patrimônio. Portanto, que reflete algo para o presente. Se este é um dos caminhos possíveis, é desejável supor que outras direções possam se desenhar nos horizontes dos historiadores se e quando o esforço de investigação dos autores e tradições intelectuais, filosóficas e historiográficas for impulsionado por uma força analítica que retire seu vigor de algo além da curiosidade (genealógica), ou da propriedade, de uma “história da história” disciplinar. Exercício que, embora crítico e quase sempre muitíssimo bem feito, muitas vezes termina por restringir nossas perspectivas teóricas e historiográficas no (e ao) presente, em vez de alargá-las. A história da historiografia, hoje talvez mais do que a história intelectual e a das ideias, pode oferecer meios para abrir ainda mais o nosso campo de possibilidades.
Finalmente, a publicação da coleção evidencia o crescimento e o fortalecimento qualitativo do campo de Teoria da História e História da Historiografia nos últimos anos no Brasil. Pode-se perceber isso entre os professores convidados para ambos os volumes, muitos deles figuras de atuação e destaque no campo. Reflete-se aqui o aumento do espaço que as revistas especializadas dedicaram a esse enfoque,8 elevando o rigor analítico e de pesquisa. Isso também é mensurável nas propostas de simpósios temáticos e minicursos oferecidos nos disputadíssimos encontros nacionais e regionais da ANPUH, além de outros eventos, tanto os de caráter local quanto nacional, que se consolidam como parte permanente da agenda dos especialistas desta comunidade.9 Todo professor de história que trabalhe com história da historiografia, história intelectual, história das ideias e teoria da história, ciente de que não se tratam da mesma coisa, sabe das dificuldades de encontrar bom material sobre alguns desses “mestres” e debates do (e no) passado. Temos aqui uma contribuição valiosa à bibliografia sobre história e historiadores modernos. A coleção, sem dúvida, ajuda a dirimir algumas das muitas lacunas nesse sentido, especialmente em língua portuguesa.
Referências
ASSIS, Arthur A. What Is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of Historiography. Nova York: Berghahn Books, 2014. [ Links ]
CALDAS, Pedro S. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado) – Departamento de História da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2004. [ Links ]
DROYSEN, Johann Gustav. Manual de teoria da história. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. [ Links ]
MARTINS, Estevão de Rezende. Historicismo: o útil e o desagradável. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. [ Links ]
MATA, Sérgio da. Elogio do historicismo. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. [ Links ]
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Escritos sobre história. Tradução de Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005, p. 59-65. [ Links ]
RÜSEN, Jörn. Razão histórica I. Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001. [ Links ]
STEINER, George. Lições dos mestres. Rio de Janeiro: Record, 2005. [ Links ]
1STEINER, George. Lições dos mestres. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 12-13.
2Para economia do texto, citarei apenas “(I, p. x)”, em referência ao primeiro volume, e “(II, p. x)” ao segundo da coleção.
3Como nos ensina Estevão Rezende Martins, o termo “historicismo” deriva de uma tradução de “segunda mão”: Historicism (no inglês) que verteu Historismus, termo inicialmente empregado por Friedrich Schlegel ainda em fins do século XVIII. Ver: MARTINS, Estevão de Rezende. Historicismo: o útil e o desagradável. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, p. 15-48. Ou ainda, Sérgio da Mata, na esteira de A. Wehling, analisou que o historicismo pode também ser definido como uma atitude (espiritual) diante da realidade, da vida e da cultura, mas que emergiu entre fins do XVIII e inícios do século XIX. Pode-se dizer que nesta definição consta um pouco da visão de Herder, lamentavelmente ausente na coletânea, além, sem dúvida, das perspectivas de Ernst Troeltsch e Friedrich Meinecke. Ver: MATA, Sérgio da. Elogio do historicismo. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna, op. cit., p. 49-62. Esses dois últimos autores (como poderá ser conferido nas suas respectivas sessões da coletânea) definiram para o impulso historicista alemão em direção à realidade, cada um a sua maneira, a dinâmica da mudança no tempo (desenvolvimento) além, é claro, do caráter irrepetível dos fenômenos humanos, como bem salientou Dosse.
4No Brasil, a obra de Droysen foi lançada sob o título Manual de teoria da história, com tradução de Sara Baldus e Júlio Bentivoglio. Este último contribuiu para a coleção, assinando pelos textos de dois autores seminais do pensamento histórico oitocentista, Leopold von Ranke e G. G. Gervinus, ambos no primeiro volume da Coleção. DROYSEN, Johann Gustav. Manual de teoria da história. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
5Sobre Droysen e o monumental projeto de sua Teoria da História (Historik), ver: CALDAS, Pedro S. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado) – Departamento de História da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2004. Ver também: ASSIS, Arthur A. What Is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of Historiography. Nova York: Berghahn Books, 2014.
6Para Rüsen, a teoria da história apreende os fatores determinantes do conhecimento histórico, aqueles que delimitam o campo inteiro da pesquisa histórica e da historiografia. Identificá-los todos e demonstrar sua interdependência sistemática é o que seu projeto almeja. Esse sistema é dinâmico e o autor assevera que o historiador deve saber articular tais reflexões a uma “matriz disciplinar”, que se caracteriza pelo envolvimento circular de cinco elementos fundamentais: ideias, métodos, formas, funções e interesses. Segundo ele, essa matriz é uma formulação conceitual (teórica), mas subjaz à racionalidade que ele diz estar na base de toda instituição de sentido histórico. Ver: RÜSEN, Jörn. Razão histórica I. Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001.
7A tradução do alemão aqui é inédita, embora este texto não seja inteiramente desconhecido do público brasileiro. Foi traduzido, a partir da versão espanhola, como “Fatum e história” In: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Escritos sobre história. Tradução de Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005, p. 59-65.
8O Brasil hoje conta com a História da Historiografia, revista Qualis A1 (de excelência, segundo a Capes) exclusivamente dedicada aos grandes temas e subtemas da Teoria da História e da História da Historiografia.
9Entre outros, pode-se destacar também o Simpósio Brasileiro de História da Historiografia (SNHH), realizado anualmente na cidade de Mariana (MG) desde 2006 pelo Núcleo de Estudos de História da Historiografia e Modernidade baseado no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto (NEHM/ICHS/UFOP), e berço fundador da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH), em 2009.
Andre de Lemos Freixo – Doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: andredelemos@gmail.com.
As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e modernização autoritária | Rodrigo Patto Sá Mota
Entendidas, fundamentalmente, como instâncias de grande potencial para o proselitismo e a formação de quadros destinados às esquerdas, de imediato as universidades entraram na mira de grupos civis e militares deflagradores do golpe de 1964. Vindo logo depois das organizações sindicais e dos trabalhadores do campo na ordem das prioridades do regime que se instalava, os aparatos censores e repressivos mobilizados à época também se estenderam ao espaço acadêmico. Naquele momento, ante o virtual perigo vermelho, tão evidenciado pela retórica do autoritarismo, os usurpadores da legalidade democrática trouxeram à baila o tema da corrupção para atacar seus inimigos junto às instituições de ensino superior.
Frente à falta de credibilidade na temática e de consenso quanto à real necessidade de ênfase nessa questão, mais do que o corpo docente em si, eram os alunos e, em especial, sua representação mor, a União Nacional dos Estudantes (UNE), que se encontrava na linha de fogo do novo governo. Mesmo porque, se os primeiros eram, em sua maior parte, inclinados aos valores conservadores – circunstância esta atingida por grandes alterações ao longo da ditadura -, outro tanto não se poderia dizer sobre os acadêmicos. Afinal de contas, o cenário da representação discente vinha sendo marcado por traços de radicalização desde meados do século, participação nos debates sobre as chamadas reformas de base e paulatino acolhimento de suas reivindicações pelo presidente João Goulart. Leia Mais
História e historiografia: exercícios críticos – REVEL (Topoi)
REVEL, Jacques. História e historiografia: exercícios críticos, Curitiba: Ed. UFPR, 2010. Resenha de PEREIRA, Mateus. Jacques Revel: entre a história da historiografia e a “crise” da história social. Topoi v.16 n.31 Rio de Janeiro July./Dec. 2015.
O livro em questão apresenta uma das mais importantes análises sobre a história da historiografia francesa do século XX. A publicação dos textos de Revel referenda, complementa e complexifica determinadas visões consolidadas sobre aquela que foi (e talvez ainda seja) a principal matriz historiográfica para os historiadores brasileiros.1 O autor é bastante conhecido no Brasil por seus ensaios, suas entrevistas e por suas posições institucionais, em particular por suas atuações junto à revista e ao “grupo” dos Annales.2 O livro pode ser lido como um retrato das diversas “crises” – supostas ou reais – da produção histórica francesa a partir do final do século passado, em especial da história social.3
São nove textos publicados em distintas ocasiões. Sendo que o primeiro, “construções francesas do passado”, ocupa quase cem páginas. Esse primeiro capítulo, publicado originalmente em 1995, pretende “dar conta de uma história da historiografia” (p. 19) francesa após a Segunda Guerra Mundial. Para o autor, os Annales, mais do que uma escola, são e foram um projeto aberto a diversas solicitações de determinados presentes. Segundo Revel, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) o ensino de história ganhou, por um lado, um papel cívico para reanimar a nação humilhada; e, por outro, os historiadores assumiram lugar de destaque na formação e na elaboração da política universitária francesa. Tratava-se de uma história “positivista”, caracterizada pela recusa à interpretação. Para Jacques Revel, essa posição constitui um traço de longa duração ainda presente na historiografia francesa, distinguindo-a, portanto, da tradição alemã.
O autor enfatiza que a proposta levada a cabo pelos primeiros Annales de transformar a história em uma ciência “também propunha um positivismo” (p. 29). Para o autor, o “positivismo” (o termo é utilizado em várias passagens do livro de forma pouco rigorosa), o “marxismo” e o “estruturalismo” podem ser agrupados sob o rótulo de “funcionalismo”. É esse paradigma unificador do campo das ciências sociais “que parece ter pouco a pouco se abatido, sem crise aberta, durante as duas últimas décadas” (p. 79). Tal fato, aliado à dúvida que invadiu as sociedades, contribuiu para o aumento do “ceticismo sobre a ambição de uma inteligibilidade global do social, que fora o credo, implícito ou explícito, das gerações precedentes” (p. 79). Essas “crises” de fundo, que implicaram a revisão do lugar dos historiadores na sociedade francesa, questionaram os pressupostos de um projeto baseado nas “certezas de uma história social” (p. 79).
Revel destaca que os “pais fundadores” dos Annales, Marc Bloch e Lucien Febvre, rejeitaram toda a construção teórica e epistemológica que sustentava o projeto sociológico durkheimiano. É no interior dessa perspectiva e da defesa da prevalência da história em relação às outras ciências sociais que se dá a escolha do conceito de “social” para o primeiro plano de investigação histórica: “o social está na medida das ambições ecumênicas e unificadoras do programa” (p. 33). Com o objetivo de problematizar o conceito, o autor cita uma frase na qual Febvre afirma: “uma palavra tão vaga quanto ‘social’ […] parecia ter sido criada para servir de ensino a uma revista que pretendia não rodear as muralhas” (apud Revelp. 33). O autor destaca que para os primeiros autores dessa “escola” a história permanece essencialmente empírica, em especial pelo fato de que o “social não é jamais o objeto de uma conceituação sistemática, articulada, ele é sobretudo o lugar de um inventário, sempre aberto, de relações que fundam a ‘interdependência dos fenômenos'” (p. 36). Para Jacques Revel, a chamada segunda geração aprofunda esse “novo empirismo” ou “positivismo crítico” (p. 54) onde o “método” ganha primazia em detrimento da teoria e das condições de produção históricas. Porém, desde os anos 1970, assiste-se a um conjunto de interrogações sobre a disciplina e a prática historiográfica levada a cabo a partir desses pressupostos. Desde então surge (não apenas na França) uma série de tentativas para se pensar uma “nova história” do social, crítica e problemática.
O capítulo seguinte pode ser lido como um desdobramento do primeiro. Ele procura fazer uma história da noção de mentalidades na historiografia francesa, bem como dos seus usos. O grande destaque é a análise do “contextualismo” e do organicismo do projeto de uma história das mentalidades em Febvre. Podemos dizer que o argumento principal dos dois textos, em especial “Construções francesas do passado” – o mais importante do livro – é a de que o giro/virada crítica (tournant critique) dos Annales (entre 1988 e 1989) foi uma tentativa de propor uma resposta, um caminho ou uma solução para a “crise” da história social.4 Posição que implicou rever a ideia de interdisciplinaridade, abrindo caminho para a reflexão historiográfica e para perspectivas experimentais. Trata-se, assim, de uma defesa fundamentada das posições políticas, institucionais e epistemológicas do próprio Jacques Revel, já que entre os membros do comitê de direção da revista ele foi um dos principais responsáveis pelo tournant critique dos Annales.5 É bom lembrar que os resultados desse projeto podem ser vistos, em especial, no livro organizado Bernard Lepetit,6 onde se propõe uma outra história social, e em Um percurso crítico: Doze exercícios de história social, do próprio Jacques Revel.7
O livro História e historiografia é composto também por três textos publicados em Um percurso crítico, a saber: “A instituição e o social”, “Máquinas, estratégias e condutas”, “O fardo da memória”. Eles apresentam autores e perspectivas que, do ponto de vista de Revel, ajudam a pensar alternativas à “crise” da história social: as proposições de Michel de Certeau, Michel Foucault, Edward Palmer Thompson (ainda que apareça de forma marginal no livro) e Norbert Elias, além da microanálise, dos jogos de escalas e dos estudos de caso.
O capítulo “A instituição e o social” procura pensar o “social” a partir da instituição a fim de contribuir para os “deslocamentos e as reformulações decorrentes do discurso que os historiadores do social detêm sobre a instituição” (p. 117). Trata-se de criticar diversas perspectivas historiográficas que tendiam à “institucionalização do social” (p. 124) e a “oposição radical entre a instituição e o social” (p. 130). O autor exemplifica sua crítica a partir dos estudos de prosopografia social. Para ele, a maioria desses estudos restringiu-se à análise, à descrição, à uniformização e, em especial, aos estudos estritamente institucionais. Critica-se, também, a utilização de classificações sociais preestabelecidas nesses trabalhos.
Em relação à Michel de Foucault, o autor argumenta que alguns deslocamentos do itinerário do filósofo são representativos: “do modelo da máquina ao tema da ‘governamentabilidade’, do poder às ‘relações de poder'” (p. 132). Sobre a obra desse autor, Revel, em “Máquinas, estratégias e condutas”, afirma que a maioria dos historiadores está satisfeita com uma leitura redutora de sua obra. Apesar disso, ou por isso mesmo, seus textos são lidos com assiduidade e fidelidade pelos historiadores há mais de quarenta anos. Ele sugere que, ao contrário de um uso que pretende restituir o sentido essencial do texto Foucault, dever-se-ia “levar em conta o conjunto dos efeitos, entendidos e mal entendidos que são como a sombra espectral de uma proposta” (p. 175).
Nessa direção, não deixa de chamar atenção uma citação de Siegfried Kracauer no ensaio consagrado a esse autor: “adoro o lado confuso do pensamento dos historiadores; ele é igualmente exato na medida em que permanece inacabado” (apud Revel, p. 184). É bastante interessante também a aproximação que Revel opera entre as perspectivas de Kracauer e as de Paul Ricoeur (Tempo e narrativa), no que se refere à heterogeneidade e incompletude da narrativa histórica. Um dos pontos altos do ensaio é a forma como o autor explora, a partir de Kracauer, a homologia entre história e fotografia. Ricoeur é convocado novamente para acompanhar a reflexão do autor sobre “recursos narrativos e conhecimento histórico”. Além desse filósofo, percebemos, ao longo do livro, como a obra de Reinhart Koselleck foi importante, na França, para a reflexão historiográfica e teórica na passagem do século XX para o XXI. Em especial para criticar a ambição ingênua e simplista de certo realismo e cientificismo da história social francesa do século XX. Revel defenderá a experimentação da narrativa histórica como alternativa a esse tipo de história nos dois breves textos que fecham o livro. O primeiro sobre a questão da biografia; o outro dedicado aos estudos da memória. Ainda que vaga, a ideia de experimentação é utilizada como um elogio à ousadia e, ao mesmo tempo, como uma crítica a ideia de “método”.
Para adensar a heterogeneidade do livro, a condição de testemunha dos movimentos da historiografia francesa, presente em vários textos, ganha forte destaque em “Michel de Certeau historiador: a instituição e seu contrário”. Para Revel, a instituição está presente no trabalho do autor de A escrita da história para “logo ser desmentida” (p. 142), já que Certeau “não deixou de sentir-se atraído pelas produções inclassificáveis, pelas separações, pelo trabalho contínuo de reclassificação que opera a história” (p. 142). Não haveria nas preocupações desse historiador uma separação radical entre a experiência (seja individual ou coletiva) e suas formas institucionais. Para dar conta dessa complexidade emerge no vocabulário certoniano uma constelação conceitual que mobiliza uma argumentação bastante singular. Em busca de cartografias, topografias ou escalas múltiplas, ganham destaque, em sua linguagem, termos como: possibilidades políticas e sociais, confrontação (conflito e negociação), deslocamentos, passagens, perda, falta, mística, operação, criação, legitimação, autoridade, lugar, bricolagem, errância, jogos, alteridade, invenção, outro, cruzamentos, redes, desvio. “A operação historiográfica”, importante texto de Certeau, pode ser lido, assim, como um acontecimento geracional: um “momento em que na disciplina um ‘despertar epistemológico’ atesta, por várias frentes, uma ‘urgência nova'” (p. 144). Na dinâmica entre o lugar ou a errância, a instituição ou seu contrário, o Certeau de Revel é mais complexo e ambíguo: “o que lhe pareceu sempre essencial e, que provavelmente, dá unidade ao seu trabalho, são os usos não institucionais da instituição” (p. 149). Certeau, dessa maneira, “não se satisfazia nem com um regime de evidência compartilhada, nem com um regime de suspeita generalizada” (p. 145). Essa leitura do autor de “A operação historiográfica” nos ajuda a combater abusos do subjetivismo contemporâneo, já que para Michel de Certeau a produção histórica é produto de um lugar essencialmente social. O Certeau de Revel nos recorda que “o historiador se submete aos imperativos de uma profissão pela qual deve fazer conhecer e com a qual ele se encontra em negociação constante por tudo que toca suas maneiras de fazer e de dizer” (p. 145).
A heterogênea coletânea de textos de Jacques Revel nos ajuda a repensar certos passados e conceitos dominantes e estruturadores da nossa prática historiadora. Nessa direção, o livro pode contribuir para pensar questões que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro talvez tenha formulado de forma mais radical: os conceitos (e suas distinções implícitas) de “social” e “cultural” ainda têm pertinência? Qual a relevância de uma “antropologia [diríamos: história] social ou cultural”? As alternativas para Castro oscilam entre repensar os adjetivos que acompanham a disciplina e/ou na elaboração de uma linguagem conceitual diversa.8
Podemos dizer que a presença explícita e implícita de Michel de Certeau na obra aqui resenhada contribui para que Revel realize o exercício de criticar a historiografia dos antecessores e do seu presente para, ao mesmo tempo, construir espaços e lugares para a emergência do novo. A leitura de História e historiografia nos ajuda, portanto, a pensar nos desafios de ontem e de hoje tanto da história social como da história da historiografia. Em especial, por servir de alerta à tentação que essas subdisciplinas permanentemente vivem: a de ser considerada, por seus praticantes, a melhor – talvez até a mais verdadeira – “forma” de se escrever história. Contra essa sedução, os ensaios de Revel sugerem outros caminhos: a criatividade, a experimentação, o rigor, a erudição e a crítica.
Referências
BOUCHERON, Patrick. O entreter do mundo. In: BOUCHERON, Patrick; DALALANDE, Patrick. Por uma história-mundo. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. [ Links ]
DAHER, Andrea. Entrevista com Jacques Revel. Topoi, Rio de Janeiro, 2009. [ Links ]
DELACROIX, Christian. La falaise et le rivage. Histoire du “tournant critique”. Espaces Temps, n. 59/60/61, p. 86-111, 1995. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Morais. Entrevista com Jacques Revel. Revista Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 121-140, 1997. [ Links ]
GONDRA, José Gonçalves. Telescópios, microscópios, incertezas – Jacques Revel na História e na História da Educação. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria (Org.). Pensadores sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. [ Links ]
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Exercendo um ofício – Entrevista com o historiador Jaques Revel. Revista História Oral, v. 5, p. 189-199, 2002. [ Links ]
LEPETIT, Bernard. Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995. [ Links ]
REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998. [ Links ]
REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Rio de Janeiro: Difel, 1989. [ Links ]
REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 45, 2010. [ Links ]
REVEL, Jacques. Un parcours critique. Douze essais d’histoire sociale. Paris: Galaade, 2006. [ Links ]
REVEL, Jacques. Proposições: ensaios de história e historiografia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2009. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, E. O conceito de “sociedade” em antropologia. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 297-316. [ Links ]
1Ver, também, REVEL, Jaques. Proposições: ensaios de história e historiografia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2009.
2Cf., por exemplo, DAHER, Andrea. Entrevista com Jacques Revel. Topoi, Rio de Janeiro, 2009; FERREIRA, Marieta de Morais. Entrevista com Jacques Revel. Revista Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 121-140, 1997; GONDRA, José Gonçalves. Telescópios, microscópios, incertezas – Jacques Revel na História e na História da Educação. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria. (Org.). Pensadores sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 81-109. GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Exercendo um ofício – Entrevista com o historiador Jaques Revel. Revista História Oral, v. 5, p. 189-199, 2002. Ver, também, REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Rio de Janeiro: Difel, 1989; REVEL, Jacques (Org.) Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998; e REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação. v. 15, n. 45, 2010.
3De algum modo, Jacques Revel deixa de lado um importante aspecto que vem sendo destacado por outros autores, a saber: a perda de prestígio e/ou centralidade da historiografia francesa no mundo. A esse respeito, no interior dos debates sobre a história-mundo, Patrick Boucheron, por exemplo, em 2013, afirma: “atolados nas querelas suscitadas pelo embaraçoso legado braudeliano, extraviados pelas sereias da microstoria que fazia a história em migalhas, incapazes de se dar conta do quanto a França encolhera, transformada em potência mediana da historiografia, exportando sua French Theory como outros exportam conhaque ou bolsas (ou seja, como um produto de luxo para elites mundializadas), deixavam, totalmente, de responder ao chamado da Word History“. BOUCHERON, Patrick. O entreter do mundo. In: BOUCHERON, Patrick; DALALANDE, Patrick. Por uma história-mundo. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 7.
4Un tournant critique? Annales ESC, Histoire et sciences sociales, n. 2, p. 291-293, 1988; Un tournant critique. Annales ESC, Histoire et sciences sociales, n. 6, p. 1371-1323, 1989.
5DELACROIX, Christian. La falaise et le rivage. Histoire du “tournant critique”. Espaces Temps, n. 59/60/61, p. 86-111, 1995.
6LEPETIT, Bernard. Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995.
7Original francês: REVEL, Jacques. Un parcours critique. Douze essais d’histoire sociale. Paris: Galaade, 2006.
8VIVEIROS DE CASTRO, E. O conceito de “sociedade” em antropologia. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 297-316.
Mateus Henrique de Faria Pereira – Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor na Universidade Federal de Outro Preto (UFOP). Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: matteuspereira@gmail.com.
Pensamento Comunicacional Brasileiro: o legado das Ciências Humanas | José Marques de Melo e Guilherme Fernandes Moreira
Quem conhece o professor José Marques de Melo sabe de sua preocupação com o resgate da memória em torno do que foi produzido no âmbito das Ciências da Comunicação. Desde seu primeiro livro – “Comunicação Social: teoria e pesquisa” (Vozes, 1970) já podemos perceber sua preocupação em traçar amplas referências bibliográficas que podem ser utilizadas para aprofundar determinado assunto. Outra característica do professor, assumida já na década de 1960, é o compartilhamento de sua experiência com alunos. Neste livro de estreia, o professor apresenta resultados de pesquisas que foram desenvolvidos por alunos no âmbito do curso de Jornalismo da Cásper Líbero. E, nota-se, são temas ousados para a época. Como a importância da História em Quadrinhos e a recepção da telenovela. Os anos se passaram e essas características permaneceram. Não é difícil de encontrar obras do professor com grandes indicações bibliográficas e, uma análise mais atenta, revela que autores não oriundos do campo comunicacional também fazem parte desta lista. Leia Mais
O Brasil Colonial – Volume 1, 1443-1580 | João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa
A apresentação da coleção O Brasil Colonial, organizada pelos professores João Fragoso (professor titular da UFRJ) e Maria de Fátima Gouvêa (professora da UFF, falecida precocemente em 2009) tem como título La guerre est finie. Provocante expressão para designar os últimos 20 anos de um debate historiográfico, às vezes acirrados, no qual os estudiosos sobre o Brasil no período colonial têm travado, a partir da crítica feita à concepção de um Antigo Sistema Colonial, consagrada por Fernando Novais, Professor da USP e do Instituto de economia/UNICAMP, por um grupo de professores do Rio de Janeiro, professores da UFRJ, UFF e UFRRJ, bem como de colegas portugueses, como o Prof. António Manuel Hespanha. A expressão também sugere uma ideia de que os organizadores têm sobre o atual estágio da historiografia brasileira, ou seja, os conceitos utilizados e a discussão trazida por ambos fossem a vitoriosa no meio acadêmico nacional.
Não se tem dúvidas que desde a publicação, no ano 2001, do livro O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa: (séculos XVI-XVIII), organizados pelos mesmos autores mais a Maria Fernanda Bicalho, Professora da UFF, juntamente com o acesso aos milhares de documentos da coleção Resgate, que contém a documentação riquíssima do Arquivo Histórico Ultramarino, houve um boom dos estudos sobre a colônia portuguesa na América. O grupo do ART, Antigo Regime nos Trópicos, como é conhecido no meio universitário especializado, de fato trouxe novas abordagens, a luz de conceitos discutidos em Portugal, Espanha e Estados Unidos, trazendo para o Brasil e para a história do Brasil novas possibilidades de análise. O grupo lançou outras coletâneas, no qual os participantes não necessariamente compactuam piamente com as ideias dos nomes mais conhecidos, e mesmo após 15 anos do marco inicial, algumas noções foram modificadas ou aprofundadas, felizmente, visto que a história é dinâmica. Leia Mais
Ángel Rama: um transculturador do futuro | Flávio Aguiar e Joana Rodrigues
Resultado do seminário internacional “Jornadas Latino-Americanas: Ángel Rama, um Transculturador do Futuro”,2 que teve lugar nas dependências do Memorial da América Latina, no mês de novembro de 2009, o livro foi organizado pelos próprios responsáveis pelo evento, os professores Flávio Aguiar e Joana Rodrigues e publicado pela editora UFMG em 2013, inserido na coleção Humanitas.
Realizado ao longo do mês de novembro e organizado em duas mesas redondas bastante concorridas, nele foram distribuídos certificados para aqueles de deles participaram com pelo menos 75%. Somado a isso, também nos é relatado, em sua “Apresentação”, a participação da filha de Ángel Rama, Amparo Rama, que pronunciou um depoimento sobre o pai e fez a leitura de algumas cartas trocadas entre ele e o crítico paulista Antonio Candido, com alguns trechos publicados no livro em questão, retiradas de seus arquivos pessoais.
Leia Mais
Telejornalismo em questão | Alvredo Vizeu e Edna Mello
O livro “Telejornalismo em questão” foi lançado em 2014 e é o terceiro volume da Coleção Jornalismo Audiovisual, um projeto da Rede de Pesquisadores em Telejornalismo (TELEJOR). Organizado pelos professores Alfredo Vizeu, Edna Mello, Flávio Porcello e Iluska Coutinho, contém 15 capítulos, divididos em quatro seções, de pesquisadores que se dedicam ao estudo do telejornalismo e de áreas adjacentes.
Muitos dos trabalhos tratam de temáticas contemporâneas do jornalismo brasileiro, como o texto de Ana Carolina Temer que se propõe a uma reflexão sobre os conceitos de jornalismo, telejornalismo e televisão. Ela destaca questões presentes na radiodifusão nacional, como a dependência do jornalismo de setores empresariais – cabendo, assim, ao Estado a fiscalização Ao caracterizar o jornalismo, citando as problemáticas, a dependência da audiência e os desafios, considera que o jornalismo não é um serviço público, no sentido de serviço essencial, mas sim, um serviço ao público – devido ao dever de informar de acordo com preceitos éticos e de forma imparcial, tudo o que afeta a sociedade. Entretanto, a afirmação pode ser contestada a partir da perspectiva de que a comunicação deveria ser incluída em políticas de governo como um serviço necessário, e portanto, ser considerada um serviço público, como acontece em países desenvolvidos. Leia Mais
Historiografia | Ars Historica || Estudo do Oitocentos | Ars Historica | 2015
A Ars Histórica tem o prazer de lançar sua décima primeira edição, trazendo dois dossiês temáticos: Historiografia e Estudo do Oitocentos. A escrita é a operação máxima do fazer histórico, que circunda todo um processo de análise e construção do objeto. Neste sentido, os dossiês que apresentamos dialogam e se apresentam como boa contribuição à comunidade científica nacional, na medida em que trazem em seu escopo, análises do procedimento de escrita da história no primeiro, e a aplicabilidade dos mesmos para a interpretação de um período no segundo.
O dossiê Historiografia representa a arte de escrever e dedicar-se à História, celebrando Clio em artigos sobre o conceito de identidade e etnicidade para entender a história indígena; o exercício de conservação do poder na modernidade através dos clássicos da Teoria Política e a análise da estrutura estatal portuguesa, além do o discurso de Platão na música de Marco Schacchi em 1649. E por fim, a aplicabilidade do “paradigma indiciário” do historiador Calo Ginzburg na obra referência Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre. Leia Mais
Gênero e Espaço – I / Urbana / 2015
Espaços e lugares, e nossa relação com estes, são generificados. Uma relação nem sempre evidente que ao mesmo tempo reflete e cria um efeito no modo como gênero e espaço são concebidos.
Esta intrincada relação vem recebendo atenção de pesquisadores (não por acaso, em sua maioria, pesquisadoras) há pelo menos uma década. Da reflexão de Michelle Perrot a respeito do lugar das mulheres na cidade à natureza social do espaço (que inclui, claro, gênero) da geógrafa Doreen Massey, passando por estudos que relacionam espaço e sexualidade, gênero e arquitetura, gênero e espaço doméstico: trata-se de um debate em formulação, que exige dos pesquisadores uma quebra de fronteiras disciplinares entre temas bastante consolidados.
Com isso queremos dizer que os estudos urbanos, bastante consolidados, ganham um interessante desafio quando interpelado pela literatura de gênero, especialmente aquela originada nos debates feministas. E o mesmo se pode dizer para os escritos sobre gênero, em suas múltiplas dimensões, se lembramos que as relações sociais acontecem sempre em algum lugar.
O Dossiê está em dois volumes: V.7, n.2 [11] e V.8, n. 1 [12]. Esperamos que os textos publicados contribuam com esse importante debate proposto no tema do Dossiê
Silvana Rubino – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. E-mail: silbrubino@gmail.com
RUBINO, Silvana. Editorial. Urbana. Campinas, v.7, n.2, jul / dez, 2015. Acessar publicação original [DR]
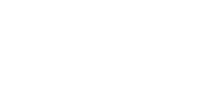


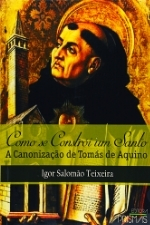 Igor Salomão Teixeira
Igor Salomão Teixeira