Napoleone deve morire: L’idea di ripetizione storica nella Rivoluzione francese | Francesco Benigno, Daniele Di Bartolomeo
¿Cuántas veces se recurre a la historia para legitimar una idea o una forma de poder, para examinar un determinado presente, para temer o vaticinar un futuro no muy lejano? Al plantear esta pregunta y prever que la respuesta puede comprender un número de infinitas posibilidades, conviene preguntarse por las reflexiones que se han hecho desde la historiografía a propósito del problema que los autores del texto Napoleone deve morire, l’idea di ripetizione storica nella Rivoluzione francese indican bajo el concepto y el preconcepto de la repetición histórica. Un caso emblemático en el mundo contemporáneo lo ha suscitado la pandemia del covid-19, cuya comprensión en cuanto fenómeno global —especialmente en el primer año de la difusión del virus—, implicó la reflexión sobre ciertas experiencias similares en el pasado (desde la gripe española de 1918 hasta la peste de Atenas de 430 a. C., incluyendo la peste negra de 1300 y la gran plaga de Londres de 1600). Esto, con el fin de responder a las preguntas del propio presente y verificar una repetición histórica. Leia Mais
Kurdish Women’s Stories | Houzan Mahmoud
Embora pouco conhecido no Brasil, o povo curdo é um dos maiores povos sem Estado do mundo. Formado por aproximadamente 40 milhões de indivíduos, essa comunidade étnica encontra-se dividida entre os Estados da Síria, da Turquia, do Irã e do Iraque; além das mais de cinco milhões de pessoas dispersas na diáspora – sobretudo nos Estados Unidos e em países da Europa central, como a França, Alemanha, Bélgica e Holanda.
Apesar dos diversos levantes nacionalistas e da autonomia relativa conquistada nos territórios no Iraque, o Curdistão jamais conseguiu se unificar e se tornar independente. Diante disso, as populações curdas, autóctones dessa região, foram sendo violentamente assimiladas e sistematicamente negadas pelos processos de formação dos Estados-nação que ocupam o seu território. Leia Mais
Los chalecos amarillos. Un retador movimiento popular | Carlos Alonso Reynoso
Los manifestantes que visten chalecos amarillos se manifiestan contra el aumento de los precios del combustible y por el deterioro de las condiciones económicas (París, 15/12/2018) | Foto: Elyxandro Cegarra/Agencia Anadolu.
No es la primera vez que reseño un material de este autor, considero que el proceso de leer a los colegas siempre será benéfico para la producción académica y para la construcción de nuevos análisis sobre una línea de investigación a la que he dedicado mi carrera: los movimientos sociales. La historia y el proceso del movimiento des Gilets Jaunes es bastante interesante, su irrupción, su devenir, su asociación con el movimiento Nuit Debout y la utilización de repertorios de acción colectiva que rompen con lo convencional que lo visualizan como un movimiento sin parangón en Francia. Vale la pena, exponer que tanto el proceso político del movimiento Noches en Pie (como fue conocido el Nuit Debout) como el del movimiento de los Chalecos Amarillos no es algo que sea desconocido para el autor de esta reseña dado que se ha trabajado el tema con anterioridad (Lopez, 2019 y 2020).
Asimismo, se advierte que esta reseña ha sido formulada a través de varios contrapuntos formulados entre los posicionamientos del autor del libro y los posicionamientos del autor de esta reseña. He decidido dividirlo en cuatro segmentos: el primero de ellos radica en “la forma y el fondo de la acción colectiva”, el segundo versa sobre “similitudes y diferencias con otros movimientos sociales”, el en el tercero se toca “el problema de la institucionalización” al seno del movimiento y, por último, el cuarto trata de enfatizar “la influencia y por venir” del movimiento des Gilet Jaunes. Leia Mais
A World after Liberalism – Philosophers of the Radical Right | Matthew Rose
Matthew Rose | Imagem: Tikvah Fund
Matthew Rose é especialista em História das ideias teológicas e políticas e doutor pela Universidade de Chicago. Seu novo trabalho – A World after Liberalism – Philosophers of the Radical Right (2021) – foi pensado no contexto da campanha de Donald Trump e da crise dos refugiados de 2016, quando ele notou que jornalistas dos EUA e da Europa começavam a citar autores da extrema direita cuja tradição era “mais profunda e filosófica sobre a vida contemporânea e mais cética sobre o lugar do cristianismo na cultura ocidental” (Mclemee, 2022). Do desconhecimento inicial, o autor avançou para uma análise das ideias radicais do pensador “nacionalista” e de direita Samuel Francis, publicado na revista First Things (2018). O artigo se estendeu e se transformou na obra atual, acrescida de notas (ou retratos) biobibliográficos de mais quatro intelectuais: “o profeta” alemão Oswald Spengler, “o fantasista” italiano Julus Evola, “o antissemita” estadunidense Francis Parker Yockey e “o pagão” francês Alain de Benoist.
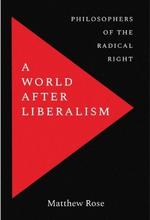 Rose é católico, democrata e, academicamente, orientado pelo trabalho de Heinrich A. Rommen (1897-1967) que, na condição de ex-aluno de Carl Schmitt (1888-1985), examinou a obra do mestre sob o ponto de vista da crítica que a “direita radical” disparava contra as ideias de “igualdade e justiça”, compreendidas como corruptoras “das mais altas inspirações humanas” (Mclemee, 2022). A meta explícita e modesta de Rose é tornar inteligíveis as ideias de pensadores que orientam o “novo conservadorismo” em seus ataques aos princípios de “igualdade humana”, respeito às “minorias”, “tolerância religiosa” e “pluralismo cultural” (Rose, 2021, p.5). A meta implícita e engajada é fazer a defesa do cristianismo em termos teológicos e apresentar valores cristãos de longa duração como possíveis respostas ao vazio ideológico de muitos jovens do seu tempo e país. Leia Mais
Rose é católico, democrata e, academicamente, orientado pelo trabalho de Heinrich A. Rommen (1897-1967) que, na condição de ex-aluno de Carl Schmitt (1888-1985), examinou a obra do mestre sob o ponto de vista da crítica que a “direita radical” disparava contra as ideias de “igualdade e justiça”, compreendidas como corruptoras “das mais altas inspirações humanas” (Mclemee, 2022). A meta explícita e modesta de Rose é tornar inteligíveis as ideias de pensadores que orientam o “novo conservadorismo” em seus ataques aos princípios de “igualdade humana”, respeito às “minorias”, “tolerância religiosa” e “pluralismo cultural” (Rose, 2021, p.5). A meta implícita e engajada é fazer a defesa do cristianismo em termos teológicos e apresentar valores cristãos de longa duração como possíveis respostas ao vazio ideológico de muitos jovens do seu tempo e país. Leia Mais
The Right and Radical Right in the Americas – Ideological Currents from Interwar Canada to Contemporary Chile | Tamir Bar-On e Bàrbara Molas
Casa Branca (Washington, DC/EUA). Ilustração de “The Gay Takeover of American Conservatism” | Cronicles (2022)
Em The right eand radical right in the Americas: currents from interwar Canada to contemporary Chile [A Direita e a Direita radical nas Américas: correntes ideológicas no entreguerras do Canadá ao Chile contemporâneo], Tamir Bar-On e Bàrbara Molas querem cobrir a lacuna deixada pelo recente The Oxford Handbook of the Radical Righ, editado por Jens Rydgren, que não inclui países da América Latina – diga-se de passagem, uma prática contumaz de imperialistas e ex-imperialistas, mesmo que o Handbook não tenha anunciado objetivos e perspectivas comparatistas. Entre as metas do livro, anunciado como, provavelmente, um pioneiro no tema (dentro dos marcos espaciais e temporais referidos), estão o exame das “tradições ideológicas de Direita”, a avaliação do impacto da “Direita” e da “Direita radical” na política latino-americana, o impacto das ideias nacionalistas e dos pensadores europeus e estadunidenses nessa tradição e a declaração de que a esquerda aprende muito quando estuda as distintas “tendências ideológicas” concorrentes.
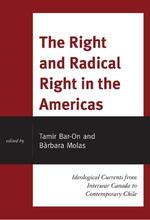 Na introdução, o mexicano T. Bar-On e a canadense B. Molas, experimentados pesquisadores das direitas radicais, tentam atribuir unidade à coletânea que organizaram a partir do emprego da expressão “tradição ideológica” [right-wing ideological traditions] (são 13 tradições) e da significação minimalista de “direita” como todos os “teóricos, movimentos, partidos políticos e regimes que veem a desigualdade humana como ‘natural’ ou ‘normal’, seja no âmbito socioeconômico, seja baseado em diferenças raciais, culturais ou de gênero” (p.6). Em breve comentário sobre as tipificações de direita – incluindo Cas Mudde, Roger Eatwell, Pierre Ignazi Vedran Obucina e Jens Rydgren –, os organizadores concluem que as “forças políticas, movimentos e partidos” examinados podem ser designados, sem grandes problemas, por “direita”, “direita radical populista”, “direita nacionalista populista”, “direita radical”, “direita alternativa” ou “extrema direita” (p.6). Os pontos de interlocução entre os nove capítulos, contudo, são estabelecidos também pelos objetos que tangenciam ou encarnam tais tradições: catolicismo, corporativismo, multiculturalismo e etnonacionalismo. Leia Mais
Na introdução, o mexicano T. Bar-On e a canadense B. Molas, experimentados pesquisadores das direitas radicais, tentam atribuir unidade à coletânea que organizaram a partir do emprego da expressão “tradição ideológica” [right-wing ideological traditions] (são 13 tradições) e da significação minimalista de “direita” como todos os “teóricos, movimentos, partidos políticos e regimes que veem a desigualdade humana como ‘natural’ ou ‘normal’, seja no âmbito socioeconômico, seja baseado em diferenças raciais, culturais ou de gênero” (p.6). Em breve comentário sobre as tipificações de direita – incluindo Cas Mudde, Roger Eatwell, Pierre Ignazi Vedran Obucina e Jens Rydgren –, os organizadores concluem que as “forças políticas, movimentos e partidos” examinados podem ser designados, sem grandes problemas, por “direita”, “direita radical populista”, “direita nacionalista populista”, “direita radical”, “direita alternativa” ou “extrema direita” (p.6). Os pontos de interlocução entre os nove capítulos, contudo, são estabelecidos também pelos objetos que tangenciam ou encarnam tais tradições: catolicismo, corporativismo, multiculturalismo e etnonacionalismo. Leia Mais
La reledía se volvió de la derecha | Pablo Stefanoni
Pablo Stefanoni | Foto: Bernardino Ávila
La reledía se volvió de la derecha, de Pablo Stefanoni traz um subtítulo enciclopédico, entregando a matéria ao leitor sem que se tenha a necessidade de abrir o livro: o combate ao progressismo político e ao politicamente correto é rebelde e atrai multidões de jovens. É necessário, então, ler esses arautos das novas direitas (“extrema direita”, da “direita alternativa” ou “populismo de direita”) caso queiramos compreender as razões do seu sucesso ou, em outra chave, as razões do fracasso das esquerdas. A tarefa anunciada é cumprida com um texto breve, distribuído em cinco capítulos (além de epílogo e glossário) que focam o pensamento das novas direitas em escala global (América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia).
 Antes de La rebeldia, Stefanoni escreveu livros sobre a ação da esquerda na Bolívia e na Rússia e atuou em parcerias com Clarín e o Le Monde Diplomatique. Professor da Universidade Nacional de San Martín e Doutor em História, o autor situa seu novo livro no domínio da História Intelectual. Stefanoni se ocupa de autores comuns – terroristas, ativistas moderados, intelectuais que militam na internet, escritores – atuantes nas duas últimas décadas, mediante redes de divulgação artigos, posts em redes sociais, vídeos, trechos de livros e memes. Ao abordar indivíduos de “subculturas on line”, Stefanoni investiga o significado dessa nova rebeldia, questionando sobre a ideia de “futuro próximo” compartilhada entre seguidos e respectivos seguidores. Leia Mais
Antes de La rebeldia, Stefanoni escreveu livros sobre a ação da esquerda na Bolívia e na Rússia e atuou em parcerias com Clarín e o Le Monde Diplomatique. Professor da Universidade Nacional de San Martín e Doutor em História, o autor situa seu novo livro no domínio da História Intelectual. Stefanoni se ocupa de autores comuns – terroristas, ativistas moderados, intelectuais que militam na internet, escritores – atuantes nas duas últimas décadas, mediante redes de divulgação artigos, posts em redes sociais, vídeos, trechos de livros e memes. Ao abordar indivíduos de “subculturas on line”, Stefanoni investiga o significado dessa nova rebeldia, questionando sobre a ideia de “futuro próximo” compartilhada entre seguidos e respectivos seguidores. Leia Mais
Las nuevas caras de la derecha | Enzo Traverso
Enzo Traverso | Foto: ULF Andersen/Gamma-Rapho/Getty/O Globo
O que me levou a ler o livro de Enzo Traverso não foi apenas o título referente a esse dossiê de resenhas sobre “novas direitas”. O fato de ele ser um dos poucos historiadores de ofício a estudarem o fenômeno e de fazê-lo com ferramentas típicas de historiador – a categoria “regimes de historicidade” – foi o que pesou na escolha. Las nuevas caras de la derecha (2021) é a tradução argentina de Les nouveaux visages du fascisme (2017). O título em francês retrata com maior fidelidade o conteúdo desse livro do historiador italiano, atuante na Holanda, França e nos Estados Unidos da América (EUA): a narrativa do processo de transição do fascismo ao pós-fascismo, vivenciada por europeus e estadunidenses nos últimos vinte ou trinta anos, e comunicada imediatamente após atentados terroristas na França, como o massacre do Charlie Hebdo.
 O livro é um agregado de entrevistas concedidas ao antropólogo Régis Meyran, em Paris (2016), sobre temas correlatos, atravessados pelo conceito de “pós-fascismo”. O prólogo à edição castelhana, contudo, é inteiramente dedicado a outro conceito: “populismo”. As constantes referências à expressão durante as entrevistas e forte apelo dos estudiosos de Filosofia e História Política ao conceito (em sua visão, já enfraquecido academicamente) levaram-no, provavelmente, a dispender duas páginas para diferenciar populismo e “tendências regressivas solidamente arraigadas” na Europa e nos EUA no século XXI.
O livro é um agregado de entrevistas concedidas ao antropólogo Régis Meyran, em Paris (2016), sobre temas correlatos, atravessados pelo conceito de “pós-fascismo”. O prólogo à edição castelhana, contudo, é inteiramente dedicado a outro conceito: “populismo”. As constantes referências à expressão durante as entrevistas e forte apelo dos estudiosos de Filosofia e História Política ao conceito (em sua visão, já enfraquecido academicamente) levaram-no, provavelmente, a dispender duas páginas para diferenciar populismo e “tendências regressivas solidamente arraigadas” na Europa e nos EUA no século XXI.
Na tipologia, curiosamente, Traverso o reintegra como categoria, quando afirma que o populismo argentino e peronista (nacionalista, messiânico, carismático, autoritário e idealizador do povo) difere dos “populismos reacionários” estadunidense (D. Trump) e francês (M. Le Pen e E. Macron). O primeiro distribui riqueza entre os pobres e os insere no sistema democrático. Os segundos são orientados pela entrega da nação “las fuerzas impersonales del mercado”. (p.21). O primeiro, acrescentamos, foi gestado no imediato pós-guerra em mundo bipolar. O segundo, reitera o autor, foi gestado na “era da globalização neoliberal”. O primeiro, por fim (como vários movimentos políticos do século XIX), pode continuar a ser designado “populismo”. O segundo, entretanto, deve ser tipificado como “pós-fascismo”.
O primeiro capítulo do livro – “¿Del fascismo al posfascismo” – é dedicado à definição dessa nova categoria. O que vemos nas duas primeiras décadas do século XX, segundo Traverso, não é um resíduo nem um prolongamento do fascismo, ou seja, não é o caso de se falar em “neofascismo”. Os fascismos clássicos (italiano ou alemão) eram antidemocráticos e os pós-fascismos (ao menos o de Le Pen) querem “transformar el sistema desde dentro” (p.27). Os fascismos clássicos eram estatistas, imperialistas e queriam criar uma “terceira via entre liberalismo e comunismo” e os pós-fascismos (ao menos o de Trump) são neoliberais. Os fascismos clássicos possuíam uma visão de mundo e um “modelo alternativo de sociedade”, enquanto os pós-fascismos (o de Trump é, novamente o exemplo) não tem programa ou se reduz a um “Make America Great Again”. Os fascismos clássicos estavam fundamentados em uma “ideologia forte” e o pós-fascismo, exemplificado por Macron, significa o “grau zero de ideologia”.
Com as sucessivas comparações, somos levados a definir o pós-fascismo a partir de traços ideológicos na esfera política, econômica e social: combate à democracia, defesa do livre mercado, ausência de projeto societário e de ideologia forte. Traverso, contudo, acrescenta uma marca diacrítica fundamental: “Lo que caracteriza al posfascismo es un régimen de historicidade específico – el comiezo del siglo XXI – que explica su contenido ideológico fluctuante, inestable, a menudo contradictorio, en el cual se mezclan filosofias políticas antinómicas.” (p.26).
A oralidade que marca o texto e a interrupção do entrevistador, provavelmente, o impede de detalhar esse novo “regime de historicidade”. Tomando como base o seu livro anterior (citado pelo apresentador, Régis Meyran), somos induzidos a compreendê-lo como um tempo sem futuro (horizonte de expectativas), algo que explicaria, inclusive, o caráter instável e contraditório das ideologias e as recorrentes antinomias em termos de “filosofia política” no interior dos movimentos e partidos. Esse auxílio, contudo, é insuficiente para relevar as contradições do próprio Traverso nas definições de pós-fascismos por meio de exemplos.
Afinal, se as antinomias são o caráter dos movimentos pós-fascistas, poderíamos rotulá-los como antidemocráticos? Se os fascismos italiano e alemão reuniam “corrientes diferentes, desde las vanguardias futuristas hasta los neoconservadores, de los militaristas más belicosos a los pacifistas muniquenses etc.” as antinomias deveriam continuar traço diferenciador dos movimentos e partidos do século XXI? Se as categorias “horizonte de expectativa” e “espaço de experiência” estão fundadas na ideia de continuidade passado/presente/futuro, porque afirmar peremptoriamente que as novas direitas do século XXI, exemplificadas na figura de Trump, não representariam uma continuidade histórica e nem uma herança com o fascismo histórico (mesmo que o sujeito citado não as reivindicasse conscientemente)?
O segundo capítulo – “Políticas identitarias” – expressa concepções de Traverso sobre o emprego da categoria “identidade”, acompanhada de suas críticas aos discursos identitários difundidos, principalmente, pela Frente Nacional (FN) e o “Partido de Indígenas de la República” (PIR). Sua ideia de identidade é remetida (entre outros referenciais) a P. Ricoeur – que lhe inspira na caracterização das identidades veiculadas pelos partidos de esquerda (ipseidade – identidade histórica) e de direita (mesmidade – identidade essencial). Em termos abstratos, Traverso elogia as políticas identitárias de esquerda que reivindicam o “reconhecimento”, ao passo que as de direita reivindicam a “exclusão”.
A esquerda radical (Traverso lamenta) nunca soube conciliar diferentes pautas identitárias, pondo o fator econômico (a classe) acima das identidades de raça, gênero e religião. Nesse sentido (ainda que de modo irônico, para Traverso), a nova direita representada pela FN, por exemplo, é mais eficiente, pois associa a defesa dos “blancos humildes”, manifestando, assim, a sua simpatia pela categoria interseccionalidade. Quanto às críticas às políticas de direita, estas não são nada genéricas. O laicismo, as identidades nacionais e étnicas difundidos pela FN são reacionárias (defensivas), ilógicas, antieconômicas e antissociais.
A melhor parte da discussão entabulada por Traverso, nesse capítulo segundo, está nas razões que ele aponta para esse reacionarismo. As políticas identitárias das novas direitas (que geram a exclusão de migrantes), o laicismo autoritário de Estado (que negam a cidadania plena aos ex-colonizados e que prometem o retorno à Europa anterior ao Euro) são produtos da própria República e do Colonialismo. Assim, não se pode acusar a FN de antirrepublicana, posto que as exclusões do tipo fazem parte da história da República francesa recente. Nesse trecho, quase que ouvimos Traverso declarar que não há (não houve) um germe ultradireitista. Foi a própria serpente (a República francesa) que pariu os identitarismos excludentes dos novos reacionarismos.
Aqui, vemos como o autor põe grupos de esquerda e de direita sob o mesmo solo – que gera as mesmas distorções. Ele avança ainda mais na indicação de semelhanças quando afirma que as “direitas radicais”, os “expoentes liberais e conservadores” não mais buscam “legitimar uma política” por meio da “ideologia”, que “se improvisa a posteriori”. Chega a empregar a expressão “pós-moderna” para tipificar esse traço do nosso tempo. Mesmo que esteja entre aspas, essa expressão não cabe na passagem.
Se ele admite a legitimidade política não ideológica como consequência de uma relação pós-moderna dos humanos com o tempo, as continuidades de ideias e práticas das novas direitas com as ideias e práticas de direitas do século XIX e XX não mais se sustentam. Se, ao contrário, ele reitera a interpretação das novas direitas dentro dos quadros de um novo regime de historicidade, a condição “pós-moderna” não faz nenhum sentido no seu texto.
Além desse deslise teórico, Traverso revela um misto de idealismo em relação à ideia de partido político, em prejuízo, inclusive da sua abordagem historicista (realista) sobre as novas direitas. A vida partidária, mesmo em tempo anterior ao século XXI, é marcada por estratégias de sobrevivência que resultam em diferentes comportamentos, desde a manutenção de um programa, passando pela captura dos eleitores, até a manutenção do poder, quando à frente do Executivo.
No terceiro capítulo do livro – “Antissemitismo e islamofobia” –, as questões identitárias ganham ainda maior espaço. O entrevistador parece determinado a extrair de Traverso uma crítica às definições dos termos em pauta e uma comparação entre os dois fenômenos, tomando-os em seus elementos aparentemente similares: o antissemitismo na primeira metade do século XX e a islamofobia no início do século XXI. O autor resiste várias vezes a compreendê-los como fenômenos simétricos e, implicitamente, a considerá-los “ideologias”. É certo, julga ele , que as afinidades existem: para os antissemitas dos anos 30 do século passado, judeus e bolchevistas eram um “outro” ameaçador, enquanto para os islamofóbicos, os mulçumanos e os terroristas islâmicos são um novo outro inimigo; o antissemitismo estruturava os ideais nacionalistas do início do século XX, enquanto a islamofobia estrutura os nacionalismos europeus do início do século XXI.
Essas similitudes, contudo, são menos expressivas quando observadas caso a caso, com destaque para a experiência francesa. Para Traverso, a “judeofobia” é combatida pelo Estado francês que, por sua vez, legitima a islamofobia. Os judeus estão integrados econômica, social e culturalmente, enquanto africanos e asiáticos e seus descendentes, mesmo nascidos na França, experimentam uma cidadania de segunda categoria. Nos anos 60 do século passado, ao lado dos negros, judeus marcharam em luta contra o racismo e pelos direitos civis. Hoje, organizações civis que congregam judeus confundem o Estado de Israel e comunidade judaica, oprimindo palestinos em suas próprias terras: “La memoria del Holocausto se há convertido en una religión civil republicana, en tanto que la memoria de los crímenes coloniales sigue negada o acallada, como en el caso de las controvertidas leyes de 2005 sobre el ‘papel positivo’ de la colonización.” (p.88). A emergência da islamofobia contemporânea, conclui o autor, não pode ser reduzida ao racismo clássico dos séculos XIX e XX ou ao fator imigração. O colonialismo entranhado na República é o que explica (na certeira expressão de Meyran) o “racismo de pobre” em vigor na França.
Observem que não apresentei nenhum senão ao capítulo terceiro e o mesmo ocorre com o quarto capítulo – “¿Islamismo radical o islomofascismo? El Estado Islãmico a la luz de la historia del fascismo”. Nele, novamente, Meyran tenta extrair de Traverso uma posição sobre a potência heurística da categoria (“islamofascismo”) e, consequentemente, sobre a validade de tipificar o Estado Islâmico (EI) com expressão do fascismo. Ele rechaça a proposição, embora reconheça semelhanças entre os fascismos italiano, alemão e francês e as ações do EI.
Elas estariam principalmente, nos contextos de emergência do primeiro e do segundo fenômeno (desestabilização da Europa pós Primeira Guerra Mundial e desestabilização de países árabes pós invasões soviéticas, estadunidenses e europeias no Iraque e Afeganistão, por exemplo) e no caráter conservador das suas revoluções (o emprego da tecnologia para propagandear uma sociedade “obscurantista”, baseada em um “passado imaginário”. As diferenças, contudo, superam as similaridades mais gerais, quando, segundo Traverso, o analista aborda os fenômenos diacronicamente e em suas particularidades.
hemos visto surgir fascismos en América Latina, es decir, fuera de Europa: ahora bien, estos se instalaron en el poder gracias al apoyo de los imperialismos, las grandes potencias. En Chile, uno de los peores regímenes fascistas latinoamericanos se instaló mediante un golpe de Estado organizado por la CIA. […] La fuerza del EI, al contrario, radica en el hecho de mostrarse ante los ojos de muchos musulmanes como un movimiento de lucha contra el Occidente opresor. Eso vuelve problemático definir este movimiento como fascista.

Henry Kissinger e Augusto Pinochet (1976) | Imagem: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile/Wikipédia
Fascismo é conceito histórico, não devendo ser usado como categoria analítica. Totalitarismo (de H. Arendt) é categoria analítica adequada ao exame do EI, mas limitada à sua natureza abstrata (de categoria), a exemplo da categoria nacionalismo. O nacionalismo fascista é cimentado pelo “culto ao sangue” (Itália) e “culto ao solo” (Alemanha) e o nacionalismo do EI é “universalista”; o fascismo (categoria ou conceito histórico?) do Chile foi apoiado pelo imperialismo estadunidense que combate agora as ações do EI; o fascismo da Itália e da Alemanha emergem como alternativa à democracia liberal, enquanto o EI emerge em território que nunca praticou a democracia; o fascismo da Itália e da Alemanha eram anticomunistas enquanto o EI nunca encontrou a resistência de “uma esquerda radical”.
Ao listar meia dezena de razões para não tipificar o EI como fascista, Traverso demonstra os perigos das conclusões sobre causas e consequências de fenômenos históricos com base apenas no emprego de categorias (sobre todo os tipos ideais). Ideologias são apenas uma variável. Não é a religião que explica o EI: “hay que estudiar l la relacion que existe entre Marx, el marxismo, la Revolución Rusa y el estalinismo […] resulta evidente que el EI no es la revelación del islan ni la única expresión posible del islam, pero si uma de sus expresiones […] la Inquisición no es la única expresión posible del cristianismo, !también existe la teologia de la Liberación”. (p.92) Traverso, por fim, deixa implícito que quando cientistas sociais e historiadores tomam a ideologia como causa eles enviesam os resultados. Quando estrategistas e políticos agem dessa forma, o prejuízo é em escala. Eles criam “espantalhos”, omitem o assentimento popular ao EI, o financiamento ocidental ao EI, a contribuição ocidental midiática à banalização da violência (adotada pelo EI), a instrumentalização das ideias de direitos humanos, liberalismo e democracia para exterminar os movimentos emancipatórios de povos africanos e asiáticos.
Nas conclusões do livro – “Imaginario político y surgimento del posfascismo” –, mais uma vez, o leitor perceberá a tensão entre o reiterar de uma tese (a falência das utopias do século XX, a exemplo do comunismo e do fascismo, dá vasão às investidas pós-fascistas, encarnadas pelas novas direitas e o terrorismo islâmico), a instabilidade da aplicação dos conceitos (o “modelo antropológico do neoliberalismo”, também referido como “idolatria do mercado”, é ou não uma ideologia dos últimos 20 anos?) e a atribuição de valor na causação das novas direitas (a extinção das ideologias do século XX, a precariedade socioeconômica de grandes segmentos populacionais, na Europa, Ásia e África ou os dois condicionantes simultaneamente?).
Da mesma forma, ainda na conclusão, Traverso consolidará, sinteticamente, as principais ideias que se propôs a defender durante a entrevista: 1. Novas direitas (ou direitas radicais) e islamismos não são fascistas; 2. Novas direitas e islamismos são “sucedâneos” reacionários (passadistas e xenófobos) das utopias do século XX; 3. Movimentos sociais e partidos políticos de esquerda (com suas iniciativas, ironicamente, dispersas em um mundo globalizado) não são capazes, no curto prazo, de preencher esse vazio utópico; 4. “Religiões cívicas” como o republicanismo francês pós massacre Charlie Ebdo e memorialismo anti-holocausto, respectivamente, acrítico e vitimista, são incompetentes como freios às novas direitas. Sua percepção de futuro, contudo, é otimista: “no hay inexorabilidade alguna. Pueden myy biente aparecer en cualquer momento mentes creadoras, dotadas de una poderosa imaginación, y proponer una alternativa, outro modelo de sociedad.” (p.116).
No início desta resenha, anunciei a razão da minha escolha: queria observar o que caracterizaria o trabalho de um historiador de formação e ofício que estuda o fenômeno das “novas direitas”. A resposta serve como avaliação geral do livro. Em Las nuevas caras de la derecha o noviço de história é beneficiado, talvez, pelo gênero textual (marcado pelos diálogos entre Meyran e Traverso) que elimina a organização lógica de um texto e (se o noviço aceita participar como observador) em benefício da liberdade de suspender a leitura e refletir sobre o lido sem perder o fio da meada (já que as questões ou temas se encerram ao final de uma ou duas intervenções do entrevistador).
Esse expediente possibilita a percepção das várias tensões que atravessam o livro e que ensinam de modo mais realista como trabalha um historiador que se ocupa do referido tema, obviamente, aos que estão predispostos a aprender: a tensão sobre as escolhas de variáveis para a comparação (sobre o que serve e o que não serve para fazer analogias, se mais as semelhanças, se mais as diferenças) e as justificativas políticas empregadas para fazê-lo; a tensão sobre a adequabilidade e a eficácia do emprego do conceito histórico e da categoria analítica; a tensão da escolha entre se comportar como historiador tipicamente historicista (examinando múltiplas variáveis e construindo contextos prováveis a partir de múltiplos pontos de vista) e um cientista social (empregando modelos/tipos e fazendo generalizações sobre sujeitos concretos a partir de categorias/abstrações); a tensão de perceber a oportunidade para problematizar uma situação concreta, mediante antinomias ou explicações unilaterais, e de encontrar o melhor momento para reiterar a sua tese sobre os estados de coisas nos quais estamos envolvidos no início do século XXI (Estado Islâmico, Trump, Le Pen): fenômenos pós-fascistas resultam do fracasso das revoluções do século XX e da crise do capitalismo como fornecedores de horizontes de expectativas para populações alijadas da globalização e vitimadas pelo colonialismo.
Sumário de Las nuevas caras de la drecha
- Prefacio a la edición castellana
- 1. Prólogo
- 2. ¿Del fascismo al posfascismo
- 3. Políticas identitarias
- 4. Antisemitismo e islamofobia
- 5. ¿Islamismo radical o “islamofascismo”? El Estado Islámico a la luz
- de la historia del fascismo
- Conclusión. Imaginario político y surgimiento del posfascismo
- Sobre el autor
Para citar esta resenha
TRAVERSO, Enzo. Las nuevas caras de la drecha. Buenos Aires: Titivillus, 2021. 234p. Resenha de: FREITAS, Itamar. As recentes direitas de um historiador. Crítica Historiográfica. Natal, v.2, n. esp. (Novas Direitas em discussão), ago. 2022. Disponível em <https://www.criticahistoriografica.com.br/3237/>.
A escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia | Peter Burke
O escritor Peter Burke é um historiador inglês, que trabalha com história cultural na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, é doutor pela Universidade de Oxford. Exerceu o cargo de docente na área de História das ideias na School of European Studies, na Universidade de Essex, lecionou ainda nas universidades Sussex (1962), Princeton (1967) e realizou trabalho como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA – USP) (1994- 1995). É autor de diversas obras, por exemplo, O que é história cultural? A escrita da história: novas perspectivas; Testemunha ocular: o uso de imagens como evidência histórica, entre outras produções. Leia Mais
Georges Canguilhem and the Problem of Error | Samuel Talcott || Canguilhem | Stuart Elden || Infrangere le norme. Vita/scienza e tecnica nel pensiero di Georges Canguilhem | Fiorenza Lupi || Vital Norms: Canguilhem’s ‘The Normal and the Pathological’ in the Twenty-First Century | Pierre-Olivier Méthot
Continúa boyante la proliferación de estudios sobre el pensamiento de Georges Canguilhem. La edición de las obras completas sigue avanzando y ya se han completado cinco de los seis volúmenes previstos por el sello parisino de Vrin. Por otra parte, los Fonds Canguilhem, sitos en el Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences (CAPHÉS), de la rue d’Ulm, siguen recibiendo a nuevas hornadas de investigadores interesados en rastrear en los inéditos del filósofo nuevos hallazgos que permitan recomponer una lectura más precisa de su trayectoria intelectual o nuevas pistas que hagan posible aportaciones valiosas en el terreno de la filosofía biológica. Leia Mais
Provincializing Global History: Money/Ideas/and Things in the Languedoc/ 1680-1830 | James Livesey
James Livesey | Imagem: University of Dundee
James Livesey’s Provincializing Global History: Money, Ideas, and Things in the Languedoc, 1680-1830 examines the ways significant knowledge shifts amongst ordinary men and women tied into, and helped create and solidify, deep economic change in the long eighteenth century. Part of making that argument for Livesey entails tying changes in culture in a specific place, here Languedoc, to broader economic development and transformation. The questions he lays out – how and why did the economic and industrial movements that originated in Western Europe come to capture and then dominate global economic activity and culture – are ones that many historians puzzle over in some fashion or another. For Livesey, answers lie in understanding the experiences of the subaltern, peasants and more generally ordinary folks in Languedoc, and the ways they connected to, understood and eventually participated in and transformed knowledge culture and economic development. He makes the argument that technological and scientific advances were not predicated solely, or even primarily, on inventions themselves and how effective they were. Rather a supportive local political environment, and the local adaptation of new technologies to the particular conditions of a place, made change possible. Livesey examines three examples of local transformation, connected to broader shifts, that connected the population of Languedoc to broad shifts in thought and practice developed and adopted elsewhere in order to trace how the provincial shaped and responded to global history. The three examples roughly correspond to the subtitle of the book – money (provincial debt holding), ideas (botany), and things (swing plow). Leia Mais
Political Thought in the French Wars of Religion | Sophie Nicholls
Sophie Nicholls | Imagem: University of Oxford
The book series ‘Ideas in Context’, published by Cambridge University Press since 1984, has played a major role in establishing the history of political thought as a prominent field of research and debate. Although the series’ roots lie in the so-called Cambridge school of intellectual history associated with J.G.A. Pocock, Quentin Skinner, and others, its volumes have always set out to break down any ‘artificial distinctions between the history of philosophy, of the various sciences, of society and politics, and of literature’.(1) It is perhaps surprising that until now no volumes in the series have focused on the political thought of the French Wars of Religion (c.1562-c.1598), a period known not only for confessional violence, dynastic crisis, and social rupture, but also for major controversies over questions of authority and resistance, liberty and rights, and other issues that are crucial to the study of early modern political thought.(2) Nevertheless, path-breaking studies of the political thought of Jean Bodin, François Hotman, and key figures in sixteenth-century French intellectual history published with Cambridge University Press by Julian Franklin, Ralph Giesey, and J.H. Salmon all preceded the series and perhaps helped to establish its terms.(3)
 Thirty-seven years after the ‘Ideas in Context’ series was founded, these important new books by Emma Claussen and Sophie Nicholls both advance the series in new directions and bring it back to its roots in the intellectual history of sixteenth-century France. Their complementary approaches engage closely with established interpretations in the field, but also overcome them by offering new readings of key texts and alternative ways to interpret them, breaking down disciplinary distinctions between the history of literature, philosophy, and politics. Claussen’s eloquent and innovative book explores the uses and ambiguities of the term politique throughout the Wars of Religion, and gives a new history of this keyword that traces its movement from a disciplinary descriptor of political science in the 1560s and 1570s to a polemical weapon of partisan abuse. Leia Mais
Thirty-seven years after the ‘Ideas in Context’ series was founded, these important new books by Emma Claussen and Sophie Nicholls both advance the series in new directions and bring it back to its roots in the intellectual history of sixteenth-century France. Their complementary approaches engage closely with established interpretations in the field, but also overcome them by offering new readings of key texts and alternative ways to interpret them, breaking down disciplinary distinctions between the history of literature, philosophy, and politics. Claussen’s eloquent and innovative book explores the uses and ambiguities of the term politique throughout the Wars of Religion, and gives a new history of this keyword that traces its movement from a disciplinary descriptor of political science in the 1560s and 1570s to a polemical weapon of partisan abuse. Leia Mais
Mestiça cientificidade: três leitores franceses de Gilberto Freyre e a sua máxima consagração no exterior | Giselle Martins Venancio e André Furtado
A Editora da Universidade Federal Fluminense acaba de lançar Mestiça cientificidade: três leitores franceses de Gilberto Freyre e a sua máxima consagração no exterior (2020). O livro de Giselle Martins Venancio e André Furtado é uma importante contribuição para interpretar a recepção da obra de Gilberto Freyre no exterior, em especial na França do pós-guerra. Compreender as condições de leitura de autores canônicos como Fernand Braudel, Roger Bastide e Lucien Febvre – os leitores franceses estudados no livro – não é trivial, pois a consagração de Casa-grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre (1900-1987), não dependeu apenas do próprio texto, nem da argumentação e da pesquisa contidas nele, mas de uma série de questões que povoam o mundo dos leitores.
Mestiça cientificidade aprofunda o entendimento acerca da recepção francesa de Casa-grande nas décadas de 1940 e 1950. Funciona também como iniciação à obra de Gilberto Freyre para estudantes, jovens pesquisadores e interessados em um dos autores brasileiros mais importantes do século XX, o de maior repercussão internacional, objeto ainda hoje de acalorado debate público. Sem perder a potência da pesquisa e dos debates acadêmicos contemporâneos, o livro em questão não deixa de praticar história pública. Leia Mais
História do tempo presente na formação de pessoas: prescrições brasileiras, francesas e estadunidenses para o ensino secundário (1999-2014) | Itamar Freitas
itamar Freitas | (Fotos: Adilson Andrade/AscomUFS (2017)
O professor Itamar Freitas, em seu recente livro, apresenta aspectos sobre o ensino de História por meio de um estudo comparativo e assimétrico sobre três países: Brasil, Estados Unidos e França, entre a década de 90 e os anos 2000, o livro é divido em três partes e onze capítulos. É apresentado que a História do Tempo Presente surge para dar respostas aos sobreviventes das imprevisibilidades e complexidades que ocorreram no século XX, logo há nela uma crítica ao modelo de história objetivista. O autor relata que nesse período ocorreram grandes avanços no desenvolvimento humano, devido o pensamento racionalista, porém como afirma Hobsbawn (1995) foi nessa mesma época que o ser humano chegou mais próximo de se autodestruir, e a razão em sua busca da objetividade apresentou-se como uma força motriz para esse fim.
A primeira parte do livro “HTP e prescrições para o ensino no Brasil” Freitas apresenta a HTP na educação brasileira. No primeiro capítulo, História do Tempo Presente nos periódicos especializados brasileiros (2007 – 2014) é apresentado que no Brasil os estudos sobre a HTP são recentes, sendo fruto de reflexões acadêmicas dos anos 90. A estrutura moderna, da história linear, era dominante nesse período, e com o passar dos anos a HTP ganha notoriedade, em estudos de pós-graduação. O autor afirma que a HTP no Brasil auxiliou na compreensão de vários contextos, dentre eles a revisão do conceito de memória. Nesse sentido, seu estudo centrou-se em quatro periódicos, pelo critério de todos apresentarem e assumirem o termo de História do Tempo Presente. Segundo Freitas, as produções acadêmicas nos periódicos pesquisados, apontam que ela não é uma ação jornalística, e sim um fazer científico. Entendo que uma ação midiática é permeada de intencionalidades, logo ao relatar o presente, ela busca informar e não o refletir. Leia Mais
Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo
Em fevereiro de 2020, perto da capital dos Estados Unidos da América, visitando a plantation Mount Vernon – que pertenceu a George Washington -, a historiadora Ana Lucia Araujo encontrou à venda um ímã de geladeira que reproduzia uma dentadura do ex-presidente feita com dentes de escravizados. Fez disso um elemento da análise sobre como a plantation apresenta seu passado escravista; contrapôs o prosaico objeto ao fato de a propriedade realçar a face de “senhor benevolente” de George Washington ao mostrar como ele deixou manifesta no testamento a vontade de libertar seus escravos. O esdrúxulo da dentadura num íma de geladeira – que consiste em grave ofensa aos cativos e seus descendentes – e a libertação dos escravos em testamento poderiam render muita reflexão sobre as práticas escravistas; aqui, no entanto, são amostra das minúcias da análise de Ana Lucia Araujo no livro Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past, publicado meses depois de esta professora da Howard University ter se espantado com aquele artefato à venda.
É crescente a velocidade com que se sucedem episódios de conflito e de memorialização em torno da escravidão e do tráfico de africanos, mas Ana Lucia Araujo é ágil. A atualidade dos acontecimentos mobilizados no livro admira o leitor. A lojinha em Mount Vernon foi visitada em fevereiro de 2020, mas a autora examina muitos outros fatos recentes, como a discussão da troca de nome de um mercado construído no século XVIII em Boston (p.91-93) e as iniciativas oficiais de memorialização da escravidão na França (p.66). Leia Mais
Deleuze e Guattari: uma filosofia para o século XXI | Antonio Negri
Antonio Negri | Foto: Christian Werner e Alexandra Weltz
 Textos de Antonio Negri, marcados por intensos diálogos com o trabalho de Gilles Deleuze e Félix Guattari, bem como entrevista concedida pelo próprio Negri a Jeferson Viel, caracterizam este livro como uma notável radiografia histórica da incessante transformação do pensamento filosófico.
Textos de Antonio Negri, marcados por intensos diálogos com o trabalho de Gilles Deleuze e Félix Guattari, bem como entrevista concedida pelo próprio Negri a Jeferson Viel, caracterizam este livro como uma notável radiografia histórica da incessante transformação do pensamento filosófico.
A partir do “Prefácio”, e mais especificamente, no decorrer da apreciação do Capítulo “Gilles-felix”, constata-se, com interessantes nuanças de sensibilidade, que, além de inspiração e parceria profissional, Negri encontrou em Deleuze e Guattari um fundamental suporte de natureza pessoal. A dinâmica da convivência dessa distinta tríade de filósofos, expõe laços de amizade fortalecidos essencialmente, a partir do apoio dispendido a Negri (de modo singular por Deleuze) durante seu exílio na França, em consequência de perseguições políticas sofridas em solo italiano. Certamente, louváveis peculiaridades da carreira de Negri, a exemplo de seu estilo de escrita, foram forjadas a partir da lealdade apreendida no que ele próprio retrata: “a arte de escrever a quatro mãos”. Tal habilidade foi por ele inauguralmente experimentada durante a concepção do livro As verdades nômades, em conjunto com Félix Guattari. Negri conta, com provável saudosismo, que a época compartilhada com seus companheiros guardava dias de infindáveis discussões sobre política, direito, modelos sociais disfuncionais e a latente necessidade de alterar ideais solidificados de há muito. O respeito mútuo existente entre amigos tão generosos uns com os outros, torna evidente que ambos não hesitariam em contribuir mutuamente, com suas épicas jornadas, nos rumos inquietantes daquela que lhes é uma obsessão: a filosofia. Leia Mais
História & outras eróticas | Marcos Antonio de Menezes, Martha S. Santos e Robson Pereira da Silva
Orestes perseguido por las Furias, de William-Adolphe Bouguereau (1862) | Domínio público |
 Ninguém vai poder, querer nos dizer como amar
Ninguém vai poder, querer nos dizer como amar
Um novo tempo há de vencer
Pra que a gente possa florescer
E, baby, amar, amar, sem temer
Eles não vão vencer
– Johnny Hooker
Apesar dos constates ataques que a educação e a ciência têm sofrido no Brasil, principalmente nos últimos anos, por conta da gestão genocida empreendida por Jair Bolsonaro bem como por todos os outros ignóbeis que se somam a ele, ainda assim é possível notar uma resistência por parte daqueles que não aceitam abaixar a guarda e continuam firmes na produção de um conhecimento que busca reflexões contínuas da sociedade atual e da pluralidade de indivíduos nela inseridos.
Desse desejo de resistir é que nasceu História e outras eróticas (2020), organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio de Menezes e Robson Pereira da Silva. A obra mostra a que veio logo em suas primeiras páginas, ao dar as boas-vindas aos leitores com uma citação do sociólogo inglês Anthony Giddens que, dentre outros assuntos, investiga as transformações contemporâneas e seus reflexos nas relações amorosas e eróticas, e também com um trecho do single God Control (2019), de Madonna, que em sua música faz um manifesto contra o porte de armas nos Estados Unidos e relembra no clipe da canção o massacre [2] ocorrido em uma boate LGBT, no mesmo país.
A coletânea de textos que se seguem é inaugurada por Tamsin Spargo, que no primeiro capítulo do livro tece considerações abarcando sexo, gênero e sexualidade, partindo principalmente dessas temáticas para promover reflexões que vão desde o tratamento misógino que observou em ambientes de trabalho dos quais fez parte até a maneira como a pornografia colabora para as representações sexualizadas de corpos hiperbólicos. Em seu texto, Spargo dialoga em grande medida com o filósofo Michel Foucault, umas das maiores referências no que diz respeito as temáticas de sexualidade e educação, bem como a relação destes com o poder. Ademais, a autora ainda relembra a publicação de seu ensaio Foucault e a teoria queer (1999), onde ela explora o modo como o pensamento do filósofo teria refletido na construção e entendimento da referida teoria.
Na sequência, Luisa Consuelo Soler Lizarazo reflete sobre as fronteiras sexuais que ainda perduram paralelamente a diversidade de gênero, sobretudo àquelas observadas em sociedades transculturais, ao mesmo tempo em que problematiza a ordem moral que continuamente busca impor um modelo de família funcional apenas à sistemas patriarcais e capitalistas. A autora faz um levantamento de como as questões relacionadas ao assunto foram observadas ao longo dos séculos e evidencia a importância do direito de se exercer a possibilidade de escolha de cada sujeito.
Ao longo do tempo tem-se observando a História e a ficção protagonizando discussões acaloradas que resultaram em mudanças e reestruturações no fazer historiográfico. Seguindo nessa linha de raciocínio, Peterson José de Oliveira constrói seu texto a partir da relação dos historiadores com a verdade e a ficção e traz para o leitor a novela, um gênero um tanto quanto subestimado e ainda pouco estudado. Para suas análises, Oliveira concentra seu trabalho principalmente a partir do uso da montagem e da polifonia, duas formas narrativas essenciais para a construção de O mezz da gripe (1998) de Valêncio Xavier que, por meio maneira de sua narrativa, mescla ficção e realidade e, por conseguinte, reflete sobre os efeitos de verdade presentes na novela.
No capítulo seguinte a autora Lúcia R. V. Romano promove reflexões importantes a respeito das intersecções entre as artes cênicas e o feminismo, elucidando a importância da história para a construção de um diálogo entre os dois campos e pontuando a colaboração cada vez mais notável da historiografia para os estudos feministas. Em seu texto, Romano deixa claro que muitas são as questões atuais envolvendo a história, o teatro e o pensamento feminista e abre espaço para se pensar o artivismo feminista, com ênfase no Madeirite Rosa, um coletivo teatral paulistano.
Outra linguagem artística colocada em pauta ao longo da obra História e outras eróticas (2020) é o cinema, abordado no texto de Grace Campos Costa e Lays da Cruz Capelozi, que trazem para os leitores um debate precioso sobre a representação feminina a partir da filmografia de Catherine Breillat. Em um texto bastante didático e rico em imagens, as autoras apresentam uma discussão que vai de encontro a um tabu ainda muito atual: o prazer feminino. Como objeto de estudo é analisado o filme Romance X (1999) e ao longo do texto, além de conhecer um pouco mais sobre o cinema de Breillat também é possível compreender a forma como ela se posiciona antagonicamente aos estereótipos que ainda são observados no que diz respeito ao desejo feminino em representações cinematográficas.
No capítulo seguinte, Ana Lorym Soares faz um interessante paralelo entre a realidade a qual temos vivido e a distopia, lançando seu olhar para o romance O conto da Aia (1939), de Margaret Atwood. A autora explica que em outras obras de distopia o que se observa é um padrão onde os personagens principais são, na grande maioria das vezes, homens, de modo que no romance estudado, Margaret Atwood inova ao trazer uma mulher como personagem central da obra, fugindo dos padrões observado neste gênero da literatura. Desse modo, além de importantes reflexões a respeito da escrita feminina de Atwood, direito das mulheres e seus corpos enquanto campo de poder, Ana Lorym Soares ainda deixa evidente a importância de um olhar atento a realidade, a fim de que as distopias permaneçam no campo de conhecimento da ficção.
Também no campo da literatura, Marcos Antonio de Menezes, constrói seu texto a partir de romances e poesias, sendo que nas páginas que se seguem os leitores serão levados a refletir sobre a(s) representações do(s) feminino(s) na obra de Charles Baudelaire, levando em consideração questões postas em pauta pelo movimento feminista atualmente. Indo contra a grande maioria das produções literárias do século XIX, tecidas a partir da ótica masculina e burguesa, os leitores poderão conhecer um pouco mais sobre a estética, a recepção e as temáticas abordadas nos enredos de grandes obras, como As flores do mal (1857), de Baudeleire e Madamy Bovary (1856), de Gustave Flaubert.
No capítulo seguinte, Robson Pereira da Silva, apresenta-nos ao subversivo Hélio Oiticia, um dos artistas mais completos e importantes da arte brasileira. No texto é apresentada e discutida a antiarte e a arte de subversão de Oiticica nos anos de 1960 e 1970, onde através da performance o mesmo combatia todo e qualquer autoritarismo institucionalizado. O texto é essencial para compreender as configurações do corpo como objeto inventivo bem como do uso da contraviolência de Hélio Oiticica, que se valia da arte para combater a repressão vivida no contexto da ditadura militar no Brasil. O trabalho de ativistas/artivistas negros queer no estado da Bahia é preconizado por meio do texto de Tanya Saunders, que a partir do seu estudo relacionado a discussões de gênero, raça e sexualidade debate de que maneira se tem observado a construção crescente do “não humano”. No capítulo, o retrocesso vivido atualmente no Brasil é colocado em xeque e debatido através da ótica da colonialidade, do afrofuturismo e da necropolítica, que de maneira cada vez mais pungente e perigosa busca ditar quem têm ou não importância em sociedade.
No capítulo seguinte, Martha S. Santos toca com coragem em uma ferida ainda aberta, especialmente, ao problematizar a importância da compreensão da instituição da escravidão no Brasil a fim de que se entenda de uma vez por todas os reflexos desta para a criação e manutenção de privilégios desfrutados por determinadas classes sociais em nosso país. Em seu texto, a autora busca fazer um rápido balanço historiográfico dos estudos ligados a escravidão nas últimas quatro décadas no Brasil além de apresentar seus estudos, concentrados no interior do Ceará, e dialogar intrinsicamente com os estudos de gênero ao refletir sobre a maneira pela qual mulheres e crianças aparecem inseridas no processo da escravidão.
Com um olhar voltado também para a escravidão, Murilo Borges da Silva dialoga com o texto anterior ao abordar os relatos de viajantes no estado de Goiás, bem como as contribuições destes para a produção de corpos femininos negros e representações do feminino muitas vezes equivocadas.
Em seu texto, Silva trabalha com os relatos de Saint-Hilaire (1975) e Johann Emanuel Pohl (1976) para verificar como as mulheres negras aparecem nestes relatos, através dos quais nota-se que há uma tentativa de silenciamento por parte dos viajantes em questão, que não raras vezes, faziam de seus escritos um lugar seletivo, tornando visível determinados fatos e invisíveis outros, da maneira como lhes era favorável e de acordo com aquilo que consideravam necessário.
Logo em seguida os leitores são postos frente a questões direcionadas principalmente aqueles que se dedicam a produção de conhecimento, pois Fábio Henrique Lopes lança um problema grave que diz respeito a maneira como muitas vezes utilizam-se de pessoas transsexuais e de outras identidades de gênero apenas como objetos de estudo. Partindo dessa colocação, o autor torna possível um olhar mais atento ao lugar de fala que cabe a nós, pesquisadores. Aqui, fica claro que é necessário que haja um repensar do fazer historiográfico e epistemológico de modo a não ferir o outro e deixa a todos uma breve, mas, importante advertência: “incluir, excluindo é fácil […]” (LOPES, 2020, p. 276).
O próximo capítulo é um nó na garganta, daqueles que a cada palavra lida cresce um pouco mais, pois logo de cara, Miguel Rodrigues de Sousa Neto e Diego Aparecido Cafola lançam alguns fatos que não podem serem ignorados: a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsória tem acarretado na invisibilização e precarização da existência da população LGBTQI+ e, consequentemente, na sua eliminação física. Os autores afirmam que o conhecimento produzido na academia não tem ultrapassado seus muros e que os reflexos dos discursos construídos em cima de conservadorismos podem ser notados cada vez mais através da violência com que a população LGBTQI+ tem sido alvo constante. Em um texto tocante, os autores colocam em xeque a noção atual de humanidade e questionam o processo de exclusão de grupos marcados pela diferença, ou melhor, que as maiorias silenciadas têm sofrido.
No texto que se segue as problemáticas levantadas dialogam com estas do texto anterior, porém, são levadas para o espaço escolar ao demonstrar como a escola tem atuando como agente da normatividade. Neste capítulo, Aguinaldo Rodrigues Gomes problematiza a hierarquização e o silenciamento de corpos dissidentes por meio do discurso falacioso da “ideologia de gênero” difundida, inclusive, como uma das principais bandeiras levantadas e defendidas durante a eleição de Jair Bolsonaro. O autor reitera os ataques aos quais a educação tem sofrido no campo dos estudos de gênero e da educação sexual, além de expor o cerceamento de professores, aos quais os conservadores e reacionários tentam colocar em uma redoma cujas grades é a ignorância e o preconceito.
Por fim, o último capítulo traz aos leitores uma “greve selvagem” que resultou na derrota do capitalismo em uma luta protagonizada por estudantes e trabalhadores. Em seu texto, João Alberto da Costa Pinto aborda a Revolução do Maio de 1968, a mais importante revolução anticapitalista do século XX. Sua análise parte da trajetória política e teórica de Raoul Vaneigem e se expande para outros militantes que fizeram parte do movimento que ficou conhecido como Internacional Situacionista (IS). De forma clara, Pinto explana o que levou dez milhões de trabalhadores e estudantes a frearem o capitalismo na França de forma totalmente espontânea e auto-organizada.
Dessa feita, levando em consideração o cenário hostil em que a produção de conhecimento científico se encontra em discrédito, como política de governo, bem como os ataques que as populações negras, índigenas, de mulheres e LGBTQI+, sobretudo àqueles sujeitos e sujeitas marcadas pela pobreza e precariedade da vida e do mundo do trabalho tem sofrido cotidianamente com as políticas de morte e indiferença, conclui-se que a coletânea de textos reunida em História e outras eróticas (2020) além de sinônimo de resistência é também um contributo a produção intelectual que se preocupa em pensar, refletir e problematizar os campos de estudo da política, raça, femininos e performatividades de gênero. Nas páginas desta obra, os leitores irão encontrar questionamentos relevantes acerca de temas atuais e necessários, fazendo com que a obra se configure como um alento a defesa dos direitos humanos, revestido de esperança, força e coragem para continuar na luta por igualdade.
Nota
2. O massacre na boate “Pulse” aconteceu em Orlando, no dia 12 de junho de 2016. Na data, Omar Mateen abriu fogo dentro do local e assassinou quarenta e nove pessoas e deixou cinquenta e três gravemente feridas.
LOPES, Fábio Henrique. Efeitos de uma experimentação político-Historiográfica com travestis da primeira geração. Rio de janeiro. In: MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.
MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.
Natália Peres Carvalho – Graduada em História pela Universidade Federal de Goiás e mestranda no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9841094387536865. E-mail: nperescarvalho@gmail.com.
MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020. Resenha de: CARVALHO, Natália Peres. História & outras eróticas (2020) – Uma obra urgente e necessária. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.184-188, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Canguilhem e a gênese do possível. Estudo sobre a historização das ciências | Tiago Santos Almeida
 Marlon Salomão e Tiago Santos Almeida. “VI Colóquio de História e Filosofia da Ciência: As ciências humanas”. Goiânia, 2019 | Foto: PPGH/UFG
Marlon Salomão e Tiago Santos Almeida. “VI Colóquio de História e Filosofia da Ciência: As ciências humanas”. Goiânia, 2019 | Foto: PPGH/UFG
Este libro es la reelaboración de la tesis doctoral defendida en la Universidad de Sao Paulo por Tiago Santos Almeida, profesor en la Facultad de Historia de la Universidad Federal de Goiâs, y sin duda una de los mejores conocedores actuales de la obra del filósofo, médico e historiador de las ciencias Georges Canguilhem. La monografía ha sido prologada Carvalho Mesquita Ayres, profesor de Medicina Preventiva en la Universidad de Sao Paulo, y esto no es una casualidad. A diferencia de lo acontecido en España, los estudios sobre Salud Colectiva y Medicina Preventiva fueron marcados decisivamente en Brasil, desde su despegue en la década de 1970, por algunos de los trabajos más representativos de la tradición francesa en historia de las ciencias, en particular textos como Lo normal y lo patológico de Canguilhem y El nacimiento de la clínica, de Michel Foucault.
El desafío del libro consiste en dilucidar, a través de distintas calas en la obra de Canguilhem, hasta qué punto existe un “estilo francés” a la hora de pensar la historicidad de las disciplinas científicas. En su indagación, el autor no recurre sólo a los volúmenes publicados por Canguilhem. Avalado por una prolongada estancia de investigación en el CAPHÈS (Centre d’Archives de Philosophie, Histoire et Èdition des Siences), donde frecuentó a algunos de los principales especialistas y discípulos del pesador francés (Limoges, Debru, Braunstein), utiliza entrevistas y artículos poco conocidos del filósofo de Castelnadaury, y lo más importante, un importante acopio de los manuscritos inéditos procedentes del Fond Canguilhem, sito en el mencionado centro. Leia Mais
Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais | Silvia Federici
Silvia Federici | Foto: DeliriumNerd
 Ao falar de caça às bruxas imagina-se fogueiras queimando acerca de centenas de anos atrás em um povoado bem distante, com pessoas ao redor do fogo assistindo a incineração de uma ou mais mulheres acusadas de bruxaria por serem aliadas ao diabo. São cenas que parecem estar bem longínquas do século 21, e ainda relacionadas somente ao combate contra o mundo sobrenatural. No entanto, através do livro “Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos Dias Atuais” a autora Silvia Federici apresenta a interligação da caça às bruxas à eliminação das mulheres do sistema capitalista e as consequências disso para as suas vidas. O livro de título original “Witches, witch-hunting, and women” é a obra mais recente da autora, lançado no Brasil em 2019 pela editora Boitempo, estando dividido em duas partes no mesmo volume: Revisitando a acumulação primitiva do capital e a caça às bruxas na Europa; Novas formas de acumulação de capital e a caça às bruxas em nossa época. Silvia Federici é escritora, professora e intelectual militante de tradição feminista marxista autônoma, nascida na Itália em 1942, mudou-se para os Estados Unidos no fim da década de 1960, onde foi cofundadora do Coletivo Internacional Feminista e contribuiu para a Campanha por um salário para o trabalho doméstico. Em 1965 concluiu a graduação em filosofia. Atualmente é professora emérita na universidade de Hofstra, em Nova York. Suas outras obras são: Calibã e a Bruxa (Elefante, 2017) e O Ponto Zero da Revolução (Elefante, 2019), além de artigos sobre feminismo, colonialismo e globalização. Leia Mais
Ao falar de caça às bruxas imagina-se fogueiras queimando acerca de centenas de anos atrás em um povoado bem distante, com pessoas ao redor do fogo assistindo a incineração de uma ou mais mulheres acusadas de bruxaria por serem aliadas ao diabo. São cenas que parecem estar bem longínquas do século 21, e ainda relacionadas somente ao combate contra o mundo sobrenatural. No entanto, através do livro “Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos Dias Atuais” a autora Silvia Federici apresenta a interligação da caça às bruxas à eliminação das mulheres do sistema capitalista e as consequências disso para as suas vidas. O livro de título original “Witches, witch-hunting, and women” é a obra mais recente da autora, lançado no Brasil em 2019 pela editora Boitempo, estando dividido em duas partes no mesmo volume: Revisitando a acumulação primitiva do capital e a caça às bruxas na Europa; Novas formas de acumulação de capital e a caça às bruxas em nossa época. Silvia Federici é escritora, professora e intelectual militante de tradição feminista marxista autônoma, nascida na Itália em 1942, mudou-se para os Estados Unidos no fim da década de 1960, onde foi cofundadora do Coletivo Internacional Feminista e contribuiu para a Campanha por um salário para o trabalho doméstico. Em 1965 concluiu a graduação em filosofia. Atualmente é professora emérita na universidade de Hofstra, em Nova York. Suas outras obras são: Calibã e a Bruxa (Elefante, 2017) e O Ponto Zero da Revolução (Elefante, 2019), além de artigos sobre feminismo, colonialismo e globalização. Leia Mais
Sex, Law, and Sovereignty in French Algeria, 1830–1930 | Judith Surkis
Judith Surkis | Foto: Brown University |
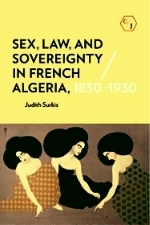 In recent decades historians, postcolonial theorists and feminist scholars have demonstrated how, in a variety of geographical settings, gendered stereotypes supported the conquest and domination of overseas territories by European colonial regimes. Judith Surkis’s ‘colonial legal genealogy’ of Algeria under French rule significantly develops these now well-established observations by tracing the historically contingent emergence of a legal regime in which ‘sexual fantasies and persistent desires’ underpinned the regulation of both land and legal personhood (p.14). Her objective, she explains, is to ‘reconstruct the “cultural life’ of Algerian colonial law, which is to say the material, political, and affective resources and resonances on which its elaboration and its powerful effects depended’ (p.8). By recognizing the affective dimension of the production, application and negotiation of colonial law, Surkis provides new perspectives on the workings of colonial power in Algeria, and makes an exceptional contribution to historical understanding of the colonial legal regime.
In recent decades historians, postcolonial theorists and feminist scholars have demonstrated how, in a variety of geographical settings, gendered stereotypes supported the conquest and domination of overseas territories by European colonial regimes. Judith Surkis’s ‘colonial legal genealogy’ of Algeria under French rule significantly develops these now well-established observations by tracing the historically contingent emergence of a legal regime in which ‘sexual fantasies and persistent desires’ underpinned the regulation of both land and legal personhood (p.14). Her objective, she explains, is to ‘reconstruct the “cultural life’ of Algerian colonial law, which is to say the material, political, and affective resources and resonances on which its elaboration and its powerful effects depended’ (p.8). By recognizing the affective dimension of the production, application and negotiation of colonial law, Surkis provides new perspectives on the workings of colonial power in Algeria, and makes an exceptional contribution to historical understanding of the colonial legal regime.
Alegoria do património | Françoise Choay
As argumentações desenvolvidas por Françoise Choay em Alegoria do património se ancoram, reiteradamente, em demonstrações etimológicas cujo pressuposto fundamental é assinalar as transfigurações das relações estabelecidas entre os seres humanos e as suas edificações ocorridas nos últimos séculos no Ocidente e em países como o Japão e a China. Deste modo, à designação “patrimônio”, cujo abarcamento restringia-se originalmente às propriedades hereditárias, foram acrescentadas categorias mais abrangentes, tal como o complemento “histórico” (CHOAY, 2014, p. 11). Enquanto o monumento é uma obra espontânea, seja auxiliar da rememoração ou da magnificência das localidades, o monumento histórico é produto de uma distinção artificial (CHOAY, 2014, p. 17-25). A destruição de um monumento pode se dar por diversos fatores, humanos ou naturais, mas ao monumento histórico é pressuposta uma irrestrita proteção (CHOAY, 2014, p. 25-26).
O acondicionamento destas construções como projeto nacional provém de um lugar específico e de um tempo também específico: o Ocidente oitocentista (CHOAY, 2014, p. 25-26). Pontualmente, o delineamento de um tal empreendimento é evidente em França ainda no século XVIII, marcado pela circunstância revolucionária, mesmo que propalado somente no XIX (CHOAY, 2014, p. 26-27). Por detrás destas constatações está a introdução do monumento histórico ao repertório linguístico francês, cuja autoria poderia ser atribuída precipitadamente a Guizot, porém trata-se de uma realização de Millin (CHOAY, 2014, p. 26-27). Neste sentido, é notória a relevância das ações de Françoise Choay pertinentes ao exame pormenorizado do referido léxico, visto que conduzem a oportunas reflexões acerca do delineamento da conservação patrimonial e de seus princípios. Leia Mais
Sujeitos e Artefatos: territórios de uma história transnacional da educação | Diana Gonçalves Vidal
Nos últimos anos, é crescente o interesse por abordagens transnacionais no campo historiográfico. Diante da frequência com que o termo tem aparecido em títulos de livros, artigos e palavras-chave, Struck, Ferris e Revel (2011) levantam a possibilidade de a história transnacional representar uma mudança metodológica significativa na historiografia, tal como aconteceu com a história social, a partir dos anos de 1950, e com a micro-história, nos anos de 1970 e 1980. Não surpreende, portanto, que venha recebendo atenção de pesquisadoras e pesquisadores do campo da História da Educação, que, pelo menos desde os anos oitenta, têm buscado o alinhamento e o diálogo com a historiografia.
Demonstrando o potencial das abordagens transnacionais para investigações que tomam como tema a educação e a escola, em suas múltiplas perspectivas e interfaces, foi recentemente publicado, em formato E-book, pela Fino Traço Editora, o livro Sujeitos e Artefatos: territórios de uma história transnacional da educação, organizado por Diana Vidal. A obra é parte da Coleção Estudos Brasileiros, do Instituto de Estudos Brasileiros, e resultado de um conjunto de pesquisas que, desenvolvidas no âmbito do projeto temático Saberes e práticas em fronteiras: por uma história transnacional da educação (1810-…), privilegiam os movimentos, a circulação, os intercâmbios de sujeitos e objetos elucidativos de experiências e processos educacionais, ao longo dos séculos XIX e XX [1]. Leia Mais
A grande cidade. Um retrato de Paris no começo do Século XIX | Paul de Kock
Esta deliciosa crônica chamada “Os passeios das ruas” (“Les trottoirs”) – publicada abaixo na íntegra – é um documento histórico que demonstra a novidade dos passeios ou calçadas na cidade de Paris. Ela foi publicada em 1842 no livro La Grande Ville Nouveau. Tableau de Paris – comique, critique et philosphique (1) do esquecido escritor francês Paul de Kock (1793-1871), que era muito popular no século 19 (2). Como Sue, como Dumas, ele se alinha a autores que escreviam para o novo leitor que se formou em razão do crescimento da educação, procurando narrativas simples. Escritor prolífico, que publicava em folhetins, naquela obra ele observa e descreve o quotidiano pequeno burguês de Paris, cidade que já se transformava rapidamente durante a primeira metade do século 19. Leia Mais
Como animales. Historia política de los animales durante la Revolución francesa (1750-1840) | Pierre Serna
El siglo XVIII fue un periodo de cambios. El contexto intelectual de la Ilustración se interesó por comprender y explicar su entorno bajo los principios de la razón. En Francia, novedosas ideas surgieron al criticar el agotado sistema absolutista; esto derivó en el estallido de una crisis política: la Revolución francesa; tema que Pierre Serna, historiador francés, profesor en la Universidad de Paris I, Panthéon-Sorbonne, conoce muy bien, y del cual lleva ya varios títulos publicados. Leia Mais
Une histoire sociale de l’industrie en France 1830-1930 / Pierre Judet
Audrey Milltet e Pierre Judet / Foto: Académie François Bourdon /
 Pierre Judet, maître de conférences émérite d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes, explore, dans cet ouvrage de synthèse, l’histoire sociale des mondes ouvriers des années 1830 aux années 1930 en France. Cet ouvrage s’inscrit, comme il est indiqué dès l’avant-propos, dans le cadre de la nouvelle question d’histoire contemporaine au programme du CAPES, du CAFEP et des agrégations externes intitulée « Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930 » et est une version remaniée d’un cours que Pierre Judet professé à l’université de Grenoble. Cet ouvrage fait le tour de la question ouvrière en mobilisant une historiographie vaste et mise à jour et en traitant d’un très grand nombre de thèmes concernant cette question. Il parvient à remettre en perspective les mondes ouvriers français dans le contexte européen et multiplie les comparaisons avec les autres pays d’Europe occidentale.
Pierre Judet, maître de conférences émérite d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes, explore, dans cet ouvrage de synthèse, l’histoire sociale des mondes ouvriers des années 1830 aux années 1930 en France. Cet ouvrage s’inscrit, comme il est indiqué dès l’avant-propos, dans le cadre de la nouvelle question d’histoire contemporaine au programme du CAPES, du CAFEP et des agrégations externes intitulée « Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930 » et est une version remaniée d’un cours que Pierre Judet professé à l’université de Grenoble. Cet ouvrage fait le tour de la question ouvrière en mobilisant une historiographie vaste et mise à jour et en traitant d’un très grand nombre de thèmes concernant cette question. Il parvient à remettre en perspective les mondes ouvriers français dans le contexte européen et multiplie les comparaisons avec les autres pays d’Europe occidentale.
Pierre Judet est un spécialiste du monde ouvrier et de l’industrie, en particulier en France ; il a travaillé sur les systèmes productifs industriels locaux (notamment montagnards), objets qu’il mobilise de nombreuses fois comme exemples dans son ouvrage. Sa thèse, publiée dans la même collection en 2004, pourrait également s’avérer très utile aux étudiants des concours car riche en exemples locaux et au cœur des bornes chronologiques du programme (Horlogeries et horlogers du Faucigny (1849-1934). Les métamorphoses d’une identité sociale et politique, PUG, La pierre et l’écrit, 2004).
Même si cet ouvrage est avant tout centré sur la France, il reste très utile aux préparationnaires des concours qui pourront y trouver des connaissances, des chiffres, une vaste bibliographie bien organisée mais surtout des exemples pertinents et intéressants. Quant aux enseignants d’histoire-géographie, ils pourront le mobiliser aussi bien au collège et au lycée qu’en classes préparatoires ou à l’université, notamment grâce aux nombreuses statistiques et aux documents proposés. En quatrième, il offre ainsi une bonne lecture pour les collègues abordant le thème 2 du programme : « L’Europe et le monde au XIXe siècle » et notamment le premier chapitre : « l’Europe et la Révolution industrielle » puisque Pierre Judet revient largement sur l’historiographie autour de cette notion de « révolution industrielle ». Les collègues enseignant en classe de 1re professionnelle pourront aussi utiliser l’ouvrage dans le cadre du premier thème sur les « hommes et femmes au travail du début du XIXe au début du XXe siècle ». Ils trouveront des exemples détaillés et originaux intéressants pour les lycéens : le compagnonnage, le corps et la santé des ouvriers, les crises sanitaires notamment la crise du choléra de 1832… Ensuite, les collègues enseignant en première générale ou technologique pourraient se servir de l’ouvrage pour le chapitre sur l’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France, l’ouvrage traitant de l’ensemble des problématiques au cœur du programme de première (transformation des modes de production, importance du monde rural, la question sociale…). Encore une fois, des études de documents intéressantes et originales pourraient être prises dans cet ouvrage : le tableau du nombre des indigents à Lille de 1825 à 1833 (p.130) et le texte qui suit extrait des mémoires de Martin Nadaud (p. 131) pourraient ainsi être étudiés par des élèves de première. Enfin, les collègues du supérieur y trouveront une synthèse mise à jour historiographiquement par un des spécialistes français de la question, ainsi qu’une riche bibliographie et des exemples pertinents à étudier avec leurs étudiants.
Classiquement, cet ouvrage suit une progression chronologique. Il est découpé en deux grandes périodes : des années 1830 aux années 1870, Pierre Judet traite « des classes dangereuses à la classe ouvrière » puis des années 1880 aux années 1930 « l’industrie et ses mains d’œuvre industrielles ». A l’intérieur de ces parties, les chapitres thématiques (et parfois chronologiques) permettent une vision d’ensemble de la question. Avant ces deux parties, une introduction revient sur le sujet, ses acteurs, son historiographie et les principales problématiques au cœur de la question.
Tout d’abord, la première partie est consacrée au passage des classes dangereuses à la classe ouvrière des années 1830 aux années 1930. Le premier chapitre revient sur la notion de « révolution industrielle », son historiographie et les avancées récentes sur la question, puis petit à petit sur la manière dont la France a vécu et a adapté cette révolution industrielle. Plus original, le deuxième chapitre part de l’épidémie de choléra de 1832 et est profondément un chapitre d’histoire sociale, il est l’un des chapitres les plus intéressants du livre aussi bien pour les préparationnaires que pour les enseignants qui peuvent en faire une étude de cas pour comprendre les enjeux sociaux de la révolution industrielle au début de la période. Le troisième chapitre, s’il semble très statistique, revient aussi sur le quotidien des ouvriers : leurs métiers, la pluriactivité, les lieux du travail. Enfin, le dernier chapitre de cette première partie revient sur le passage du paupérisme à la question sociale durant la période en insistant sur le rôle des acteurs : les ouvriers, les patrons, l’Etat. Cette première partie est riche en documents statistiques précieux pour les préparationnaires (notamment des statistiques comparatives avec le reste de l’Europe occidentale). Elle revient sur des points classiques mais mis à jour historiographiquement (par exemple sur les ouvrières, la place et la vie dans les usines…) mais aussi plus originaux : l’hygiénisme en France, la vision des élites de la pluriactivité, des exemples de systèmes productifs locaux au début du XIXe siècle, le compagnonnage.
La seconde partie est consacrée à l’industrie et à ses mains-d’œuvre des années 1880 aux années 1930 ; cette partie est largement plus chronologique. La partie commence par une réflexion très présente dans l’historiographie sur le « triomphe de l’usine ». En revenant classiquement sur cette question, l’auteur aborde des exemples intéressants, sur les banlieues industrielles avec Saint-Denis ou, de manière plus originale, sur la houille blanche dans les Alpes tout en présentant de nombreux acteurs du monde ouvrier (le vagabond…). Les réflexions portées sur l’immigration et les étrangers dans le monde ouvrier sont particulièrement intéressantes et entourées de documents statistiques précieux pour le préparationnaire. Le chapitre suivant s’interroge sur « l’affirmation de la classe ouvrière et la construction du champ social » en abordant des points classiques (les grèves, le syndicalisme, le tournant social de la Troisième République). Ce chapitre synthétique serait intéressant pour les collègues de première travaillant sur le thème 3 du programme sur la Troisième République avant 1914. Ensuite, le septième chapitre sur « la guerre et les mains-d’œuvre industrielles » est particulièrement pertinent, aussi bien pour les préparationnaires que les collègues de troisième ou de première (générale ou professionnelle). Cette synthèse sur la définition, le rôle et les caractéristiques de la main-d’œuvre durant la Grande Guerre est complète et permet, une nouvelle fois encore, des perspectives stimulantes avec les élèves. La fin du chapitre est consacrée à la Réforme et la protection sociale (notamment sur les grèves durant la guerre). L’avant-dernier chapitre sur les années 1920 « des mondes ouvriers en mutation » et le dernier chapitre sur « crises, espoir et déception » sont plus chronologiques et synthétiques, mais permettent une compréhension rapide des mondes ouvriers lors de ces deux décennies clés.
Pour conclure, cet ouvrage particulièrement fluide, bien écrit, organisé et problématisé, constitue un bon complément pour les préparationnaires de la question « le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930 », il permet de compléter les cours et les manuels avec des exemples classiques mais aussi originaux, tout en mettant à jour les données statistiques. Les préparationnaires regretteront, mais ce n’était pas l’objectif du livre, la concentration uniquement sur l’exemple français. Pour les enseignants, cet ouvrage est synthétique et bien mis à jour, s’il n’est pas révolutionnaire dans son contenu, il permet au professeur d’avoir accès à un grand nombre d’informations sur le sujet. Enfin, on peut féliciter la qualité matérielle de l’ouvrage qui rend la lecture encore plus fluide, mais qui explique son prix relativement élevé (39 euros).
Louis Andouche – Professeur d’histoire-géographie au Lycée Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny.
JUDET, Pierre. Une histoire sociale de l’industrie en France. Du Choléra à la Grande crise (Années 1830-1930). PUG, 2020.Resenha de: ANDOUCHE, Louis. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 18 déc. 2020. Consultar publicação original
Simon de Montfort (c. 1170–1218). Le croisé, son lignage et son temps – AUREL et al (FR)
AUREL, Martin; LIPPIATT, Gregory; MACÉ, Laurent (dir.). Simon de Montfort (c. 1170–1218). Le croisé, son lignage et son temps. Turnhout (Brepols) 2020. 286p. Resenha de: BALARD, Michel. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
Figure controversée de son temps et jusqu’au nôtre, Simon de Montfort méritait incontestablement que les historiens d’aujourd’hui reprennent en toute sérénité l’étude de son action dans la croisade albigeoise, de son lignage tant en France qu’en Angleterre, et des idéaux à la base de ses faits et gestes. Un colloque tenu à Poitiers en mai 2018 y pourvut et les communications qui y furent présentées constituent le présent ouvrage, conçu en trois parties: la croisade albigeoise, l’homme, son entourage et ses représentations, enfin le lignage et sa culture.
Jean-Louis Biget, spécialiste reconnu de l’histoire religieuse en Occitanie, analyse la croisade contre les Albigeois, à partir du 15 août 1209, date à laquelle Simon de Montfort en prend la direction. Ce fut une guerre sans merci, mue par un esprit de croisade, de réforme morale et de purification spirituelle, qui cherche à éliminer les hérétiques, jugés pires que les Sarrasins. L’auteur montre les difficultés de la conquête, dues au manque d’effectifs et de moyens financiers, rendant illusoire le gouvernement des villes et des territoires conquis. Aux années triomphales (1214–1215) conclues par le IVe concile du Latran qui accorde au vainqueur tout le pays conquis, succède l’échec marqué par l’incapacité d’occuper le territoire occitan, la révolte de Toulouse et la mort de Simon devant la ville qu’il assiégeait (1218). D’heureuses cartes permettent de suivre la marche des croisés et l’organisation de leurs conquêtes.
C’est à cette tâche que dès 1212 le vainqueur s’adonne en faisant publier par un parlement croisé les »Statuts de Pamiers«. Largement inspiré de la réforme morale néo-grégorienne, ce texte cherche à imposer au Midi occitan la coutume française en matière de fief, de mariage, de statut des clercs, de corvées et de taille, tout en interdisant l’ordalie, la vengeance privée et les exactions seigneuriales. Gregory Lippiatt en compare les clauses avec d’autres textes contemporains, les »Assises d’Antioche«(avant 1219), le »Livre au Roi« (vers 1200) la »Bulle d’or« promulguée en 1222 par le roi André II de Hongrie ou les »Assises de Capoue« dues à Frédéric II (et non à Frédéric Ier, p. 43). À la différence de ces derniers, les »Statuts de Pamiers« établissent avec la »Bulle d’or« une étroite connexion entre croisade et réforme morale, mais ils n’auront qu’une éphémère application.
Martin Alvira retrace les rapports entre Simon de Montfort et Pierre II d’Aragon, depuis leur première rencontre en novembre 1209, jusqu’à la bataille de Muret (13 septembre 1213) où le »comte du Christ«, comme le dénomment certains chroniqueurs, serait venu s’apitoyer sur le cadavre du roi d’Aragon, tué par des chevaliers croisés. Le désir de revanche animera désormais les vaincus, faisant de Simon le bourreau de leur peuple.
La mort de Pierre II fait de son jeune fils, Jacques, otage de Simon de Montfort dès avant Muret, l’héritier du trône d’Aragon. Le légat pontifical, Pierre de Bénévent, recueille le jeune prince et en assure la protection face au conseil de régence. Damian Smith montre comment les nobles aragonais vont se préoccuper plutôt de leurs intérêts dans le Sud de la péninsule, face aux Almohades, que de leur implication dans les affaires de l’Occitanie.
Les démêlés de Simon de Montfort en Angleterre font l’objet de l’exposé, quelque peu confus, de Nicholas Vincent. Comte de Leicester jusqu’en 1209, Simon est privé de ses droits sur son comté par Jean sans Terre, les retrouve en plusieurs occasions, les perd à nouveau, de sorte qu’il devient l’inspirateur des barons anglais hostiles au roi. L’engagement de Simon dans la croisade albigeoise serait la conséquence directe de ses déboires concernant le comté de Leicester. Son fils, Simon VI, bénéficie à son tour de la faveur des barons anglais, en cultivant le souvenir et les relations de son père.
Laurent Macé étudie ensuite les sceaux successifs du lignage des Montfort, dont il donne des descriptions précises, sans malheureusement montrer autre chose que deux petites illustrations. Son exposé ainsi que le précédent (p. 125–126), auraient nécessité plusieurs clichés des types sigillaires successivement adoptés par Simon de Montfort et ses descendants.
Que devient la croisade après la mort de son chef devant les murs de Toulouse en 1218? Daniel Power, déplorant des sources moins nombreuses sur les événements postérieurs, rappelle la mort de Guy de Montfort lors du siège de Castelnaudary en 1220, la prise de Montréal par les Toulousains en février 1221, la participation d’Hugues de Lusignan, la fondation de l’ordre de la Foi en Jésus-Christ, puis en 1224 la trêve conclue avec les comtes de Toulouse et de Foix, par Amaury de Montfort, laissant au roi Louis VIII le soin de poursuivre la croisade dans le Midi.
Les relations des Montfort avec les Capétiens sont rendues difficiles par leur position ambivalente entre France et Angleterre. Lindy Grant retrace l’ascension du lignage depuis Simon Ier (entre 1060 et 1087): à partir d’une petite seigneurie dans la forêt royale des Yvelines (Montfort), la famille grâce à des mariages heureux acquiert le comté d’Évreux, puis celui de Leicester, mais est victime du conflit entre Capétiens et Plantagenêt. Renonçant à ses droits sur le Languedoc en 1224, Amaury, fils de Simon, est accueilli à la cour de Louis VIII, cède ses possessions anglaises à son frère Simon VI, et devient l’un des principaux conseillers de Blanche de Castille, durant sa régence. Il participe en 1239 à la croisade des barons dans le royaume de Jérusalem, est fait prisonnier en Égypte. Racheté, il meurt en Pouille sur la route du retour.
Sophie Ambler s’attache ensuite à décrire l’influence prépondérante de Simon V sur son fils Simon VI. Mu par les mêmes idéaux, faisant de la guerre sainte sa raison d’être, adoptant un sceau semblable à celui de son père (p. 199: pas d’illustration), Simon VI devient le leader de la révolution menée par les barons anglais contre le roi Henri III et son fils Édouard, mais est tué par les fidèles du roi à la bataille d’Evesham le 4 août 1265.
C’est à son expérience de gouverneur de la Gascogne anglaise que s’intéresse Amicie Pélissié du Rausas. Ayant épousé Éléanor, sœur d’Henri III, Simon VI en 1248 est dépêché par le souverain en Gascogne en pleine anarchie. Conscient d’une mission politico-religieuse et d’un souci de bon gouvernement, mais s’opposant avec violence aux coutumes et aux droits ancestraux des Gascons, Montfort se met rapidement à dos les seigneurs locaux, le peuple et l’archevêque de Bordeaux, Géraud de Malemort. Rappelé à Londres en 1252, à la suite des »dépositions gasconnes« rédigées contre lui, il est désavoué par le roi, ce qui explique sans doute son rapprochement avec les barons anglais hostiles au souverain.
Pendant moins d’un an (1265), le comté de Chester est devenu possession de Simon VI. Soutenu par des propriétaires terriens locaux, mais rejeté en raison de son gouvernement autocratique, comme le montre Rodolphe Billaud, Montfort le perd définitivement à sa mort en août 1265, au profit du futur Édouard Ier, suffisamment habile pour s’imposer en confirmant les droits et coutumes du comté.
Le dernier article, dû à Caterina Girber, étudie l’héraldique imaginaire des Montfort, oscillant entre flatteries et diffamations dans le roman arthurien ou dans deux manuscrits de l’Apocalypse.
Vient enfin une lumineuse conclusion de l’ouvrage par Martin Aurell qui développe trois thèmes illustrant la vie du lignage: Simon V et son fils représentent deux figures controversées qu’il convient de comprendre en les situant dans la société de leur temps. Mus par une ambition princière, écartelés entre Capétiens et Plantagenêt, ils échouent à garder un domaine de part et d’autre de la Manche. Aurell insiste enfin sur la ferveur religieuse du lignage, embu d’un idéal chevaleresque cléricalisé, mais aussi lieu de transmission de savoirs et de valeurs culturelles. L’extrême ambition de ses membres, pour lesquels la guerre sainte est une affaire de famille et un moyen d’expansion territoriale, les place dans une situation inconfortable, tantôt au service des souverains, tantôt à la tête d’une conjuration hostile au pouvoir royal.
De ce bel ouvrage émerge une image nuancée de Simon V et de ses descendants. Il est dommage qu’il y manque un exposé sur leurs participations aux croisades d’Orient (1204 pour Simon V, croisade des barons pour Amaury). Un tableau généalogique aurait été d’une grande utilité pour suivre la stratégie matrimoniale, moyen de leur ascension. On peut enfin déplorer la quasi absence de toute illustration et d’un index indispensable dans tout ouvrage de cette qualité.
Michel Balard – Paris.
[IF]
Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIe-XXe siècles) – CONDETTE; CASTAGNET LARS; Histoire des élèves en France. Volume 2. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles) – KROP; LEMBRÉ (APHG)
CONDETTE, Jean-François; CASTAGNET-LARS, Véronique (dir.). Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIe-XXe siècles). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2020. 566p. KROP, Jérôme; LEMBRÉ, Stéphane (dir.). Histoire des élèves en France. Volume 2. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2020. 376p. Resenha de: BELLA, Sihem. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 28 août 2020. Disponível em: < https://www.aphg.fr/Histoire-des-eleves-A-propos-des-deux-volumes-diriges-par-J-F-Condette-V>Consultado em 11 jan. 2021.
Les deux volumes de l’Histoire des élèves en France, respectivement dirigés par Jean-François Condette, Véronique Castagnet-Lars pour le premier volume et Jérôme Krop et Stéphane Lembré pour le second volume, sont parus aux presses universitaires du Septentrion en juin 2020. Ils regroupent des contributions fondées sur des communications prononcées en 2016 lors de journées d’étude à l’université d’Artois. Ils posent des jalons essentiels en histoire de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse dans le contexte scolaire, et renouvellent l’historiographie des élèves aux périodes moderne et contemporaine en France.
Placer les élèves au centre : ainsi s’affirme d’emblée l’ambition des vingt-cinq contributeurs de l’Histoire des élèves en France. Jalonnées par de nombreuses études de cas s’inscrivant dans le temps long (du XVIe au XXe siècle), ces ouvrages constituent une somme riche pour envisager les élèves comme des acteurs à part entière du système éducatif français. Les deux volumes sont organisés thématiquement, privilégiant ainsi une perspective diachronique ; le premier volume porte sur les parcours scolaires, le genre et les inégalités, alors que le second volume s’intéresse davantage aux questions d’ordres, de désordres et d’engagements. Une bibliographie détaillée et organisée thématiquement est adjointe aux volumes, constituant un excellent support pour explorer l’historiographie des élèves. La construction rigoureuse de l’ouvrage et la clarté des introductions et des conclusions rendent la lecture aisée et les liens entre les contributions limpides. L’ensemble du territoire national français est a priori concerné, avec par exemple des études portant sur les petites écoles de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles (Aurélie Perret, volume 1, p. 35), les lycées parisiens au tournant des XIXe et XXe siècles (Stéphanie Dauphin, volume 1, p. 409) aussi bien que sur les écoles primaires rurales du Nord et du Pas-de-Calais au XIXe siècle (Séverine Parayre, volume 2, p. 149). L’accent est cependant mis sur le milieu urbain et sur la France métropolitaine, sans propos spécifique sur les élèves de l’empire colonial ou de l’outre-mer. Les contributions sont de mêmes moins nombreuses sur l’Ancien Régime et la Révolution française que sur le XIXe et le XXe siècle.
Les contributions du premier volume sont principalement consacrées à la description des déterminismes sociaux, économiques, culturels ou encore géographiques dont les élèves ont été les objets. La liberté de choix des élèves et de leur famille est également envisagée. Éminemment politiques, les enjeux éducatifs sont eux-mêmes en prise, de près ou de loin, avec les événements agitant la société de leur temps. Les élèves, contrairement aux femmes par exemple, ne sont pas des oubliés de l’histoire à proprement parler ; ils sont cependant souvent relégués à l’arrière-plan, considérés comme de simples personnages et essentialisés (en atteste l’emploi récurrent du singulier « l’élève »). Le biais des sources existantes, en grande partie produites par l’institution scolaire, laissent peu de place aux individualités et à la notion de parcours. Les statistiques et considérations générales de l’administration doivent ainsi être contrebalancées par les travaux, récits et témoignages d’élèves ou encore par les registres d’inscription ou de sanction. L’exploration de représentations répandues et persistantes doit nécessairement être menée selon les auteurs : l’opposition manichéenne entre bons et mauvais élèves, les stéréotypes genrés ou encore les figures stéréotypées comme celle du boursier méritant doivent être nuancés. Ainsi les historiens des élèves ont la possibilité de s’appuyer sur des récits littéraires, comme ceux de Marcel Pagnol exaltant la figure romanesque du boursier, qui sont des sources importantes pour reconstituer un système scolaire ségrégué. Outre la question des représentations à dépasser, la question de la définition même de l’élève pose question. La difficulté du critère de l’âge est par exemple relevée par les auteurs : à partir de quand et jusqu’à quand est-on considéré(e) comme élève ? Carole Christen livre par exemple une contribution sur les élèves adultes, déconstruisant certains préjugés à cet égard (volume 1, p. 345).
De même, le premier volume s’interroge sur la place à accorder aux choix personnels et familiaux dans les scolarités des élèves et à la place des déterminismes et des solutions mises en place par l’institution pour les réduire. Il s’organise en trois parties : la première porte sur les logiques institutionnelles qui organisent le système éducatif, la deuxième sur une approche sociologique et spatiale des trajectoires des élèves et la troisième sur l’expérience scolaire des élèves. Ne pouvant rendre compte de la totalité des contributions, deux ont retenu notre attention dans le volume 1 : celle de Jean-François Condette sur la lutte contre l’absentéisme à partir du cas des écoles primaires du Nord et du Pas-de-Calais entre 1882 et 1914 (p. 151) et celle de Patricia Legris sur la séparation des sexes à partir du cas des écoles normales primaires des Ardennes entre 1945 et 1969 (p. 459).
Jean-François Condette étudie l’absentéisme dans les écoles primaires du Nord et du Pas-de-Calais entre 1882 et 1914 en envisageant les formes et les motifs de ce qui est pour lui une remise en cause de l’école républicaine, ainsi que les stratégies des administrations pour y mettre fin. Son étude s’appuie notamment sur des données statistiques exhaustives, des images d’Épinal donnant à voir des élèves ou encore des rapports d’incident. Malgré la loi Ferry du 28 mars 1882, l’absentéisme persiste en effet dans la région, notamment parce que les élèves restent associés au monde du travail dans les milieux précaires. D’autres raisons sont avancées par l’historien : les raisons médicales avec la persistance des maladies et épidémies dans les mêmes milieux, ou encore l’influence du contexte politique. En effet, le conflit idéologique entre école publique laïque et école privée catholique a donné lieu à de véritables guerres scolaires, Jean-François Condette évoquant particulièrement les « guerres de manuels » (p. 182). L’enlisement des projets de lois de lutte contre l’absentéisme s’explique en partie par la guerre entre les deux écoles.
Patricia Legris a quant à elle étudié la séparation des sexes à partir du cas des écoles normales primaires des Ardennes entre 1945 et 1969, en se concentrant de fait sur les élites des classes populaires et moyennes. Selon elle, la remise en marche des écoles normales primaires ayant été difficile après la guerre, le caractère genré des formations persiste de manière très marquée alors que la mixité est toujours plus répandue dans le reste du système scolaire. Si quelques activités extrascolaires sont mixtes, comme le théâtre, celles-ci sont l’objet de chaperonnage par les professeurs qui veillent notamment à réprimer farouchement la sexualité des élèves. La persistance de cette non-mixité s’explique notamment par une volonté de la part des autorités scolaires de « garantir le prestige » des écoles normales primaires (p. 468), afin d’éviter la fuite des élèves pour les plus prestigieux baccalauréats de philosophie ou de mathématiques d’autres établissements. Alors que les flirts comme les blue jeans sont pendant une longue période interdits, la fin des années 1960 marque une rupture nette. Les mobilisations de Mai 68, l’influence des grèves et des idées politiques de gauche porteurs d’émancipation pour les jeunes finit par favoriser la mixité dans ces écoles.
Le second volume vise davantage encore à considérer les élèves comme des acteurs à part entière du système éducatif, dans la mesure où il rassemble des contributions portant sur les ordres, les désordres et les engagements relatifs aux élèves. Les enjeux politiques nombreux autour de l’éducation sont disséqués avec précision. Pour former, informer et conformer les élèves, l’école s’est faite à la fois le reflet et le produit de la société française. Aussi, les phénomènes d’adhésion autant que de contestation de l’ordre scolaire sont prioritairement étudiés. L’usage de sources permettant de faire entendre la parole des élèves est particulièrement souligné : des écrits de pédagogues, des extraits de presse lycéenne, les traces des activités des associations d’anciens et anciennes élèves, ou encore des textes règlementaires et des sources orales ont été employés dans les recherches présentées.
Les auteurs soulignent notamment la difficulté d’écrire une histoire des élèves dans une société quasi intégralement passée par l’école : ils parlent de « l’évidence du passé d’élève » (p. 18). La chronologie des politiques éducatives laisse en effet peu de place aux élèves en histoire de l’éducation, sauf « quelques heureuses exceptions » comme les travaux de l’historienne de l’enfance et de l’adolescence dans la Première Guerre mondiale Manon Pignot (p. 17). Il s’agit par ailleurs de ne pas négliger l’idée que l’institution scolaire est également « appropriée et transformée par ses usagers » (p. 17). Ainsi les auteurs reprennent à leur compte le concept d’agency ou liberté d’action des acteurs (p. 21), à l’honneur dans un grand nombre de champs historiographiques actuellement, au sujet des élèves. Le but du second volume est finalement d’interroger les modes de participation des élèves à la vie des établissements, en accordant de fait une place plus grande aux adolescents, et notamment aux lycéens. Par conséquent, la surreprésentation de l’enseignement secondaire contraint les auteurs à s’intéresser à une élite sociale essentiellement masculine. A rebours d’une idée répandue, les auteurs affirment qu’en matière de participation des élèves à la vie de leur établissement, Mai 68 n’est pas qu’un « point de départ » mais une « étape dans une longue histoire du rôle des acteurs dans les continuités et les changements que connaissent ces établissements » (p.20). Si les années 1960 constituent un tournant, il ne s’agit donc pas de considérer la période comme une rupture nette. L’ouvrage s’organise en trois temps : les formes de la participation des élèves à la vie des établissements sont d’abord explorées, avant une analyse des normes scolaires et disciplinaires au quotidien. Enfin, la place des élèves dans la cité, leurs contestations et leurs engagements sont étudiés dans un troisième temps. Ne pouvant rendre compte de la totalité des contributions, deux ont retenu notre attention dans le volume 2 : celle de Véronique Castagnet-Lars sur les violences dans le cadre scolaire durant les affrontements confessionnels aux XVIe et XVIIe siècles (p. 225) et celle de Jérôme Krop sur la contestation lycéenne à la télévision en 1968-1969 (p. 299).
Les violences dans les collèges catholiques et protestants durant les affrontements confessionnels aux XVIe-XVIIe siècles peuvent-elles être qualifiées de « scolaires » ? La question guide la réflexion de Véronique Castagnet-Lars dans sa contribution. Si l’on considère l’importance du contexte social, politique et culturel, il est en effet difficile de distinguer les violences dues au cadre proprement scolaire et les violences confessionnelles entre catholiques et protestants pénétrant dans le cadre scolaire. L’historienne constate l’incapacité des règlements successifs à proscrire le port d’armes des élèves, discutant notamment l’idée répandue selon laquelle l’école participe de la « disciplinarisation » des sociétés. Les écoliers apparaissent en effet comme une « population citadine turbulente » (p. 232), susceptible de se constituer en bandes ou en troupes pour commettre des violences. L’autrice analyse également le fonctionnement des autorités répressives, en notant par exemple que l’échelle des peines est globalement empruntée au droit des adultes – lequel se trouvait, sous l’Ancien Régime, sous le regard de Dieu. Ainsi l’amende honorable et les punitions corporelles avec usage du fouet figurent par exemple dans l’éventail des sanctions encourues par les élèves violents (p. 240).
La contribution de Jérôme Krop sur la contestation lycéenne à la télévision en 1968-1969 se situe à la jonction de l’histoire de la jeunesse et des élèves et de l’histoire des médias. L’historien s’interroge sur la place de la télévision dans la contestation lycéenne en étudiant trois magazines : Dim, Dam, Dom, Les Chemins de la vie et Panorama. Dim, Dam, Dom est selon l’auteur « l’unique exemple d’une expression télévisuelle dans le sens des discours contestataires » (p. 307), alors que Les Chemins de la vie permet des débats entre militants lycéens et représentants de l’Éducation nationale. Panorama est quant à lui un magazine donnant lieu à des échanges entre lycéens et journalistes. Jérôme Krop note la rareté de la présence lycéenne contestataire dans un média comme la télévision, sous une tutelle politique forte en 1968. La disparition de leur présence à la télévision coïncide avec la fin du dialogue avec la jeunesse contestataire.
En conclusion, la somme ambitieuse que représente cette Histoire des élèves en France parue aux Presses universitaires du Septentrion apporte un éclairage riche, construit et extrêmement instructif, ponctué d’études précises sur des acteurs et actrices au cœur des préoccupations des professeurs non seulement d’histoire-géographie mais également des professeurs d’autres disciplines et des administrateurs des enseignements primaire, secondaire voire supérieur en France. Pour l’attention et la précision portées à cette historicisation des élèves, il s’agit d’une lecture nécessaire : l’histoire des élèves paraît constituer un levier pour le renouvellement de l’histoire de l’éducation. Si l’étude s’arrête à la fin du XXe siècle, il est indéniable que ces contributions posent les jalons prometteurs de recherches sur l’histoire des élèves du XXIe siècle, jusqu’à ceux des temps présents. L’influence du numérique, les conséquences sur les élèves du contexte exceptionnel engendré par l’épidémie de Covid-19 en 2020 sont autant de pistes pouvant s’inscrire dans la continuité de l’entreprise d’histoire des élèves dirigée par J.-F. Condette, V. Castagnet-Lars, J. Krop et S. Lembré.
Liens utiles :
Présentation des deux volumes par l’éditeur :
http://www.septentrion.com/fr/livre…
http://www.septentrion.com/fr/livre…
Sihem Bella – Professeure d’histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Roubaix (59).
[IF]
Um feminismo decolonial / Françoise Vergés
Finalmente temos no Brasil o lançamento de um dos livros da cientista política e historiadora Françoise Vergès: Um feminismo decolonial, publicado pelo Ubu Editora. A tradução chega até nós um pouco mais de um ano após o seu lançamento em francês, e se mantém completamente atual – inclusive por conta do prefácio à edição brasileira, no qual a autora recoloca suas reflexões em meio à pandemia de Covid-19. Nascida em Paris, Vergès cresceu na Ilha da Reunião, um departamento francês localizado a leste de Madagascar, no Oceano Índico, e traz a experiência da colonização francesa no ultramar para o cerne de seu pensamento crítico.
Olhando a França a partir da África, a autora questiona o feminismo civilizatório que, em sua matriz burguesa e eurocêntrica, tem disseminado discursos sobre os direitos das mulheres e a igualdade entre os sexos, sem que as verdadeiras raízes das desigualdades sejam enunciadas e enfrentadas. Esse feminismo, que reivindica melhores postos de trabalho e direitos universais, tem se mostrado interessado no sucesso profissional e libertação das mulheres brancas, de classes médias e altas, e não tem encontrado maiores obstáculos em sua inserção na lógica neoliberal – sistema econômico e de valores que transforma o feminismo em mercadoria, a diversidade em retórica empresarial e se utiliza do trabalho das mulheres e dos homens racializados no exercício das tarefas que homens e mulheres brancas, que tiveram acesso à educação formal, se negam a fazer.
O feminismo proposto pela autora se opõe drasticamente ao cenário descrito acima. Vergès defende um feminismo capaz de enxergar as trabalhadoras e os trabalhadores que o capitalismo deseja que sejam invisíveis, mas que realizam o trabalho do qual depende toda a engrenagem do sistema. A autora nos fala das mulheres que exercem as tarefas de cuidado e reprodução: a limpeza, a alimentação e o cuidado com as crianças, os enfermos e os idosos. Mulheres em sua maioria racializadas, vivendo às margens da sociedade de consumo e sendo exploradas até a exaustão de seus corpos. Como as mulheres brasileiras que trabalham como empregadas domésticas, entre elas, mais de 70% ainda não têm os seus direitos assegurados. São principalmente mulheres negras, que não recebem hora extra, que ainda dormem em “quartinhos de empregadas”, que cuidam das crianças, cozinham e limpam a sujeira para que seus empregadores se dediquem a carreiras muitas vezes mais rentáveis do que o ofício ao qual elas dedicam a vida.
O feminismo decolonial proposto por Françoise Vergès nos possibilita compreender as bases dessa hierarquia social e os mecanismos para sua contestação. Um feminismo insurgente, que denuncia as mazelas da colonização europeia, seja nas Américas, na África ou na Ásia. Que reconhece o racismo como uma invenção destes processos históricos, uma peça fundamental para a consolidação do capitalismo como um sistema internacional de divisão do trabalho a partir da noção de que os povos do Sul global e seus saberes poderiam ser usados e descartados ao gosto dos povos do Norte. Um feminismo decolonial que reivindica o reconhecimento da racialização dos corpos como uma ferramenta de dominação e o epistemicídio, ou seja, a o extermínio de saberes, crenças e culturas como uma política deliberada de apagamento de povos e suas existências.
Para um feminismo que ainda seja potência de transformação da nossa realidade, Vergès nos fala de um movimento que não apenas reivindique a igualdade entre homens e mulheres – afinal, quem são os homens e quem são as mulheres que podem ser iguais? – mas, sobretudo que possa estar engajado na luta anti-imperialista, antirracista e anti-capitalista. E as armadilhas serão muitas em nosso caminho. Como nas décadas de 1980 e 1990, quando organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas realizaram várias conferências para discutir os direitos das mulheres e das populações e entre as propostas de empoderamento das mulheres constava a difusão do microcrédito. O empreendedorismo era o código para a expansão neoliberal sobre as mulheres dos países do Sul, empobrecidas pelo colonialismo e pelo imperialismo. Expansão e lucro para os bancos, endividamento para as mulheres.
Qual o lugar dos feminismos na sociedade brasileira atual? Como as mulheres são muitas e vivem em condições muito diferentes, também os feminismos precisam ser plurais. Contudo, se torna cada vez mais necessário um feminismo que reconheça o protagonismo das mulheres que sofrem com o cruzamento do machismo, do racismo, da misoginia, da transfobia, da homofobia e da exploração de classe. Um feminismo que saiba que “(…) a democracia ocidental não nos protegerá mais quando os interesses do capitalismo forem de fato ameaçados”. (VERGÈS, 2020: 37).
Géssica Guimarães – Professora Adjunta de Teoria da História e História da Historiografia da UERJ.
VERGÉS, Françoise. Um feminismo decolonial. São Paulo: UBU Editora, 2020. Resenha de: GUIMARÃES, Géssica. Humanas – Pesquisadoras em Rede. 20 jul. 2020. Acessar publicação original [IF].
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (HU)
ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 376 p. Resenha de: CODARIN, Higor. “Resistencialismo” e resistência: as tensões entre história e memória. História Unisinos 24(2):334-337, Maio/Agosto 2020.
A trajetória intelectual da historiadora Denise Rollemberg, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), é indissociável das temáticas, das tensões e dos dilemas envolvendo o passado recente, em específico relacionado às experiências autoritárias ao redor do globo, ao longo do século XX. Em um primeiro momento, sua produção acadêmica edificou-se através de análises consistentes a respeito dos caminhos e descaminhos das esquerdas brasileiras diante da ditadura civil-militar, seja a partir da construção analítica a respeito da perspectiva de revolução difundida por essas esquerdas, ou pela vigorosa análise a respeito do exílio experimentado por esses militantes ao longo da ditadura.2 Contudo, a partir de então, a historiadora, influenciada por parte da historiografia francesa empenhada em renovar as análises a respeito da resistência à ocupação nazista e/ou em relação à construção social do regime instaurado em Vichy, das quais falaremos adiante, passa a centrar seus esforços em outros aspectos dos regimes autoritários, buscando iluminar sua compreensão através de duas linhas centrais: por um lado, de que modo esses regimes foram construídos socialmente e se mantiveram por longos anos? Por outro, e de modo mais importante para o objetivo desta resenha, como se relacionam memória e história na construção do conhecimento a respeito dessas experiências? Mais especificamente: de que modo a construção da memória coletiva sobre esses regimes buscou criar oposições binárias entre Estado e Sociedade, sedimentando a perspectiva de sociedades oprimidas, manipuladas e, sobretudo, resistentes a esses regimes? Confirmação dessa nova vereda analítica são as obras organizadas em conjunto com a também historiadora da UFF Samantha Quadrat – A construção social dos regimes autoritários (2010); História e memória das ditaduras do século XX (2015) – e Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália (2016).
Neste que é seu mais recente livro, Rollemberg busca, como objetivo central, analisar o movimento de constante construção e desconstrução dos discursos memoriais a respeito das experiências de resistência francesa e italiana às ocupações nazistas que ocorreram durante a II Guerra Mundial. Dividido em cinco capítulos, Resistência parte de um consistente balanço historiográfico indicativo dos esforços e das dificuldades em conceituar o termo “resistência” (capítulo 1), para, em seguida, passar ao exercício analítico de sua ampla gama de fontes: os museus e memoriais franceses (capítulo 2), as cartas de despedida dos resistentes e reféns fuzilados (capítulo 3), que constroem a primeira parte do livro, dedicada à França, e, por fim, os museus e memoriais italianos (capítulo 4), com especial destaque à construção da memória e historiografia a respeito da trajetória da família Cervi, e do fuzilamento dos sete irmãos – os Sette Fratelli – integrantes da Resistência3 italiana (capítulo 5).
De modo inicial, é importante ressaltar, Rollemberg indica que as populações dos países ocupados “experimentaram comportamentos que variaram de país para país, ao longo do tempo, num amplo campo de possibilidades desde a colaboração mais aguerrida com os vencedores até a resistência mais combativa” (Rollemberg, 2016, p. 17). Nessa perspectiva, a autora, como cerne da argumentação que permeia todo o livro, busca desconstruir não apenas a visão maniqueísta entre Estado e Sociedade, conforme citamos anteriormente, mas também a visão que opõe, drasticamente, resistentes e colaboradores, como se resistir ou colaborar fossem as únicas possibilidades de atuação dentro desses contextos históricos. Para isso, inspira-se, essencialmente, no historiador Pierre Laborie, mais especificamente em seus conceitos de zona cinzenta e pensar-duplo, que realçam o amplo espaço de atuação entre os dois polos, marcado por contradições e ambivalências.4 Enveredando pela discussão conceitual, a autora busca explicitar que as experiências variadas de país para país deram origem, também, a conceituações diferentes. Assim, distingue as discussões historiográficas realizadas na França, Itália e Alemanha.
Sobre a França, campo com que Rollemberg tem maior familiaridade, a discussão é robusta. Demonstra, como prelúdio, que logo após o fim da ocupação, 1944, o termo resistência iniciou um processo de naturalização no seio da sociedade francesa, por intermédio da memória oficial que ia sendo desenvolvida pelo governo surgido do processo de libertação, comandado por Charles de Gaulle.
Criava-se, então, o mito da resistência, ou “resistencialismo”, no neologismo de Henry Rousso (2012). Ou seja, o mito de que a sociedade francesa havia, em sua totalidade, resistido aos alemães e ao governo instaurado em Vichy, sob o comando de Philippe Petain. Por muitos anos, o termo ficou sob o domínio dessa memória, estando fora dos objetivos e anseios dos historiadores. Realizando uma genealogia do conceito, a historiadora demonstra que a historiografia francesa se voltou à “resistência” apenas em 1962, com a tese de Henri Michel, que abre os debates acadêmicos a respeito do termo, ainda sob forte influência do processo de mitificação. Contudo, é com o livro de Robert Paxton, Vichy France (1972), que há uma guinada no debate. A revolução paxtoniana, como ficou conhecido o impacto da tese de Paxton, abriu novas temáticas e interpretações, pois deu início a uma corrente historiográfica indicativa de que o Estado de Vichy era produto da própria sociedade francesa e não uma marionete da Alemanha de Hitler. Iniciava-se, portanto, o processo historiográfico de problematização do mito da resistência.
Passeando com propriedade pelas contribuições de François Bédarida, Pierre Azéma, Pierre Laborie, Jacques Sémelin, François Marcot, Henry Rousso e Denis Peschanski, a historiadora apresenta, de forma nítida, reflexões a respeito da criação do mito de resistência como “necessidade social” (Rollemberg, 2016, p. 33) e, sobretudo, tentativas de conceituar o termo. Em uma diversidade de propostas de conceituação que, conforme diz a própria autora, engolfam-se, por vezes, em “excessivas filigranas e retórica” (Rollemberg, 2016, p. 37), vemos emergir a problemática fundamental do debate: resistência é apenas expressão coletiva, consciente, organizada e clandestina contra um invasor estrangeiro, como propõem alguns autores, ou também podem ser considerados resistentes as expressões individuais, cotidianas e anônimas, seja contra o regime alemão instaurado na zona ocupada ou contra o regime de Vichy? Cria-se, assim, um dilema, bem sintetizado por Jacques Sémelin: “ou bem se mergulha nas profundezas do social, mas sua especificidade [da resistência] tende a se diluir; ou bem se define exclusivamente através de suas [da resistência] estruturas e ações e ele se reduz à sua dimensão organizada” (Rollemberg, 2016, p. 32). Apesar de parecer intransponível, a historiadora apresenta um caminho possível para sua resolução, demonstrando a importância das propostas teóricas de Laborie para sua análise: A zona cinzenta, o pensar duplo, o homem duplo, segundo a perspectiva de Pierre Laborie que considera comportamentos ambivalentes nuançados entre resistir e colaborar, por outro lado, talvez seja a solução para o impasse levantado por Sémelin (Rollemberg, 2016, p. 148).
Seja como for, adotando-se ou não as posições de Laborie para resolver o impasse sintetizado por Sémelin, o exercício reflexivo que o desencadeou, segundo Rollemberg, demonstra, per se, a importância e a necessidade de reflexão a respeito do conceito de resistência, pois concei tuá-la “é mais lidar com as possibilidades e os limites das próprias definições, aproveitando as tensões e riquezas que são intrínsecas ao dilema observado por Sémelin, do que buscar resolvê-lo” (Rollemberg, 2016, p. 37).
Para o caso italiano, a discussão é menos densa. Segundo a autora, isso se deve ao fato de que para a historiografia italiana importa menos definir “o que foi e o que não foi resistir”, centrando os esforços, em contrapartida, no “papel de seus atores, principalmente das lideranças ou de militantes destacados” (Rollemberg, 2016, p. 47). Apesar da não importância da conceituação, a historiadora alerta que as contribuições historiográficas têm buscado desconstruir, também, o mito da resistência.
Por fim, finalizando o primeiro capítulo, está a reflexão a respeito do conceito de resistência proposto pela historiografia alemã. Rollemberg oferece destaque à definição proposta por Martin Broszat. Esta, ao contrário de utilizar o termo resistência (Widerstand), prefere utilizar Resistenz, cuja tradução é imunidade, termo devedor da biologia, que diz respeito a “reações espontâneas e naturais dos organismos vivos a micro-organismos como vírus e bactérias” (Rollemberg, 2016, p. 52). Assim, com essa nova definição, procurou-se jogar luz sobre a “resistência a partir de baixo”, como bem sintetizou Klaus-Jürgen Müller a respeito da definição proposta por Broszat.
Nos capítulos seguintes, sejam relacionados ao contexto francês ou italiano, notamos, com clareza, dois aspectos predominantes: por um lado, o esforço analítico da autora, buscando demonstrar e desenvolver as relações tensas e mutáveis entre história e memória, por intermédio, essencialmente, dos museus e memoriais como corpus documentais de análise. Por outro, o realce e a recorrência, ao longo de todo o texto, na importância de compreender as ações dos sujeitos que fizeram parte desse processo histórico a partir de suas ambivalências e contradições, buscando problematizar as visões romantizadas e heroicizadas construídas sobre esses indivíduos. Assim, a historiadora reforça a necessidade de compreendê-los sem operar distinções binárias e estéreis. Nas palavras da própria Rollemberg a respeito da criação de museus e homenagens aos resistentes:
A homenagem precisa incorporar a complexidade, as contradições, as ambivalências da realidade. A produção do conhecimento, resultado da incorporação das múltiplas dimensões dos acontecimentos e dos homens e mulheres neles envolvidos, submetidas à interpretação crítica, é a melhor homenagem que se possa fazer. A sacralização da memória afasta o herói de todos nós, condena-o ao desconhecimento, mesmo que inúmeros museus e memoriais sejam erguidos em seu nome (Rollemberg, 2016, p. 97).
Portanto, perseguindo essa trilha, Rollemberg empreende uma análise ampla acerca de 15 museus/memoriais ao redor da França, 130 cartas de resistentes ou reféns5 prestes a serem fuzilados e, por fim, analisa oito museus/memoriais italianos. É digno de nota demonstrar a metodologia empregada pela historiadora na construção dos museus/memoriais como corpus documentais para discussão das questões propostas na obra. Seguindo a senda proposta por Jacques Le Goff, a respeito do conceito documento/monumento6, a historiadora compreende a criação e, consequentemente, os próprios museus/memoriais através dessa dinâmica. Assim, a disposição dos museus/memoriais, os locais onde foram construídos, seus acervos, suas narrativas, dinâmicas e relações com o poder público são importantes ao olhar analítico da autora.
Todos os aspectos, constituintes da criação e perpetuação dos museus/memoriais, são vistos como esforços “das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si própria” (Rollemberg, 2016, p. 90). Outrossim, constatando que os museus/memoriais são criados com uma dupla-função, informativa e comemorativa, a historiadora compreende- os como espaços privilegiados de manifestação das tensões entre história e memória, analisando, assim, de que modo esses espaços incorporam ou recusam os avanços e novos temas propostos pela historiografia (Rollemberg, 2016, p. 90).
Sobre a França, vale ressaltar que a autora deslinda de que modo foi construído o “resistencialismo”. Apresenta a importância da memória nesse processo, a memória como construção social, como maneira de “lidar com a história, reconstruindo-a” (p. 84), formulada no período pós-ocupação, “comportando a lembrança, o esquecimento, o silêncio” (Rollemberg, 2016, p. 84), como aponta Beatriz Sarlo (2007), a memória como captura do passado pelo presente; o mito da resistência, o mito que explica a ausência, ao menos na grande maioria dos museus, de informações a respeito da colaboração dos franceses com os nazistas e com o regime de Vichy; o “resistencialismo” tornando ausente das narrativas dos museus “a zona cinzenta, o pensar duplo, a ambivalência” (Rollemberg, 2016, p. 142).
Com relação à Itália, deve-se atentar para a valiosa trilha percorrida pela historiadora ao confrontar a história e a memória do caso dos Sette Fratelli. Realizando uma genealogia da criação do mito, que remonta a dois textos de Italo Calvino publicados em 1953 (Rollemberg, 2016, p. 335), Rollemberg expõe as relações de legitimação dos mais diversos setores da sociedade italiana com a criação e manutenção de uma narrativa romantizada acerca dos sete irmãos fuzilados em 1943. Aponta não apenas para a necessidade do Partido Comunista Italiano (PCI) em vincular- se à história dos irmãos, mas, também, a necessidade do próprio governo italiano, simbolizado na recepção de Alcide Cervi, pai dos sete irmãos, pelo primeiro presidente eleito pós-ocupação, Luigi Enaudi, em 1954, no Palácio Quirinale, em Roma, além de diversas medalhas de honra que Alcide recebeu como representante dos filhos (Rollemberg, 2016, p. 318). A história dos irmãos resistentes e, consequentemente, da superação do sofrimento de um pai que teve a família devastada como símbolos da história italiana recriada pela memória, a Itália resistente, a exemplo dos sete irmãos, livre do nazifascismo, que buscava superar o sofrimento, como Aldo Cervi buscava superar a perda dos filhos.
Resistência, portanto, cumpre os objetivos a que se propõe, descortinando as relações problemáticas e, ao mesmo tempo, férteis entre história e memória em meio à construção da memória coletiva na França e na Itália a respeito das ocupações nazistas ao longo da II Guerra Mundial. Mais do que isso, o livro da historiadora é um interessante ponto de vista metodológico para os interessados em compreender as complicadas questões vinculadas à História do Tempo Presente.7 Se vivemos, como aponta o historiador François Hartog (2017), um regime de historicidade presentista, em que a Memória busca destronar a História de seu lugar privilegiado como intérprete hegemônica do passado, Resistência é uma contribuição fundamental à historiografia brasileira para aqueles que buscam fugir às armadilhas da Memória, que opera, na maioria das vezes, por intermédio de uma cultura binária de demonização ou sacralização de indivíduos e/ ou períodos históricos. Rollemberg, portanto, em seu novo caminho analítico, do qual Resistência é a reflexão mais profunda até o presente momento, apresenta os desafios dos historiadores que trilham as temáticas envolvendo experiências sociais traumáticas do passado recente. Ao buscar recolocar os personagens em seus respectivos contextos históricos, questionando as construções memoriais e realçando a importância de lançarmos luz às zonas cinzentas, contradições e ambivalências dos sujeitos históricos, a autora deixa-nos – aos historiadores – um sinal de alerta: o dever do historiador é compreender o passado, não o mitificar.
Referências
HARTOG, F. 2017. Crer em História. Belo Horizonte, Autêntica, 252 p.
LABORIE, P. 2010. 1940-1944: Os franceses do pensar-duplo. In: S.
QUADRAT; D. ROLLEMBERG (org.), A construção social dos regimes autoritários: vol. I, Europa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 31-44.
LE GOFF, J. 2013. História e Memória. 7ª ed. Campinas, Editora da Unicamp, 504 p.
PAXTON, R. 1973. La France de Vichy. Paris, Seuil, 475 p.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2010. A construção social dos regimes autoritários. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 3 vols.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2015. História e memória das ditaduras do século XX. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2 vols.
ROLLEMBERG, D. 2000. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro, Record, 375 p.
ROLLEMBERG, D. 2016. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo, Alameda Editorial, 376 p.
ROUSSO, H. 2012. Le Régime de Vichy. 2ª ed. Paris, PUF, 128 p.
ROUSSO, H. 2016. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro, Editora FGV, 341 p.
SARLO. B. 2007. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo, Companhia das Letras / Belo Horizonte, Editora da UFMG, 129 p.
2 Referimo-nos aqui, respectivamente, à sua dissertação de mestrado (A ideia de revolução: da luta armada ao fim do exílio (1961-1979)) e à tese de doutorado (Exílio. Entre raízes e radares), esta última publicada pela Editora Record (1999).
3 O termo Resistência, com letra maiúscula, consolidou-se na historiografia como modo de referir-se a posições e ações ligadas a organizações, partidos e movimentos (p. 175).
4 Para maior aprofundamento a respeito dos conceitos, cf. Laborie (2010).
5 “Reféns” denominam-se os indivíduos presos, seja na França ocupada ou na França de Vichy, em represália às ações da Resistência.
6 Para maiores detalhes, cf. Le Goff (2013).
Higor Codarin – Universidade Federal Fluminense. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n. 24210-201 Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Número do processo: E-26/201.860/2019. E-mail: higor.codarin@gmail.com.
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 – BURKE (S-RH)
BURKE, Peter. Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. O conhecimento sem pátria. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 25, n. 42, p. 222-226, jan./jun. 2020.
Todos os que acompanham a atualidade política sabem que um tema em particular está quase sempre presente no debate público, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos: a imigração. A polêmica discussão é animada não somente pelos jornalistas e atores políticos, com posicionamentos nem sempre apaziguadores, mas também pelos intelectuais. São inúmeros os acadêmicos – filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas – que tentam, através de uma análise mais serena e por meio dos instrumentos fornecidos pela ciência que professam, analisar a imigração como um fenômeno social complexo, com diferentes causas e diversas consequências para a sociedade. O último livro de Peter Burke, fruto de conferências proferidas na Historical Society of Israel em 2015, é um belo exemplo de como um historiador, de quem se costuma esperar apenas um olhar crítico sobre o passado, também pode enriquecer a reflexão acerca de problemas atuais. A obra Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, publicada em 2017, estuda um tipo específico de imigração: a dos intelectuais que deixaram seu país natal, de modo espontâneo ou forçado, e prosseguiram a sua produção intelectual em outras terras. A partir desse grupo seleto de imigrantes, o autor examina os efeitos do encontro – ou eventualmente do choque – entre duas culturas na produção e difusão do conhecimento. Este é o pressuposto central do livro: a imigração é um fato social de efeitos recíprocos, isto é, tanto os indivíduos que imigram quanto a sociedade estrangeira que os acolhe são de algum modo afetados e transformados pelo intercâmbio que se opera. Está claro, portanto, que o livro refuta o argumento, às vezes invocado em âmbito político, segundo o qual a influência estrangeira é necessariamente nociva para a cultura nacional. Leia Mais
Si je reviens un jour… Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky – TROUILLARD; LAMBERT (APHG)
TROUILLARD, Stéphanie, LAMBERT, Thibaut. Si je reviens un jour… Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky. Paris: Des Ronds dans l’O, 2020. Resenha de: CHANOIR, Yohann. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 30 avr. 2020. Disponível em: <https://www.aphg.fr/Si-je-reviens-un-jour-Les-lettres-retrouvees-de-Louise-Pikovsky-4019> Consultado em 11 jan. 2021.
Un livre, une histoire, l’Histoire
Tout livre, même dessiné, a une histoire. Celui-ci encore plus que les autres. En 2010, dans un lycée parisien, sont retrouvées des lettres et des photographies appartenant à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Arrêtée le 22 janvier 1944, transférée à Drancy avec ses parents, elle est déportée à Auschwitz, d’où elle ne reviendra pas. Le destin de Louise et de sa correspondance épistolaire avec sa professeure de latin-grec est en soi déjà émouvant. Mais il l’est davantage encore par la suite. Retrouvées, les lettres sont lues, mises en valeur dans le lycée de Louise, où une plaque commémorative sur les élèves déportés a pu être posée. Elles ont servi ensuite à nourrir un webdocumentaire réalisé par Stéphanie Trouillard en 2017, auteure que nos lecteurs connaissent bien avec son très beau livre Mon oncle de l’ombre, sur son grand-oncle exécuté en 1944 par les Allemands. Elles sont devenues aujourd’hui une bande dessinée. On retrouvera d’ailleurs quelques-unes de ces lettres et photos à la fin de l’album.
La vie d’une jeune lycéenne parisienne
Née en 1932, Louise est une élève dont la maturité surprendra plus d’un lecteur. Non seulement par la beauté de son raisonnement, par son souci des autres, mais aussi par sa prescience en 1944 que son destin est scellé et qu’elle accepte avec une incroyable résolution. Louise est cependant une jeune fille, comme bien d’autres, avec ses amitiés, ses inimitiés. Elle est aussi une de ces élèves, toujours trop rares, qui saisissent la beauté d’un texte, qui s’accaparent l’enseignement donné, le questionnent, le transforment et lui donnent une plus-value. De fait cet album est aussi celui d’une rencontre, entre une élève et son enseignante. La classe n’épuise pas évidemment la vie de Louise. On plonge dans son quotidien, les repas avec la famille, les chamailleries avec les sœurs et son frère. Le dessinateur a su rendre le caractère spartiate du logement par les couleurs plutôt ternes (seuls les rideaux rouges sous l’évier cassent la palette chromatique). Il a su également l’enrichir par une foule de petits détails, ces « effets de réel » dont parlait Roland Barthes : le torchon qui enveloppe le pain (p. 23), le seau pour les détritus (p. 19) etc. Le sérieux du propos n’exclut pas l’humour. Nos lecteurs attentifs retrouveront le clin d’œil à Hergé et aux aventures de Tintin, une allusion référentielle typique de l’école belge.
La guerre en arrière-plan
Drame singulier en même temps qu’expérience collective subie par des millions de personnes, le destin de Louise n’est pas décontextualisé. Par petites touches, à la manière d’un impressionniste, le dessinateur place des éléments de contexte dans les planches. On y découvre un Paris bien sûr occupé, avec la présence de soldats allemands, un Paris déjà martyrisé par les bombardements (p. 49) mais aussi une capitale où la mort sociale de la population juive est mise en œuvre, avec le dessin bien connu d’une pancarte dressée devant un parc à jeux réservé aux enfants mais interdit aux Juifs (p. 34). L’album offre ainsi un résumé saisissant de la politique de collaboration des autorités avec les nazis : policiers français qui saluent, au détour d’une rue, une patrouille allemande, policiers français qui viennent arrêter Louise et sa famille pour les emmener à Drancy, antichambre de la mort, policiers enfin qui livrent les familles aux nazis. En quelques images, sans le renfort de cartouches, tout est montré, tout est dit. Ces images sont d’autant plus poignantes que les grands-parents de Louise avaient quitté la Russie pour échapper aux pogroms et qu’ils pensaient être libres, heureux, en sécurité. Le destin de Louise est aussi la mort d’une certaine idée de la République.
Un album à lire et à faire lire
Si l’intérêt de cette bande dessinée est naturellement d’ordre mémoriel, il nous semble que l’album joue un rôle tout aussi déterminant dans la pédagogie de la Shoah. Expliquer à des élèves aujourd’hui ce qu’est cet assassinant industriel de masse, n’est pas simple. Cela ne peut se réduire à une collection de mesures et de chiffres. Il est nécessaire d’incarner la « Solution finale », par des exemples précis. Comme le cinéma ou les séries télévisées, la bande dessinée dispose du pouvoir de l’image. À ce titre, en raison de sa richesse, cet album doit s’inviter dans nos pratiques.
Il y a d’abord l’empathie pour une jeune fille de leur âge. Il y a ensuite l’explication sobre et efficace de la mécanique implacable de la Shoah, de l’exclusion à l’arrestation puis à la déportation. La bande dessinée souligne également l’héroïsme au quotidien d’une enseignante, qui fait retirer à Louise pour la photo de classe, sa veste avec l’étoile jaune, car elle est « une élève comme les autres » (p. 45). On imagine la tranquille résolution de notre collègue qui, elle, n’a pas démérité de la haute idée que l’immense majorité du corps enseignant, hier comme aujourd’hui, se fait de la République.
Les larmes de notre collègue s’expliquent ainsi sans doute, pour ne pas avoir pu sauver une jeune vie si prometteuse et par là tout un monde. Qu’elle soit toutefois assurée et rassurée, grâce à elle, et grâce au travail des auteurs de cet album, au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Louise ne sera plus oubliée.
Yohann Chanoir – Agrégé d’histoire, professeur en classe européenne allemand au Lycée Jean Jaurès de Reims, rédacteur en chef adjoint d’Historiens & Géographes.
[IF]
The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica | Trevor Burnard e John Garrigus
The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica expõe, por meio de uma história comparada, as similaridades entre São Domingos e Jamaica. A obra, escrita por Trevor Burnard e John Garrigus, – ambos especialistas em Jamaica e São Domingos, respectivamente – mostra como as possessões caribenhas se assemelhavam em sua configuração social e econômica, mesmo que administradas por uma França absolutista e por uma Inglaterra parlamentarista. Escrita a quatro mãos, o livro é o que se tem de mais atual na bibliografia recente sobre as histórias dessas duas colônias e tem aquele ar clássico de uma produção acadêmica que marcará época na bibliografia atual e futura sobre o sistema mercantilista atlântico.
O recorte cronológico escolhido pelos autores cobre o período de 1740 a 1788, momento de acelerado crescimento da produção açucareira nessas duas colônias. Os autores também identificam Jamaica e São Domingos como integrantes de suma importância para suas metrópoles na integração econômica global e sua inserção no funcionamento do Capitalismo Atlântico do século XVIII. Leia Mais
A imprensa francófona nas Américas nos séculos XIX E XX | História (Unesp) | 2019
O dossiê que ora vem à luz foi organizado pelos professores Valéria dos Santos Guimarães, Guillaume Pinson e Diana Cooper-Richet. Ele é o resultado da seleção de trabalhos apresentados no congresso internacional A imprensa francófona nas Américas nos séculos XIX e XX nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2018, no Instituto de Artes da UNESP, campus de São Paulo, evento que contou com a participação de pesquisadores de vários estados do Brasil e estrangeiros da França, Alemanha, Canadá, México, Argentina e Uruguai1 , então empenhados em fazer uma necessária revisão historiográfica acerca das novas abordagens sobre imprensa periódica francesa, situando-se igualmente na tradição de estudos sobre a importância da francofonia e da francofilia nas Américas.
Como se sabe, forma-se, do século XIX até meados do século seguinte, uma rede de leitores de periódicos em francês que se espalha por várias partes do mundo, incluindo o Brasil e demais países das Américas, território em que a cultura francesa teve acentuada proeminência. No Brasil, vários trabalhos demostraram de forma pioneira a dinâmica dessas trocas culturais. Sandra Nitrini (2018), em recente artigo sobre a produção na área da Literatura Comparada no Brasil, repassa a constituição de um campo que esteve ligado diretamente ao estudo das relações Brasil e França, citando vários autores que trabalharam o tema tais como Gilberto Pinheiro Passos, Leyla-Perrone Moisés e muitos outros bem referenciados pela autora. No campo da História, o nome de Mário Carelli se destaca em empreender uma história comparada entre os dois países, discorrendo de pintores viajantes a falanstérios, da diplomacia à circulação de imaginários, o que ele definia como uma “colonização pelas ideias” (CARELLI, 1994). Leia Mais
História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides | Martinho T. M. Soares
Em sua tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal, Martinho Soares aborda uma lacuna relevante na história da teoria contemporânea da historiografia: o papel do paradigma historiográfico de Tucídides nas reflexões do filósofo Paul Ricoeur; o primeiro uma referência clássica que resiste pertinente e atual há milênios, o segundo talvez quem melhor sintetizou a polêmica sobre a relação entre histórica e ficção ao longo do séc. XX. O objetivo é em si problemático: Soares está ciente que Ricoeur cita Tucídides apenas em notas, não dedica nem uma página para análise específica de sua obra, e não apresenta indícios de conhece-la a fundo, para além de alguns de seus comentaristas modernos mais ilustres (SOARES, 2014, p.23). No entanto, Tucídides é um marco inaugural, exercendo inegável influência em intelectuais com quem Ricoeur dialoga, principalmente historiadores e teóricos modernos que o viam como paradigma de historiografia antiga. Se o filósofo moderno foi a pedra angular nos intensos debates do séc. XX sobre história e ficção, os estudos sobre a fortuna crítica da obra História da Guerra do Peloponeso extrapolam o próprio ambiente acadêmico, como demonstram os constantes apelos às lições tucideanas em situações geopolíticas contemporâneas2. Para cumprir tal tarefa Soares divide seu livro em duas partes: a primeira, mais longa, dedica-se exclusivamente à Ricoeur; a segunda aborda Tucídides, mas seguindo uma estrutura organizacional estabelecida com base na leitura da obra ricoeuriana.
A primeira parte é a própria sistematização da contribuição do filósofo francês que, nas palavras de Soares (2014, p.18), serviu de “pretexto para uma compilação, inédita em Portugal, de teorias (e pensadores), ora complementares ora antagônicos, sobre história e ficção”. Em quatro capítulos, Soares refaz o longo percurso da contribuição ricoeuriana: começa em Histoire et Vérité (1964) no capítulo I, passando pelos três volumes de Temps et Récit (1983- 1985) nos capítulo II e III, e finalmente se concatena em La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) no último capítulo desta primeira parte do livro de Soares.
No capítulo I são abordadas as primeiras reflexões de Ricoeur sobre objetividade e subjetividade na interpretação histórica, que desembocam no capítulo II sobre a dialética entre explicação e compreensão histórica. Este segundo capítulo refaz o percurso duplo de Ricoeur que perpassa, de um lado, o eclipse da narrativa histórica, o qual envolve tanto a historiografia francesa dos Annales quanto o modelo nomológico de língua inglesa; e de outro lado, as teses narrativistas que, oriundas da filosofia analítica e da crítica literária, focam no papel da narrativa na historiografia, cujos nomes mais conhecidos são Hayden White e Paul Veyne.
A concepção narrativista, que pode ser simplificada na máxima “narrar já é explicar”, torna opaca a fronteira entre história e ficção, o que certamente serve de gatilho para a maior parte das reflexões de Paul Ricoeur. Contra ambas tendências – rejeitar a narrativa histórica em prol de seu caráter científico ou ofuscar seu caráter veritativo por conta da sua dimensão narrativa – Ricoeur interpôs sua dialética sobre o papel da compreensão narrativa à explicação histórica, restaurando a função da ficção na configuração narrativa histórica. O saber histórico procede da compreensão narrativa, resguardando seu caráter investigativo alicerçado na interpretação dos traços do passado, prática na qual a intenção do historiador não deixa de ter sua marca subjetiva, sem negar seu caráter epistêmico (SOARES, 2014, p.53, 76). Assim, Soares revisita as teses de Ricoeur de forma a sedimentar os instrumentos de análise com o qual abordará a obra tucideana.
Se a história precisa de narrativa para ser compreendida, a última não deixa de definirse pela sua relação com o tempo. O capítulo III de Soares concentra-se no itinerário de Ricoeur sobre o tempo desde a dimensão fenomenológica (tempo vivido) até histórica (tempo histórico e narrado). Soares sintetiza ideias já conhecidas de Ricoeur sobre a distentio animi de Agostinho de Hipona, a teoria das três mimeses e as abordagens da ficção do século XX sobre as aporias do tempo vivido, de forma a desembocar no axioma de que o tempo se torna humano na medida em que é articulado de modo narrativo. Deste longo percurso, Soares retém a narrativa enquanto tríplice mimese da prefiguração ética, configuração narrativa e refiguração receptiva (ou leitura). Tal tríplice noção de narrativa organiza a leitura que Soares faz da História da Guerra do Peloponeso na segunda parte da obra. Na fase final da vida intelectual de Ricoeur, o prestígio da narrativa havia se restabelecido na historiografia francesa, devido a fatores que vão do ressurgimento da história política, e perpassa a micro-história e principalmente a predominância do conceito de representação histórica. Daí que Soares concentre-se no capítulo IV sobre os conceitos de representação e representância, especialmente se a narrativa histórica e seu encadeamento do tempo resolve (ou não) as aporias da representação mnemônica enquanto presença do ausente. A questão envolve debates éticos intensos sobre a possibilidade de representação do holocausto judeu e o risco do fortalecimento do negacionismo histórico, com as teses narrativistas que ofuscam a fronteira entre histórica e ficção. Até aqui, pode-se parabenizar a leitura industriosa que Soares faz de Paul Ricoeur, mas não sem notar o longo percurso percorrido até finalmente concatenar tais reflexões com o texto tucideano.
A segunda parte volta-se para Tucídides em dois capítulos. O primeiro se preocupa com a noção de história e verdade na obra, revisitando discussões já consagradas sobre a noção de “ktema es aei” (tesouro para sempre) e sobre o procedimento de composição dos discursos na História da Guerra do Peloponeso. O segundo capítulo se desdobra na aplicação dos três estádios ricoeurianos da operação historiográfica na obra: a fase documental (prefiguração compreendida como testemunhos, indícios e prova documental), a fase narrativa, (explicaçãocompreensão e configuração narrativa), e a fase da refiguração ou leitura, que concentra-se nas estratégias retórico-persuasivos e seus efeitos de “fazer ver” (SOARES, 2014, p.405-406). Em contraste com Heródoto, Tucídides é lacônico e reticente ao expor suas fontes e procedimentos de investigação, logo Soares admite e enfatiza as dificuldades em abordar a metodologia histórica da obra, bem como sua inadequação para os parâmetros modernos (2014, p.502-504, 545-549). A leitura de Soares, portanto, desenvolve-se melhor quando aborda as estratégias persuasivas do autor ateniense, de forma a encontrar nelas ecos das teses de Ricoeur.
O estudo é industrioso e pertinente, mas desmembrar a análise em duas partes acaba por ser simultaneamente uma qualidade e um defeito da pesquisa. Sua exposição sobre Ricoeur revela excelência e domínio das discussões, por outro lado, alonga-se demasiadamente divorciada do seu segundo objeto de pesquisa. Isto significa que não teremos notícias de Tucídides pelas 360 páginas e 4 capítulos que compõem a primeira parte da obra. Da segunda parte, somente o segundo capítulo propõe interpelação direta entre Ricoeur e Tucídides, ou seja, de um volume de 600 páginas o leitor pode esperar tal confronto apenas na última centena, e ainda assim de forma tímida, ao que se segue uma conclusão extremamente sucinta.
No entanto, as sendas abertas pela pesquisa de Soares são profícuas, por exemplo, na abordagem do método de composição de discursos de Tucídides (I. 22.1-2) à luz das teses ricoeurianas. Desde Heródoto a dramatização (no sentido de “representação da ação”) de discursos e debates oratórios são conectores de acontecimentos que conferem sentido a estes tanto progressivamente (antecipam fatos ainda não narrados) como regressivamente (julgam e explicam fatos já narrados), assim o historiador revela ao leitor as disposições dos agentes históricos frente a uma ação inacabada, bem como expectativas frustradas ou não pelos acontecimentos desenrolados (SOARES, 2014, p.454-455). Ainda que construção subjetiva, os discursos ligam-se à interpretação dos acontecimentos, na medida em que funcionam como narração-explicação do sucesso ou insucesso das ações (SOARES, 2014, p.479). Tucídides na sua escrita não procura a descrição asséptica de acontecimentos, mas enreda-os narrativamente. Tal procedimento revela ressonância evidente com a tríplice mimese ricoeriana, na medida em que exige do historiador uma prefiguração ética na avaliação e seleção das fontes e traços do passado, bem como uma configuração narrativa na forma de ação (discurso e acontecimento), e por fim, subscreve a intenção deste em elementos persuasivos que visam alcançar a refiguração do leitor capaz de reconhecer o que foi ali prefigurado e configurado.
Soares desdobra-se com competência na apresentação destas questões, no entanto, lidar simultaneamente com a tradição milenar da hermenêutica tucideana e a profundidade das discussões de Ricoeur é, de fato, muito trabalhoso, e a pertinência destas fontes acaba por ofuscar a marca autoral de Soares. O diálogo entre duas referências fundamentais para a historiografia, no qual consiste a originalidade da obra, acaba ficando frágil na separação rígida das duas partes do livro.
Soares ressalta especialmente o papel da narrativa como uma forma da história “cativar o público”, “se dar a ler” (2014, p.30), em suma, “uma forma estilizada de apresentar a verdade”, sendo esta a “tese maior” que pretende expor (2014, p.483), e defende enfaticamente a fronteira entre história e ficção, e talvez por isso privilegia a função ornamental e persuasiva da narrativa. Afirmar isto parece subestimar o papel da narrativa na configuração do tempo histórico: as reflexões de Ricoeur e a metodologia de Tucídides apontam que a ficcionalização dos fatos está para além da persuasão e do elemento imagético (ou cor local) da história: ela é a forma privilegiada de expressar o pensamento e a compreensão do historiador sobre as ações humanas no tempo, resolvendo poeticamente o embaraço da distentio animi agostiniana e a própria noção aristotélica de história enquanto narrativa episódica, sem vínculo com o provável e o necessário. Sua discussão do confronto entre a Poética aristotélica com a obra de Tucídides (2014: p.552-565) faz excelente balanço bibliográfico da questão, mas não responde se Tucídides almejava configurar um tempo histórico nos moldes ricoeurianos a partir das suas generalizações, ou se ele de fato tentava se aproximar do cronista imaginado por Aristóteles que narra indiscriminadamente o que “Alcibíades fez ou sofreu”. Soares opta por descrever Tucídides como parte poeta e parte historiador (2014, p.561-565), e por fazer eco às teses que Aristóteles não reconhecia nele um historiador, mas sim um pensador político (2014, p.552- 558).
Esta indefinição, no entanto, tem implicações. Por exemplo, Soares afirma, com base em A. W. Gomme (1954), que os contrastes dramáticos de Tucídides residem nos próprios acontecimentos que “se sucedem no tempo, sem nada de relevante entre eles” (SOARES, 2014, p.492), o que faz parecer que o historiador apenas revela os acontecimentos sem precisar configurá-los narrativamente. Isto deixa em segundo plano a configuração narrativa que Ricoeur extrai da Poética de Aristóteles (“um por causa do outro” ao invés de “um depois do outro”) e faz parecer que Tucídides seguia uma sucessão natural dos eventos, e nãos os compôs e enredou numa síntese do heterogêneo. Tucídides poderia ter apresentado outros eventos menores entre a sucessão, poderia ter-se dado às digressões tipicamente herodoteanas, mas é na disposição das ações que reside o efeito dramático alcançado, que não se pode atribuir aos próprios acontecimentos sem subestimar o papel da configuração narrativa, que Soares claramente não ignora de todo, mas ao longo do texto dá mais ênfase ao seu papel ornamental e persuasivo, especialmente na sua discussão sobre o “fazer ver” o passado, sua exposição sobre os conceitos de enargeia e ekphrasis (2014, p.582-595).
Em conclusão, Soares faz justíssima representação das teses ricoeurianas e das principais discussões em torno da obra de Tucídides, mas na hora de enredá-las em conjunto na sua própria configuração narrativa, oferece ao leitor uma interpretação que, por vezes, subestima a complexidade da configuração narrativa histórica enquanto síntese do heterogêneo e ordenador do tempo humano e histórico, ao menos no que diz respeito na sua interpelação das teses ricoerianas com o texto tucideano. Esta característica não apaga o brilho das conquistas de Soares, pois o leitor da sua obra pode esperar excelente abordagem da contribuição de Ricoeur sobre história e ficção, bem como uma expedição competente aos debates em torno da obra tucideana, cuja sombra projetou-se desde as teorias positivistas e metódicas da história do séc. XIX até as teses narrativistas que agitaram o debate historiográfico no séc. XX.
Nota
2. Para um estudo de dois casos relevantes nos quais o paradigma tucidideano foi invocado em contextos geopolíticos contemporâneos ver PIRES, Francisco Murari. “O General Marshall em Princeton, Tucídides na Guerra Fria”. História da Historiografia n. 2, 2009, pp. 101-115.
Referências
GOMME, A. W. The Greek atitude to poetry and history. Berkeley: University of California Press: 1954
RICOEUR, Paul. Histoire et Vérité. Paris: Seuil, 1964 (2003).
______. Temps et Récit – Tome I. Paris: Seuil, 1983 (2005).
______. Temps et Récit – Tome II. Paris: Seuil, 1984 (2005).
______. Temps et Récit – Tome III. Paris: Seuil, 1985 (2005).
______. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil, 2009.
SOARES, Martinho T. M. História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides. Fundação Eng. António de Almeida: Porto, 2014, 638 pp.
Denis Renan Correa – Professor Adjunto II na área de História Antiga e Medieval na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e estudante de doutoramento da Universidade de Coimbra.
SOARES, Martinho T. M. História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 2014. Resenha de: CORREA, Denis Renan. História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides por Martinho Soares. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.24, p.388-393, ago., 2019.Acessar publicação original [DR]
Tempos conservadores. Estudos críticos sobre as direitas. Volume 2: Direitas no Cone Sul. | Rodrigo Jurecê Mattos Gonçalves
El libro es la segunda entrega del equipo de trabajo también denominado Tiempos conservadores, conformado principalmente por investigadores brasileños.1 Los integrantes comparten una militancia marxista lo que los llevó a emprender un trabajo conjunto a partir de los años 2015 y 2016 para analizar críticamente el ascenso de las derechas brasileñas y latinoamericanas. Los compiladores identifican un auge de lo que denominan “ola conservadora”, con acontecimientos como la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de “Lula” Da Silva y el aumento de la popularidad y aceptación entre los electores de Jair Bolsonaro, quien finalmente llegaría a la presidencia en el año 2018.
Enmarcado en el crecimiento del campo historiográfico sobre las derechas en América Latina, el segundo volumen de Tempos conservadores nace en buena medida de la preocupación por emprender un estudio crítico de las derechas, sus instituciones, proyectos, intelectuales y conexiones que permitieron su ascenso y, según declaran los compiladores, del peligro que representan como destructoras de los derechos de los trabajadores. En este tomo, se sumó la participación de investigadores de Argentina y Uruguay, cuyos aportes resultan fundamentales para mirar el fenómeno a escala regional. Si bien, el libro propone recorrer el siglo XX y la primera década del XXI para identificar a sujetos o grupos vinculados a las derechas, las investigaciones presentadas se concentran en la segunda mitad del siglo pasado. El libro se compone de ocho artículos, los cuales propongo leer a partir de tres ejes temáticos que pueden brindar al lector una guía sobre qué o quiénes son las derechas para los editores. Leia Mais
La guerre de ecrivains (1940-1953) – SAPIRO (RBHE)
SAPIRO, G. La guerre de ecrivains (1940-1953). Paris: Fayard, 1999. Resenha de: CAMPOS, N. de. La guerre des écrivains. Revista Brasileira de História da Educação, 19, 2019.
Esse livro, escrito pela socióloga francesa Gisèle Sapiro, foi publicado em 1999. Ele é decorrente de sua tese de doutorado, defendida em 1994, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (Paris), sob a orientação de Pierre Bourdieu. Essa obra tem 807 páginas, contando introdução, nove capítulos, conclusão, anexos, agradecimentos, bibliografia, índice de nomes e sumário. Ela se organiza em três partes: lógicas literárias do engajamento (primeira parte), constituída com três capítulos; instituições literárias e crise nacional (segunda parte), formada por quatro capítulos; a justiça literária (terceira parte), contendo dois capítulos. A delimitação temporal inicial tem relação com a Ocupação da França pela Alemanha e a assinatura do armistício; já o período final está associado à segunda Lei de Anistia, “[…] após o que, sem desaparecer, as questões literárias, nascidas na crise, cessam de dominar a vida literária” (Sapiro, 1999, p. 17).
A investigação dessa socióloga tem como principal preocupação “[…] por em evidência a especificidade da conduta dos escritores no contexto da Ocupação, à luz das representações e das práticas próprias dos meios literários” (Sapiro, 1999, p. 9). De acordo com ela (1999, p. 9), “[…] a questão importante é por que e como os escritores respondem a essa demanda?” Assim, sua abordagem é diferente de outros estudos que explicam o engajamento dos escritores a partir de uma perspectiva centrada na política. Nas palavras da autora (1999, p. 10), “[…] contra a tendência a dissociar essas duas dimensões, este livro entende que se esclarece uma pela outra, ao inscrevê-las em uma abordagem mais global dos ambientes literários e de seus modos de funcionamento naquela época”. Conforme Gisèle Sapiro (1999, p. 12), “[…] durante a Ocupação, o campo literário viu serem abolidas as condições que lhe asseguravam uma relativa independência, em particular a liberdade de expressão”. Os escritores, na avaliação de Sapiro (1999, p. 11), “[…] não escapam à lógica das lutas. Mas a guerra dos escritores não é o puro reflexo da guerra civil. Como todo universo profissional, o mundo literário tem seus códigos, suas preferências, suas regras do jogo e seus princípios de divisão próprios”. Diante disso, indaga essa pesquisadora (1999, p. 12): “[…] que ocorre com a autonomia literária em período de crise? Sob que forma sobrevive e que resistência se opõe às pressões externas?”.
A partir de muitos textos publicados nos jornais da França, de correspondências e entrevistas, assim como em interlocução com extensa literatura das ciências humanas, em particular da sociologia dos intelectuais e da história intelectual, a autora mostra como os escritores engajaram-se e tomaram posições políticas. Ela descreve que havia quatro tipos de lógicas sociais que coexistiam no campo literário e que induziam relações diferentes entre literatura e política. A primeira é denominada de lógica estatal, em que estavam as frações detentoras do poder econômico e do poder político. A segunda lógica coincide com o polo de grande produção, próxima do jornalismo, lugar da lógica mediática. Em seguida, aparece a lógica estética, em que estariam os escritores com forte poder simbólico. Esse grupo tende “[…] a se distanciar da política e da moral” (Sapiro, 1999, p. 13). Por fim, existiria o polo dos escritores de vanguarda, grupo formado a partir do interesse em produzir uma literatura subversiva, engajada. Essas quatro lógicas são tipos ideais. Logo, como bem destaca a socióloga (1999, p. 13), “[…] essas diferenças lógicas, inexistentes em estado puro, encarnam-se mais ou menos nas práticas e nas instituições”. Essas lógicas são associadas às quatro instituições analisadas nesse livro: Academia Francesa (lógica estatal); Academia Goncourt (lógica mediática); Nova Revista Francesa – NRF (lógica estética); Comitê Nacional dos Escritores (lógica subversiva/política).
A primeira parte tem como preocupação explicar as lógicas literárias eos engajamentos dos escritores. A parte seguinte mostra como as quatro lógicas encarnam-se nas quatro instituições estudadas (Academia Francesa, Academia Goncourt, NRF e Comitê Nacional dos Escritores). De acordo com Sapiro (1999, p. 16), “[…] dotadas de uma razão social e de uma identidade, essas quatro instâncias ilustram as lógicas estatal, mediática, estética e política”. Por fim, na terceira parte, o livro discorre sobre os efeitos da crise após o período de Ocupação, pois “[…] eles determinam largamente os modos de reestruturação do campo literário” (Sapiro, 1999, p. 17). Essa descrição é estrutural, como bem reconhece essa socióloga. Porém, essas tendências podem ser observadas nas especificidades dos diversos níveis e na encarnação das lutas onde se confrontam as diferentes concepções de literatura e as diversas compreensões do papel social do escritor.
Em termos mais precisos, a primeira parte trata do debate entre os escritores a respeito do papel social do intelectual. A partir da discussão em torno do ‘gênio francês’ e dos ‘maus mestres’, a autora reconstitui um profundo e complexo debate entre os escritores para defender diferentes posições do intelectual. Conforme assinala Sapiro (1999, p. 106, grifo do autor), “[…] é em nome do ‘gênio francês’ que são conduzidas as lutas que estruturam o campo literário na primeira metade do século XX”. Cada um desses elementos serve de pano de fundo para a socióloga mapear as posições dos mais diferentes escritores, em específico, o confronto entre a politização do campo cultural e a luta pela sua autonomia frente aos interesses da política e da moral. Ao final dessa parte, ela destaca duas trajetórias exemplares (François Mauriac e Henry Bordeaux) que “[…] ilustram a articulação entre a clivagem geracional, a oposição entre autonomia/heteronomia e as divergências ideológicas” (Sapiro, 1999, p. 207). Essas individualidades, pertencentes à Academia Francesa e com origens sociais e religiosas semelhantes, tomaram posições distintas. Mauriac tornou-se um defensor dos escritores denominados de ‘maus mestres’, situação considerada atípica ou improvável por Sapiro. De outra parte, Bordeaux promovia a campanha contra os escritores classificados de ‘maus mestres’.
A segunda parte do livro indica como esse debate inscreveu-se em cada uma das quatro instituições francesas. Ela elege um capítulo para cada instituição, trazendo riqueza de detalhes. Embora as análises estejam divididas em partes, não há abordagens isoladas de cada uma das instituições. A autora sintetiza uma tendência predominante em cada espaço, a saber, o senso do dever (Academia Francesa); o senso do escândalo (Academia Goncourt); o senso da distinção (NRF); o senso da subversão (Comitê Nacional dos Escritores). Antes de analisar cada uma dessas instituições, Sapiro sintetiza a ideia dessa parte do livro em duas páginas e meia. Ali, ela anota que busca mostrar como, no seio desses espaços literários, os escritores se confrontavam na luta pela definição da identidade da instituição e do papel que ela deveria exercer no período de crise nacional.
Desse modo, essa parte mostra como esses espaços institucionais definiram as posições individuais. Ao mesmo tempo evidencia as mudanças das instituições, particularmente a movimentação da NRF, fundada em 1909. Posteriormente, essa revista passou a aproximar-se do grupo da literatura engajada, cuja expressão contundente é a trajetória de André Gide. Apesar disso, o livro mostra a permanência da posição da Academia Francesa, muito embora trate do caso atípico de François Mauriac que aderiu à literatura subversiva. Já no início, Sapiro (1999, p. 249) afirma que, “[…] das quatro instituições que nós estudamos, a Academia Francesa é a que participa mais diretamente, por meio de seus membros, da vida política oficial”. Essa instituição, criada em 1635, agrupa as frações dominantes da classe dominante, donde se exerce o controle sobre o campo literário. Assim sendo, as lutas políticas dessa comunidade estavam associadas ao combate aos escritores que se posicionavam no polo altamente politizado, aqueles que pretendiam transformar a literatura em luta política (grupo do Comitê Nacional dos Escritores).
A Academia Goncourt, criada em 1903, expressa o modelo de senso do escândalo, pois, nascida com interesse em salvaguardar certa autonomia do campo literário e contrapondo-se ao modelo mais tradicional de literatura da Academia Francesa, logo se vê no permanente jogo entre as forças dos diferentes campos sociais. As trajetórias de seus integrantes e as premiações concedidas evidenciam forte presença de autores oriundos da imprensa francesa. Ao longo do texto, Sapiro mostra as alterações da própria instituição, especialmente nos momentos mais críticos, como a Ocupação, quando esse espaço do campo literário não deixou de pronunciar-se e tomar posição no campo intelectual. A autora identifica uma tendência dessa instituição, um tipo ideal, sem deixar de historicizar as disputas internas, os posicionamentos conflitantes entre os seus integrantes, assim como o imiscuir-se nas disputas do campo político. Ela procura demonstrar como a ideia de autonomia/heteronomia do campo literário é o mote da discussão na instituição, ganhando ares peculiares no momento crítico da história francesa dos anos de 1940.
Na sequência, Sapiro centra sua análise no movimento da NRF, criada em 1909. Embora, o recorte de sua análise seja o contexto da Ocupação alemã e o período da Liberação, sua escrita retrata a pretensão de André Gide no momento de criação dessa revista, bem como os anos seguintes à Primeira Guerra Mundial. Apesar de o senso de distinção constituir o horizonte de identidade dessa instituição, os casos exemplares de Gide (rumou à resistência literária) e Drieu La Rochelle (aderiu ao grupo colaboracionista) evidenciam como o problema da autonomia/heteronomia conformava as representações e as práticas da instituição e de seus integrantes.
Por fim, a partir da tipologia – senso de subversão -, a autora descreve e explica a ação do Comitê Nacional dos Escritores. Nesse grupo, constituído por integrantes de diversos subgrupos, encontrava-se o principal espaço de resistência literária. A partir de um conjunto de escritos, seus integrantes promoviam intervenções no âmbito da política, destacando-se seus posicionamentos de combate à literatura não engajada que era reivindicada pela Academia Francesa, pela Academia Goncourt e pela NRF. A partir dos anos de 1930, esse comitê tornou-se um espaço de congregação de grupos distintos, como, por exemplo, comunistas, católicos progressistas (François Mauriac, Jacques Maritain), confrontando-se aos valores nacionalistas que já estavam presentes no contexto do caso Dreyfus (final do século XIX), mas que ganharam ares mais dramáticos com a ascensão de Hitler e o avanço das bandeiras defendidas pela extrema-direita. Enfim, ao longo da obra, Sapiro descortina em detalhes como o comitê ofereceu “[…] aos escritores os meios de lutar com suas armas próprias, reativando a dimensão subversiva da literatura e assegurando à Resistência intelectual o seu prestígio” (Sapiro, 1999, p. 467).
Se nas primeiras partes há intensa exposição para explicar os posicionamentos das quatro instituições e mostrar ‘a guerra dos escritores’, a última retrata o período posterior a agosto de 1944, quando Paris foi libertada. A autora identifica que essa condição redundou na recomposição do campo intelectual, sobressaindo-se o problema do papel da literatura e do escritor. É sintomático daquele momento o fato de a revista Tempos Modernos ocupar o lugar da NRF, cujo mote seria a defesa da literatura engajada em oposição à literatura pura. Sapiro mostra que essa disputa inscrevia-se na concorrência entre gerações de escritores, na oposição entre moralistas e defensores da literatura pura e na clivagem ideológica esquerda e direita. Aqui está presente a disputa pelo controle do próprio campo dos escritores. O comitê é oficialmente institucionalizado, incorporando todo capital simbólico do período de Resistência na clandestinidade. Assim, esse espaço procura constituir-se como o lugar autorizado para dizer o que é a literatura e qual deve ser o papel do escritor. E, mais do que isso, dizer que ao escritor está atribuída a missão de reconstrução da própria França.
Depois da derrota da Alemanha, conforme atesta Sapiro (1999, p. 17, grifo do autor),
A noção de ‘responsabilidade do escritor’ está no coração das lutas. Saído da sombra do Comitê Nacional dos Escritores pretendia-se instaurar uma nova deontologia do ofício do escritor. Mas seu poder de excomunhão é rapidamente contestado. Abalados por divisões internas, as instâncias nascidas da Resistência se encontram confrontadas às instâncias tradicionais, entendendo que devem reencontrar seus lugares e tomar parte na reconstrução nacional.
Porém, como bem mostra esse livro, as primeiras fissuras internas desse comitê ocorreram entre comunistas e não comunistas. Além disso, as divisões internas foram demarcadas por outras divergências, como, por exemplo: entre membros oriundos da zona Norte (região ocupada pela Alemanha) e zona Sul (região ‘livre’, governada por Pétain); entre antigos e novos integrantes; a controversa ‘lista negra’ – publicação dos nomes dos escritores apoiadores da Ocupação e do regime Vichy. Ao final dessa parte, a narrativa mostra como as instituições literárias se reconfiguraram no novo momento da França, em particular, no contexto de reconstrução nacional. Ou seja, como se estabeleceram as disputas entre Academia Francesa, Academia Goncourt e Comitê dos Escritores para definir o papel social da literatura e do escritor, sem deixar de indicar as clivagens internas, em específico, do comitê. Embora o recorte final da obra seja 1953, Sapiro não deixa de indicar que os efeitos dos debates da Ocupação e da Liberação ganharam sentidos diferenciados no contexto da Guerra Fria, reinserindo o problema da posição do escritor e das instituições literárias no âmbito das questões políticas, isto é, reapareceria o problema da autonomia/heteronomia do campo cultural.
Por fim, é importante ressaltar que esta síntese apresenta a ideia geral da obra e os elementos centrais de cada parte. Esse livro que se inscreve no âmbito da sociologia dos Intelectuais é fecundo ao campo de pesquisa das ciências humanas. Ademais, merecem destaque as possibilidades de diálogo com áreas mais específicas, particularmente, com a história intelectual. O campo intelectual (sociologia dos Intelectuais) é um dos temas principais de Giséle Sapiro que já tem algumas produções traduzidas e publicadas no Brasil. O problema dos intelectuais ou do campo intelectual é objeto bastante revisitado, nos últimos anos, por diversos pesquisadores brasileiros. Assim, espera-se que esta resenha tenha sintetizado o conjunto das principais ideias dessa obra de fôlego e estimulado o leitor a acessá-la, pois ela poderá ser bastante útil para ampliar os horizontes de pesquisa nas ciências humanas, especificamente, na história intelectual e história dos Intelectuais.
Referências
Sapiro, G. (1999). La guerre des écrivains (1940-1953). Paris, FR: Fayard.
Névio de Campos – Pós-doutorando (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris); Pós-doutor em História (UFPR); Doutor em Educação (UFPR); Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Pesquisador Produtividade CNPq. E-mail: ndoutorado@yahoo.com.br
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito / Marco Morel
Fruto de mais de quinze anos de pesquisa, o novo livro de Marco Morel busca tratar das repercussões da Revolução do Haiti no Império do Brasil. Com as lentes voltadas aos setores livres, e não aos escravizados da sociedade brasileira, Morel demonstra aos leitores que em pleno Brasil escravista também floresceram visões positivas ou, ao menos, não completamente negativas acerca dos eventos ocorridos na antiga colônia francesa. Para tanto, o historiador postula a existência de um “modelo de repercussões não hostis”, composto de quatro elementos: “soberania nacional”, “soberania popular”, “antirracismo” e “crítica à escravidão”.
O estudo cobre o intervalo de 1791 a 1840, dividido em dois momentos. O primeiro inicia-se em 1791, isto é, com o começo da revolução escrava em Saint-Domingue, e finaliza-se em 1825, ano considerado por Morel como o marco final do processo revolucionário, pois foi quando a França reconheceu a independência do Haiti. Já o segundo percorre o intervalo c.1800-c.1840 e refere-se especificamente à formação e consolidação do Estado nacional brasileiro. No que diz respeito às fontes, o autor valeu-se de uma gama variada: documentação oficial, folhetos, periódicos e livros brasileiros, franceses e haitianos escritos e publicados coetaneamente ao período analisado.
O livro é dividido em três partes bem delimitadas. Na primeira, o historiador traça um balanço dos eventos que tomaram a ilha de São Domingos em 1791, destaca os principais personagens e suas ações, mas igualmente os conflitos internos entre os revolucionários, oferecendo ainda um levantamento resumido das cinco primeiras constituições haitianas (elaboradas entre 1801 e 1816) que, apesar de suas diferenças, tinham em comum o “repúdio à escravidão […] a defesa da propriedade e da agricultura”. O enorme esforço de síntese dessa parte originou-se da preocupação específica em situar o leitor não especializado no tema, fornecendo-lhe as balizas referenciais para a compreensão do restante do livro, onde, efetivamente, cumpre-se o objetivo anunciado da obra.
Na segunda parte, “Entre batinas e revoluções”, Marco Morel apresenta então as reflexões de Raynal, Grégoire e De Pradt, três abades franceses, que viveram a Revolução em seu país e acompanharam cuidadosamente os eventos em São Domingos. Antes mesmo da insurreição dos escravos, Raynal sugeriu que um Spartacus negro poderia levantar-se na massa dos escravizados (Toussaint L’Ouverture, um dos líderes icônicos da Revolução do Haiti, chegou a declarar que era essa personagem). Gregóire, o mais radical entre eles, figura atuante na Revolução Francesa, apoiou abertamente o movimento dos cativos e reconheceu publicamente a independência do Haiti antes mesmo do Estado francês. Para o último, se a escravidão fosse a termo, o processo não deveria ser controlado pelos escravos. As ações que culminaram na criação do Haiti foram vistas por De Pradt como um “não-exemplo”. Não à toa ele foi o mais conhecido entre os historiadores do Brasil oitocentista. Embora houvesse diferenças marcantes entre eles, o que os ligava era tanto a percepção de que a escravidão “caminhava inexoravelmente para a extinção” quanto o fato de participarem “da fundação de linhas interpretativas” sobre a Revolução do Haiti. Suas formulações chegaram aos mais diversos quadrantes, pois “havia um campo político e intelectual com áreas de interseção de ambos os lados do Atlântico”, que contribuiu para que alguns clérigos brasileiros concebessem interpretações sobre os eventos haitianos.
O relacionamento das “experiências históricas tão disparares como a unitária monarquia escravista brasileira e a república construída por ex-escravos” efetiva-se no campo da história das ideias. Ao analisar as manifestações de cinco clérigos brasileiros, elaboradas nas três primeiras décadas dos oitocentos, Morel constatou notável semelhança entre elas e os trabalhos de Grégoire, isto é, havia a condenação da escravidão e o apoio à revolução escrava em curso, na medida em que ela destruía a dominação senhorial. Os religiosos também se posicionavam contra as diferenciações raciais que a instituição originava; no entanto, não se perfilhavam ao abolicionismo ou muito menos à violência da prática revolucionária cativa tal como ocorreu em Saint-Domingue. No “modelo de repercussões”, claro está, esse grupo manifestou a crítica da escravidão e o sentimento antirracista. Entre os casos, vale citar o do monsenhor Miranda, sem dúvida, o mais emblemático. O clérigo manteve correspondências tanto com De Pradt como com Grégoire. Em 1816, Grégoire chegou a enviar a Miranda, por intermédio de Joachim Le Breton, chefe da Missão Artística Francesa, livros de sua autoria que continham claro apoio à Revolução Haitiana e recebeu na França publicações do monsenhor Miranda. Essa troca de cartas, nas palavras de Morel, demonstrava que “os caminhos da Revolução do Haiti no Brasil poderiam ser intermediados, sinuosos e surpreendentes”.
É na terceira parte do livro que o historiador apresenta as demais faces do “modelo de repercussões” dos eventos de Saint-Domingue em terras brasileiras. A Revolução do Haiti, ao conquistar a segunda independência do jugo colonial na América, foi valorizada enquanto exemplo de soberania nacional. Por esta razão, chegou a aparecer como recurso discursivo nas falas dos deputados brasileiros tanto nas Cortes de Lisboa (1821-1822) quanto nas primeiras legislaturas nacionais. Na mesma senda, a experiência da independência haitiana foi louvada nas páginas do Correio Braziliense, da Gazeta do Rio de Janeiro e do Reverbero Constitucional Fluminense, periódicos de orientações políticas diversas. Se a independência era elogiada, consoante ao momento político de separação com Portugal que o Brasil vivia, a abolição da escravidão não recebia a mesma apreciação dos contemporâneos e, na maior parte das vezes, sequer era discutida.
Esse ímpeto coube a uma figura pouco conhecida na historiografia: Emiliano Mundurucu, pardo, republicano, antiescravista e comandante do Batalhão dos Pardos. A ele é atribuída a autoria das quadras cantadas nas ruas de Recife, em 22 de junho de 1824, que evocavam a figura de um heroico Henri Christophe e conclamava a população na defesa da Confederação do Equador e na luta contra o branco opressor. A tentativa de levante, que previa a participação dos setores subalternos não-escravizados, malogrou, mas representou, segundo Morel, uma genuína repercussão do caráter da soberania popular presente entre os rebeldes de São Domingos.
Assim concebido e estruturado, é possível afirmar que o livro foge às linhas gerais da historiografia sobre o tema, que, ao tratar das repercussões do fim da escravidão e da formação do Haiti independente no Império do Brasil, sempre salientou o receio contemporâneo a respeito do haitianismo, isto é, de que uma ação escrava tão intensa quanto aquela ocorrida no Caribe francês se reproduzisse nos trópicos. [2] O trabalho de Marco Morel, portanto, inova e avança consideravelmente na compreensão do objeto, demonstrando a sua complexidade. Assim, “o que não deve ser dito”, subtítulo do livro, é aquilo que foi historicamente silenciado na sociedade brasileira. [3]
No entanto, nesse caso em específico, para que se possa adequadamente compreender o não dito é necessário atentar ao seu inter-relacionamento com as forças políticas, sociais e econômicas que construíram o Estado imperial brasileiro. O enorme esforço em lançar luz sobre as percepções positivas acerca dos eventos haitianos fez com que o autor deixasse na obscuridade as condições materiais mais amplas nas quais essas percepções erigiram-se. O Estado brasileiro formou-se na primeira metade do século XIX em inter-relação estreita com os interesses agrário-escravistas que, notadamente no Centro-Sul do Império, a partir dos complexos cafeicultores com ampla utilização do braço escravo, agigantaram-se em importância justamente devido ao vácuo produtivo aberto no mercado mundial de café na esteira da ação dos escravos de Saint-Domingue. [4] A par dessas condições materiais que ligaram Brasil e Haiti no alvorecer do século XIX, é possível compreender os motivos pelos quais as visões positivas sobre a Revolução Haitiana, mesmo aquelas que evocavam a soberania nacional, terem sido elididas na história e, posteriormente, na historiografia: assimilá-las organicamente poderia implicar na contestação sistêmica ou mesmo na erosão da ordem escravista que começava a se fundar em bases nacionais.
Notas
- Veja-se, dentre outros: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; SOARES, Carlos Eugênio; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil e escravista: outras margens do Atlântico negro. Novos Estudos, n. 63, p.131-144, 2002; MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817: estruturas e argumentos. São Paulo: Perspectiva, 1972. O haitianismo também foi utilizado como recurso retórico nos debates travados na imprensa brasileira entre os grupos políticos adversários nos anos da Regência. Cf. EL YOUSSEF, Alain. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios, 2016, p.144-150 e p.173-177.
- Nesse sentido, valem as reflexões de Michel-Rolph Trouillot, uma inspiração imediata para o livro de Morel: An Unthinkable History: The Haitian Revolution as a Non-event. In: TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing the Past: power and the production of history. Boston: Beacon Press, 1995. p.70-107.
- Sobre a mútua formação do Estado nacional brasileiro e da classe senhorial escravista: MATOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema: formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1987. Sobre as possibilidades abertas no mercado mundial do café em virtude da revolução dos escravos: MARQUESE, Rafael; TOMICH, Dale. O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial, v. 2: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.339-383. Nos anos subsequentes (1823-1839) o volume da produção cafeeira do Brasil era tamanho que foi capaz de criar uma baixa internacional nos preços da rubiácea, popularizando em demasia seu consumo, sobretudo no mercado norte-americano, de longe, o principal comprador do café brasileiro. Cf. PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1781-1846. 2015. Tese (Doutorado em História Social)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 323-327.
Bruno da Fonseca Miranda – Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, SP, Brasil. bruno.fonseca.miranda@gmail.com.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.Resenha de: MIRANDA, Bruno da Fonseca. Os ecos elididos da Revolução do Haiti no Brasil. Outros Tempos, São Luís, v.16, n.27, p.358-361, 2019. Acessar publicação original. [IF].
A Ilustração (1884-1892): Circulação de Textos e Imagens entre Paris, Lisboa e Rio De Janeiro | Tania Regina de Luca
A Nova História Cultural tem proposto abordagens com foco na mediação e nas trocas culturais e simbólicas, ocorridas desde o século XVI até os dias atuais, entre a Europa e o continente americano, sobretudo na região do cone sul. Neste sentido está a obra A Ilustração (1884-1892): circulação de textos e imagens, entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro que expõe a intensa relação estabelecida entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro a partir do entendimento da difusão cultural cujo polo irradiador era a França, país mundialmente conhecido por manter refinados modos, costumes e progressos técnicos. O objetivo do livro é analisar sistematicamente o periódico e demonstrar a lógica da circulação através do Atlântico, além dos projetos culturais e políticos que envolveram a revista e seu principal responsável, Mariano Pina (1860-1899).
O estudo da publicação esteve circunscrito num projeto maior de pesquisa, intitulado “Circulação Transatlântica dos Impressos – a globalização da cultura no século XIX”, coordenado por Jean-Yves Mollier (Université Saint-Quentin Yvelines) e por Márcia Abreu (UNICAMP), com objetivo em investigar impressos que circularam entre Inglaterra, França, Portugal e Brasil no período de 1789 a 1914, recorte inspirado no clássico livro de Eric Hobsbawm (1917-2012), A Era dos Impérios (Editora Paz e Terra, 2012). O livro de Tania Regina de Luca (Unesp – Câmpus de Assis) abordou o periódico a partir da perspectiva de fonte e objeto, ou seja, as análises são realizadas levando em conta o aspecto diacrônico, que assenta o periódico na ótica da história da imprensa, e sincrônico, extraindo evidências e diálogos entre os agentes dos impressos e as publicações contemporâneas. Ademais, a mobilização de A Ilustração contribuiu ricamente para demonstrar novo e instigante modo de manuseio das fontes periódicas: ambos os eixos puderam ser vistos sob o ponto de vista transnacional, de forma a demonstrar como a revista estabeleceu relações culturais e econômicas com outras publicações do Brasil e de países europeus, ponto, aliás, destacado por Márcia Abreu no prefácio. Leia Mais
A Sociedade dos Amigos dos Negros: a Revolução Francesa e a Escravidão (1788-1802) | Laurent de Saez
A obra “A Sociedade dos Amigos dos Negros”, escrita pelo historiador Laurent de Saes, traz o debate sobre a escravidão nas relações entre a França do período revolucionário e as colônias francesas da América, sobretudo, de Saint Domingue. Dentro dessa limitação espaço-tempo, o autor apresenta a primeira sociedade antiescravista francesa, designada como a Sociedade dos Amigos dos Negros, como um grupo criado e liderado, incialmente, por Jacques-Pierre Brissot de Warville, Étienne Claviére e Mirabeau e, posteriormente, com a adesão de outros ativistas, na França, em 1788, que realizava uma campanha em favor do abolicionismo e uma transformação gradual do sistema colonial, sob os auspícios da nova ordem, jurídica e ideológica, do período pós Revolução Francesa.
O livro traz um panorama da escravidão e suas contradições internas, dentro da relação metrópole-colônias, mostrando o impacto da Revolução Francesa e de seus ideais sobre a questão do abolicionismo e da relação entre metrópole-colônia. A defesa da liberdade, igualdade e fraternidade, princípios revolucionários liberais, foram incapazes de levar a abolição às colônias, ao contrário, por conta disso, fomentaram lutas de classe e revoltas violentas de escravos, ansiosos por independência e a emancipação. Para tanto, o estudo é estruturado em 03 (três) partes, compreendendo o período de 1788 a 1802, lapso temporal a partir da fundação da Sociedade dos Amigos dos Negros, passando pelo abolicionismo, pelas revoltas coloniais, até o restabelecimento da escravidão.
A primeira parte, intitulada “A revolução francesa diante da escravidão negra”, aborda as bases do pensamento da Sociedade dos Amigos dos Negros que defendia a tese, em seu programa inicial, da abolição do tráfico negreiro, a abolição gradual da escravidão, melhora das formas de tratamento dados aos escravos e um novo projeto colonial. Destaca-se o entendimento à época que a emancipação gradual da mão-de-obra escrava e inserção dos negros no sistema de trabalho assalariado seriam benéficos, tanto aos próprios escravos, em face da liberdade a ser obtida e melhores condições de vida, quanto aos próprios comerciantes coloniais e plantadores que obteriam uma maior produtividade e qualidade superior do trabalho. Os ideais da Revolução Francesa foram a base jurídica para argumentação abolicionista, contudo, a extensão de seus efeitos às colônias e os colonos e comerciantes franceses mostram-se barreiras de difícil transposição, visto que o sistema colonial do comércio e das plantations ainda eram consideradas as bases da economia.
A segunda parte do livro descreve como ocorreu a abolição da escravatura nas colônias francesas e seus principais fatores, favorecidas, principalmente, pela insurreição escrava nas colônias. A ascensão do abolicionismo radial, nascido a partir do levante em Saint Domingue, se inspirava no movimento da metrópole pela liberdade e igualdade, num mesmo momento que havia uma retomada da guerra entre França e Grã-Bretanha (1793), inclusive com a invasão inglesa das ilhas do caribe. Dentro desse contexto, a França foi pressionada a abolição da escravidão, sob o risco de perda das colônias.
A terceira e última parte nada mais traz do que a reação política ao movimento abolicionista, restabelecendo, paulatinamente, ao status quo. A ascensão do regime Consular, guiado por Napoleão Bonaparte, pautado pelos interesses da burguesia mercantil, trouxe uma política restauracionista e expansionista das relações coloniais, por conseguinte, o movimento abolicionista não conseguiu superar a forte atuação dos interesses do Estado nacional, na defesa dos seus interesses políticos e comerciais, culminado, inclusive, criando uma ordem constitucional segregada, em face a extinção do princípio da assimilação (1799).
Dentro desse arquétipo, pode-se notar que a obra foi desenvolvida a partir da concepção do materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, uma vez que o autor traz, à fundamentação para sua tese, diversos documentos, manuscritos e impressos, a fim de consolidar e embasar o seu modo de pensar. Sendo assim, o texto se desenrola dentro de um processo progressivo e histórico, em que os conflitos de classe e as contradições internas se mostram latentes e no entro do debate. Trazemos, à questão que muito bem alicerça a adoção dessa opção metodológica, o paradoxo que era a tentativa de abolição da escravatura, sem, contudo, defender o fim modo de produção colonial como base da economia1. Ao contrário, a França, no período revolucionário ainda era pouco industrializada e extremamente dependente do modelo colonial. Inobstante isso, as contradições de classes também se faziam presentes, visto que, embora silenciada no período consular, a elite abolicionista e os movimentos populares e antiescravistas não deixaram de fomentar o embate interno contra a elite aristocrática e da burguesia mercantil, tanto que desaguaram nas Revoluções de 1830 e 1848 [2].
Nota-se que o autor apresenta causas múltiplas para esses acontecimentos, desde as contradições inerentes entre classes sociais, construídas dentro de um modelo das relações da escravidão e do pacto colonial, até as revoltas violentas dos escravos, o surgimento de um movimento, de cunho popular e abolicionista, na metrópole e as guerras revolucionárias. Portanto, devemos destacar as contradições mostram-se um tema fulcral ao debate, uma vez que a liberdade, um dos pilares da Constituição francesa, não atingiu as colônias, nos mesmos termos. A Constituição francesa declarou a abolição da escravatura, extensível às colônias [3], contudo, não foi aplicado, no ímpeto de impor ordem e controle colonial pela metrópole até que houve a reformulação do sistema, adotando uma dualidade constitucional [4]. Os grilhões do modo colonial impediam a liberdade do trabalho nas plantations, sob o argumento que impunha risco de fuga e escassez da mão de obra. Para equacionar o problema, adotou-se um regime híbrido que unia o trabalho compulsório e assalariado [5], mas não foi suficiente, tendo que chegar ao ápice a restauração da escravidão. Conforme podemos observar nos casos suscitados, à guisa de exemplos, os conflitos de classes e o modo de produção são características intrínsecas a obra e que impactam diretamente sobre a escravidão.
As discussões postas no estudo partem de uma extensa bibliografia francesa que rompia o silêncio da Revolução Haitiana, no período de descolonização no pós II Guerra Mundial. Cabe destacar que o debate historiográfico que emerge a obra do autor Laurent de Saes está situado na questão da continuidade ou não da escravidão do período revolucionário. Trazendo as ideias de Seymor Drescher [6], que defende que há uma temporalidade única e linear, ainda que separados em dois ciclos distintos, da escravidão no século XIX, tal qual o autor descreve na obra em questão. Portanto, nos dois grandes períodos abolicionistas seriam considerados como uma unidade histórica, dentro de “um mesmo processo histórico de aproximadamente cem anos” [7].
A outra interpretação sobre a escravidão, trazemos o autor Dale Tomich [8] para contrapor a visão acima exposta. Esse autor defende que há uma descontinuidade espaço-tempo entre o escravismo colonial e a escravidão do século XIX. Foi no período revolucionário, compreendido entre 1790 a 1820 que foram criadas as diversas condições para inaugurar a segunda escravidão, integrada ao desenvolvimento do capitalismo industrial e do mercado [9], uma vez que os espaços colônias ainda não estariam integrados plenamente na econômica capitalista mundial. Portanto, as revoluções europeias do longo século XIX significaram uma aceleração, tanto do tempo quanto do espaço, que permitiram modelar a escravidão, a partir da massificação de novos padrões de consumo e da mecanização do processo industrial, impostos pela Revolução Industrial.
Merece o devido comentário acerca de outro debate historiográfico em que as análises estruturais, mais amplas, foram deixadas de lado ao longo do tempo. Os estudos sobre a escravidão passaram o seu foco de investigações para casos mais circunstanciais, sob a visão dos subalternos. Embora não tenha sido totalmente abandonada a visão mais angular, foi somente na primeira década do século XXI que apareceram estudos mais alargados, seja através das diversificação dos países, das heterogeneidades culturais e eventuais conexões com o sistema-mundo, ainda que para estudar de forma comparativa as colônias unidas por um sistema de exploração colonial, mas separadas por um oceano [10].
A partir dessa percepção historiográfica, utilizando para tanto o pensamento de Eric Wiliams [11], que estabelece a conexão da escravidão com o colonialismo e com a Revolução Industrial. A partir desse enlace, o referido autor defende a tese que o escravismo caribenho como fomentador do acumulo de capital inglês e como este ultimo contribuiu para a extinção do escravismo, a partir da Revolução Industrial. Nota-se, portanto, que o papel da Inglaterra para o escravismo foi de suma importância, principalmente no mundo atlântico.
Partindo da premissa acima da importância do papel da Inglaterra na história da escravidão e do olhar mais abrangente da história da escravidão, devemos trazer a crítica à obra, o porquê o autor não trouxe o tema ao debate, uma vez que ele cita, por exemplo, que a sociedade dos Amigos dos Negros foi apresentada como uma filial da sociedade abolicionista inglesa [12], cita, também, o papel da Inglaterra nas Guerras Revolucionárias [13] e a ocupação britânica de ilhas caribenhas Guadalupe e Martinica) [14], sem, contudo, citar os efeitos da Revolução Industrial na França e as Colônias. Se pensarmos o objetivo da obra como o estudo sobre a escravidão nas relações entre a França do período revolucionário e as colônias da América, sobretudo, de Saint Domingue, ficaria difícil de não estabelecer elos mais aprofundados com a Inglaterra, quando o assunto fosse a escravidão.
Portanto, a obra “A Sociedade dos Amigos dos Negros” muito bem atinge o seu objetivo, permitindo analisar a escravidão dentro de uma relação dialética, mais abrangente e algumas das vezes contraditória, entre a França e as Colônias, sobretudo, Saint Domingue. O período, a partir da Revolução Francesa até o período consular, restou caracterizado pela atuação moderada da organização abolicionista, por meio de uma abolição do tráfico de escravos e da abolição de forma moderada, a permitir a absorção da mão de obra negra no mercado livre de trabalho, sem, contudo, romper com o sistema colonial. Todavia, ao deixar de analisar o papel da Inglaterra, dentro da percepção mais abrangente do autor, peca, visto que ele mesmo ressalta a participação inglesa na escravidão e nas relações, ainda que conflituosa, com a França e suas colônias.
Notas
1. SAES, Laurent de. A Sociedade dos Amigos dos Negros: a revolução francesa e a escravidão (1788-1802). Curitiba: Prismas, 2016, p.681.
2. Ibidem, p.684/688.
3. Ibidem, p.461.
4. Ibidem, p.542.
5. Ibidem, p.513.
6. DRESCHER, Seymour. Abolition: A History of Slavery and Antislavery. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
7. YOUSSEF, Alain El. Nem só de flores, votos e balas: abolicionismo, economia global e tempo histórico no Império do Brasil. Almanack no.13, Guarulhos May/Aug. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S2236-46332016000200205 , acessado 04-12-17.
8. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011.
9. SALLES, Ricardo. A segunda escravidão. Revista Tempo (Niterói, online). Vol. 19, n. 35. p. 249-254, jul-dez., 2013.
10. SECRETO, María Veronica. Novas perspectivas na história da escravidão. Revista Tempo (Niterói, online). Vol. 22 n. 41. p.442-450, set-dez., 2016.
11. WILLIAMS, Eric. Capitalismo e Escravidão. Rio de Janeiro: Americana, 1975.
12. SAES, op. cit., p.85 e 87.
13. Ibidem, p.649,655.
14. Ibidem, p.502.
Marcus Castro Nunes Maia – Aluno de graduação – História (UFF). E-mail: marcuscnmaia@gmail.com
SAEZ, Laurent de. A Sociedade dos Amigos dos Negros: a Revolução Francesa e a Escravidão (1788-1802). Curitiba: Prismas, 2016. Resenha de: MAIA, Marcus Castro Nunes. A escravidão no Império Francês no período Revolucionário. Cantareira. Niterói, n.29, p. 282- 285, jul./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Como era fabuloso o meu francês! Imagens e imaginários da França no Brasil (séculos XIX-XXI) | Anaïs Fléchet, Olivier Compagnon, Silvia Capanema P. Almeida
O Ano da França no Brasil, comemorado em 2009, para além de extensa programação no campo cultural, também inspirou a realização de uma série de eventos acadêmicos, que continuam a dar frutos. Sob a chancela da Editora 7 Letras e da Fundação Casa de Rui Barbosa veio a público em 2017 obra coletiva resultante de colóquio organizado naquele profícuo ano, que reuniu um rol diversificado de especialistas em torno das relações franco-brasileiras.
Abre o volume alentada introdução dos organizadores, que coloca em questão as visões eurocêntricas que fazem do Brasil um receptor, a um tempo passivo e fascinado, de valores e hábitos franceses, tomados como modelo de civilização. Os autores evidenciam que, pelo menos desde meados do século passado, não faltam exemplos de trabalhos a matizar essa leitura, a exemplo dos escritos de Roger Bastide, que já insistia nas trocas bilaterais. Em sintonia com a historiografia contemporânea, que tem evidenciado a força heurística das noções de transferências culturais, histórias conectadas, mestiçagem e história global, o que se propõe é ir além do comparatismo tradicional, que elege um padrão ideal para avaliar o outro, e das noções de centro e periferia, tarefa desafiadora e que se coloca na contra mão de visões cristalizadas e arraigadas no imaginário social e também na produção acadêmica, razão pela qual ainda continuam a se insinuar mesmo entre especialistas.
Seguem-se quinze capítulos, divididos em quatro partes. A primeira delas, “Civilização e barbárie”, traz contribuições de Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, Ingrid Hötte Ambrogi, Silvia Capanema P. de Almeida e Olivier Compagnon, que problematizam o dualismo enunciado no título a partir de diferentes situações históricas. Assim contemplam-se, respectivamente, as representações – bastante negativas, é bom sublinhar, – difundidas no início do oitocentos no Império português a respeito de Napoleão Bonaparte, quando a Família Real estava instalada no Rio de Janeiro; o ideal perseguido pelos estabelecimentos escolares da Primeira República, claramente calcados em modelos vigentes na França; as caricaturas publicadas a respeito da 1ª Guerra Mundial na Careta, com particular destaque para as que tematizavam a França e, ainda, o posicionamento, nem sempre uníssono, das nossas elites em relação aos contendores, bem como o impacto do conflito e seus desdobramentos nas relações entre os dois países. Trata-se, portanto, de diferentes momentos e contextos a atestar a diversidade de percepções em relação à imagem da França no Brasil, cuja centralidade, tão marcada no decorrer do século XIX, sofreu abalos significativos com a Grande Guerra, aspecto evidenciado por Almeida e Compagnon.
Questões de ordem estética e artística são contempladas nos quatro textos que compõem a segunda parte, “França, mãe das artes”. A produção de Nicolas-Antoine Taunay e Jean Baptiste Debret, que integraram a chamada “missão” francesa de 1816, denominação já relativizada pela rigorosa contextualização das circunstancias que trouxeram ao Rio de Janeiro um grupo de artistas comprometidos com a recém deposta ordem napoleônica, foram abordadas por Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Pires Lima. As contingências políticas, que fizeram da corte lusitana um refúgio seguro que oferecia, pelo menos em tese, várias oportunidades de trabalho, não significou o abandono das relações com a pátria distante, sobretudo em vista das dificuldades enfrentadas no Rio de Janeiro. Se a conjuntura no Hexágono era cuidadosamente acompanhada, tendo em vista o retorno ao solo europeu, a passagem pelos trópicos deixou marcas profundas na produção pictórica, como bem exemplifica a análise dos quadros de Taunay e sua recepção pela crítica francesa, pouco sensível às cores e aos tons da natureza brasileira, o que acaba por colocá-lo num entre lugar – francês no Brasil, estrangeiro em sua terra natal. Já a análise do pano de boca confeccionado por Debret para a coroação de D. Pedro I, que expressava uma certa concepção da jovem nação, sua composição social e futuro projetado, em sintonia com as necessidades e expectativas do poder, adquire outros sentidos quando remetido à posição que ocupou no interior da Viagem pitoresca e histórica no Brasil, às circunstâncias que possibilitaram a publicação da obra entre 1834 e 1839 e às condições reinantes no cenário político francês. Em ambos os casos, trata-se de vias de mão dupla, que problematizam a apreensão ancorada nas ideias de influência e recepção passiva.
Os dilemas em torno das relações nacional e estrangeiro estão presentes nas contribuições de Marize Malta e Maria Luiza Luz Távora. A primeira diz respeito à decoração das residências nos anos 1920, discutida a partir da publicidade estampada na Revista da Semana e A Casa. Em debate os estilos de mobiliário: art-déco, neocolonial e modernismo, com suas linhas simples. Mais do que a opção por um modelo, o que Malta evidencia é o processo de hibridismo, a mistura entre estilos e a apropriação criativa, com a utilização de motivos nacionais, entre eles os marajoaras. Já a discussão suscitada pela presença do artista franco-alemão Johnny Friedlaender no curso inaugural do ateliê de gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1959 torna patente as resistências frente às experimentações e propostas estéticas diversas das imperantes no cenário artístico nacional, o que atesta, ainda uma vez, a tensa e complexa relação com as inovações que aqui aportavam, sobretudo numa conjuntura marcada por exacerbado nacionalismo.
A terceira parte, “Grandeza e decadência da mulher francesa”, é composta por três textos que tratam da imagem e do imaginário sobre o feminino, num arco temporal que vai de meados do século XIX às décadas iniciais do século XX, quando a presença da mulher no espaço público começava a alterar e mesmo suberventer a ordem estabelecida e papéis sociais consagrados. As pesquisas de Monica Pimenta Velloso e Lená Medeiros de Menzes privilegiam a figura da cocotte que, a exemplo da modista do início do Império, desfrutava de reputação duvidosa, o que não impedia que fosse objeto de irresistível curiosidade e atração, como bem demonstram as autoras. Velloso explora as ambiguidades do olhar francês sobre o Brasil, a partir de refinada análise do humor “debochado, caricato e anarquiante”, para retomar os seus termos, da revista Ba-ta-clan, que afrontava a sensibilidade e o orgulho locais. Contudo, esse material também permite desvelar valores, desejos e expectativas dos franceses radicados no Rio de Janeiro, num entrecruzamento ambiguo e nem sempre fácil de ser apreendido. Lená Medeiros, por seu turno, exemplifica o périplo transatlântico cumprido por algumas francesas que, contrariamente às suas expectativas e esperanças, enfrentaram uma realidade bem pouco glamourosa. A natureza calidoscópica da questão, diligentemente pontuada no texto, evidencia-se pelo recurso às colunas da Ba-ta-clan, que permitem avaliar o impacto do comportamento transgressor dessas mulheres, que alimentavam a percepção acerca dessas francesas atrevidas, duramente combatidas pelso guardiões da ordem. Fecha o conjunto a contribuição de Cláudia Oliveira, que retoma as representações de Salomé, tematizada na pintura, no teatro, nas revistas ilustradas, com fortes doses de sensualidade. Novamente o que se destaca é a ambivalência diante das mudanças provocadas pela modernidade, num ambiente marcado por significativas transformações na sociabilidade e cotidiano urbanos. Merece particular destaque a análise sensível da Salomé de J. Carlos, publicada em 1927 na revista Para Todos.
Sob a rubrica “O espelho do outro” estão reunidos outros quatro textos que retomam as relações interculturais franco-brasileiras, o primeiro deles a partir da temática da religiosidade e seu surpreendente sincretismo e interconexões, que remetem tanto para a presença de São Luís e outros personagens do ciclo de Carlos Magno nos nossos terreiros quanto à conversão de Pierre Verger, como revela Monique Augras ao explorar as trajetórias e transfigurações desses seres “encantados”. Intercâmbios que também se expressam em periódicos, livros e bibliotecas e na presença de tipógrafos, editores, livreiros, gravadores e litógrafos franceses, que desempenharam papel relevante na difusão da cultura letrada e na ampliação do espaço público, como bem pontua Tania Bessone, que não deixa de assinalar, em sintonia com outras colaborações, o esmaecer dessa presença a partir das primeiras décadas do século XX.
A importância estratégica, para as elites imperiais, de contar com uma percepção positiva a respeito do Brasil na França é discutida por Sébastien Rozeaux. Se, graças à intervenção de Ferdinand Denis e Saint Hilaire, esta expectativa pode ser atendida, a situação alterou-se frente aos relatos bastante ácidos publicados nos anos 1830 na prestigiosa Revue des Deux Mondes. O estudo da reação de indivíduos do calibre de Araújo Porto-Alegre e outras figuras de proa do nosso cenário intelectual permite evidenciar quais eram os anseios da geração romântica, que tomou a si a tarefa de construir uma nação civilizada nos trópicos e de elaborar um discurso autônomo sobre a mesma. O autor explora a sensação de traição e o choque ocasionado pela difusão de percepções pouco confortáveis, fosse a respeito dos vícios sociais, da mestiçagem ou da incomoda questão da escravidão, que maculavam uma imagem pacientemente urdida. Daí o empenho para, se não reparar, pelo menos atenuar as apreensões pouco abonadoras a partir de estratégias discursivas bem diversas: a agressividade e a ironia para o público interno, o tom bem mais conciliador e cauteloso quando o destinatário era o leitor francês. Os estereótipos nacionais figuram em outro registro na colaboração de Anaïs Fléchet, que investiga a maneira como as cidades de Paris e do Rio de Janeiro foram figuradas nas canções populares ao longo do século XX. Mais do que distanciamento, predominam os paralelismo, uma vez que ambas são referidas como lugares distantes, que ativam a imaginação e remetem às aventuras amorosas, compondo uma “geografia musical do imaginário”, na bela definição da autora. Não faltaram referências às mulheres de ambos os lados do Atlântico, descritas em consonância com modelos de há muito em circulação: refinamento/sedução/prostituição, do lado francês, jovem/disponível/ despudorada, no que concerne à brasileira, num quadro de imagens cruzadas – e não raro sobrepostas – que convida a refletir sobre a circularidade das trocas.
A título de conclusão, conta-se com o texto de Robert Frank, que assume o desafio de abordar as relações internacionais em suas dimensões culturais. Para tanto, o autor passa em revista as contribuições de Pierre Renouvin e Jean-Baptiste Duroselle a respeito do significado das mentalidades para a elaboração e difusão de nacionalismos e na relação entre países. À detalhada reconstrução do arsenal analítico proposto, segue-se sua relativização à luz das mudanças introduzidas pelo cultural turn dos anos 1980, que consagrou interpretações ancoradas nas noções de representação, imaginário e identidade.
O rápido deambular por entre os vários capítulos, se não contempla todas as questões abordadas em cada uma das contribuições, é suficiente para evidenciar a importância das mesmas para a temática, que tem recebido atenção significativa nos últimos anos. Cabe ressaltar que as partes acima referidas não devem ser tomadas como conjuntos estanques. De fato, os textos convidam a imaginar outros arranjos e articulações possíveis. Assim, a título de exemplo, Napoleão e os imigrados que deixaram a França após a queda do Imperador são personagens retomados em vários capítulos, tanto quanto o declínio da presença francesa, as referências ao imaginário sobre as mulheres, a oposição (ou a adesão) aos ventos que sopravam da França, os esforços para estabelecer trocas de mão dupla, em lugar das rotas com sentido único. Por certo o leitor será capaz de propor outras possibilidades diante de um rol de contribuições que se revelam tão densas e complexas quanto o objeto a ser desvendado.
Tania Regina de Luca – Professora Livre Docente em História do Brasil Republicano pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Possui doutorado e mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo e graduação em História pela mesma instituição. Responsável, junto ao CNPq, pelo financiamento do projeto “Estudos de jornais em língua estrangeira” (Transfopress Brasil). E-mail: tania.luca@pq.cnpq.br
FLÉCHET, Anaïs; COMPAGNON, Olivier; ALMEIDA, Silvia Capanema P. de. Como era fabuloso o meu francês! Imagens e imaginários da França no Brasil (séculos XIX-XXI). Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa; 7 Letras, 2017. Resenha de: LUCA, Tania Regina de. Sob o signo da complexidade: trocas interculturais entre França e Brasil. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n. 19, p. 216-220, jul./dez. 2018. Acessar publicação original [DR]
A Queda da Bastilha, o começo da Revolução Francesa | Guy Chaussinand-Nogaret
O autor é um especialista em século XVIII que tem uma vasta bibliografia sobre o assunto. Desenvolve seus argumentos a partir da queda da Bastilha, em seguida faz um recuo para explicar a conjuntura em que o país se encontrava, e como os eventos se desenrolaram até o eclodir da Revolução. Este livro comemorativo dos duzentos anos da Revolução Francesa abriu uma série de discussões sobre o período.
A queda da Bastilha sempre foi exaltada como símbolo maior da Revolução, carregado de emoção, no entanto o autor traz questionamentos bastante relevantes ao dizer que o 14 de julho poderia ser apenas mais um motim parisiense, a queda insignificante de uma fortaleza desativada. A queda da Bastilha nas palavras do autor envolve apenas um punhado de homens, que imediatamente torna-se uma epopeia, um simples episódio ganha ares sacros: “o acontecimento, vivenciado e interiorizado como modelo de ação libertadora, funda a nova era em que a história se confunde com a liberdade” (NOGARET, 1988, 7,8). Se esse acontecimento tivesse ocorrido décadas mais cedo, tudo não passaria de um motim, mas a queda da Bastilha ganhou o significado de mito e alegoria, marcaria o início da grande Revolução, que trazia ideias como afirmação dos direitos humanos, garantia dos bens e das liberdades do cidadão, igualdade de oportunidades em condições de honesta concorrência – esse último item é passível de dúvida, pois sabemos que houve a instituição de igualdade jurídica, mas igualdade de oportunidades é um fato a questionar, principalmente sobre quem seria contemplado por tal igualdade. Leia Mais
Palavras como balas: Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939) – OLIVEIRA (Topoi)
OLIVEIRA, Ângela Meirelle. Palavras como balas. Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939). São Paulo: Alameda, 2015. Resenha de: BEIRED, José Bendicho. Para compreender o antifascismo na América Latina. Topoi v.19 n.37 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2018.
Durante a Primeira Guerra Mundial, poucos imaginavam que estava em gestação um novo movimento político radical de direita capaz de alterar profundamente a política internacional. Ao tomar o poder na Itália, o fascismo foi a primeira experiência de extrema-direita a mostrar que era possível não só derrotar o status quo liberal mas também barrar a ascensão das forças de esquerda. Em seguida, outros movimentos de direita se alastraram pelo continente europeu, quer tomando o poder quer organizando-se em novos partidos. Para o filósofo alemão Oswald Spengler, vivia-se uma fase histórica em que se divisava a própria decadência do Ocidente. As reações foram tardias, pois apenas nos anos 1930 a direita radical deixou de ser combatida isoladamente pelas forças políticas de cada país e passou a ser objeto de luta de um movimento antifascista internacional que galvanizou um conjunto de forças formado por intelectuais, organizações e órgãos de imprensa.
O livro de Ângela Meirelles Oliveira constitui uma inovadora contribuição para a compreensão do papel da América Latina na cruzada internacional de combate ao fascismo. Com base em minuciosa pesquisa documental realizada em diversos países, o estudo oferece novos elementos a respeito dos movimentos antifascistas do Brasil, da Argentina e do Uruguai por meio de um recorte que privilegia o papel dos intelectuais e a atuação da imprensa. O título da obra, extraído de um verso emblemático – Palabras como balas hay que usar contra vosotros, enemigos! – da poetisa argentina Nydia Lamarque, por si só ilustra o espírito do engajamento que tomava os intelectuais empenhados na causa antifascista.
A metodologia empregada constitui um dos pontos altos da obra. Articulando o método comparativo e a perspectiva transnacional, a autora estabelece recortes criativos, reconstrói conexões e apresenta conclusões que permitem explicar as peculiaridades do antifascismo no Cone Sul e as suas relações com o movimento antifascista europeu. Um aspecto fundamental da abordagem reside no tratamento dos intelectuais como mediadores do processo de circulação de ideias entre os países do Cone Sul e entre estes e a Europa, em especial a França. Sob a vigilância metódica das autoridades policiais, os intelectuais sustentaram a luta antifascista por meio da fundação de entidades, criação de órgãos de imprensa, elaboração de artigos, troca de correspondência, promoção de campanhas e exposições de arte.
Uma tese basilar perpassa o livro pondo em xeque interpretações consagradas na historiografia: a despeito da relevância das organizações europeias e da URSS para o antifascismo latino-americano, este teria se desenvolvido com relativa autonomia em função dos contextos nacionais. Não obstante, a autora reconhece que as organizações criadas na Europa tiveram papel central no engajamento mundial dos intelectuais na luta contra o fascismo. Fundadas por militantes e simpatizantes de esquerda, as organizações europeias gravitaram, não sem tensão, em torno da Comintern e, consequentemente, dos interesses soviéticos em relação à política internacional, a exemplo do Comitê de Vigilância de Intelectuais Antifascistas e da Associação de Escritores e Artistas Revolucionários. Um papel de destaque coube ao Comitê Mundial contra a Guerra e o Fascismo por sua influência na Europa e na América, contando com a participação dos mais renomados intelectuais de então – Máximo Gorki, Bertrand Russell, Albert Einstein, John Dos Passos e André Gide entre muitos outros – sob a direção dos franceses Romain Rolland e Henri Barbusse.
A primeira parte do livro é dedicada ao exame das organizações, intelectuais e órgãos de imprensa antifascistas do Cone Sul. No Brasil, as primeiras a serem fundadas foram os Comitês Antiguerreiros de São Paulo e do Distrito Federal, de filiação comunista; e a Frente Única Antifascista, criada na sede do Partido Socialista Brasileiro, com a participação da Liga Comunista Internacionalista, de perfil trotskista. As tensões entre fileiras fascistas e antifascistas não eram pequenas. Em 1934, ambas confrontaram-se fisicamente quando as agrupações antifascistas se concentraram na Praça da Sé, centro de São Paulo, para protestar contra um comício organizado pela Ação Integralista Brasileira, deixando um saldo de seis mortos e dezenas de feridos dos dois lados.
Vinculado à Frente Única Antifascista foi criado o Clube dos Artistas Modernos, que promoveu a famosa conferência de David Alfaro Siqueiros a respeito da técnica muralista em São Paulo, por ocasião da sua passagem pelo Brasil ao retornar do Rio da Prata para o México. Outras experiências, o Clube de Cultura Moderna e o Centro de Defesa da Cultura Popular, associados à Aliança Nacional Libertadora, visavam ambos ao estabelecimento de contato entre os intelectuais e o grande público para a difusão das artes, da ciência e da literatura. Em busca de espaços alternativos para a promoção das artes, em 1935 o CDCP organizou a I Exposição de Arte Social no Brasil, com a participação de Portinari, Di Cavalcanti, Noêmia Mourão, Oswaldo Goeldi, Ismael Nery e Alberto Guignard. Tais entidades exemplificavam o esforço da geração modernista em conferir à arte um sentido ao mesmo tempo vanguardista, popular e comprometido com as questões políticas. Paralelamente, a imprensa foi outro veiculo fundamental de resistência política e cultural antifascista, cuja atividade esteve concentrada em órgãos tais como Revista Acadêmica, Diretrizes e Cultura, Mensário Democrático, além de jornais como Marcha e o diário A Manhã.
Uma das hipóteses da autora é que o funcionamento das entidades antifascistas dependeu das condições políticas de cada país do Cone Sul. No caso do Brasil, a dinâmica política da Era Vargas foi mais tolerante com as atividades da extrema direita, a exemplo do Integralismo, do que com as correntes de esquerda, objeto de sistemática vigilância, perseguição e prisões. A repressão subsequente ao levante de 1935 e ao golpe do Estado Novo apenas aumentou ainda mais as dificuldades do antifascismo, com o desmantelamento do PCB, prisões, fugas e exílio de militantes e intelectuais. A Argentina e o Uruguai foram os destinos mais procurados pelos exilados brasileiros, que transformaram Buenos Aires e Montevidéu nos seus principais centros de atuação no exterior, a exemplo de Carlos Lacerda na sua fase comunista.
A comparação permite constatar que a Argentina abrigou o movimento antifascista mais significativo da América Latina, traduzindo-se em uma maior quantidade de organizações, pessoas e órgãos de imprensa envolvidos do que em outros países da região. Em 1930 o general José Uriburu desferiu um golpe de Estado que derrubou o governo da União Cívica Radical presidido por Hipólito Yrigoyen e implementou uma ditadura filofascista apoiada pelo exército e por milícias uniformizadas, tais como a Legião Cívica Argentina. Carente de suficiente base política, o poder foi passado aos conservadores, que restauraram o antigo sistema de eleições fraudadas, primeiramente sob a presidência de outro militar, o general Agustín P. Justo, e depois o civil Roberto Ortiz, buscando-se manter uma posição de neutralidade diante da contenda entre o fascismo e o antifascismo. Apesar das perseguições contra militantes de esquerda, havia de qualquer modo mais condições que no Brasil para a atividade política, a organização de movimentos e o funcionamento da imprensa antifascista. Um papel relevante, embora fora do âmbito da pesquisa do livro, foi desempenhado pelas coletividades de estrangeiros, notadamente a italiana e a espanhola, cujas atividades antifascistas foram estudadas no Brasil por João Fábio Bertonha e Ismara Izepe de Souza, e na Argentina, por Mónica Quijada e Andrés Bisso.
A segunda parte do livro dedica-se à circulação internacional das ideias e dos intelectuais antifascistas. A autora confere especial atenção à Agrupação de Intelectuais, Artistas, Jornalistas e Escritores por considerá-la a mais importante associação em prol do antifascismo. Criada primeiramente em Buenos Aires, e em seguida em Montevidéu, tinha como objetivo declarado “lutar pela defesa da cultura”, em outras palavras, combater o obscurantismo embutido não apenas no fascismo internacional, mas também no autoritarismo e na corrupção política praticados pelos governos conservadores. A entidade argentina chegou a contar com 2 mil associados e diversas filiais no interior do país, tendo à frente figuras como Anibal Ponce, Sergio Bagú, Manuel Ugarge, Liborio Justo, Héctor Agosti e Arturo Frondizi, então jovem membro da União Cívica Radical e futuro presidente da nação. O boletim da entidade – Unidad por la defensa de la cultura – somou-se a várias outras publicações regulares que, embora não dedicadas exclusivamente ao antifascismo, o tomaram como causa própria, tais como Claridad, Hechos e Ideas, Sur e La Internacional.
Dois interessantes aspectos sobressaem. Em primeiro lugar, a diversidade ideológica das publicações mencionadas – respectivamente socialista, radical, liberal e comunista -, assim como das organizações antifascistas. A autora contesta enfaticamente a tese do caráter essencialmente comunista do antifascismo dos países estudados, assim como do papel determinante da Comintern na sua organização. No lugar disso, identifica a existência de uma matriz liberal no antifascismo argentino e, no caso do Uruguai, aponta uma forte politização, sem vinculação partidária. Em suma, a documentação sugere que o vigor do movimento antifascista nos três países estudados dependeu justamente da heterogeneidade das suas fileiras e da amplitude do arco progressista que reunia liberais, anarquistas, radicais, comunistas, trotskistas e socialistas.
Outro aspecto a destacar é o papel das redes de sociabilidade antifascista que se estabeleceram por meio da imprensa vinculando as publicações da Argentina, do Uruguai e do Brasil entre si e estas com as da França, epicentro internacional do movimento antifascista e sede de revistas como Clarté, Commune, Vigilance e Front Mondial. O intercâmbio ocorria pela reprodução de artigos e a notificação do recebimento de revistas de outros países, a exemplo de Commune, órgão da Associação de Escritores e Artistas Revolucionários, sediada em Paris, que recebia praticamente todas as revistas antifascistas sul-americanas. No Cone Sul, as revistas da Argentina e do Uruguai trocavam uma considerável quantia de matérias com as congêneres da França, o mesmo não ocorrendo com as revistas do Brasil, que apenas mantinham contato esporádico com as publicações estrangeiras. Quanto ao intercâmbio intelectual entre os países latino-americanos, apenas existiu de modo rarefeito. Parece ter ficado mais no plano das intenções que da sua efetivação material, apesar dos apelos da portenha Claridad e da baiana Seiva em favor do seu incremento.
O Uruguai merece um lugar especial em razão da relevância das atividades antifascistas em seu território. Em 1933, abrigou o Congresso Antiguerreiro Latino-americano de Montevidéu, que, vinculado ao seu homólogo europeu e à corrente comunista, congregou centenas de delegações sindicais, camponesas, estudantis, de artistas e intelectuais. Não deixa de ser notável a marca deixada por uma ilustre brasileira. Pelo prestígio pessoal e proximidade em relação ao PCB, Tarsila do Amaral foi uma das poucas intelectuais convidadas a proferir uma conferência, e, destoando do tom geral do evento, discorreu a respeito das “Mulheres e a guerra”. Encetando uma contundente crítica ao papel destinado às mulheres pelos governos capitalistas e imperialistas, terminou sob aplausos e conclamou-as à luta antiguerreira. A análise do congresso aponta, ainda, para as divisões intestinas da esquerda e os diferentes conceitos de frente política, evidenciados nas críticas aos trostskistas, na expulsão dos anarquistas e na condenação de figuras como Augusto César Sandino e Haya de la Torre.
Às vésperas da Segunda Guerra, Montevidéu acolheu outro importante evento, o Congresso Internacional das Democracias. Composto por delegações de intelectuais dos países americanos, foi patrocinado por um conjunto de partidos políticos uruguaios. Apesar da exclusão do Partido Comunista Uruguaio, a reunião contou com uma ampla participação de delegados de todas as correntes políticas das Américas comprometidas com o antifascismo, incluindo o comunismo. Estiveram presentes personalidades como Pablo Neruda e Juan Marinello, que se reuniram em dezenas de comissões para discutir assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais. Também participou uma delegação brasileira não oficial composta por representantes da Universidade Nacional do Rio de Janeiro e das Mulheres Intelectuais do Brasil, além de brasileiros exilados perseguidos pelo Estado Novo, cujo governo buscou impedir sem sucesso a realização. Para a autora, o evento refletia a desilusão com a Europa e representou a inflexão do antifascismo latino-americano em vista do seu alinhamento às diretrizes da política externa norte-americana que enfatizava a boa vizinhança e a união das forças contrárias ao fascismo. O título do discurso do uruguaio Emilio Oribe era emblemático dessa guinada: “Por que a América imita os europeus? Cultura autóctone e universal.”
A autora dedica especial atenção à Guerra Civil Espanhola, conflito de enorme repercussão na América Latina e divisor de posições da opinião pública, que se mobilizou tanto a favor do governo republicano quanto dos rebeldes nacionalistas. Na Argentina e no Uruguai a solidariedade aos republicanos foi especialmente intensa em razão da elevada taxa de imigrantes espanhóis em relação ao conjunto da população. Por sua vez, tais imigrantes estavam organizados em uma vasta rede de entidades associativas e jornais comunitários que impulsionaram iniciativas em favor da República Espanhola. As remessas de alimentos, remédios, dinheiro e roupas constituíram as ações prioritárias da solidariedade aos republicanos, além da acolhida dos exilados e a pressão política pela não intervenção da Itália e da Alemanha no conflito espanhol.
São examinadas as atividades da Agrupação de Intelectuais, Artistas, Jornalistas e Escritores, cuja seção argentina criou a Comissão Argentina de Ajuda aos Intelectuais Espanhóis. As ações de solidariedade dessa comissão tiveram como ponto alto os protestos e as homenagens decorrentes do fuzilamento de Gabriel Garcia Lorca, ato covarde que foi transformado em símbolo da luta da cultura contra a barbárie fascista. Os intelectuais latino-americanos viam a si mesmos como legítimos partícipes das fileiras republicanas deste lado do Atlântico. A uruguaia Clotilde Luisi, perguntando-se quem formava essa retaguarda, esse verdadeiro exército, guardião da alma espiritual do povo, respondia: os homens de ciência, professores, artistas plásticos, atores, escritores e poetas.
Em contraste, para a autora, a solidariedade dos brasileiros aos republicanos espanhóis não contou com a formação de entidades dedicadas especialmente a tal finalidade. Contando com a permanente repressão do governo Vargas, a solidariedade republicana apenas pode tomar corpo por meio de matérias divulgadas na imprensa antifascista e assim mesmo com restrições em vista da censura. Segundo o escritor Álvaro Moreyra, a morte de Garcia Lorca foi noticiada pelos jornais brasileiros com seis meses de atraso em outubro de 1937. De qualquer forma, a Revista Acadêmica foi a publicação brasileira mais empenhada no apoio aos republicanos. Após a vitória dos nacionalistas, expressou a dor da derrota e a consciência dos limites do papel do intelectual por meio de um artigo de Emil Fahrat: “Nossa dor é maior do que a tua, Espanha, porque fomos vencidos sem termos entrado na luta. Perdão Espanha pelo que não fizemos por ti.”
Apesar de atestar o vigor do antifascismo dos países do Cone Sul, o livro se encerra com a melancólica constatação do fracasso do movimento. Por um lado, os intelectuais desmobilizaram-se em razão do Pacto Germano-Soviético e da sua subordinação à Política da Boa Vizinhança. Além disso, eles se mostraram incapazes de enfrentar as medidas autoritárias dos governos brasileiro, argentino e uruguaio. Talvez seja um quadro por demais pessimista que poderia ser repensado se relacionado ao processo mais amplo de construção da democracia na América Latina. Sabe-se que a formação de uma cultura democrática, pluralista e defensora de direitos humanos básicos nos países latino-americanos é um fato inegável da sua história contemporânea. Porém, sob inúmeros percalços, não se manifestou de forma linear e nem da noite para o dia, constituindo antes um processo ainda inconcluso.
O exame do movimento antifascista sugere que ele contribuiu decisivamente para desenvolver uma cultura democrática que serviu de suporte para combater o autoritarismo em suas várias modalidades depois da Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, a cultura política frentista, por vezes tão mal compreendida, pode ter justamente no antifascismo uma das suas raízes mais fecundas na América Latina.
Referências
OLIVEIRA, Ângela Meirelles. Palavras como balas. Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939). São Paulo: Alameda, 2015. [ Links ]
2Como citar: OLIVEIRA, Ângela Meirelles. Palavras como balas. Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939). São Paulo: Alameda, 2015. Resenha de BEIRED, José Luis Bendicho. Para compreender o antifascismo na América Latina. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 19, n. 37, p. 226-231, jan./abr. 2018. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
José Luis Bendicho Beired – Professor da Universidade Estadual Paulista. E-mail: jbbeired@assis.unesp.br.
Resistência: memória da ocupação nazista: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (Topoi)
ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: GHERMAN, Michel. “Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália.” Uma perspectiva comparativa acerca do uso da memória. Topoi v.19 n.37 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2018.
Em seu livro Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália, publicado pela editora Alameda em 2016, a historiadora Denise Rollemberg propõe uma reflexão relativamente rara em trabalhos produzidos no Brasil: a análise dos lugares de memória da resistência ao nazismo em países que tiveram distintas experiências em relação à ocupação na Segunda Guerra Mundial, França e Itália.
Sua obra se divide em uma apresentação e em mais duas partes. Na apresentação, capítulo “Resistência: o desafio conceitual”, a autora faz um cuidadoso debate acerca das formas de resistência, de sua historiografia e de seus usos políticos. A Parte I, que trata de “Memória e resistência na França” se divide em dois capítulos.
No capítulo 2, “Museus e memoriais franceses”, é feita a análise de monumentos e museus da resistência francesa, discutindo referências teóricas de história e de memória e suas distintas adaptações nos vários casos dos “lugares de Memória” (p. 92) no país. No capítulo 3, “Em algumas horas vou morrer… As cartas de despedida dos resistentes”, a autora analisa cartas de despedida deixadas por resistentes que seriam, às vezes algumas horas depois de escrevê-las, fuzilados. Interessante notar aqui a tentativa de desconstrução de percepções prévias, por vezes consolidadas na memória da resistência, sobre os “mártires” assassinados pela repressão nazista.
Finalmente, na parte II: “Memória e resistência na Itália”, composta por mais dois capítulos, a autora faz uma reflexão sobre o uso da memória no país. O capítulo 4, “Museus e memoriais italianos” é aberto por um interessante debate sobre a própria construção da história italiana, no que diz respeito à memória da resistência. A partir dessa percepção, a resistência aberta ao nazifascismo, de fato estabelecida a partir da invasão estrangeira ao país (em 1943), teria sido iniciada, segundo a narrativa italiana do pós-guerra, já com a subida de Mussolini ao poder. Aqui, exposições e memoriais analisados parecem tentar estabelecer uma história contínua de resistência ao fascismo a partir da década de 1920. No livro, a autora aponta estratégias usadas na construção da memória sobre a resistência na Itália ao utilizar referências da unificação italiana (risorgimento, em fins do século XIX), como forma de estabelecer uma narrativa nacional contra a invasão alemã e o fascismo (p. 236).
Por fim, no capítulo 5, “Os sete fratelli”, o livro trata dos memoriais em homenagem a sete irmãos, militantes contra o fascismo, fuzilados em 1943. Aqui a autora analisa como os irmãos, simpatizantes do comunismo e moradores do interior da Itália, são alçados, no pós-guerra, à condição de símbolo nacional de resistência ao fascismo no país. Ao refletir sobre memoriais e museus em homenagem aos “sete fratelli”, a historiadora estabelece uma reflexão sobre a construção de uma memória sacralizada (p. 235) que transforma o caso específico de resistência e fuzilamento em referência simbólica da luta contra o nazifascismo na Itália.
O livro Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália constitui um trabalho importante por estar baseado em duas propostas de análise distintas e complementares. A primeira delas pretende estabelecer um estudo acerca da ocupação nazista em alguns países da Europa ocidental (França, Itália e Alemanha). Nesse contexto, a ideia de “uma resistência europeia” é desafiada. Para isso, a autora tenta historicizar a noção de resistência, ao propor questões determinadas pelas especificidades da política de ocupação em cada país.
A segunda proposta de análise está relacionada com a construção de uma memória da resistência. Aqui, Rollemberg analisa as narrativas sobre a resistência nos países citados. Essa revisitação da história é feita a partir da reflexão sobre os “usos da memória” na França, na Itália e na Alemanha, apresentando importante contribuição para debates acerca da ideia de memória sobre a resistência ao nazismo (p. 40).
O desafio de estudar museus e monumentos em países que tiveram experiências tão diferentes em suas respectivas relações com a expansão do nazismo na Europa demanda extrema habilidade na análise documental (de museus e memoriais), bem como uma perspectiva metodológica que garanta pertinência aos objetos escolhidos. Acredito que o livro de Denise Rollemberg tem muito sucesso em suas escolhas.
Esse sucesso está relacionado à cuidadosa análise que a autora faz do próprio conceito de resistência. Ao propor uma espécie de “dialética da resistência” (p. 20), Rollemberg afirma que o sentido de resistência deve estar menos vinculado, como propunha uma historiografia mais tradicional, com análises reificadas e absolutizadas da resistência propriamente dita. Aqui, a autora busca uma análise mais aprofundada a partir perspectivas mais críticas da própria resistência. Os diversos regimes escolhidos são analisados em conjunto com as respectivas formas de resistências ao nazismo. Nesse contexto, a historiadora propõe uma dinâmica comparativa entre dois (ou três) países com experiências bastante distintas na guerra: França e Itália (e Alemanha). Apesar de regimes diversos e das diversas formas de resistir, é proposto no livro que as referências de comparação podem ser não apenas possíveis, mas devem ser uma importante referência de pesquisa (p. 19).
Em sua pesquisa a historiadora propõe que seja estabelecida uma relação entre “forma da ocupação” e “forma da resistência”. Assim, o livro relaciona os diversos regimes de ocupação nazista às várias formas de resistência. Segundo a autora, onde as expressões do totalitarismo e da ocupação fossem mais pungentes e completas, mais flexíveis e menos específicas seriam as possibilidades de resistência. Nos casos em que o totalitarismo e a ocupação tivessem menos sucesso, as formas da resistência apareceriam de maneira menos ampla e mais objetiva.
Nesse sentido, países onde estruturas do regime fossem efetivamente hegemônicas, como é o caso da Alemanha, as formas de resistência deveriam ser vistas com lentes que dessem a elas maior expressão. Em países como a França (principalmente no norte do país), as análises sobre resistência deveriam ser feitas com mais exigência e fôlego, afinal, haveria, a princípio, maior espaço social e político para formas mais específicas e objetivas de resistência ao regime ocupante (p. 20).
Ao se debruçar sobre o caso francês, a autora faz um estudo de casos sobre “a história da memória” da resistência à ocupação. Se após a libertação a França produziu uma memória de “todos os resistentes”, essa memória se desloca para outro lugar depois das primeiras três décadas depois da ocupação nazista. Aqui, o livro aponta como referência o lançamento do documentário Le Chagrin et La Pitié, como forma de localizar e justificar a mudança da memória francesa no que diz respeito à resistência de todos. A perspectiva do documentário desafiava a memória oficial francesa, justamente por inverter esses sinais. A tese central do filme era de que, na França, todos foram, de uma maneira ou de outra, colaboracionistas (p. 21).
Nesse contexto, o “mito da resistência”, utilizado por governos do pós-guerra, seria substituído pelo “mito da colaboração”. Em um movimento de “contramemória”, os franceses revisitam as experiências do nazismo com, por assim dizer, sinais trocados. A autora defende que as transformações no tratamento da memória da resistência tenham sido um subproduto das manifestações de maio de 1968. Desse modo, a derrubada de heróis (típica da rebelião dos estudantes) chegava à experiência da resistência na guerra. Importante notar, como bem apontado no livro, que a produção dessa contramemória ocorre em um momento em que a geração dos “resistentes”, ou “colaboradores”, ainda estava ativa na França (p. 26).
Nessa dinâmica de memória e contramemória, a autora nota que outro debate começa a consolidar-se historiograficamente justamente após a publicação de uma importante obra que será referência. Vichy, France escrita pelo britânico Robert Paxton, propunha uma análise mais complexa do fenômeno da resistência. Nesse contexto, se buscava fugir das lógicas absolutas fosse da “nação de resistentes”, fosse da “nação de colaboradores”. De fato, o modelo paxtoniano apresenta uma nova abordagem sobre a história da resistência francesa, ou, segundo Rollemberg “entre os dois modelos de memória, ou entre as duas memórias, a historiografia buscou seu caminho próprio” (p. 23).
A partir desse momento, o livro debate modelos “pós-paxtotianos” da historiografia francesa que vão estabelecer critérios mais claros no que diz respeito às formas de resistência e as formas de colaboração. Afastando-se da noção do “homem providencial” (p. 27) e da naturalização da resistência (ou da colaboração) a historiografia francesa estabelece fronteiras e critérios para discutir formas de resistência na história do país.
A partir de então, a autora propõe que, para além de perspectivas “sacralizadas” das vítimas (p. 9), o “giro historiográfico” francês passa também a lidar com referências mais complexas de resistência. Saindo do debate baseado em figuras heroicizadas (no caso de resistentes) ou vilanizadas (no caso de colaboracionistas), a autora propõe análises a partir das “zonas cinzentas” de atuação (usando o conceito que Laborie pega emprestado de Primo Levi) (p. 9). A disputa entre a vítima sacralizada e a produção historiográfica mais crítica ainda está, entretanto, presente nos monumentos e nos debates sobre a memória francesa, como a autora bem demonstra no decorrer do livro (a abertura da obra com o exemplo do memorial de Jean Moullin ilustra muitíssimo bem esse debate) (p. 9).
Na parte sobre a resistência italiana, a autora trabalha a partir da perspectiva comparativa e estabelece características distintas em relação à resistência francesa. A resistência italiana se inicia com a ocupação nazista no país, justamente após a derrota do fascismo. Ou seja, há uma clara definição temporal e política sobre o início da resistência. Em comparação com a oposição contra o fascismo, a relação com os ocupantes nazistas aliados do fascismo era de combate (p. 44).
Esse período se estabelece quando estruturas de poder nazistas (como a Gestapo e a perseguição aos judeus) (p. 45) começam a se apresentar na Itália. Nesse momento, os opositores históricos ao fascismo italiano iniciam a resistência aos nazifascistas. Assim, a resistência italiana teria surgido, conforme propõe a autora, em 1943, junto à ocupação estrangeira.
Como bem coloca a historiadora, o combate e o apoio dos resistentes italianos é mais militar do que político (em comparação com a resistência francesa), apesar dos vários grupos envolvidos no combate aos nazistas (comunistas, democratas cristãos, socialistas, anarquistas etc.) e de suas perspectivas distintas de combate e de vitória sobre nazifascismo (tese das três guerras, p. 47).
Nesse sentido, inclusive haveria dois ocupantes no mesmo momento, os aliados (percebidos como parceiros na luta contra o nazifascismo) e os nazistas (em sua aliança com os fascistas), que teriam se transformado em inimigos e alvo da resistência italiana na guerra.
Nessa realidade, apresentada como referência comparativa ao que ocorria na França, a Itália vai produzir uma rede de memoriais, museus e monumentos muito específicos, como a autora apresenta na última parte do livro.
O último caso comparativo da obra de Denise Rollemberg é o caso da Alemanha, que por algum motivo não aparece no título e nem é alvo de análise quando a autora fala dos monumentos à resistência, na última parte da obra. Bastante diferente dos dois casos discutidos anteriormente, o caso da resistência na Alemanha é único.
Em primeiro lugar por não se tratar de uma resistência a invasão de potência estrangeira. A “resistência” alemã se estabelece no enfrentamento (ou na oposição) a um movimento social e político do próprio país. O segundo ponto importante está relacionado com o caráter do regime. Ao contrário do que ocorria na Itália e na França, a base social, as possibilidades de delação e o diminuto espaço para resistências criavam um tipo muito específico de oposição ao regime. Conforme proposto pela autora, no caso da Alemanha, o estabelecimento de um regime de alto grau de controle demanda que as análises de possíveis resistências sejam mais flexíveis e amplas. É isso que a autora faz.
A resistência alemã ao regime nazista fez com que ao fim da guerra se estabelecesse uma percepção de “grande élan moral e com um engajamento político intenso” (p. 50) que procurava se opor à “tese da culpabilidade coletiva”. Nesse sentido, se pretendia estabelecer uma espécie de lastro político para que “da outra Alemanha” pudesse surgir uma “nova Alemanha” (p. 51).
A ideia de que seria inviável, dado às expressões totalitárias do regime, que houvesse resistências internas na Alemanha foi largamente aceita, conforme mostra a autora, pelos historiadores do pós-guerra. A ideia de impossibilidade fazia com que se buscassem novas formas de compreensão da resistência alemã no contexto do regime nazista.
Essa perspectiva foi desafiada por Martin Boszat já na década de 1970. Para o historiador, a noção de “resistenze” (reações espontâneas, quase naturais) poderiam descrever as formas de “resistência” na Alemanha. Assim, a simples negação de uma saudação nazista, ou a não participação em desfiles do regime, seriam, em última instância, maneiras de resistir ao regime totalitário. Dessa forma, posicionamentos quase que exclusivamente individuais e “funcionalistas” (em oposição à natureza intencionalista da resistência francesa e italiana, p. 53), seriam as referências possíveis em uma Alemanha dominada pelo nazismo.
Na década de 1980, Ian Kershaw vai desafiar as perspectivas propostas por Boszat. Segundo ele, referências individuais e pontuais de “resistenze” poderiam apagar “zonas cinzentas ideológicas” (p. 54) que foram estabelecidas pelo próprio regime. Aqui, Kershaw chamaria a situação de dissidência, mas não utilizaria o conceito de resistência, sob o risco, segundo ele, de produzir-se heroicização de atitudes individuais. A autora faz, então, um levantamento de tentativas de resistência a partir de movimentos políticos coletivos que, apesar de poucos e dispersos, aconteceram na Alemanha nazista.
Esse debate sobre “culpabilidade coletiva”, “outra Alemanha” e sobre formas individuais e coletivas de resistência vai criar outro modo de produção de memoriais e museus que, infelizmente não são tratados no livro, centrado nos casos da Itália e da França.
A publicação no Brasil de um livro sobre a memória da resistência em países ocupados pelos nazistas na Europa é de fundamental contribuição em nosso país, no qual o debate sobre memória e resistência à ditadura parece encontrar novos desafios políticos e historiográficos.
Referências
ROLLEMBERG, D Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda, 2016. [ Links ]
2Como citar: ROLLEMBERG, D Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de GHERMAN, Michel. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. Uma perspectiva comparativa acerca do uso da memória. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 19, n. 37, p. 232-236, jan./abr. 2018. Disponível em: <http://www.revistatopoi.org>.
Michel Gherman – Pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: michelgherman@gmail.com.
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação | Rebeca J. Scott, Jean M. Hébrard
Fruto de uma extensa pesquisa realizada ao longo de sete anos por Rebecca J. Scott e Jean M. Hébrard, Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação, traz a saga da família Vincent/Tinchant, apresentada ao longo de nove capítulos e um epílogo de tirar o fôlego. Desde já, saliento que não consigo ver de outro modo senão como excepcional o modo como estes experientes pesquisadores conseguiram seguir os rastros deixados por estes “sobreviventes do Atlântico”.
Logo no início do livro, os autores nos informam que não consideraram o itinerário dos Vincent/Tinchant como típico ou representativo, o que podemos constatar ao longo da leitura. O fio inicial para a investigação foi uma carta escrita por Édouard Tinchant, um fabricante de charutos residente da Bélgica, endereçada ao general Máximo Gómez, encontrada no Arquivo Nacional de Cuba, na qual ele solicita a autorização para pôr seu nome na marca de charutos que pretendia lançar e, para tanto, não se furtou em usar sua capacidade discursiva para relatar aspectos de sua vida familiar enfatizando uma conexão entre luta por direitos civis e igualdade racial no mundo atlântico do século XIX – a Guerra Civil e a Reconstrução dos Estados Unidos (1861-1877), a Revolução Francesa (1848) e a Revolução do Haiti (1791-1804). A trilha seguida por eles nos conduziu até o século XX abrindo uma janela para que pudéssemos ver os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na vida de pessoas que tinham “cor”, como Marie-José Tinchant. Leia Mais
A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet – TEIXEIRA (A)
TEIXEIRA, Maria Juliana Gambogi. A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. 312p. Resenha de: PEREIRA, Renato Fagundes. Por uma nova leitura de Michelet no Brasil. Antítese, v. 11, n. 22, 2018.
No século XIX, algumas obras de Jules Michelet foram trazidas ao Brasil, isso se deve, em partes, ao sucesso de L’Oiseau (1857) em Paris, (onde estimava-se a venda de trinta e três mil unidades), embora a recepção de suas ideias tenha ocorrido principalmente na segunda metade do século XX, com as primeiras traduções das obras historiográficas e teóricas do movimento dos Annales (Lucien Febvre nunca negou o legado micheletiano em suas análises). A partir da década de 1970, as ideias de Michelet chegam ou por aqueles que discutiam a história e a metodologia dos Annales ou por aqueles que começavam a refletir sobre a crise dos paradigmas na historiografia -A presença de Jules Michelet é marcante nos livros de Peter Burke e Dosse sobre os Annales, por exemplo, e nos argumentos de Paul Veyne, Michel de Certeau, Jacques Rancierè e Hayden White sobre as ficcionalidades da história.
Muitos estudos foram publicados no Brasil, os quais assinalam a importância de Jules Michelet como precursor dos Annales, da história das mulheres, do povo e da cultura, mas, raros são aqueles que se esforçaram em compreender o historiador no movimento do seu próprio pensamento, no élan-criador do conhecimento histórico e na historicidade do próprio autor. Nesse sentido, não são exageros as palavras Jean-Michel Rey sobre a modéstia do subtítulo, A feiticeira de Jules Michelet, no recém-lançado livro A profetisa e o historiador de Maria Juliana Gambogi Teixeira.
A professora da UFMG retoma sua tese doze anos depois de sua defesa, são quase três décadas dedicadas a finco à pesquisa das ideias micheletianas, e nos proporciona uma leitura singular, inaudita, principalmente, entre nós, brasileiros, acostumados com a recepção do autor da L’Histoire de France, pelos herdeiros dos Annales. Essa distinção se assenta pelo vínculo de Gambogi Teixeira com o grupo formado por Paul Viallaneix e Paule Petitier. Esses dois especialistas na obra micheletiana realizaram nas últimas décadas um trabalho árduo de muita riqueza, descobrindo e publicando textos inéditos de Michelet, organizando coletâneas, bibliotecas e seminários – podemos destacar o seminário Michelet hors fronteires e a bibliothèque Jacques Seebacher, ambos com a coordenação da professora da Universidade Diderot, Paule Petitier.
O livro é dividido em três partes com dois capítulos cada um. A parte um, O Tenebroso Mar de La Sorcière é preciosa para compreender a trama que atravessa todo o livro: A Feiticeira, obra publicada por Michelet, em 1862. Enganar-se-ia quem imaginasse encontrar nessas páginas apenas a história de um livro. Trata-se de um esforço mais profundo, na tentativa de constituir no interior da obra monumental de Jules Michelet o caminho da feitiçaria como objeto, suas inflexões e seus delineamentos, durante mais de meio século de produção do historiador. A análise do próprio texto, A Feiticeira, se apresenta, principalmente, no capítulo dois, no entanto, ela não acontece fora de um solo, como gostava de afirmar o próprio Michelet, e sim dentro de um plano de imanência micheletiano, que só é possível por uma conhecedora dos arquivos e das ideias do século XIX.
A parte dois do livro, História ao Pé da Letra, representa uma contribuição das mais notáveis: a história da historiografia e a teoria da história. Gostaríamos de insistir na novidade dessa análise no Brasil e em textos em língua portuguesa. A autora retoma o vínculo entre Michelet e Vico, explorado desde o século XIX, para romper com ele e demonstrar no contexto das ideias o débito viconiano, enfatizando as rupturas e as criações micheletianas. A questão da lenda e da cultura popular, familiar ao romantismo, emerge no capítulo final dessa parte. Particularmente, os dois capítulos que fazem parte desse recorte são os quais a pesquisadora mais me surpreende pelo gênio de articulação e uma consistência de domínio teórico, cuja finalidade é estabelecer a relação entre o lendário, a história e o ficcional em Jules Michelet.
Na última parte do livro, Verso e Avesso da Narrativa, Gambogi conduz sua reflexão da obra micheletiana no movimento de mão-dupla: da constituição do seu pensamento, no esforço intelectual de escrever história, concentra-se na Feiticeira e no fenômeno da feitiçaria e no interior das questões pessoais, políticas e sociais enfrentadas pelo autor. Não por acaso, a tese da autora sobre La Sorcière passa pela associação de Jules Michelet com a Revolução de 1848, na França: Projetando tal hipótese sobre o cenário aberto por 1848, parece-nos possível pensar que, menos do que um interesse circunscrito em catalogar e diagnosticar o destino pontual dos movimentos revoltosos, o pensamento de Michelet tenha se voltado para, em La Sorcière para o que sempre fora seu centro: a condição de inteligibilidade da história moderna. Já há muito, o historiador fincara essa condição num campo de entendimento em que se conflitam dois princípios diversos, porém imbricados em seu destino: o princípio da Revolução e o princípio do cristianismo (p.203).
Renato Fagundes Pereira – Professor do Curso de História da Universidade Estadual de Goiás – UEG. -E-mail: renatofagundesp@gmail.com.
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália | Denise Rollemberg Cruz
É bastante perceptível o fascínio que a experiência nazifascista e a Segunda Guerra Mundial exercem no público – especializado ou não – de história no Brasil. Se os motivos para tal não cabem em uma resenha, vale ao menos mencionar que o amplo alcance tem seus bônus e ônus. Apesar de ser um contexto com ampla e consolidada bibliografia, em muitos espaços parecem persistir análises há muito relativizados pela historiografia acadêmica. Existe um claro embate narrativo que dificulta muito o estabelecimento desses discursos fora das universidades. E mesmo dentro delas.
É no sentido de contribuir para o rompimento dessa barreira que a obra Resistência: memória da ocupação nazista na França e Itália, fruto de pesquisa pós-doutoral de Denise Rollemberg da Cruz, se propõe a atuar. A autora, professora de História Contemporânea do Instituto de História e do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem a carreira bastante associada aos estudos sobre a ditadura militar brasileira, mas há algum tempo dedica-se também ao contexto europeu, em particular sobre os regimes autoritários da primeira metade do século XX. Existe um diálogo teórico basilar entre os eventos históricos que muito parece ter auxiliado a autora em suas reflexões: tratam-se de experiências traumáticas, que expõem indivíduos a situações-limite e colocam em questionamento projetos políticos que veiculam ideias de harmonia social. Mais do que isso, a historiografia está constantemente empenhada em “mexer no vespeiro” desses eventos, tão embrenhados no debate das relações entre memória e história nos dias atuais. Se a Europa é palco privilegiado do livro, ficam evidentes também as marcas da trajetória pregressa da autora nas linhas que o compõem.
A aposta de Rollemberg está, então, em promover uma discussão conceitual e uma abordagem metodológica que dê conta de exibir, nos casos francês e italiano, uma mostra material dessa tensão mnemônica relativa à ocupação nazista, sobretudo a partir dos discursos museológicos produzidos pelos estados em questão, esmerados em cristalizar determinadas abordagens sobre os eventos históricos que dão nome às instituições. Desde a apresentação, ela já nos apresenta um importante diagnóstico: foi a partir da glorificação da Resistência que começaram a surgir museus e memoriais da mesma (p.12). Importa destacar que a obra não versa apenas sobre o museu: um capítulo é dedicado a escrita epistolar, e o último, ainda que reflita sobre um museu, tem como eixo os usos da memória sobre um evento ocorrido na Itália. Trata-se, portanto, das relações entre história e memória.
O livro é dividido em cinco capítulos. O Capítulo 1 dedica-se ao debate teórico relativo à conceituação de “Resistência”2. Nele, fica evidente a complexidade do problema. Em cada uma das realidades analisadas – França, Itália e Alemanha – há um debate particular, e a mesma dificuldade em encontrar uma definição hegemônica. A fluidez polissêmica é o tom da questão, sempre mediada por interesses políticos e disputas discursivas. Se cada caso é um, parece à autora que as décadas de 1970 e 1980 foram comumente decisivas no sentido de serem o marco das transformações sociais que terminaram por acarretar no pensar sobre as Resistências. Distância temporal, acesso aos arquivos, interesses de geração, enfim, inúmeras circunstâncias propiciaram essa evidente mudança que, ao fim e ao cabo, irá acirrar as tensões memorialísticas sobre os eventos.
Na competente discussão historiográfica trazida pela historiadora, fica evidente uma espécie de fórmula para o desenrolar da reflexão conceitual em cada país: quanto mais autoritário o regime, mais elástico o conceito parece se tornar – e assim abraçar uma variedade ainda maior de comportamentos. Assim, para os franceses resistir é agir diante de um inimigo externo. Com os italianos, o debate se aprofunda, uma vez que uma questão se impõe: a resistência teria se dado em relação a Mussolini (então, desde a década de 1920) ou no contexto da capitulação da Itália, da ocupação alemã e da República de Saló (1943)? E no caso alemão, em que o país não foi invadido? Haveria espaço para resistir? O que seria resistir naquele contexto?
Há ainda outros imperativos que dialogam diretamente com cada realidade nacional. Por exemplo, aquilo que envolve a coletividade ou individualidade da agência. No caso francês, a ação é primariamente coletiva (ainda que algumas atitudes individuais sejam consideradas também atos de resistência), enquanto na Alemanha a individualidade se impõe. O mesmo contraste se observa em relação à legalidade: enquanto na França a ilegalidade é condição mandatória para o ato de resistir, na Alemanha os resistentes são encontrados dentro dos signos das leis de então (funcionários de Estado, generais e outros militares, por exemplo que, em suas atividades, conseguiram de alguma forma apoiar o combate ao nazismo). Aqui a escolha da autora em comparar as distintas experiências se mostra um grande acerto, pois fica evidente essa ocasionalidade que conforma o conceito. No Estado invadido pode haver essa associação com a coletividade porque essa – a princípio – é contrária à barbárie nazista3, enquanto no outro a resistência tem que ser individual porque a coletividade é o inimigo. Na primeira agir ilegalmente é enfrentar o autoritarismo; na segunda, é necessário buscar a partir da legalidade a prátia resistente.
À essa pequena amostra da complexidade do debate somamos as cores locais de cada caso analisado. O que cada autor (e fontes, nos capítulos seguintes) considera ser resistência. Isso também varia, e muito, ao longo do tempo e de acordo com as subjetividades e escolhas políticas. Rollemberg destaca a importância de trabalhos como os de Henri Michel na década de 1960 e de Robert Paxton na seguinte (p. 23-25) para promover o repensar sobre o papel da França e dos franceses na Segunda Guerra Mundial. Ao fim e ao cabo, a variante que torna a conceitualização de “resistência” tão difícil é justamente a vida humana, tão prenhe de inconsistências e desvios que marcam uma trajetória individual. Nas discussões analisadas pela historiadora, é crucial considerar o que Primo Levi chamou de “zona cinzenta”, que escancara a insuficiência da oposição “resistente” versus “colaborador”, como se somente existisse a possibilidade de ser um ou outro. O termo, como disse Levi em Os Afogados e os Sobreviventes (2004), refere-se a uma zona de contornos mal definidos, da qual bem e mal, culpa e inocência fundem-se nos comportamentos do campo, impedindo qualquer tentativa de racionalizar a experiência concentracionária. Extrapolar o uso do termo da experiência dos campos para as vivências em territórios ocupados ou governados pelos fascismos é, para essa historiografia, ser capaz de observar a multiplicidade de comportamentos e a imensa dificuldade em atingir o consenso. Rollemberg, nesse sentido, comenta que mais importante do que encontrar essa definição harmônica é observar justamente as tensões e limites do uso da palavra (p.67).
Importa, por fim, destacar nesse capítulo que a autora comenta também sobre outros conceitos que rodeiam o de resistência, como os de oposição, resiliência, dissensão, entre outros. Os tais múltiplos comportamentos que destacam a vida na zona cinzenta, repetimos, são difíceis de serem aceitos dentro das rédeas de uma definição.
Sem que esse debate se feche, ele ganha novos e intrincados contornos, quando confrontados diante da temporalidade e dos usos políticos do passado. Isso fica gritante ao final do capítulo, quando a historiadora nos atenta para uma importante tensão entre memória e história: há um evidente descolamento narrativo no que envolve a questão étnica e racial e a luta contra a extrema-direita nesse momento analisado. O aspecto racial dos fascismos não importava muito para a ação resistente4. Por outro lado, ele é crucial para o esforço de memória. Não foi o gatilho das resistências, mas é a tônica da lembrança sobre elas.
É com esse olhar que Rollemberg analisa os Museus e memoriais da Resistência no restante do livro. A parte 1, composta pelos capítulos 2 e 3, dedica-se ao caso francês. No capítulo 2, a autora enfoca um rico conjunto de cerca de 60 museus ao longo de todo o território nacional. Ao observar tão ampla gama de lugares de memória (e aqui devemos a Pierre Nora o aparato teórico para a discussão), a historiadora chega a algumas conclusões interessantes. Existem, é claro, especificidades para cada instituição, relativas a questões de acervo, iluminação, uso de som, recursos audiovisuais, a grandiloquência do local, a cenografia, entre outros aspectos. No entanto, também parece claro a ela um certo apego a determinados modelos. Charles de Gaulle e Jean Moulin, lideranças da Resistência (externa e interna) Francesa, são figuras onipresentes, que têm destacadas as suas ações heroicas durante o conflito, enquanto são deixados de lado aspectos que poderiam ser contraditórios (mesmo no Museu Jean Moulin, em Paris)5.
Em termos narrativos, visualiza a repetição daqueles lugares comuns que apostam na cronologia mais simples para tratar da ascensão da extrema direita no período entreguerras até o estopim do conflito mundial e a experiência concentracionária. Há um certo apagamento das regionalidades de cada museu em nome dessa narrativa única e da função pedagógica que lhes cabem (p.125). A autora observa que existem poucos relatos de sobreviventes de campos de trabalho nos museus, e de nenhum relativo aos colaboradores. Ora, isso seria escancarar as inconsistências, a zona cinzenta, e a participação ativa do estado francês no genocídio (p.122). Um desserviço ao esforço de pacificação do passado proposto pelos museus.
Aqui apresenta-se o argumento mais forte desse capítulo, que é justamente a percepção de que há uma sobreposição da memória em relação à história nas narrativas museológicas. Diz a autora:
Sendo os museus históricos – informativos ou comemorativos – lugares de memória, são por natureza do campo da memória, não da história. Em outras palavras, nasceram reféns da memória. A crítica, já existente em muitos museus da Resistência, encontra aí seus limites. Ela se realiza plenamente quando faz dos museus objeto da história. (p.97)
Justifica-se, assim, a relevância do estudo materializado no livro da autora. O museu possui a dupla função comemorativa e informativa. Precisa produzir conhecimento e provocar emoção. Em nome disso, escolhas são feitas, e silenciamentos promovidos sem muito pudor. A vocação maior do museu é a celebração, e não a crítica. Daí a escolha dos temas da perseguição e da deportação, mesmo que não tenham por muitas vezes sido a motivação primeira dos movimentos da Resistência celebrados no espaço museológico. Daí a renovação historiográfica que acompanha os estudos sobre o período desde a década de 1970 ser incorporada timidamente naqueles espaços de memória. Daí a potência de um discurso que valoriza um coletivo imaginado: nós resistentes enfrentamos ele (indivíduo) colaborador.
O terceiro capítulo dedica-se à análise da escrita epistolar numa situação extrema: indivíduos que, resistentes ou reféns, receberam o aviso de que seriam fuzilados. Diante da certeza da morte, dentro de poucas horas, vinha a última missão de resumir uma trajetória e enviar a última mensagem aos entes queridos em algumas linhas. O número de indivíduos que passou por essa experiência não foi desprezível: cerca de 4.020 pessoas (p.172).
Denise Rollemberg esmiúça a morfologia de um conjunto de centenas dessas cartas e observa que, da situação-limite nasce uma escrita-limite (p.182). Os autores, provenientes dos mais distintos grupos sociais, regiões e convicções políticas e religiosas recorrem, muitas vezes, a temáticas e argumentos semelhantes quando estão a se despedir da vida. Em geral, parece que prevalece a ideia do “bem morrer”: uma postura de tranquilidade em relação ao final de suas trajetórias. Claro que a autora leva em consideração que as cartas possuem o objetivo de tranquilizar parentes e companheiros, e por isso imprimir um tom de serenidade pode ser importante para aquelas pessoas. Além disso, não se pode desprezar que essas cartas passaram pela censura (seja alemã, seja francesa) antes de chegar aos destinatários. Outras que contivessem informações consideradas problemáticas jamais conheceriam o seu destino.
Outros apontamentos são dignos de menção. Reforçando a ideia presente no primeiro capítulo sobre a clivagem entre história e memória, ela observa que, no íntimo, o judaísmo não é a força motriz desses indivíduos. São raras as menções à rotina judaica, ainda que o elo com valores cristãos seja bastante presente (p.189). Isso, aliás, é um argumento interessante da autora, que observa a prevalência dos valores da família, religião e tradição nas cartas. Ora, a tríade é bastante próxima do lema da França de Vichy: trabalho, família, pátria (p.199). A ela, parece então que os valores dos condenados são bastante conservadores, ao ponto de se confundirem com aqueles dos colaboracionistas.
Se algo parece revolucionário à autora, é na questão dos condenados com suas esposas. Mesmo diante da pressão de uma sociedade católica e conservadora, quase sempre sugeriam que suas mulheres buscassem a felicidade em novos relacionamentos. Isso, talvez, esteja de acordo com aquilo que subjaz a esse tipo de escrita: as cartas de despedida são, no limite, cartas para si. São expressões da imagem que aquelas pessoas queriam deixar para a posteridade, como gostariam que fossem lembrados. É, de alguma forma, a curadoria de uma memória individual.
A Parte II do livro analisa o caso italiano. No capítulo 4, Rollemberg estuda dezesseis museus e suas construções memorialísticas. Convencionou-se no discurso museológico que a resistência no país teria início em 8 de setembro de 1943, quando do armistício italiano. Esses museus escrevem uma história da Itália até abril de 1945, quando termina a ocupação estrangeira do país. A escolha narrativa, então, fica clara: trata-se do combate contra a Alemanha, e não ao fascismo de Mussolini, que demandaria um recuo temporal maior. Dessa forma, também elencam indivíduos do partido fascista como heróis da Resistência nos museus e memoriais.
Ao mesmo tempo, há um sutil deslocamento temporal do antifascismo na Itália, como se ele fosse dominante desde a década de 1930, e não somente após a crise do regime de Mussolini depois de 1940. O esforço de silenciar o passado fascista é bem claro. É por isso, também, que os museus italianos, diferente dos franceses, apostam mais nas histórias locais em suas representações. É mais um artifício para afastar-se do coletivo, uma vez que o governo italiano era fascista ao início do conflito.
O caso mais curioso destacado pela autora nesse capítulo é o da Piazzale Loreto, em Milão, onde ocorreu a famosa efeméride na qual os corpos de Mussolini, sua amante Clara Petacci e outros fascistas foram pendurados num posto de gasolina e ficaram expostos para a população local. Da cena, restam pouco mais que vestígios. O posto não está lá, o matagal cobre o memorial existente no local… O passado embaraçoso foi sendo recalcado, e tentou-se imprimir, a partir da Resistência, a visão oposta, a do júbilo pela morte gloriosa, diretamente associada ao martírio cristão.
O capítulo final discorre sobre uma das grandes histórias da resistência italiana, a dos Sette Fratelli. Na região da Emilia-Romagna, em 28 de dezembro de 1943, sete irmãos, trabalhadores rurais, foram fuzilados. Faziam parte de uma família que, ali, fazia oposição ferrenha ao regime fascista (o irmão mais velho era do Partido Comunista) e, quando da Ocupação, auxiliava em ações clandestinas para proteger outros membros da oposição ao regime. Centenas de estrangeiros passaram pela fazenda da família e encontraram abrigo e proteção. Não poderia haver narrativa mais conveniente a um esforço de memória sobre a Resistência.
A autora destaca a potência dessa história familiar aos esforços de memória, e mapeia as variações narrativas sofridas pela mesma. O cortejo dos corpos, acompanhado por uma multidão, ganhou status de celebração da liberdade somente quatro anos depois de ocorrido. E foi em 1953, quando Ítalo Calvino escreveu dois textos sobre o acontecido – o que por si só já é uma amostra do alcance da história – ela parece se estabelecer no imaginário social, inspirando outras obras literárias, pinturas e o cinema, através de documentários e um filme. A casa da família, naturalmente, tornou-se um museu. Aqui, não parece haver espaço para a historiografia. Calvino comete um equívoco (intencional ou não), situando a formação do grupo resistente após o armistício e não no contexto anterior, quando de fato ocorreu, e é essa narrativa que se cristaliza. Uma vez mais, como diz Rollemberg, “a memória inventa o passado” (p.345).
Resistência parece cumprir uma dupla função no debate acadêmico brasileiro. Por um lado, é mais um expoente da hoje consolidada discussão acerca das relações entre história e memória, presente em parte relevante de teses e dissertações produzidas nos últimos anos. Traz à cena uma bibliografia mais ampla sobre um debate que nos tem sido tão caro. Ao mesmo tempo, esse panorama conceitual e metodológico propicia novas visões sobre os fascismos e sobre a guerra, que devem ser levadas em conta em novas publicações sobre o tema.
Notas
2. A história dos conceitos, como sabemos, ganhou bastante corpo sobretudo a partir dos estudos de Reinhart Koselleck. Lembremos com o autor (mesmo que não tenha sido citado por Rollemberg) da ideia de que um conceito é também um ato – uma vez que colabora com uma prática ou ação no tempo histórico, e não apenas o nomeia. Isso fica muito claro com o conceito de Resistência.
3. É muito importante destacar que aqui pensamos dentro da perspectiva das narrativas construídas sobre os eventos e que foram centrais nas discussões conceituais sobre a “Resistência”. Dizemos isso por conta da experiência colaboracionista francesa, encarnada na França de Vichy, que a autora também destaca e analisa em seu livro.
4. O antissemitismo, por exemplo, não fazia parte dos discursos e práticas políticas de Mussolini na Itália. Na França, a maioria dos movimentos que compôs a M.U.R. (Movimentos Unidos da Resistência) não tinha a luta racial como pauta.
5. Na própria apresentação do livro a autora destaca a homossexualidade de Jean Moulin, que não aparece em nenhuma narrativa museológica, já que o grande mártir da Resistência não poderia, dentro de uma perspectiva conservadora de sociedade, estar associado a esse aspecto de sua intimidade. Lembremos também da problemática presidência de De Gaulle no contexto pós-guerra, entre 1959 e 1969.
Jougi Guimarães Yamashita – Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor do Ensino Fundamental da Escola Municipal Albert Einstein-RJ. E-mail: jougihist@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3686-4500
CRUZ, Denise Rollemberg. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Ed. Alameda, 2016. Resenha de: YAMASHITA, Jougi Guimarães. As resistências à história nas narrativas museológicas francesas e italianas. Caminhos da História. Montes Claros, v. 23, n.1, p.118-124, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
Joana d’Arc: Uma Biografia | Colette Baune
Em 2016, a versão em português de Joana d’Arc: uma biografia completou dez anos. Lançada no Brasil pela Editora Globo em 2006, a obra de Colette Beaune é uma das leituras fundamentais para aqueles que se interessam pela história da heroína francesa.
Joana d’Arc é uma das personagens mais icônicas do Ocidente medieval. Em apenas dois anos, período entre seu aparecimento na corte de Carlos VII e sua morte, Joana conseguiu conquistar o coração e a imaginação de seus contemporâneos e se inscrever no panteão dos personagens que transcendem seu tempo e espaço.
Fazendo um breve levantamento é possível encontrar mais de setenta obras literárias nas quais Joana d’Arc é personagem, a lista se inicia no século XV e chega até o presente. Além da literatura, Joana foi retratada em cerca de treze produções cinematográficas, da emblemática atuação de Renée Falconetti, em “La passion de Jeanne d’Arc”, filmado em 1927 e dirigido por Carl Dreyer, até a superprodução dirigida por Luc Besson em 1999, “Jeanne d’Arc” a qual contou com a brilhante interpretação de Milla Jovovich que deu vida a uma Joana ingênua e perturbada por vozes. Afora o cinema e a literatura, a Donzela aparece em jogos de videogame e quadrinhos.
Joana foi uma jovem francesa cuja existência transita entre o mito e a realidade e cuja eternidade está garantida na memória e imaginação das pessoas. Não é de surpreender que tenha sido escolhida como objeto de pesquisa por Colette Beaune, uma especialista em História da França e em História das Mulheres.
Colette Beaune é professora emérita da Universidade de Paris X, especializada em história cultural, politica e social do final da Idade Média. Entre suas publicações estão Naissance de la nation France, 1985; a edição do texto do Journal d’un Bourgeois de Paris: de 1405 à 1449, 1989; e Jeanne d’Arc, 2004 (Joana d’Arc: uma biografia, Editora Globo, 2006). A obra foi caracterizada pelo Senado francês como própria para nutrir a reflexão cívica e rendeu à Colette Beaune o Prix du Sénat du Livre d’Histoire, em 2004. Joana d’Arc: uma biografia apresenta muito mais que a história de Joana, é, em referência aos termos utilizados por Beaune, “Joana além de Joana”.
Estamos acostumados com a Joana d’Arc do universo mítico, um personagem real que foi apropriado pela ficção e representado a partir do fantástico, do maravilhoso, do extraordinário. Colette Beaune retira Joana da névoa do fantástico e a insere em seu contexto. Assim, a heroína francesa é tratada como um personagem histórico e serve como fio condutor para discussões sobre guerra, política, cultura e sociedade na Idade Média.
Partindo dos processos de condenação, que sentenciou Joana à fogueira por heresia, em 1431, e de anulação, que a reabilitou em 1456, Beaune discute aspectos da vida de Joana. A investigação também utiliza outros documentos, tais como crônicas, cartas e demais informações relacionadas à Donzela.
O texto de Beaune apresenta Joana e problematiza as características de suas várias representações. Assim como qualquer indivíduo, Joana d’Arc é um personagem multifacetado e a escolha de quais elementos são evidenciados por aqueles que a retratam, nos informam tanto sobre Joana quanto sobre os que a representam.
Sua origem obscura, no vilarejo de Domrémy, por exemplo, pode ser entendida a partir da comparação com a vida de Cristo e, de forma mais genérica, com a trajetória dos heróis. O modelo de vida heroica é compartilhado por figuras como Cristo, Ulisses, Davi e serviu de base para a construção da imagem de Joana como heroína da França.
Sua juventude em Domrémy também é cheia de misticismo e fantasia, e colocam Joana como um ser único, mágico. Beaune, entretanto, apresenta as práticas de uma sociedade rural e as insere em um conjunto mais amplo. Bem como, expõe as formas como os processos de condenação e de reabilitação se utilizaram dos ritos e práticas populares para defender posições diametralmente opostas. Grande parte dos elementos que constituíram o argumento de sua condenação foram refutados e utilizados em sua defesa.
Não foram apenas os contemporâneos de Joana que disputaram sua imagem, historiadores do século XIX e XX apresentaram diferentes opiniões sobre Joana. Letrada ou iletrada? A heroína da França teria sido uma jovem iletrada, que recebia suas ordens através de vozes divinas ou teve acesso à educação em algum momento de sua curta vida?
As vozes de Joana não escapam da perscrutação de Beaune. Um dos elementos brilhantemente explorados pelo cinema e pela literatura, a questão da inspiração divina, é abordado por Colette a partir da tradição de profetisas que surgiam em tempos de crise, anunciando a palavra de Deus. A jovem donzela de Domrémy não foi a primeira nem a última, certamente, a levar revelações divinas aos homens.
Se por um lado, Joana foi mais uma das profetisas medievais, por outro lado, suas revelações e sua participação tiveram um caráter único e extraordinário: a capacidade de mobilizar e sensibilizar a população francesa, tão desgastada pela longa guerra contra a Inglaterra.
A participação de Joana no levante do cerco de Orléans juntamente com a sagração de Carlos VII em Reims foram os pontos máximos de sua participação no conflito. Mas que de forma se deu essa participação? Joana empunhou a espada, conduziu as tropas como chefe de guerra ou apenas levantou seu estandarte como símbolo e motivação aos combatentes? Colette Beaune não se limita a discutir o papel de Joana na Guerra dos Cem Anos, a questão enunciada é mais profunda e abrangente: a guerra pode ter um rosto de mulher?
E, essa mulher em específico, inserida em uma sociedade que estava agitada por complexas disputas políticas internas e externas, atuava de forma independente? Era motivada pelo testemunho dos sofrimentos dos franceses ao longo de uma guerra sem fim ou estava agindo de acordo com um alinhamento político forjado por relações familiares e alianças políticas?
Essas problematizações de Beaune tornam o livro, além de uma brilhante biografia, uma fonte de inspirações para a pesquisa sobre o período medieval. E, para além da Idade Média, instiga a curiosidade sobre as diversas apropriações que a imagem de Joana d’Arc sofreu ao longo do tempo.
Não é sem motivos que Joana se tornou um símbolo reivindicado por diversos grupos: a insuficiência de informações registradas nos impede de uma aproximação do personagem histórico, ao mesmo tempo permite que sua imagem seja montada e reconstruída das mais diversas formas.
Em Joana d’Arc: uma biografia Colette Beaune resgata essas múltiplas facetas da Donzela para apresentar a sociedade francesa, seus valores, seus anseios e preocupações; a guerra e a política que influenciaram e foram influenciadas por Joana; o martírio de uma jovem que coroou seu rei e foi reverenciada como heroína e, poucos anos depois, queimou na fogueira inglória, acusada de heresia.
O livro de Colette Beaune é uma obra fundamental para a compreensão de Joana d’Arc como personagem histórico e é extremamente relevante para o entendimento de vários aspectos da sociedade medieval. A linguagem de fácil compreensão é acompanhada por referências bibliográficas extremamente ricas, o que o torna uma aquisição fundamental para a biblioteca de pesquisadores e de não pesquisadores.
Paula dos Santos Flores – Mestranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: paulaflrs@gmail.com
BAUNE, Colette. Joana d’Arc: Uma Biografia. São Paulo: Globo, 2006. Resenha de: FLORES, Paula dos Santos Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.17, n.2, p. 159- 162, 2017. Acessar publicação original [DR]
Paris: Capital da Modernidade | David Harvey
Conhecido como um dos grandes intérpretes do Marxismo na atualidade, David Harvey revela-se, também, como um dos maiores expoentes da chamada Critical Geography. Formado pela University of Cambridge, onde obteve seu doutorado em 1961, este geógrafo britânico tem especial afeição pelo estudo e pela análise das transformações econômicas, sociais, históricas e culturais do espaço urbano. Professor emérito de antropologia da City University of New York, Harvey explora em suas pesquisas o domínio dos diferentes circuitos do capital e os processos relacionados à intensificação do sistema de crédito e consumismo ostentatório, focando-se no estudo dos atores da produção do espaço. Essas problemáticas atravessam o caleidoscópio de suas análises: em Social Justice and the City, de 1973, ele já demonstrava um fascínio por temas relacionados ao planejamento urbano, à desigualdade de renda entre bairros ricos e pobres e à formação espacial da cidade. Por meio de uma crítica contundente, ele desenvolveu a ideia de que a formulação de uma teoria contrarrevolucionária em Geografia só seria possível via marxismo. Suas investigações têm contribuído para demonstrar como o capitalismo aniquila o espaço, no intuito de garantir sua própria reprodução, como se pode constatar em Condition of Postmodernity, de 1989. Como um dos mais destacados especialistas desse campo, Harvey também produziu reflexões a respeito das crises econômicas do capitalismo (The enigma of Capital, publicado em 2010) e das características atuais do imperialismo (The New Imperialism, publicado em 2003). Publicado originalmente em 2003, Paris: capital da Modernidade revela a preocupação do autor com questões relacionadas ao denominado “direito à cidade” (Henri Lefebvre), elemento constitutivo de sua trajetória. David Harvey esteve no Brasil em junho de 2015, para lançar a versão traduzida dessa obra no Seminário Internacional Cidades Rebeldes, momento em que debateu questões relacionadas às atividades econômicas, aos hábitos sociais, às estruturas de poder e à consolidação da expansão do sistema capitalista. Leia Mais
La possession de Loudun – DE CERTEAU (RMA)
CERTEAU, Michel de. La possession de Loudun. Paris: Gallimard ed., 2005. Resenha de: COSTA, Otávio Barsuzzi da. Revista Mundo Antigo, v.6, n.12, jun., 2017.
Biografia
Nascido em Chambéry, em maio de 1925. De uma formação ecleticamente invejável, formou-se em Filosofia, História, Teologia e Letras Clássicas nas universidades de Grenoble, Lyon e Sobornne, em 1950, ele ingressa na companhia de Jesus; em 1956 é ordenado sacerdote e vive como jesuíta onde é formado teólogo pelo seminário jesuíta de Lyon. Se preocupa com estudos de método de e analise de textos ascéticos e místicos da renascença. Erudito e jesuíta, Michel de Certeau é um nome bastante conhecido na academia de ciências humanas. Ocupando cadeiras de universidades americanas de peso tais como Universidade da Califórnia e San Diego, mais tarde ocupará uma cátedra de “Antropologia Histórica das Crenças, na École des hautes études en sciences sociales (Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais) se torna um autor fundamental em todas ciências sociais. Leia Mais
Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII – DARNTON (FH)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução de Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, 228p. Resenha de: PAIVA, Thayenne Roberta Nascimento. Música e oralidade na queda do Antigo Regime. Faces da História, Assis, v.4, n.2, p.249-255, jun./dez., 2017.
Em 2014, a Companhia das Letras publicou o mais recente livro do historiador norte-americano Robert Darnton, intitulado Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII, que teve publicação original em inglês, pela Cambridge, nos EUA, em 2010. Em linhas gerais, o livro destina-se a percorrer circuitos difusos de comunicação e intrigas políticas, que culminaram em uma série de poemas e canções populares sediciosas, e, portanto, de protesto e de cunho difamatório, na Paris de meados do século XVIII.
Robert Darnton é formado pela Universidade de Harvard e com Doutorado pela Universidade de Oxford. Assumiu a chefia da Biblioteca de Harvard em 2007, sendo responsável pela autorização e disponibilização na Internet de considerável produção intelectual da Universidade. Especialista em História do Livro e sobre a França do século XVIII, produziu obras renomadas, tais como O Iluminismo como negócio (1996), Os best-sellers proibidos da França pré-revolucionária (1998), A questão dos livros: passado, presente e futuro (2010), O beijo de Lamourette – Mídia, cultura e revolução (1990) e O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa (1984) ̶ sendo sua obra mais difundida ̶ , Os dentes falsos de George Washington (2003) e O diabo na água benta, ou a arte da calúnia e da difamação de Luís XIV a Napoleão (2012), dentre outras.
O livro é estruturado em introdução, quinze capítulos curtos, conclusão. Além disso, possui um apêndice, aonde estão presentes as letras, em francês, dos seis poemas sediciosos que foram produzidos, contendo, inclusive, as referências bibliográficas de sua localização (anexo intitulado As canções e os poemas distribuídos pelos Catorze); a respeito do poema “Qu’une bâtarde de catin” (que inclusive intitula o capítulo desta seção), expõe-se como o texto sofreu modificações ao longo de sua difusão; relatos sobre a circulação do poema sedicioso, que gerou a queda do ministro francês Maurepas e de que modo o poema foi apresentado em algumas referências bibliográficas; no capítulo seguinte, intitulado O rastro dos Catorze, adquirimos conhecimento de um resumo geral da investigação; acerca de A popularidade das melodias, tem-se uma noção estatística sobre as chansonniers mais populares na década de 1740; e, o último capítulo deste apêndice, sob o título Um cabaré eletrônico: canções de rua de Paris, 1748-50. Cantadas por Hélène Delavault, apresenta um site de Harvard2 disponibilizando as melodias mais comuns na Paris do século XVIII e sobre as quais foram usadas para introduzir os versos sediciosos produzidos. Neste capítulo, ainda temos as letras em francês, e sua tradução, dos poemas musicados e outras, sobre a queda de Maurepas, Luis XV, dentre outras.
A respeito do conteúdo propriamente dito da obra, Poesia e polícia parte da observação e investigação de uma complexa rede de comunicação, a partir do estudo de caso sobre o episódio conhecido como “O caso dos Catorze” (L’Affaire des Quatorze), iniciado com a prisão do estudante de medicina, François Bonis, em 1749. O motivo foi ter recitado um poema não autorizado contra Luís XV, já que “Difamar o rei num poema que circulava abertamente era uma questão de Estado, um crime de lèse-majesté” (DARNTON, 2014, p. 13). À sua prisão seguiram-se outras, relacionadas ao poema, contabilizando, ao final, catorze prisões de homens pertencentes “às camadas médias da provinciana sociedade parisiense” (Idem, 2014, p. 22).
O historiador igualmente averigua a criação de cinco outros poemas populares seguidos a este e, especialmente, a introdução destes em chansonnieres, canções populares que disseminavam a opinião pública sobre a corte de Luís XV. Esses dois mecanismos de disseminação do descontentamento popular expõem sob quais modos circulavam a informação na sociedade francesa setentecista. Assim, a meta de Darnton é descobrir porque tais poemas se revelaram do interesse das autoridades de Paris e de Versailles, além do interesse pela rede de comunicação existente sobre os poemas.
Para tanto, Robert Darnton recria, por meio de uma metodologia de policial investigativo, algo da cultura oral que geralmente é difícil de ser apreendida pelo historiador, dada a ausência de suportes textuais que garantam sua preservação. Em outras palavras, debruça-se sobre as trocas de informação por meio da oralidade. Este é o ponto central deste livro, resgatando-o em investigações policiais, nos dossiês da época. O objetivo é “(…) seguir a trilha de seis poemas por Paris em 1749, à medida que eram declamados, memorizados, retrabalhados, cantados e rabiscados em papel (…) durante um período de crise política” (Idem, 2014, p. 8). Dada a empreitada, discute a ilusão de se supor que as sociedades pretéritas não se preocupavam ou não possuíam uma rede de comunicação. É anacrônico pensar em uma “sociedade da informação” somente pelo avanço tecnológico − o que Darnton critica, chamando de espécie de “falsa consciência acerca do passado” (Idem, 2014, p. 7).
Embora a composição do grupo dos Catorze fosse principalmente de escrivães e abades, grupo social letrado, muitas vezes a transmissão dos poemas acontecia pela memorização. Como aponta o historiador, o Caso dos Catorze pode ser visto como manifestação da opinião pública, mas de uma maneira mais prática, no recurso mnemônico e na circulação dos poemas, tomando-a como força motora da história.
Destes poemas, dois foram transmitidos pela música, na forma de melodias populares, as chansonniers – que funcionavam como uma espécie de troca oral. A composição destas melodias se exprimia com letras novas em melodias antigas.
Outro aspecto salientado foi a gama de informações produzidas pelo inspetor geral de polícia, Joseph d’Hémery3, que era profícuo e meticuloso em seus detalhamentos sobre as prisões. Destarte, Darnton destaca que todas as prisões efetuadas produziam dossiês com informações abundantes sobre os comentários políticos que apareciam nestes circuitos de comunicação.
Não obstante, tais informações jamais apontaram o autor dos poemas. Para o historiador dificilmente possa ter existido um autor principal, dado os acréscimos e modificações que as estrofes sofriam, sustentando a ideia de uma autoria coletiva, a partir da memorização daqueles que faziam, considerando-os igualmente autores dos poemas. Além disso, ainda que os poemas pudessem ser percorridos, pois muitos deles foram encontrados rabiscados em pedaços de papel no bolso daqueles que foram presos, a transmissão deles era incerta. Estes poemas desapareciam de modo aleatório e ressurgiam já modificados.
Não apenas as linhas de transmissão, mas também os próprios versos das canções eram substituídos por outros – criando uma espécie de “interferência subjetiva” (Idem, 2014, p. 73). Isto expunha um fácil sistema de improvisação com fins de entretenimento, dada sua ocorrência em “tavernas, bulevares e desembarcadores”, o que implica em uma circulação muito maior do que se imaginaria, pois, qualquer pessoa, nobre ou plebeu, poderia modifica-los dada uma “versificação que era tão simples”. Percebe-se, assim, que as melodias funcionavam como recurso mnemônico e os poemas eram multivocais.
Portanto, se não possui autoria precisa, também não existia uma direção ideológica específica, afirma Robert Darnton. Nos dossiês analisados não se encontra movimentos iniciais de revolução, no máximo “Um sopro de Iluminismo, sim; uma suspeita de hostilidade ideológica, seguramente; mas nada parecido com uma ameaça ao Estado” (Idem, 2014, p. 31). Tanto que, na exposição do interrogatório de um dos presos, Alexis Düjast, o interesse residia pelos aspectos poéticos e políticos dos poemas, isto é, “(…) nada semelhante a uma conjuração política” (Idem, 2014, p. 25). Então, Darnton, em boa parte dos capítulos iniciais, levanta a questão: “(…) Por que a polícia reagiu de forma tão enérgica?” (Idem, 2014, p. 28).
O historiador Robert Darnton admite, momentaneamente, a impossibilidade de resposta ao interesse tão forte da polícia sobre este caso, mais ainda por dois pontos por ele sublinhados: esta rede não teceu comunicação nem com a alta burguesia e nem com o povo. Mas o que Darnton ressalta e, que talvez ajude a clarear sobre a autoria dos poemas é que eles circulavam também na Corte, ou mesmo que tenham sido criados, inicialmente, em Versailles. Qual fato justificaria isso, então? Quando ocorreu a mudança no equilíbrio de poder, com a destituição de Jean-Frédéric Phélypeaux, o conde de Maurepas4 do cargo de ministro de Luís XV, sendo exilado em 24 de abril de 1749.
A causa principal foi a coleção de poemas sediciosos, além de canções de mesma natureza, que ele colecionava. Continham os mexericos e intrigas acerca da vida na corte. O próprio Maurepas encomendava os poemas para difamar as amantes do rei (além do próprio rei), como foi com Jeanne-Antoinette Poisson, a Madame Pompadour5.
O intuito do ministro era enfraquecer a influência dela sobre o rei. Não obteve sorte, pois Mme Pompadour influenciou Luís XV para demitir Maurepas, assim sendo feito.
A quantidade de canções e poemas circulantes pós esse exílio revelam possivelmente uma tentativa desesperada de Maurepas e seus seguidores de retornar ao poder.
A influência de Pompadour era emblemática, ascendendo ao mesmo cargo o seu “braço direito” Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, conde d’Argenson6. Este, em sua busca frenética pela autoria dos poemas desejava “consolidar sua posição na corte durante um período em que os ministros estavam sendo redistribuídos e o poder, repentinamente parecia instável”, podendo, desta forma, “controlar o novo governo” (Idem, 2014, p. 41).
Desse modo, Darnton expõe o coração pulsante no caso dos Catorze: por trás de meras declamações de poemas, representava, em seu interior, “uma luta pelo poder situada no coração de um sistema político” (Idem, 2014, p. 41). Em relação aos catorze envolvidos no caso tiveram suas vidas arruinadas, corroborado pelo exílio que sofreram. Significa afirmar, segundo o próprio historiador, que os catorze envolvidos não possuíam consciência de seus atos, ainda mais na qualidade de crime, como foram classificados.
Em termos metodológicos, Darnton se propõe a uma longa exposição descritiva do Caso dos Catorze, sob interpretação cultural, não direcionando uma linha teórica clara, apenas adotando a postura de um historiador investigativo, procurando pistas e fios condutores. A ausência de um condutor teórico em sua obra, embora com uma linguagem acessível e para um público tanto acadêmico quanto não-acadêmico, seja um dos aspectos negativos. Outro ponto negativo é que não há delimitações conceituais sobre o que ele considera opinião pública. Além disso, o historiador torna o texto confuso quando em alguns momentos afirma não poder dar respostas ao interesse tão forte da polícia sobre O Caso dos Catorze, o que é sempre desmontado no capítulo seguinte, o que talvez exponha a fraca habilidade de Darnton de tentar fazer deste livro um encadeamento paulatino de mistérios e possíveis soluções.
Entretanto, outrossim, possui aspectos positivos, tais como a circulação destes poemas, que embora tenham começado com um grupo de letrados, expandiu-se para as camadas mais populares da França do século XVIII, que se entretinham com a mudança de versos, para zombar ou difamar o rei Luís XV, suas amantes e a Corte. Para o historiador Robert Darnton, os poemas são apenas uma das formas de “literatura de protesto” (Idem, 2014, p. 125) contra o Antigo Regime e que mesmo descoberto alguns de seus atuantes, revela a participação crítica e de insatisfação de quase todas as camadas da sociedade parisiense.
Também válido foi a apresentação do projeto eletrônico da Universidade de Harvard, possibilitando as pessoas a se transporem para aquela época, com a musicalização destes poemas – como fontes de época −, no sítio eletrônico <www.
hup.harvard.edu/features/dapoe>, sob interpretação de Hélène Delavault. Igualmente acertado a mobilização de imagens que ilustram cantores itinerantes, os manuscritos dos poemas, as partituras de algumas das músicas originais que serviam como base para a troca dos versos e uma lista rabiscada em um papel com os nomes daqueles que foram presos.
Notas
2 O site www.hup.harvard.edu/features/darpoe é indicado pelo autor, como forma de os leitores tomarem conhecimento de como as letras e melodias foram produzidas durante o período de colapso do Antigo Regime. O endereço eletrônico é fornecido por Darnton e se encontra na p.177.
Para maiores informações a respeito dos procedimentos e estruturação dos dossiês gerados por d’Hémery em outros casos investigativos, ver, especialmente, DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Tradução de Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
4 Para maiores informações sobre o conde de Maurepas, consultar: RULE, John C. Jean-Frederic Phelypeaux, comte de Pontchartrain et Maurepas: Reflections on His Life and His Papers. The Journal of the Louisiana Historical Association, vol. 6, 1965, p. 365-377 e RULE, John C. The Maurepas Papers: Portrait of a Minister. French Historical Studies, vol. 4, Duke University Press, 1965, p. 103-107.
5 Sobre Madame Pompadour, ver, por exemplo: ABBOTT, Elizabeth. Mistresses: A History of the Other Woman. London: Penguin Books, 2011 e MITFORD, Nancy. Madame De Pompadour. London: Hamish Hamilton, 1st edition, 1954.
6 Esclarecimentos sobre esta figura histórica podem ser obtidos em: COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson (1696-1764): Ministre de Louis XV. Paris: École des Chartes, 1999.
Referências
ABBOTT, Elizabeth. Mistresses: A History of the Other Woman. London: Penguin Books, 2011.
COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson (1696-1764): Ministre de Louis XV. Paris: École des Chartes, 1999.
DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Tradução de Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
________________. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução de Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
MITFORD, Nancy. Madame De Pompadour. London: Hamish Hamilton, 1st edition, 1954.
RULE, John C. Jean-Frederic Phelypeaux, comte de Pontchartrain et Maurepas: Reflections on His Life and His Papers. The Journal of the Louisiana Historical Association, vol. 6, 1965.
___________. The Maurepas Papers: Portrait of a Minister. French Historical Studies, vol. 4, Duke University Press, 1965.
Sítio eletrônico citado na obra www.hup.harvard.edu/features/darpoe. Acesso em: 21 de março de 2017.
Thayenne Roberta Nascimento Paiva – Graduada em Bacharelado e Licenciatura, respectivamente, pelo Instituto de História e a Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, é mestranda em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Email: thayenne-intelectus@hotmail.com.
[IF]
Resistência – Memória da ocupação nazista – ROLLEMBERG (Tempo)
ROLLEMBERG, Denise. Resistência – Memória da ocupação nazista na França e na Itália.. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 374p. Resenha de CARVALHO, Bruno Leal Pastor. Resistência – memória e historiografia em panorama. Tempo v.23 no.1 Niterói jan./abr. 2017.
O nome da historiadora Denise Rollemberg, professora de história contemporânea do Instituto de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), sempre esteve muito associado aos estudos sobre ditadura militar brasileira, tema para o qual contribuiu de maneira original com as pesquisas que realizou no mestrado e no doutorado. Nos últimos anos, Rollemberg vem se dedicando a outros regimes de exceção do século XX, igualmente marcados pelo elevado grau de violência. Essa expansão de domínios já tinha dado as caras com as coleções “História e memória das ditaduras do século XX” e “A construção social dos regimes autoritários”, publicados em 2010 e 2015, respectivamente, ambas coordenadas em parceria com a historiadora Samantha Viz Quadrat (UFF). Em 2016, esse caminho se consolida com a publicação do livro Resistência – memória da ocupação nazista na França e na Itália (Rio de Janeiro: Alameda, 2016).
“Resistência” é o resultado direto da pesquisa que Rollemberg vem desenvolvendo, nos últimos anos, sobre diversos museus e memoriais da resistência ao nazismo em França, Itália, Alemanha, Países Baixos e Polônia, pesquisa essa que contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No livro, a autora propõe um exame crítico do conceito de resistência, recorrendo, para tal, aos esforços da historiografia do pós-guerra e a estudos de memória, analisando narrativas presentes em museus e memoriais localizados na Itália e na França, países onde estes são mais numerosos. Segundo Rollemberg, a Itália, ocupada entre 1940 e 1945, conta com cerca de 60 museus dedicados ao tema, ao passo que a França, ocupada entre 1943 e 1945, tem aproximadamente 15. O livro é dividido em cinco capítulos, quatro dos quais distribuídos em duas partes, além de uma apresentação.
No primeiro capítulo, o leitor encontra uma breve, porém consistente, discussão historiográfica sobre o conceito de resistência. E esse não é um debate simples de se fazer. Durante a Segunda Guerra Mundial, parte significativa da Europa foi ocupada pelas forças alemãs. Os nazistas derrubaram democracias e ditaduras, regimes parlamentaristas e monarquistas, de países pequenos e grandes do ponto de vista territorial. Enquanto alguns governos caídos reerguiam-se no exterior, parte da população desses países, organizada ou não, militarmente ou não, resistiu ao invasor e aos colaboracionistas usando os mais diferentes expedientes. Como abordar, então, um debate tão amplo? Em vez de propor respostas generalistas, Rollemberg faz aquilo que se espera de um bom historiador: um recorte. A historiadora volta seu olhar para o debate historiográfico surgido na França, na Itália e na Alemanha no pós-guerra.
Ao falar do caso francês, Rollemberg dá destaque para trabalhos como o de Henri Michel, autor da primeira tese acadêmica sobre a França ocupada, defendida em 1962, e de Robert O. Paxton, que, nos anos 1970, segundo a autora, deu uma “guinada” na historiografia francesa sobre o tema, até ali ainda muito tributária do mito da resistência. Outros autores, mais contemporâneos, também são bem lembrados, tais como François Bédarida, François Marcot, Henry Rousso e Denis Peschanski. Todos esses autores, de forma bastante pioneira, enfrentaram problemas de definição bastante sensíveis que foram se colocando ao longo do tempo: seriam resistentes apenas aqueles que pegaram em armas ou aqueles que também protegeram judeus ou desobedeceram a ordens do governo? Resistência é uma ação coletiva ou também é possível concebê-la individualmente? Resistir é uma luta de oposição interna ou contra um inimigo estrangeiro? Podem-se incluir dentro do “guarda-chuva” resistência ações das igrejas católicas e protestantes que intercederam em favor dos perseguidos pelo nazismo e pelo fascismo?
No caso italiano, há diferenças expressivas. Rollemberg explica que a historiografia tem nos chamado a atenção para a existência tanto de uma oposição ao fascismo (1920-1922 e 1943) quanto de uma resistência a este (1943-1945). Aqui, a autora perpassa os trabalhos de historiadores como Gianni Perona, Zeev Sternhell e Claude Pavone, este último autor de uma tese publicada em 1991 que sustenta a ideia de que a Resistência italiana abrigou três guerras simultâneas: a patriótica, a civil e a de classe. Por fim, há o debate sobre a historiografia alemã, bastante especial, uma vez que a Alemanha não esteve ocupada por um inimigo externo durante os anos de guerra. Rollemberg, nesse ponto, dá ênfase aos trabalhos de Martin Broszat, fundador e diretor do Instituto de História Contemporânea de Munique, que, na década de 1970, desenvolveu o conceito de resistenza, originário da biologia, para se referir a uma “atitude refratária” dos alemães diferente, em essência, do conceito de resistência – pelo menos como este tem sido normalmente em outros países. Empregando mecanismos e estratégias da história social, Broszat recuperou e esmiuçou aspectos da vida cotidiana da população bávara sob o Terceiro Reich, procurando avaliar “pequenas formas de coragem do cidadão” perdidas no meio do cotidiano do alemão anônimo. Além de Broszat, a autora também se apoia no trabalho de nomes como (Sir) Ian Kershaw e Klaus-Jünger Müller, igualmente decisivos para uma melhor compreensão do tema da resistência na Alemanha.
O debate sobre a historiografia italiana é mais breve que o sobre a francesa e a alemã. Mas isso não enfraquece a importância do primeiro capítulo, mais do que fundamental em um país como o Brasil, cuja tradição editorial, mesmo a universitária, não parece nem um pouco sensível ao tema da resistência ao nazismo, ocupando-se muito pouco com a tradução de livros clássicos nessa área. Isso tem deixado incontáveis gerações de estudantes de história desamparados. Aliás, embora nazismo e fascismo sejam uma pauta recorrente em mídia de massa, a universidade ainda enfrenta bem pouco suas problemáticas. Na maior parte das universidades, o portfólio de disciplinas que abordam esses temas ainda é bastante tímido, talvez, pelo menos em parte, pela ainda mais tímida disponibilidade de material bibliográfico sobre eles no país. Nesse sentido, o debate conceitual-historiográfico nesse capítulo do livro é um plano de voo valiosíssimo para quem deseja alçar voo nesses campos historiográficos.
Os Capítulos 2 e 3 compõem a Parte I do livro, dedicada aos museus e memoriais franceses. No Capítulo 2, a autora faz uma análise dos vários “lugares de memória” que visitou na França. Foram 16 no total, distribuídos por todo o país. Em vez de preocupar-se apenas com os tipos de objetos exibidos em cada museu, Rollemberg faz uma leitura ampla e interdisciplinar da museografia dessas instituições, o que inclui olhar para elementos como textos, localização, contextos, iluminação, som, meios digitais e outros elementos museográficos, que, uma vez pensados juntos, nos levam a perceber o discurso museográfico. Isso nos permite pensar museus e memoriais como um projeto muito maior, integrado à sociedade e que tem por base determinados projetos político-pedagógicos. A tese que Rollemberg defende no decorrer dessa análise é bastante clara. De acordo com a autora, durante muito tempo os memoriais e museus franceses elaboraram um discurso laudatório e mitológico da resistência. As instituições, por exemplo, pouco mencionavam o colaboracionismo e produziam narrativas apaziguadoras dos anos de ocupação. No caso francês, o modelo gaullista de memória foi predominante e pouco admitia concorrência. Na década de 1970, aponta Rollemberg, isso começou a mudar, haja vista que a própria sociedade mudava. Passou-se a discutir mais abertamente Vichy, tal como as contradições e as complexidades das resistências, assim mesmo – vistas a partir de agora no plural. Rollemberg acredita que os museus desde então vêm mudando de discurso. “Hoje,{…} os museus e memoriais não são mais simplesmente a celebração de um mito. Procuram rever antigas interpretações, posicionando-se diante de revisões presentes na historiografia e no debate político” (p. 85). A autora cita, por exemplo, como prova desse ponto de injunção, a incorporação ao plano da curadoria histórias do colaboracionismo, das múltiplas das formas resistência e de narrativas dos judeus.
Por outro lado, e aí chegamos à segunda grande questão desse capítulo, a autora acredita que essa transformação não foi completa. Muitas instituições, conforme pontua, ainda estão apegadas ao modelo memória-homenagem, o que implica, quase sempre, a elaboração de personagens unidimensionais, sem opções em suas épocas históricas, sujeitos que ou são vítimas, ou são algozes. Uma de suas críticas nesse capítulo é destinada ao Museu de Grenoble, cuja curadoria é extremamente preocupada com o público infantil e juvenil. Em uma exposição, por exemplo, há o holograma de um jovem, filho de um resistente, que dá um depoimento bastante assustador e sombrio dos tempos da resistência. Em seguida, a projeção aproxima-se dos jovens visitantes do museu e pergunta se as memórias que eles acabaram de ouvir estariam apenas ligadas ao passado ou se têm ligação também com o presente. Um cronômetro é disparado e, depois, conhecem-se as estatísticas registradas até aquele momento pelo sistema. Para Rollemberg, a evocação da resistência por meio da chave familiar e de uma teatralização da vida pode ser problemática. O museu abriria mão da vocação histórica e assumiria a vocação de memória. “Além da construção da memória em favor de certos valores éticos e políticos, esse e os demais recursos pedagógicos vistos aqui são também discursos moralizantes, segundo certa concepção de história que lhe atribui a função de, através do conhecimento do passado, evitar erros futuros” (p. 131).
No Capítulo 3, Rollemberg examina cartas de resistentes e reféns executados na França durante o período de ocupação, tanto nas mãos dos nazistas quanto nas mãos dos próprios franceses de Vichy. O capítulo, explica a própria autora, é uma forma de verticalizar o estudo de temáticas presentes nos museus e memoriais citados no capítulo anterior. A autora está preocupada, agora, em discutir como esses documentos remetem a experiências individuais da resistência. Cerca de 4.020 homens foram fuzilados no país. Muitos deixaram cartas e outros documentos para suas famílias, escritos pouco antes de suas mortes. Esse material começou a ser recolhido antes mesmo da Libertação (1944) e, em seguida, passou para os arquivos do Comitê de História da Segunda Guerra Mundial, instituição criada em 1951 pelo historiador Henri Michel. Mais ou menos 500 cartas de 350 desses fuzilados encontram-se hoje dispersas por diversos museus franceses e arquivos, além de em posse de particulares, material que representa um riquíssimo acervo para museus e historiadores.
As possibilidades de análise são vastíssimas. Da micro-história à história das mentalidades. Da história vista de baixo à história da morte e do medo. Rollemberg extrai leituras bastante reveladoras desse universo memorialístico de quase morte. A autora nota, por exemplo, que os condenados raramente usaram nas cartas as palavras resistentes, resistência, Resistência e resistir para se referirem a si mesmos e a suas ações. Isso porque, como salienta, essa “morfologia da despedida” destaca-se muito mais pelo foro íntimo. E é justamente esse o caminho que, acertadamente, Rollemberg toma como fundamental para compreender tal experiência histórica. “Importa aqui verticalizar a análise das motivações, sentimentos, da subjetividade, enfim, dos condenados” (p. 179). São ainda, como diz, “retratos íntimos da derrota”. Rollemberg mostra, curiosamente, que, apesar das várias diferenças entre os condenados – níveis de escolaridade, idade, engajamento político etc. -, há certas homogeneidades nas cartas. Nelas, seus autores buscam a absolvição de pecados antigos. Eles se dirigem quase sempre aos familiares. Evocam a família, a religião (exceto os judeus, majoritariamente) e a tradição como grandes lemas em seu momento de despedida. Em geral, os condenados não demonstram ódio nem ressentimento, Rollemberg pontua. Ela cita a carta que o conde Honoré d’Estienne d’Orves escreve à sua irmã antes da execução: “Que ninguém pense em me vingar. Desejo apenas a paz na grandeza reencontrada pela França” (p. 209). Tudo isso nos ajuda a compreender como esses resistentes viam a si mesmos nessas situações-limite e, mais do que isso, a forma como esse comportamento assentou-se na memória coletiva francesa.
Ao ler tais cartas, podemos evocar as velhas histórias de santidade e heroísmo cristão que há muito tempo fazem parte da tradição cristã. Esse ponto é importante, pois, como assinala Rollemberg, as execuções caracterizadas como martírios estão vivas ainda hoje na memória coletiva graças à ritualização de que são objetos nos mencionados museus e memoriais. Para a historiadora, a ideia de martírio e vitimização eclipsou os diversos embates políticos e ideológicos que abundavam no interior da(s) resistência(s). A autora afirma:
Se é compreensível que as associações de familiares, desde o pós-guerra, elaborem a memória desses homens como mártires, comprometidas que estão com o dever de memória, é bom refletir sobre o papel que os museus, mais até do que os memoriais, desempenham nessa tensão entre história e memória, sobretudo entre aqueles que se propõem produtores do conhecimento. (p. 192)
A crítica à memória que vemos aqui é bastante pertinente, especialmente no contexto do pós-guerra francês, quando a resistência se tornou base de certa identidade francesa e também, ao mesmo tempo, uma espécie de patrimônio histórico francês, pouco afeito a críticas e revisões. Por outro lado, é preciso estar atento a alguns riscos da oposição entre história e memória. Certamente, estamos diante de duas narrativas com características e missões completamente diferentes. Contudo, como leituras do passado que são, elas podem por vezes comportar-se de forma parecida, além de produzir resultados semelhantes. Essa ponderação é necessária porque os próprios historiadores franceses apenas muito lentamente foram se debruçando sobre a questão da resistência. A autora lembra isso na apresentação do livro: “no pós-guerra, a historiografia sobre o assunto seguiu a forte tendência presente nos países outrora ocupados de lembrar aqueles anos celebrando os feitos heroicos da Resistência, contornando as colaborações e, sobretudo, evitando as zonas cinzentas entre os dois extremos” (p. 10). A autora também destaca em outra passagem que apenas em 1988 surgiu o primeiro manual escolar de história a relativizar a importância da Resistência francesa na liberação do país. A França, como não podemos ignorar, a exemplo de diversos outros países, também soube cultivar narrativas historiográficas de cunho nacionalista, que contribuíram, à sua maneira, para a produção de mitos sobre a resistência.
Chegamos à Parte II, que engloba os Capítulos 4 e 5, dedicados aos memoriais e museus da resistência na Itália. Aqui, vamos encontrar uma estrutura muito parecida com a que vimos na Parte I. Se, ao falar do caso francês, vimos um capítulo dedicado ao estudo das instituições de memória e, depois, um capítulo dedicado a um estudo mais verticalizado, agora vamos encontrar a mesma divisão. No Capítulo 4, Rollemberg esquadrinha os museus e memoriais que visitou na Itália. À medida que vamos avançando na leitura, vamos nos convencendo de que Itália e França têm mais semelhanças do que diferenças no que diz respeito aos usos e abusos da memória da resistência e dos resistentes. Rollemberg analisa oito instituições naquele país. Nessa análise, a autora identifica o mesmo fenômeno de memória visto na França: a forma como a museografia escolheu, organizou e significou suas exposições contribuiu para a minimização de contradições no interior da resistência, para a criação de heróis e vilões, para o escamoteamento de tensões, de complexidades políticas e para a variedade de matizes ideológicos que fizeram da resistência italiana um fenômeno extremamente complexo. Nas palavras da própria autora, “o museu é lido como documento, embora seja concebido como monumento” (p. 238). Segundo Rollemberg, embora os museus italianos, tal qual na França, tenham passado, nas últimas décadas, por transformações profundas, a dimensão do mito persiste em suas narrativas. É importante sublinhar que as narrativas dos museus e memoriais italianos não formam um bloco homogêneo. Alguns enfatizam mais, por exemplo, a luta antifascista no período anterior à queda de Mussolini, caso do Museu de Bologna, enquanto outros, como é o caso do Museu Audiovisual da Resistência de Massa Carrara e La Spezia, especializaram-se nos partigiani. Porém, a maioria continua assumindo um papel pedagógico bastante moralizante e desprezando complexidades.
Ainda no caso do Museu de Bologna, vale mencionar uma dessas contradições entre memória e história que ilustram o livro. Em uma exposição do museu, há várias fotos de italianos capturados pelos alemães na Itália, nos Bálcãs e na Grécia, nos campos de concentração, todos submetidos à “duríssima reclusão”. Muitos tinham recusado o recrutamento fascista que se deu após a queda de Mussolini. Como pontua Rollemberg, a narrativa do museu, sem dizê-lo, apresenta esses militares, em sua grande maioria, como vítimas da Alemanha e da República Social Italiana, livrando-os das responsabilidades das guerras travadas em nome do fascismo em anos anteriores. Da mesma forma, diz a autora, que houve mobilização popular contra o nazifascismo, houve também mobilização em sentido contrário.
No Capítulo 5, Rollemberg faz do caso dos “Sete Fratelli” seu estudo vertical em âmbito italiano. No dia 28 de dezembro de 1943, sete irmãos de uma única família, a família Cervi, moradora da província de Reggio Emilia, região da Emlia-Romagna, foram fuzilados pelos fascistas locais por esconderem prisioneiros estrangeiros desmobilizados ou fugidos de prisões, bem como desertores italianos e alemães. A situação dos “Sette Fratelli” transformou-se, como aponta a autora, em um caso bastante emblemático da memória coletiva da Resistência italiana no pós-guerra. O caso inspirou diversos autores, entre eles Ítalo Calvino, e diversas correntes políticas a produzirem suas próprias interpretações, tanto da esquerda quanto da direita italiana. Aqui vamos ver mais uma vez a construção memorialista que opta pelo enredo do herói e do sacrifício, pela leitura moralizante que esconde não só tramas do passado como também os usos políticos do próprio presente. Rollemberg chama a atenção principalmente para a narrativa do Partido Comunista italiano (PCI), que se apropriou do caso, o que surge como uma questão moral relevante, haja vista que, segundo estudos de alguns historiadores, o PCI poderia ter protegido os irmãos Cervi (comunistas, mas não membros do PCI), mas não o fez. Rollemberg mais uma vez destaca a necessidade de uma abordagem historiográfica que seja capaz de problematizar o passado:
A história é muito mais complexa do que a memória, construída do presente para o passado, invertendo a direção da própria história, aparando arestas indesejáveis, possibilidades incômodas, buscando legitimar a realidade presente e os projetos para o futuro. A memória inventa o passado.{…} A ideologia impede, ainda hoje, o esclarecimento dos fatos. (p. 343)
Concluindo, Resistência – memória da ocupação nazista na França e na Itália, de Denise Rollemberg, é um estudo de fundamental relevância e que vem diminuir uma lacuna importante no mercado editorial brasileiro, lacuna essa que, como mencionei antes, tem reflexos diretos na maneira como o tema é abordado nos cursos de história. Rollemberg reconhece a legitimidade dos museus e memoriais franceses e italianos, bem como todo o esforço engendrado nas últimas décadas para não só honrar aqueles que tombaram na luta contra o nazismo e o fascismo, como para também para produzir conhecimento a partir desse passado. Porém, as narrativas que são produzidas hoje são tributárias de uma visão ainda muito mitologizada. Rollemberg justifica a escolha pela memória como centro propulsor dessa narrativa: tal modelo serviu para reerguer, do ponto de vista moral, os países que tinham, então, colaborado com o nazismo e o fascismo. Na década de 1970, os historiadores começaram a desconstruir o mito. O que não significa que problemas não tenham aparecido. O conceito de resistência, por exemplo, ou foi muito alargado, ou muito restringido, o que lhe fez perder o sentido ou excluir experiências históricas fundantes. Museus e memoriais seguiram essa tendência, enfrentaram esses desafios, chegaram a questionar mitos e a problematizar pontos que até então passavam ao largo, caso do colaboracionismo. Porém, a despeito desses avanços, pontua Rollemberg, encontram-se ainda muito tributários daquele modelo de memória. A autora, por vezes, expõe a memória como um trabalho com resultados potenciais completamente diferentes da história, o que podemos (e devemos relativizar). Porém, seu olhar para os abusos da memória nos museus italianos e franceses é preciso e extremamente necessário para que percebamos como essas instituições, apesar da intenção nobre de produzir conhecimento, ainda precisam se livrar das amarras negativas da memória. E isso, como alerta Rollemberg, não é um problema. O desafio desses lugares de memória, defende a autora, é eternizar homens e mulheres que lutaram contra a ocupação nazista e seus colaboradores na história – porém, ela pondera: “Não como mitos intocáveis, senão como seres humanos em sua complexidade, quer individual, quer na sua dimensão coletiva. Essa é a maior homenagem, divergências à parte, que lhes podemos prestar” (p. 14).
Bruno Leal Pastor de Carvalho – Doutor em História Social (PPGHIS/UFRJ). Mestre em Memória Social (PPGMS/Unirio). Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e Árabes da UFRJ (Niej). Fundador da rede social Café História.(www.cafehistoria.com.br). Membro da Rede Brasileira de História Pública (RBHP) e da Associação de Humanidades Digitais (AHDig).
Sob Três Bandeiras: Anarquismo e imaginação anticolonial | Benedict Anderson
Como muito bem indicado por Mônica Dias Martins, no prefácio da edição brasileira do livro Sob Três Bandeiras de Benedict Anderson, ele “representa certa mudança no paradigma de como se estudam os nacionalismos” (p.15). Isso parece correto na medida em que é possível observar que ele desenvolveu uma análise que perpassa um conjunto de dados muito bem apresentados e analisados. Anderson se distancia, por exemplo, da clássica escrita de Hobsbawm, sobre os nacionalismos, já que não se ancora em dados não referenciados ou pouco referenciados em fontes, mas que desenvolve uma análise ampla que atravessa espaços continentais e não se restringe à preponderância dos problemas europeus. Seu trabalho não é original em relação à temática porque, anteriormente, já havia escrito Comunidades imaginadas, seu texto de referência sobre o nacionalismo, assim como Nação e consciência nacional, todavia é original ao vincular o anarquismo e a imaginação anticolonial ao que ele chamou de “Era da globalização primitiva”.
Cuba, China, Japão, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, são alguns dos países que integram essa tensa “Era”. Anderson demonstrou, principalmente a partir de dois autores, Isabelo de los Reyes e José Rizal, como se configurou o levante em prol da independência das Filipinas em relação à Espanha e como as ideias transitaram pelo mundo no sentido de encontrar formas de estruturação da sociedade, distintas das que, até então, estavam vigentes, sob rédeas do capitalismo ocidental. Daí o sentido do subtítulo Anarquismo e imaginação anticolonial. Leia Mais
Soccer Empire: The World Cup and the Future of France | Laurent Dubois
Laurent Dubois, um belga que com três semanas de vida foi viver nos Estados Unidos, escreveu um livro prazeroso, resultante de sua paixão pelo futebol e o conhecimento acumulado nos seus quinze anos de estudos sobre o esporte na sua versão francesa. É um texto envolvente, não linear, com onze capítulos, além de prefácio, introdução e epílogo, todos importantes, o que me conduziu a abordar o seu conteúdo por uma seleção dos principais temas. Leia Mais
A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830 | Aurelian Craitu
Em A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, lançado em capa dura em 2012 e impresso em brochura três anos depois, o cientista político e historiador Aurelian Craiutu, professor da Universidade de Indiana, Estados Unidos, oferece aos leitores um livro desafiador e paradoxal.
Autor de vários textos sobre o liberalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, dentre os quais se destaca seu livro de 2003 sobre os doutrinários franceses (Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires ), Craiutu é tradutor e organizador de outros trabalhos sobre importantes pensadores liberais, tendo apresentado e traduzido para o inglês duas obras fundamentais para a doutrina liberal do século XIX, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française , de Mme. De Stäel, e Histoire des origines du gouvernement représentatif, de François Guizot, além de ter ajudado a organizar dois livros sobre Tocqueville. O estudioso reuniu o vasto arsenal adquirido em mais de uma década e meia de estudos sobre a doutrina liberal para avançar a seguinte tese: a moderação é a quintessência da virtude política, um “arquipélago perdido” que historiadores e cientistas políticos ainda estão por descobrir (p. 1).
Dividido em duas partes – cada qual contendo três capítulos -, o livro oferece um estudo aprofundado de certos autores liberais francófonos que, exceção feita ao clássico e bastante conhecido Montesquieu, se destacaram no cenário público francês entre os momentos de crise do Antigo Regime e a Revolução de 1789, muito embora não tenham recebido a devida atenção da academia e do público em geral no passado como no presente. São eles, na ordem, os líderes monarchiens (monarquianos), designação pejorativa que os jacobinos atribuíram a um grupo heterogêneo de deputados da Assembleia Constituinte formado por Mounier, Malouet, Lally-Tollendal e Clermont-Tonnerre entre outros, e os quais se destacaram por defender o bicameralismo e o veto absoluto do monarca (capítulo 3); o banqueiro suíço Jacques Necker, o célebre ministro das Finanças de Luís XVI, cujas reflexões sobre a Revolução Francesa e a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes continuam largamente ignoradas até hoje (capítulo 4); Germaine Necker ou Mme. de Stäel, a filha de Necker e prolífica autora de artigos, panfletos e livros, além de importante ativista política nos quadros do Diretório e da Restauração (capítulo 5); o suíço Benjamin Constant (capítulo 6), parceiro afetivo, intelectual e político de Mme. de Stäel sobretudo nos períodos do Diretório e do Consulado e, como ela, autor igualmente prolífico – depois de Montesquieu, certamente o mais conhecido e estudado entre os elencados.
Além do prólogo, no qual expõe as justificativas e a metodologia da pesquisa, e do epílogo, no qual conclui com uma espécie de “decálogo” explicativo da moderação, o livro apresenta um esboço sobre o lugar ocupado pelo conceito de moderação no pensamento político ocidental, da antiguidade clássica e pensadores cristãos aos humanistas da época Moderna e filósofos franceses da Ilustração (capítulo 1), bem como um longo capítulo dedicado ao autor de O Espírito das Leis (1748), o barão de Montesquieu (segundo 2) – a meu ver o melhor do livro e, não por acaso, a pedra-angular da obra.
A escolha de Montesquieu como marco epistemológico inicial do estudo e da Revolução Francesa como tela de fundo do trabalho se justificam. O primeiro, pelo fato de haver delegado papel central à moderação política em sua grande obra, a qual teve o mérito de destacar os traços constitucionais, institucionais e legais da moderação para além das considerações de ordem ética sobre o caráter dos governantes ou dos legisladores. Ademais, as reflexões políticas de O Espírito das Leis e das produções dos demais autores ilustram os dois principais temas do livro de Craiutu: a moderação como conteúdo de uma agenda crítica e reformista do Antigo Regime; e as diversas tentativas de institucionalização da moderação política durante e após a Revolução de 1789, o eixo ou pano de fundo do livro. Inspirado no conceito de Sattelzeit (“tempo-sela”, tempo de aceleração histórica), cunhado por Reinhart Koselleck, e ecoando reflexões de François Furet acerca dos impactos da Revolução Francesa sobre a cultura política contemporânea, Craiutu justifica a centralidade daquele evento pelo fato de que “continuamos a viver num mundo democrático moldado e construído pelos ideais e princípios da Revolução Francesa” (p. 2).
É tendo por base as reflexões políticas de Montesquieu e de seus intérpretes envoltos no fenômeno revolucionário francês que Craiutu desdobra o que ele próprio designou como as quatro meta-narrativas do livro: I. a moderação abordada pelo aspecto político e institucional (e não como uma virtude pessoal ou individual), cujo propósito é salvaguardar não apenas a ordem, mas também a liberdade individual; II. a afinidade existente entre a moderação política e a complexidade institucional ou constitucional, conforme ilustraram Montesquieu por meio de seu conceito de “governo moderado”, os monarquianos com a defesa do bicameralismo e do veto absoluto, Necker mediante sua teoria da “soberania complexa” ou do “entrelaçamento dos poderes”, Mme. de Stäel com a sua busca de um “centro complexo” para consolidar a república termidoriana e Benjamin Constant em sua teoria do poder neutro; III. a moderação como a defesa sensata da liberdade, o que não se confunde com o conceito filosófico do juste milieu, pois a moderação pode se traduzir em atitudes tanto equilibradas como radicais de acordo com o contexto político; IV. por isso, a ação moderadora não pode ser analisada por meio do vocabulário político usual (direita ou esquerda), uma vez que possui conotações radicais ou conservadoras conforme o tempo e o espaço. Como bem destacou o autor no prólogo, há momentos em que as intenções moderadoras deixam de ser virtude e passam a significar fraqueza ou traição de princípios – poderíamos exemplificá-lo com o infame Pacto de Munique celebrado entre as potências europeias e a Alemanha nazista, que suscitou um célebre discurso de Churchill.
Na esteira do caráter elástico de seu tema, Craiutu optou por uma abordagem eclética na qual o contextualismo linguístico da Escola de Cambridge e a tradição historiográfica revisionista de Furet e seus discípulos (especialmente Lucien Jaume, destacado estudioso do liberalismo francês do século XIX) se articulam para dotar o livro de um caráter duplo. A Virtue for Courageous Mind pode ser lido ora como obra de filosofia política, ora como trabalho de história das ideias, dado o constante diálogo entre a análise textual e interpretação contextual.
Além das referências citadas acima, é possível identificar outras figuras importantes para o desenvolvimento da hipótese do autor, tais como Jonathan Israel, Judith Shklar, Norberto Bobbio e Isaiah Berlin. De acordo com Craiutu, cientistas sociais ignoram o conceito político da moderação por vários fatores, dentre os quais se destacam a persistência de uma tradição filosófica radical que associa a agenda moderada à defesa conservadora do status quo (de Marx a Israel); a tendência a enxergar na moderação um programa minimalista pautado pelo medo ou pela oposição aos extremos (provável alusão a Shklar e seu artigo ”Liberalism of fear”, de 1989); por fim, indo ao encontro de Bobbio e de Berlin, a visão dominante, não restrita à academia, que vincula a moderação à sagacidade de um determinado agente político, o qual, para conquistar seus objetivos, recorre a quaisquer tipos de compromissos ou manobras (o político encarado como um leão ou uma raposa).
Na contramão do insistente e vigoroso senso comum acerca do tema, Craiutu sustenta – inspirado numa citação do liberal-conservador Edmund Burke, de quem toma de empréstimo nada menos que o título do livro – que a moderação é “uma arrojada virtude para mentes corajosas” (p. 9). Ela não deve ser reduzida a mero meio-termo entre extremos nem tampouco representa sinônimo de pusilanimidade, hesitação ou cálculo cínico de realismo político. Com implicações institucionais e, segundo o autor, desempenhando um papel crucial na aquisição ou fortalecimento dos valores democráticos e liberais, a agenda moderada dos autores selecionados possui em comum pluralismo (de ideias, interesses e forças sociais), reformismo (reformas graduais em vez de rupturas revolucionárias) e tolerância (postura cética que reconhece limites humanos, especialmente para a ação política).
Antes de comentar o que, a meu ver, constitui o problema central do livro, a saber, a identidade das reflexões moderadas desses autores para a aquisição, manutenção e fortalecimento da democracia liberal (p. 9), gostaria de destacar alguns méritos da obra.
O primeiro ponto que saliento é, se não a originalidade, ao menos a correção no tratamento de um autor clássico como Montesquieu. Craiutu sugere que, mais do que propor um governo moderado fundado na separação dos poderes, equívoco reproduzido por incontáveis intérpretes, o que Montesquieu efetivamente sustentou foi uma teoria sobre a divisão dos poderes na qual o Executivo e o Legislativo exerciam controles recíprocos e moderavam as iniciativas de cada um – sua visão, no espírito da doutrina do equilíbrio de poder vigente na época e inspirada na constituição inglesa, pode ser traduzida na fórmula de que só um poder é capaz de controlar e regular outro poder, de modo que a estrita separação entre ambos daria margem a usurpações ou levaria à paralisia institucional. Nos quadros da Revolução Francesa, esse tópico da complexidade constitucional/institucional como condição sine qua non para a obtenção de um governo livre (moderado) se desenvolve nas obras dos monarquianos (bicameralismo e veto absoluto), de Necker (teoria do entrelaçamento dos poderes) e, sobretudo, de Benjamin Constant (teoria do poder neutro). Para demonstrá-lo, Craiutu procedeu a uma criteriosa pesquisa de fontes primárias (obras e discursos dos autores e de seus interlocutores, além de textos legais ou constitucionais) e secundárias (nas mais diversas línguas, do francês e inglês ao alemão), bem como a um erudito exercício de interpretação e reconstrução contextual. Do ponto de vista formal, os únicos senões correm por conta da omissão de um importante intérprete atual da obra de Benjamin Constant (Tzvetan Todorov), bem como da inusitada ausência de uma bibliografia no final do livro, o que dificulta a leitura de suas inúmeras e ilustrativas notas.
Craiutu foi feliz na escolha e no tratamento dos autores, na medida em que eles possuem um núcleo conceitual comum, a moderação vista sob o prisma da complexidade institucional, e defendem princípios filosóficos semelhantes: de Montesquieu a Constant, a mesma preocupação com a moderação das penas e com a absoluta liberdade de expressão; os benefícios do comércio; as garantias para a propriedade privada; o entendimento das desigualdades sociais como resultantes da fortuna ou do intelecto, numa visão otimista da meritocracia; o estabelecimento de pesos, contrapesos e divisões entre os poderes, o que é diferente da separação entre eles; a necessidade de um Judiciário independente do Legislativo e do Executivo; e a crítica às visões monistas ou absolutistas do poder que, da vontade geral de Rousseau às críticas de Paine ao governo misto da Inglaterra, redundaram na mera transferência do poder absoluto do monarca para o poder absoluto do Legislativo (como sabemos, trata-se de uma das principais teses de Furet sobre a Revolução Francesa).
Segundo Craiutu, o pensamento liberal, devido em grande medida à experiência da Revolução Francesa e do traumático período do Terror, teria passado por uma nítida evolução. Aos poucos seus autores teriam se preocupado menos com quem exerce a soberania (o monarca, uma maioria popular ou uma minoria abastada e ilustrada) e mais com a maneira em que a soberania é exercida, até concluírem que o que realmente importa é o estabelecimento de limites ao poder a fim de proteger os indivíduos da autoridade política – ainda que exercida em nome do povo, da nação, da vontade geral, ou sob a bandeira de ideais generosos e humanitários como a igualdade.
Exceção feita a Montesquieu, que não viveu a tempo de testemunhar a Revolução Francesa, os demais autores apresentaram diagnósticos lúcidos sobre as causas que conduziram à “derrapagem” daquele grande evento. Para além das já conhecidas interpretações liberais de Mme. de Stäel e Benjamin Constant para o período de 1789-1794 – as quais são de conhecimento dos iniciados na historiografia da Revolução Francesa -, Craiutu resgata as valiosas contribuições teóricas e balanços históricos dos monarquianos, especialmente Mounier (Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 1792), e de Necker, cujo panfleto De La Révolution Française, de 1796, não recebeu uma única edição sequer ao longo de mais de 200 anos!
A despeito de uma visão consolidada pelos próprios revolucionários franceses, dos jacobinos aos girondinos, que viam na retórica dos deputados monarquianos intenções aristocráticas ou conspiratórias a serviço da Corte, Craiutu reabilita esse grupo, sustentando, à guisa de Tocqueville, que os monarquianos eram dotados de um verdadeiro espírito revolucionário. Embora lutassem pelo estabelecimento de um governo moderado balizado por garantias constitucionais, eles seriam unânimes na oposição aos privilégios da nobreza. Craiutu sugere, após reconstruir as causas que levaram à derrota política dos monarquianos, que o Terror poderia ter sido evitado se as propostas de Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal & Cia. tivessem sido adotadas, observando que o projeto constitucional triunfante em 1814 e consolidado durante a Monarquia de Julho guardava estreitas afinidades com os diagnósticos políticos do grupo (p. 106).
Outro ponto alto do livro é o tratamento nada condescendente dispensado a figuras tão complexas quanto Mme. de Stäel e Benjamin Constant, as quais, sobretudo no período em que apoiaram o governo republicano do Diretório, sustentaram posições dificilmente classificáveis como moderadas ou liberais. Embora Craiutu tenha examinado bem os panfletos termidorianos da dupla e o crítico contexto de sua elaboração, ele poderia ter devotado um pouco mais de atenção à questão religiosa – como fez, por exemplo, Helena Rosenblatt em seu estudo sobre Constant, autora com a qual Craiutu dialoga frequentemente e concorda sobre a importância da religião para o pensamento político da dupla (p. 200).
Por fim, o autor conclui que as modernas democracias devem ser encaradas como formas mistas de governo representativo, não como simples expressões do “governo do povo”, e que a moderação política “pode promover ideais democráticos” (p. 248). Esta última afirmação nos coloca diante de um problema e de um paradoxo. Problema, porque apesar de os autores em destaque apoiarem a igualdade civil, todos defendiam uma ou mais cláusulas de exclusão (nível de renda, posses ou conhecimento formal) quando o assunto era a participação ativa dos cidadãos na política – o que, ademais, constituía a regra para os liberais da época, sendo Thomas Paine, referência bastante citada no livro, rara exceção no campo liberal do período. Diante dessa constatação, e levando-se em conta o meticuloso trabalho de reconstrução histórica de Craiutu, é uma pena que este importante detalhe tenha sido inexplorado. Por outro lado, e aqui adentramos o paradoxo, o autor acerta em cheio ao apontar a relevância dessa agenda moderada para os estudiosos dos regimes democráticos do presente, na medida em que estes, para além do sufrágio universal como fundamentação e método de funcionamento do sistema, baseiam-se no pluralismo, nos direitos individuais e nos direitos das minorias (vide Lucien Jaume, Le discours jacobin et la démocratie).
Antes de encerrar, caberia levantar uma questão: afinal de contas, o autor logra ou não convencer o leitor de que a moderação é a quintessência da virtude política? Com base no problema relatado acima, arrisco dizer que não. Por outro lado, concordo com Craiutu (e Burke) quando ele (s) afirma (m) que a moderação deve ser encarada como virtude para mentes corajosas. Ao contrário do que afirmou Nietzsche, e com base nas trágicas experiências do século XX, podemos concluir que coube justamente aos estadistas moderados reconstruir o mundo após o apocalipse de guerras e regimes tirânicos engendrados a partir da “mentalidade de rebanho”.
José Miguel Nanni Soares – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: miguelnanni@uol.com.br
CRAIUTU, Aurelian. A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830. Princeton: Princeton University Press, 2015. Resenha de: SOARES, José Miguel Nanni. Revisitando um arquipélago quase esquecido. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 314-320, set./dez., 2016.
O aracniano e outros textos – DELIGNY (REi)
DELIGNY, Fernand. O aracniano e outros textos. Tradução Lara de Malimpesa. São Paulo: 1 edições, 2015. Resenha de: MATOS, Sônia Regina de Luz. Revista Entreideias, Salvador, v. 5, n. 2, p. 97-102, jul./dez. 2016.
Inicialmente antes de escrever a resenha do livro O aracniano e outros textos (2015) é preciso descrever algumas linhas biográficas do autor, o educador francês Fernand Deligny (1913-1996). Desde já, cabe destacar que este livro é o primeiro e único livro do autor traduzido em língua portuguesa, pois ele ainda é pouco estudado no Brasil no campo da educação. O pensamento deste pedagogo é inclassificável, ele cruza os campos da filosofia, da educação, da arte e da literatura. Sua prática pedagógica contorna um processo de escritura que acontece continuamente durante as investigações e as experiências na área da educação junto aos autistas. Logo, a leitura deste livro nos convoca ao deslocamento de leitura, não tão somente em relação aos procedimentos de escrita que o pedagogo apresenta junto a arte literária, mas também, ao acesso a outra potência de agir em educação, ainda marginalizada dos espaços da pedagogia.
Então, conforme anunciado, aponto algumas linhas da biografia do professor Deligny, que desde 1927, trabalhou junto às crianças e aos adolescentes que eram classificados como inadaptados socialmente ou considerados “à parte da sociedade” (DELIGNY, 2015). Encontramos registros inéditos sobre sua experiência como educador no hôpital psychiatrique à Armentières. Esse trabalho aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e desdobrou-se em outras experiências pedagógicas. Uma delas foi junto a clínica La Borde com o grupo de estudos do psiquiatra Félix Guattari. A partir de 1967, ele se instala na região de Cèvennes, construindo coletivamente uma rede de espaços de acolhimento e de investigação, que ele denominou de “rede aracniano” (DELIGNY, 2015).
As atividades educativas desta rede são influenciadas pela experiência de ensaísta, de poeta, de escritor e de cineasta. Deligny escreve e publica, constantemente, seus pensamentos pedagógico e investe nos conceitos das áreas de etologia e de antropologia.
Sendo assim, elabora um procedimento cartográfico a partir de traços, de linhas e de mapas que constituem os percursos dos movimentos do cotidiano dos autistas. A investigação cartográfica sobre a “experiência autística” (DELIGNY, 2015) deste educador é reconhecida como uma prática pedagógica inédita. Prática citada nos livros e entrevistas do filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) e do psicanalista Félix Guattari (1930-1992). Nesse sentido, cabe destacar que estes dois pensadores franceses, expressam a ideia de que Deligny assumiu profissionalmente uma vertente de atuação educativa próxima da psicanálise institucional, que percebem o autismo como uma produção singular de existência.
Na França, após dez anos de sua morte se retomam as investigações e os estudos sobre sua obra. A partir de 2007, a editora L’Arachnéen, publica um volume com algumas obras de Fernand Deligny e reedita outras. No Brasil, o trabalho deste pedagogo é pouco conhecido, somente em 2015 contamos com uma primeira tradução brasileira do livro que disponibilizo nesta resenha: O aracniano e outros textos (2015). O objetivo da resenha é mostrar alguns conceitos deste autor, do movimento aracniano e de suas experimentações pedagógicas com os autistas. Ainda é importante destacar que o livro não versa sobre uma transposição didática que apresenta modelos de práticas escolares junto ao trabalho com os autistas.
Diante destas palavras introdutórias, digo que o presente livro é composto por dois eixos de leitura, um primeiro é o texto O aracniano, redigido entre 1981 e 1982, contendo 59 fragmentos que nos remetem a mesma denominação do título do livro. Um segundo eixo de leitura é aglutinado ao subtítulo: Quando o homenzinho não está (aí) que é composto por 14 breves textos redigidos entre 1976 a 1982, em gêneros de ensaios e artigos. Ainda nesta publicação constam mapas do percurso dos autistas, produzidos entre 1976 e 1977. Além disso, há um conjunto de fotografias das instalações das crianças autistas que moravam no espaço aracniano, na região de Cévennes, em 1969.
Então, o primeiro eixo de leitura, o texto O aracniano é escrito em fragmentos e sua inspiração conceitual retirada do campo da etologia que estuda as espécies de animais, como as aranhas. O seu projeto pedagógico denominado de aracniano é coletivo e envolve as crianças autistas, as suas famílias e os educadores. Assim, todos vivem no mesmo espaço rural. Sendo que, este espaço rural é dividido em pequenos territórios, assim, cada território tece uma parte da linha da teia de aranha, que se transforma em uma rede que investiga o agir autista. Com isto, o movimento aracniano acompanha, descreve e escreve o espaço da “experiência autista”. (DELIGNY, 2015) Para registrar essa experiência, o grupo elabora a montagem de mapas que constituem os trajetos que as crianças autistas fazem em seu cotidiano. Os mapas acompanham a experiência das “linhas de errância de crianças ‘autistas’”. (DELIGNY, 2015, p. 41) Elas são errantes porque as crianças não funcionam pela consciência dos atos. Por meio desta prática investigativa, o pedagogo diz: “o meu projeto: dar à palavra aracniano – ao meu ver estonteante – um sentido digno de sua harmonia e de sua amplitude”. (DELIGNY, 2005, p. 22) Afirma-se assim, que o pensamento aracniano descentraliza as práticas pedagógicas do autismo das representações psicopatológicas e investe em rastrear e em apreender com as singularidades produzidas pelo projeto.
O segundo eixo de leitura do livro que é composto por 14 breves textos, se inicia com um texto de 1976. Ele foi redigido para um congresso de psicanálise e publicado em uma revista francesa e uma italiana, intitulado: Esse ver e o olhar-se ou o elefante no seminário. A escritura do artigo tem um tom de ensaio descritivo, pois apresenta um dos mapas que constituí o percurso dos autistas.
O texto descreve a invenção de vários símbolos que possibilitam a leitura e a interpretação cartográfica dos percursos das pessoas que viviam no espaço aracniano. Cabe destacar que ao mostrar o funcionamento cartográfico nos deparamos com um outro plano de vocabulário, tais como: linhas, anel, traçar, ângulo, entrelinhas, desvio, deriva, ideologia, microideologia, linguagem vacante, linguagem em falta e na falta de linguagem.
No outro texto O agir e o agido, escrito em 1978 para uma edição italiana, segue outra descrição de mapa, neste ele amplia as questões conceituais já demarcadas no texto anterior, porém remarca algumas críticas ao tipo de psicanálise que classifica o autismo e o determina como patologia. Posição essa que vai acompanhar outros textos em sua vida profissional.
Logo, outro ensaio: A arte, as bordas… e o fora. O ensaio, também é publicado em italiano, em 1978. Conceitualmente, Deligny mostra que “a linha e a linguagem eram de idêntica natureza” (DELIGNY, 2015, p. 148) e a linha expressa-se nos mapas dos trajetos do cotidiano dos autistas. Os mapas apontam alguns elementos da linguagem que a “experiência autista” (DELIGNY, 2015) produz e que essa experiência vive uma linguagem fora da relação direta e hierárquica entre sujeito e objeto.
Na redação do texto Carteira adotada e carta1 traçada, publicado por uma editora italiana, em 1979, ele diferencia sua relação com o Partido Comunista Francês e sua experiência na elaboração da cartografia junto ao movimento aracniano. Passa a valorizar essa última experiência porque ela não exige filiação ideológica.
A experiência no Partido Comunista Francês o víncula por meio de uma carta que representa a adoção de uma ideologia. Já com a experiência do movimento aracniano ele se vincula aos mapas do traço das “crianças cujos trajetos são traçados […] não tende de forma alguma para uma globalidade em que o absoluto ideológico se reencontraria, endêmico”. (DELIGNY,2015, p. 157).
A criança preenchida, divulgado em 1979, trata da relação topológica, que são as “áreas de estar” que expressam os movimentos topográficos dos autistas. Esses movimentos constituem os mapas e os trajetos registrados e interpretados como linhas errantes do agir autista. O pedagogo define dois tipos de “topos” ou registros dos espaços autistas, a topologia e a topografia. Os dois tipos de registros permitem traçar o agir autista que conjuga “ ‘o tempo’ fora do tempo” (DELIGNY, 2015, p. 163), pois esse agir funciona pela lógica do “topo” ou espaços que não se sujeitam a linguagem oral, espaços refratários a falação. Por meio da topologia e da topografia, ela aponta uma outra plasticidade pedagógica, que pode ser analisada a partir dos espaços ocupados pelo agir autista.
Ainda neste mesmo ano, o pedagogo publica em italiano um breve ensaio denominado Esses excessivos. Ele elabora uma resposta direta a academia que somente valida como produção intelectual a classificação e ou a posição de conhecimento mais universal sobre os estudos com os autistas. Ele se posiciona afirmando que não comunga com o que ele chama de falação intelectual em busca do universal e do verdadeiro. Ele defende que sua produção se faz a partir dos “topos”, ou seja, traça o espaço do agir autista, sem assumir um manual ou modelo que caracterize o autismo.
O humano e o sobrenatural é um texto envolto na ideia da vacância da linguagem das crianças autistas. Ele inicia o texto argumentando que elas desproveem da intenção de vagar e de balançar o seu corpo. Elas não acompanham o ato da consciência, o que elas fazem é o uso do seu corpo humano não como segregação, como faz o homem em muitos momentos da história da humanidade. A vacância da linguagem produz um espaço único de relação refrataria com a língua e com os gestos. Neste momento ele crítica o conceito de humanidade e linguagem humana.
A exibição é um título publicado em italiano, em 1980. O educador elabora sua posição desconfortável em relação a posição da psicanálise quando ela refere-se ao inconsciente e a linguagem dos autistas. Afirma que não compreende a língua psicanalítica.
Fala que essa língua não faz parte da língua do repertório aracniano, a língua que o interessa é de “quem vê um autista viver”. (DELIGNY, 2015, p. 180) Em 1978, escreve para um colóquio, em Paris, sobre o tema A liberdade sem nome e destaca que o autista tem a potência de ser refratário ao poder da língua do homem e que a potência da “experiência autista” (DELIGNY, 2015) se encontra no agir sem direcionamento ideológico e nada identitário. Trata-se, portanto, de um tipo de liberdade à deriva, de vivacidade desconhecida por nós, os homens.
O artigo Semblant de rien, refere-se a 1981, escrito em italiano.
A tradução dele não acontece para língua portuguesa porque é uma expressão francesa que dispara vários significados e o autor mescla o uso dos significados do título durante a sua escrita. A ideia da frase “semblante de rien” nos remete a ideia de um semblante significa o que? Para quem? Para quem o semblante não significa nada? Para os autistas. O semblante emite signos. Essa emissão sígnica não representa nada para eles. A língua que conhecem é a língua do agir em gesto, por isso, a expressão autística é uma língua estrangeira para os homens que vivem das palavras e sua verossimilhança com os signos.
No mesmo ano, publica numa revista francesa o ensaio com o título O obrigatório e o fortuito. O texto trata do tema da guerra, no período em que viveu em Armentières e “era professor primário encarregado de instruir crianças retardadas”. (DELIGNY, 2015, p. 198) O pedagogo se refere a ideia de que a obrigação é uma ação presente quando os homens estão diante da guerra e diante de instruções instituídas por culturas e instituições. E mesmo diante da guerra e das instituições a experiência do obrigatório chegava as crianças retardadas2 como um elemento desconhecido e sem referente.
Na data, em 1981, o texto Convivência é editado num congresso americano sobre o tema sexualidade e linguagem. O professor mostra que há um Ser subjetivado a linguagem da sexualidade, este Ser está escrito em letra maiúscula porque é determinado pela convivência do homem. Ele constata que com a “experiência autista” (DELIGNY, 2015), por ser refratária a subjetivação da linguagem, ela não é atingida por essa linguagem. Assim, a convivência autista se distingue da convivência do homem. Convivência, retirada dessa experiência autista que se encontra vinculada ao agir sem Ser subjetivado aos signos da sexualidade do homem.
A voz faltante, publicado em italiano, em 1982, faz parte do penúltimo dos textos escolhidos para compor este livro. O pedagogo escolhe apresentar o paralelo entre as palavras homofônicas na língua francesa: a voz (voix) e a via (voie). Em sua experiência no asilo, ele reconhece que o ato da ausência da fala por parte da maioria dos autistas produz outro efeito na relação com a linguagem. O efeito dessa relação passa pela via do traço e dos trajetos produzidos pelo “agir autista” (DELIGNY, 2015) que se faz pela linguagem não-verbal. Talvez, por isso à “experiência autista” (DELIGNY, 2015) acione algo estrangeiro e desconhecido ao humano. Se a voz é ausente, é um indicativo de que a investigação com os autistas exige uma via novo para se pensar a supremacia dada a linguagem oral na relação humana.
O último ensaio, compõem o segundo eixo de leitura do livro e ganha espaço como título: Quando o homenzinho não está (aí). A redação do texto refere-se aos fragmentos e as anotações de quem escreve um diário de pensamentos do tipo aracniano. As anotações versam sobre muitos conceitos já demarcados nos textos anteriores e sobre as vivências nos asilos e no movimento aracniano junto as crianças, principalmente junto ao Janmari, adolescente autista que o professor Deligny adotou.
Para finalizar, reintero que o livro é composto por várias singularidades conceituais de experimentações em pedagogia.
Uma das singularidades é que o livro se faz junto ao território de artes, tais como: escrita literária, fotos, imagens dos mapas, ou seja, ele flerta e se produz por meio de uma ínfima parte do pensamento do educador Deligny como um aracniano. O desafio da leitura deste livro é que ele escreve sobre práticas pedagógicas que trabalham com o radicalidade de investir no autismo como existência e com o rigor de retirar dela uma potência singular de vida, experimentando outro tipo de educação para o homem.
Poderemos desfrutar desta leitura como uma prática única que nos ensina a pensar como é uma pedagogia que se faz junto com o agir autista e não sobre o agir autista.
Notas
1 Ele utiliza como sinônimo de mapa.
2 Lembrando que este é o conceito usado pela literatura científica e especialidade nos anos de 1940. Deligny o usa de maneira a demarcar uma certa ironia e oposição a classificação institucional.
Sônia Regina da Luz Matos – Professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos | Fátima Regina Fernandes
A obra Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos é fruto do longo trajeto investigativo de Fátima Regina Fernandes, professora de História Medieval da Universidade Federal do Paraná e pesquisadora membro do NEMED – Núcleo de Estudos Mediterrânicos. Enquanto medievalista, lança seu olhar sobre a Idade Média portuguesa, seus atores sociais e relações políticas no âmbito do Ocidente Medieval, com maior relevância para temas que giram em torno da dinâmica entre os poderes régio e nobiliárquico no espaço da Península Ibérica.
Antes de propriamente adentrar na resenha daquela obra, é preciso um esclarecimento. Toda publicação demarca um ponto no trajeto de pesquisa do historiador, seja ele graduando, pós-graduando ou historiador de carreira consolidada. Contudo, Do pacto e seus rompimentos se constitui por excelência como posição de chegada do percurso investigativo de Fátima Regina Fernandes, pois se trata da tese apresentada pela autora para obtenção do grau de professor titular do magistério superior, portanto, voltado à comprovação dos méritos da pesquisadora em ocupar tal posição, demonstrados por via da pesquisa que compõe as páginas do livro em questão. Assim sendo, foi a partir desta peculiaridade intrínseca a pesquisa que originou essa obra de onde partiu a análise contida nas linhas abaixo.
O livro objeto dessa resenha apresenta uma divisão em dois capítulos de desenvolvimento da problemática, aos quais se soma uma terceira sessão composta pelos anexos, que não devem ser menosprezados ou tratados como mero apêndice, tanto por oferecerem esquemas visuais – árvores genealógicas e mapas – facilitadores da compreensão do dinâmico contexto abordado por Fátima Regina Fernandes, quanto por conter a transcrição dos tratados2 utilizados pela autora para construir a argumentação central de sua tese, além de proporcionar o acesso a documentos por vezes difíceis de serem obtidos ao historiador brasileiro.
O primeiro capítulo é dedicado à abordagem contextual da segunda metade do século XIV, período marcado por fluidas relações políticas, rapidamente remodeladas pelo estabelecimento de pactos e tratados entre os monarcas ibéricos, franceses e ingleses; jogo de interesses que não poupou os nobres, dentre eles aqueles que acompanharam Fernando de Castro – os chamados emperegilados – ao reino de Portugal após a morte de Pedro I de Castela, também conhecido como o Cruel, pelas mães de Henrique de Trastâmara, seu meio irmão – pois bastardo –, tomando para si o trono castelhano.
Recebidos em Portugal, os Castros Galegos passaram à condição de vassalos do rei Fernando I, apoiando-o em suas ambições de domínio sobre o reino de Castela. Contudo, os planos dos nobres castelhanos foram malogrados pela aproximação entre o rei português e o aragonês – por meio de acordo que previa a divisão do território castelhano entre ambos –, mas principalmente pelo avanço da Guerra dos Cem Anos, que fez da Península Ibérica um palco de disputas políticas entre Inglaterra e França.
O objetivo de Fátima Regina Fernandes não é fazer uma revisão bibliográfica acerca dos pormenores que marcaram o irromper da Guerra dos Cem Anos e o desenvolvimento desse conflito a partir de uma narrativa centrada nas ações entre França e Inglaterra. Busca, antes, demonstrar como essa contenda se alastrou para além das disputas entre reino insular e o de além-Pirineus fazendo da Península Ibérica um ambiente sobre o qual se estenderam os interesses dos reis franceses e ingleses. Dessa maneira, a medievalista brasileira rompe com a centralidade de abordagens historiográficas focadas tão somente nos embates sustentados por França e Inglaterra ao longo da Guerra dos Cem anos e logra oferecer uma perspectiva de análise que enquadra esse fenômeno histórico enquanto pano de fundo capaz de envolver atores sociais inseridos no âmbito peninsular e os tencionar a tomadas de posição no campo político ibérico.
O ambiente de relações sócio-políticas da segunda metade do século XIV não é novidade nos trabalhos de Fátima Regina Fernandes, intimidade contextual que possibilita à autora o estabelecimento de vinculações de interesses entre o poder régio e o nobiliárquico, exercício facilitado por sua larga experiência no emprego do método prosopográfico – cujo uso se faz patente em sua tese de doutoramento (FERNANDES, 2003) e em tantos outros artigos, com destaque para as abordagens da trajetória de Nuno Alvares Pereira (FERNANDES, 2006; 2009) –, e que se revela, em Do pacto e seus rompimentos, no mapeamento das alterações experimentadas pelas relações políticas entre os Castros Galegos e os reis de Portugal e Castela, mas também entre esses últimos e os monarcas de Aragão, França e Inglaterra.
No que toca o tratamento dispensado por Fátima Regina Fernandes aos Castros Galegos, deve-se considerar que a autora os analisa enquanto grupo, nomeando tão somente a figura de Fernando Peres de Castro, enquanto os demais aparecem sob a sombra deste e escondidos sob o anonimato de seus nomes. A ausência do tratamento acerca da linhagem de Castro deve ser entendida sob a perspectiva de oferecer uma tese vertical, objetivando acima de tudo o debate em torno do estatuto social, político e jurídico experimento pelos emperegilados ao longo das vicissitudes que marcaram os finais da década de sessenta do século XIV e o início do decênio seguinte, compreendendo-os a partir da cultura política nobiliárquica castelhana, sustentada por uma nobreza cindida em dois perfis: a velha e a nova, conforme tipologia defendida por MOXÓ (2000) – importante referencial adotado por Fernandes. A supressão do processo de formação linhagística dos de Castro nessa tese deve sem entendido, para além do imperativo da almejada objetivo, pelo fato de que o tema já foi foco de pesquisas anteriormente publicadas pela medievalista (FERNANDES, 2000; 2008).
A abordagem do labirinto de relações sócio-políticas que marca o primeiro capítulo de Do pacto e seus rompimentos, característica que faz com que a leitura dessa primeira sessão da obra seja uma prática por vezes truncada e exigente de uma profunda acuidade por parte do leitor – a fim de que não se perda entre os nomes e as rápidas mudanças na direção dos pactos políticos –, oferece as referências contextuais necessárias para a devida compreensão do debate concernente ao segundo capítulo da obra, ao longo do qual a autora desenvolve o cerne de sua argumentação: o debate em torno da condição de traidores e, posteriormente, de degredados, imputada sobre o grupo de nobres castelhanos abrigados em Portugal.
Para atingir seu objetivo, Fernandes recupera os pactos e rompimentos políticos abordados no primeiro capítulo da obra para analisá-los a partir dos tratados firmados no desenvolvimento das relações entre França, Inglaterra, Aragão, Castela e Portugal, sendo o Tratado de Santarém, estabelecido entre os monarcas desses dois últimos reinos em 1373, crucial para o entendimento da condição sócio-política e jurídica dos Castros Galegos em território português.
Assim, a medievalista recorre ao exercício de crítica documental, heurística e diplomática para analisar o Tratado de Santarém, por meio do qual se estabeleceu a vassalidade de Fernando I de Portugal a Henrique II de Castela, o Trastâmara, lançando Fernando de Castro e os nobres que o acompanhavam no reino português na condição de traidores. Gozando desse estatuto, foram expulsos pelo rei português, rumando para Aragão e depois para a Inglaterra, onde passaram a viver como degredados sob a proteção do rei inglês.
Dessa maneira, “[…] a condição de traidor seria vista à luz da relação vassálica e identificada com o infiel, o que rompe unilateral e ilegitimamente o laço com o seu senhor” (FERNANDES, 2016, p. 85), rompimento este que deve ser entendido sob a perspectiva da natureza, compreendida enquanto “[…] relação artificial estabelecida voluntariamente entre os homens a fim de manter o bem comum, o consenso universal, a concordia ordinem” (FERNANDES, 2016, p. 97). Sob o imperativo de elucidar esses dois estatutos sociais – traidor e natureza –, Fátima Regina Fernandes recorre a um debate jurídico – traço também característico da autora e já demonstrado desde sua dissertação de mestrado acerca da legislação de Afonso III de Portugal (FERNANDES, 2001) –, problemática transpassada pelo do avanço das concepções do Direito emanadas a partir de Bolonha e do fortalecimento da ideia das fronteiras, fenômenos históricos que exerceram influência determinante no ideário político da Baixa Idade Média.
Ao enveredar pela discussão em torno da natureza e da noção de pertencimento à terra – questões atreladas à definição dos limites fronteiriços dos reinos medievais –, Fernandes toca no debate historiográfico concernente ao tema que pode ser sintetizado pelo título da obra de Joseph Strayer, As origens medievais do Estado Moderno, viés interpretativo que, tomando o Estado como ponto de chegada, relegou a Idade Média o lugar de berço, momento de gestação das instituições que posteriormente chegariam a sua maturidade no período histórico posterior ao da Idade Média.
Rompendo com as explicações teleológicas, característica da escrita de STRAYER (1969), Do pacto e seus rompimentos tem o mérito de inserir a análise acerca das instituições medievais no contexto próprio de sua dinâmica, fazendo perceber que o sentimento de pertencimento ao reino nutrido por aquelas pessoas surgiu a partir da base municipal, assim como instituições cujo funcionamento se pautava em uma relação mais impessoal entre o poder régio e o local; diferentemente da vinculação entre reis e nobres, haja vista que estes, preocupados com a manutenção de seu poder nobiliárquico, negligenciavam os limites fronteiriços, transitando mais livremente entre os reinos ao sabor das possibilidades oferecidas pelos pactos políticos – problemática que a autora já havia apontado ao estudar a trajetória de Gil Fernandes, um homem de fronteira (FERNANDES, 2013).
Os méritos da obra de Fátima Regina Fernandes podem ser estendidos para além da perspectiva de análise das problemáticas medievais supracitadas. Duas guerras mundiais. Conflitos armados no Leste Europeu e Oriente Médio – ainda hoje em chamas. Governos ditatoriais na América Latina. Todos esses embates político-militares impeliram, e seguem obrigando, extensa quantidade de pessoas ao abandono sua terra natal em pronta fuga aos horrores gerados pela violência daqueles embates. A proximidade temporal que envolve o observador contemporâneo a esses fatos pode levá-lo a concluir de maneira apressada que o exílio foi fenômeno nascido no século XX e vivo ainda na segunda década do XXI, entendimento equivocado que também se deve a escassez que a problemática experimenta no espaço dos debates historiográficas dos medievalistas.
Embora a circulação de nobres entre os reinos ibéricos possa ser largamente constatada ao longo da medievalidade ibérica, os medievalistas tendem a se ater ao contexto social e a equação de forças políticas que atuaram para a mobilidade nobiliárquica, muitas vezes dedicando pouca atenção aos conceitos que definem a extraterritorialidade desses atores sociais. A tese de Fátima Regina Fernandes alcança esse espaço de discussão pouco explorado, sem deixar de lado o rigor no trato contextual próprio desse período histórico, contribuindo não apenas para a compreensão da Idade Média, assim como o de nossa contemporaneidade, lembrando-nos que não apenas os indivíduos do século XX e XXI estavam sujeitos à necessidade do exílio, mas também os viventes do medievo.
Expostas essas ponderações, tem-se uma visão geral que torna possível a compreensão geral dessa obra. Enquanto tese de professora titular, a publicação cumpre a função de demonstrar o ponto de chegada das pesquisas desenvolvidas por Fátima Regina Fernandes ao longo de sua carreira de professora e pesquisadora no campo da História Medieval, motivo pelo qual estão presentes nessa obra, problemáticas pertinentes ao percurso dessa medievalista brasileira e que aparecem sintetizadas nas no desenvolvimento de suas interpretações em Do pacto e seus rompimentos.
Este não é, contudo, um trabalho de síntese do fim de um caminho de pesquisa. Ora, ainda há muito a ser feito! É antes um ponto de chegada, de onde partem outras problemáticas a serem elucidadas, como fica demonstrado por Fátima Regina Fernandes ao avançar com o debate acerca da condição de traidor e degredado no âmbito da Baixa Idade Média, cumprindo assim com o objetivo central dessa tese. A pesquisa que gerou a publicação de Do pacto e seus rompimentos ainda confirma o mérito que levou a medievalista a obtenção do grau de titular, elogiosamente reconhecido pelos membros que formaram a banca examinadora e registrado em prefácios preenchem as primeiras páginas de Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos.
Notas
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná sob a orientação da Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes. Membro do NEMED – Núcleo de Estudos Mediterrânicos. Bolsista CAPES. E-mail: carloszlatic@hotmail.com
2 Os documentos contidos no sessão de anexos são: Tratado luso-aragonês (1370), Tratado de Alcoutim (1371), Tratado de Tuy (1372), Tratado de Tagilde (1372) e o Tratado de Santarém (1373).
Referências
FERNANDES, Fátima Regina. A construção da sociedade política de Avis à luz da trajetória de Nuno Álvares Pereira. A guerra e a sociedade na Idade Média: Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, s.l., p. 421-446, 2009.
FERNANDES, Fátima Regina. A fronteira luso-castelhana medieval, os homens que nela vivem e o seu papel na construção de uma identidade portuguesa. In: FERNANDES, Fátima Regina (Coord.) Identidades e fronteiras no medievo ibérico. Curitiba: Juruá, 2013. p. 13- 47.
FERNANDES, Fátima Regina. Comentários à legislação medieval portuguesa de Afonso III. Curitiba: Juruá, 2000.
FERNANDES, Fátima Regina. Estratégias de legitimação linhagística em Portugal nos séculos XIV e XV. Revista da Faculdade de Letras-História, Porto, v. 7 (série III), p. 263- 284, 2006.
FERNANDES, Fátima Regina. Os Castro galegos em Portugal: um perfil de nobreza itinerante. Actas de las Primeras Jornadas de Historia de España, Buenos Aires, v. II, p. 135-154, 2000.
FERNANDES, Fátima Regina. Os exílios da linhagem dos Pacheco e sua relação com a natureza de suas vinculações aos Castro (segunda metade do século XIV). Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, v. LXXXII, p. 31-54, 2008.
FERNANDES, Fátima Regina. Sociedade portuguesa e poder na Baixa Idade Média Portuguesa. Dos Azevedo aos Vilhena: as famílias da nobreza medieval portuguesa. Curitiba: Editora UFPR, 2003.
MOXÓ, Salvador. De la nobleza vieja a la nobleza nueva. In: MOXÓ, Salvador. Feudalismo, senorío y nobleza en la Castilla medieval. Madrid: Real Academia de la Historia, 2000. p. 311-345.
STRAYER, J.R. As Origens Medievais do Estado Moderno. Lisboa: Gradiva, 1969.
Carlos Eduardo Zlatic – Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná sob a orientação da Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes. Membro do NEMED – Núcleo de Estudos Mediterrânicos. Bolsista CAPES. E-mail: carloszlatic@hotmail.com
FERNANDES, Fátima Regina. Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos. Curitiba: Editora Prismas, 2016. Resenha de: ZLATIC, Carlos Eduardo. Vozes, Pretérito & Devir. Piauí, v.6, n.1, p. 279 – 284, 2016. Acessar publicação original [DR]
La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français – FUREIX; JARRIGE (H-Unesp)
FUREIX, Emmanuel; JARRIGE, François. La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français. Paris: Éditions La découverte, 2015. 390 p. Resenha de: ROZEAUX, Sébastien. História [Unesp] v.35 Franca 2016.
Voici un ” essai historiographique ” voué à devenir un ouvrage de référence pour celui qui étudie, de près ou de loin, l’histoire de la France au XIXe siècle, en cela qu’il nous offre une recension précise et très informée de l’historiographie de ces trente dernières années. Ce tableau compréhensif de la recherche historique s’inscrit, et c’est là la grande vertu de ce livre-panorama, dans une histoire de la France qui s’écrit, de plus en plus, dans diverses langues et dans un dialogue accru entre des traditions historiographiques différentes. Cette attention accordée aux traditions française et anglo-saxonne, en particulier, a largement contribué à enrichir et complexifier, un peu plus encore, l’histoire d’un siècle sur lequel les historiens, en France et dans le monde, publié qu’aujourd’hui.
Cet ouvrage écrit à quatre mains paraît dans une nouvelle collection intitulée ” Écritures de l’histoire “, qui aspire à mettre en évidence ” la fabrique de l’histoire en train de se faire “, soit une attention particulière donnée aux conditions de la production du discours historique, passé et présent, ainsi qu’à ses usages dans l’espace public. L’ouvrage d’Emmanuel Fureix et de François Jarrige s’ouvre ainsi sur le constat amer d’une histoire du XIXe siècle dont l’ample renouvellement est contemporain de son éloignement dans les mémoires et les imaginaires, à mesure que les programmes scolaires, notamment, en atténuent ou édulcorent les traits les plus saillants, réforme après réforme. Or, dans le même temps, les deux auteurs constatent un certain regain d’intérêt pour ce XIXe siècle – dont l’historiographie récente porte la trace -; regain d’intérêt qu’ils relient, en particulier, à l’essor des mouvements de contestation contre la ” radicalisation du néolibéralisme “, en cours depuis les années 1980, contexte favorable, à leurs yeux, pour comprendre ” la quête incessante d’un autre XIXe siècle, à la fois plus réaliste et émancipé à l’égard des œillères héritées du passé ” (p. 37).
En effet, les deux historiens ont à cœur, dans cet essai, de mettre en évidence l’actualité du XIXe siècle, dès lors que celui-ci est restitué dans son irréductible complexité. Car, comme il est rappelé dans l’introduction, ” le siècle du progrès et de la modernité fut donc aussi celui des ambivalences, des inachèvements et des désenchantements ” (p. 10). Observateurs attentifs et enthousiastes de ce paysage ” luxuriant ” qu’offre le XIXe vu à travers le prisme de l’historiographie la plus récente, Emmanuel Fureix et François Jarrige ont l’ambition commune, tout au long des sept chapitres thématiques que compte l’ouvrage, de témoigner des vertus de cette attention nouvelle des historiens pour les arrangements, les discontinuités, les résistances et les expériences singulières qui ont permis de rompre avec une lecture trop linéaire ou téléologique du XIXe siècle.
Ainsi, l’ouvrage s’ouvre sur une relecture critique du siècle de la modernité advenue, ce ” macro-récit téléologique qui rend invisibles la richesse et la diversité des situations ” (p. 50). Le renouvellement concomitant de plusieurs champs historiographiques (parmi lesquels, l’histoire économique, celle des sciences, du travail ou encore rurale) permet d’offrir un tableau contrasté du siècle de la ” révolution industrielle “, dont la modernité affichée cache le plus souvent une réalité autrement plus complexe, faite d’accommodements, d’adaptations et de résistances, afin de dépasser le paradigme réducteur des prétendus ” archaïsmes ” d’une société en quête de ” modernité “.
Le livre fait ensuite l’inventaire des novations les plus remarquables en histoire culturelle, depuis l’histoire des sensibilités, jusqu’à l’histoire du livre et de la presse. Ces différents renouvellements historiographiques ont permis de prendre la mesure de l’ampleur et des limites des bouleversements d’un siècle marqué par l’émergence de la culture de masse, la démocratisation de l’éducation scolaire ou le ” triomphe du livre “. Sur ce dernier point, les deux auteurs s’attardent, à raison, sur l’étude très féconde des usages sociaux quotidiens du journal, qui ont contribué à renouveler en profondeur une histoire des appropriations de l’imprimé et des pratiques de lecture. Si l’essai se fait l’écho des nouvelles approches transnationales de l’histoire des intellectuels et de la circulation de la notoriété d’une œuvre ou d’un auteur, il est toutefois regrettable, ici, que les deux auteurs n’accordent pas la même attention au renouveau de l’histoire du livre et de l’édition. De nombreux travaux collectifs et internationaux, menés récemment, ont déjà établi qu’il était indispensable, désormais, de penser le livre et le monde de l’édition en France dans une perspective transnationale, connectée. Ce faisant, l’histoire des transferts et des circulations culturelles transatlantiques fournit des éclairages précieux sur une histoire culturelle qui entre en résonnance avec la mondialisation des phénomènes culturels, en cours au XIXe siècle – et en particulier entre les continents américain et européen.1
Par ailleurs, l’attention accrue des historiens à l’agency des acteurs a contribué au renouveau d’une histoire culturelle et sociale attentive, depuis le Linguistic turn, à historiciser les processus d’identification (individuel ou collectif) via l’analyse des constructions discursives dont, pour une part, ils résultent. En témoignent, par exemple, la nouvelle histoire du genre (appréhendée comme une construction sociale et culturelle de la différence des sexes), les débats autour de la question des identités sociales ou le renouveau des approches pour penser la construction du national – des réflexions que, là aussi, une attention nouvelle aux approches comparées et internationales ne manqueront pas d’enrichir plus encore à l’avenir.
Sur le versant politique, les auteurs rappellent la nécessité de ” rompre avec une histoire univoque de l’acculturation républicaine ” (p. 233) : la déconstruction du grand récit de la modernisation démocratique a mis en lumière les limites de la démocratisation, l’importance des résistances et l’extraordinaire diversité des voies de la politisation, au-delà du rôle encore limité de l’élection et du vote. La construction de l’État offre un autre champ de renouveau, par l’importance accordée à la réflexion socio-historique sur la progressive étatisation de la société, comme le permet, notamment, l’étude des ” nouvelles ingénieries du politique “, depuis l’essor de la statistique jusqu’au ” gouvernement des honneurs “. Une nouvelle histoire sociale de l’État et de ses agents, la réflexion sur le pouvoir régulateur de l’État vis-à-vis du marché et la mesure précise de son autorité au sein de la société sont autant de contributions pour penser à nouveaux frais la construction de l’État, l’étatisation des sociétés et ses limites.
Cette réflexion sur l’État et ses pouvoirs se trouve prolongée dans sa dimension impériale, puisque la colonisation est un champ d’études particulièrement fécond, en vertu des ” dynamiques pluridisciplinaires et transnationales ” et de ” la montée en puissance de l’histoire globale ” (p. 330). Dans la droite ligne des études postcoloniales, l’émergence d’une nouvelle histoire impériale a produit de nombreux travaux sur les mutations à l’œuvre au sein des sociétés métropolitaines et coloniales, par la mise en évidence de la complexité de leurs échanges et de leurs relations. L’imposition de l’ordre colonial sur les territoires colonisés se révèle être ainsi la source de violences protéiformes et de nouvelles inégalités, comme il produit des singularités remarquables, au prix de résistances et d’arrangements de ces sociétés soumises à ces formes inédites de la domination.
Historiens du XIXe siècle, Emmanuel Fureix et François Jarrige rappellent à travers cet essai les vertus d’une science, l’histoire, qu’ils envisagent comme la ” mise en scène de la pluralité des possibles à travers l’étude des sociétés passées et de la diversité des modes d’inscription dans le monde ” (p. 386). Et les deux auteurs d’énoncer, peut-être trop rapidement, les vertus émancipatrices de la science historique, en ces temps gagnés par le ” désenchantement ” et une ” insatisfaction ” anxiogène. J’ajouterai aux mérites de cet ouvrage, pour un public lecteur étranger, et notamment brésilien, celui de mettre en évidence la fécondité d’une histoire comparée à l’échelle internationale, compte tenu de l’intensification croissante de la circulation des hommes, des idées et des marchandises au XIXe siècle. Pour un spécialiste de l’histoire du Brésil à l’époque impériale, il ressort de la lecture de cet essai que l’histoire de la France au XIXe siècle, dont le dynamisme et le renouvellement sont ici brillamment exposés, doit désormais se lire et s’écrire dans sa dimension connectée et transnationale. De cette exigence découle aussi l’injonction faite aux spécialistes de l’histoire culturelle, sociale, économique ou politique, du Brésil en particulier et de l’Amérique latine dans son ensemble, à une plus grande attention à ces transferts, circulations (importations et exportations) et connexions auxquels le ” nationalisme méthodologique ” a longtemps fait obstacle. C’est par ce dépassement du carcan national dans l’écriture de l’histoire, en France et ailleurs, que les historiens peuvent prétendre in fine contribuer à produire collectivement une histoire mondiale ou atlantique des sociétés contemporaines.
1 Voir, en particulier: COOPER-RICHET D.; MOLLIER, J.-Y. Le Commerce Transatlantique de Librairie . Campinas/S.P: UNICAMP/Publicações IEL, 2012. ABREU M.; DEAECTO M. M. A Circulação transatlântica dos impressos [recurso eletrônico]: Conexões. Campinas, São Paulo: UNICAMP/IEL/Setor de Publicações, 2014. ABREU. M.; SURIANI DA SILVA A. C. (eds.). The cultural Revolution of the Nineteenth century . Theatre, the Book-trade and Reading in the Transatlantic World. Londres/New York: I. B. Tauris, 2016.
Sébastien Rozeaux – Docteur en histoire contemporaine. Centre de recherche sur le Brésil colonial et contemporain – Mondes américains. École des hautes études en sciences sociales, Paris. EHESS (Siège), 190-198 – Avenue de France – 75244 – Paris – CEDEX 13.
Poesia e Polícia – Redes de comunicação na Paris do Século XVIII – DARNTON (Topoi)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Tradução Rubens Figueiredo. Resenha de: QUELER, Jefferson. Fazer a história cantar: oralidade e política na Paris do século XVIII. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Buscar e compreender sons do passado, fazer a história cantar. Estes são os principais objetivos de Robert Darnton neste livro recentemente traduzido no Brasil – a publicação original foi feita nos Estados Unidos em 2010. Intelectual renomado, capaz de entrar em fóruns de discussão composto por historiadores do porte de François Furet, Albert Soboul e Roger Chartier, e ainda assim propor abordagens e interpretações novas para a França do Antigo Regime; pesquisador notável, capaz de encontrar documentação inédita em arquivos e seguir suas pistas e desdobramentos em fontes as mais variadas possíveis; dono de uma narrativa ágil e eletrizante, capaz de dialogar não apenas com a academia, como também com o público em geral; ele certamente traz todos esses elementos nesta obra e faz jus à série de resenhas elogiosas que ela vem recebendo em revistas acadêmicas e jornais de grande circulação, tanto no Brasil quanto no exterior.1 Contudo, pouco ou nada se discutiu sobre suas contribuições à luz dos debates em torno do seu tema central, a oralidade.
Entre as famosas publicações do autor, é possível encontrar estudos sobre a Encyclopédie, literatura pornográfica, impressos em geral; material subversivo amplamente consumido e discutido na França às vésperas da revolução de 1789. Na obra ora analisada, Darnton continua a lidar com o tema da calúnia política sobre a monarquia francesa; e é bem cuidadoso ao não estabelecer nenhuma relação simplista de causa e efeito entre a primeira e a queda da segunda. Porém, sua abordagem dos impressos e dos manuscritos ganha uma coloração nova: a palavra escrita passa a ser compreendida em suas interações com as redes de comunicação oral da Paris pré-revolucionária.
Passemos à trama. Em meados do século XVIII, o estudante de medicina François Bonis foi preso pela polícia parisiense por levar consigo versos que detratavam o monarca Luís XV. Na sequência da investigação, outras treze pessoas foram presas, membros dos estratos médios da sociedade francesa, como clérigos, burocratas, outros estudantes e um professor universitário. Mais cinco poemas subversivos afloraram entre os acusados. O Caso dos Quatorze, como ficou registrado nos arquivos policiais, revelava a extensa rede de comunicação no âmago da sociedade francesa. Versos eram copiados em pedaços de papel e carregados em bolsos de colete ou em mangas de camisa para serem recitados ou cantados entre amigos e, por vezes, em público. Tais composições eram reproduzidas e repassadas em grande quantidade, muitas vezes memorizadas pelos seus portadores. A ambição dos investigadores, de encontrar o autor dos versos, nunca foi satisfeita, porém. Segundo Darnton, nem poderia ser diferente, pois tais canções eram variações de uma “criação coletiva”.
Ora, o fato de a polícia não ter encontrado as pessoas que primeiramente compuseram os versos não significa que não existisse um ponto de partida; tampouco que não houvesse autoria envolvida no processo de difusão dos mesmos. A antropóloga Ruth Finnegan, em trabalho clássico publicado originalmente no final da década de 1970, criticou a ideia de que a poesia oral é produzida de maneira anônima ou coletiva. Em vez disso, é possível afirmar que os poetas envolvidos nessa tarefa são capazes de expressar certo grau de individualidade, seja na composição, seja na performance.2 A pesquisa de Darnton aponta também nessa direção. Ele chega a afirmar que a declamação dos versos ou a execução das músicas podiam alterar seus significados: o ritmo, o tom da voz, a melodia escolhida definiam a seriedade ou deboche das apresentações.
As referências bibliográficas do historiador para lidar com o tema da oralidade fornecem pistas para entender sua interpretação. Ele menciona tão somente o trabalho The Singer of Tales de Albert Lord. Trata-se de livro pioneiro, um clássico publicado em 1960. Contudo, muitas de suas conclusões vêm sendo contestadas nas últimas décadas, inclusive pelo referido trabalho de Finnegan.3 Em seu livro, ademais, a antropóloga africanista cita e analisa numerosos exemplos de poesia política, coletados especialmente durante os diferentes processos de independência política na África na segunda metade do século XX; poemas empregados para propósitos tão distintos quanto ridicularizar os colonizadores, conferir unidade à resistência, e esclarecer o funcionamento de processos eleitorais para populações majoritariamente analfabetas.4 Em suma, a poesia política de caráter oral é um fenômeno bastante conhecido e estudado, que demorou a ganhar destaque em fóruns de pesquisa como o da história da França do Antigo Regime; ainda que tenha sido estudada com grande engenho e criatividade por Darnton. De qualquer forma, este certamente podia ter se beneficiado dos debates mais recentes travados em torno do tema da oralidade.
Paul Zumthor indicou a amplitude do fenômeno da poesia oral no passado europeu. De caráter urbano, a canção de protesto esteve presente na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália dos séculos XV e XVI. Foram encontradas “baladas sediciosas” em Veneza por volta de 1575, canções francesas da época das guerras de religião, mazarinadas (panfletos contra o Cardeal Mazarino). Tal gênero poético, desprezado pelos eruditos, mas seguido atentamente pela polícia, também aflorou no século XVII monárquico. Nas cidades holandesas, por volta de 1615, canções apareciam tomando partido pró ou contra Johan van Oldenbarnevelt na luta pela independência da Espanha; nas cidades inglesas, durante o reinado de Charles I, as streetballads atacavam com virulência os homens de negócio monopolistas. Impressores especializados e cantores de rua difundiam opúsculos satíricos, canções e profecias, frequentemente com teor político. É possível mencionar ainda a poesia operária cantada na França da época dos enciclopedistas. Havia a comemoração dos conflitos dos papeleiros de Angoulême em 1739 ou da revolta dos canuts lioneses em 1786.5 Em outras palavras, o livro de Darnton retoma, ainda que de maneira indireta, uma tradição documental bastante consolidada.
Os motivos da eclosão desse tipo de problemática em seu trabalho podem ser identificados nas páginas iniciais de seu livro. Darnton afirma que a propalada sociedade da informação dos dias de hoje favorece a emergência de uma consciência de que vivemos num mundo completamente diferente de tudo que já existiu. Em sua opinião, entretanto, as redes de comunicação da Paris do século XVIII demonstram a existência de uma sociedade da informação muito antes da cunhagem deste termo, antes da popularização da internet. É claro que sua análise tem o mérito de apontar as insuficiências de tal conceito; porém, ela acaba utilizando-o para entender não apenas o seu presente, como também a sociedade francesa do Antigo Regime. Ora, os fluxos de comunicação contemporâneos, sob o impacto de tecnologias como a imprensa, o rádio, a televisão e o computador, tornam a comunicação contemporânea radicalmente distinta daquela experimentada na França do século XVIII, seja do ponto de vista qualitativo, seja do quantitativo.
Por outro lado, Darnton apresenta um pensamento provocador e convincente para a redefinição da noção de opinião pública. Ele critica o tratamento desta última pela perspectiva sociológica de Habermas ou pela nominalista de Foucault. Em sua opinião, é possível conceber um público discutindo assuntos políticos e criticando os governantes mesmo antes do aparecimento do referido termo. Numa França sem periódicos, patrulhada pela censura oficial, as canções e versos atuavam como se fossem jornais cantados ao fazer a sátira da monarquia e seus delegados, bem como a crônica dos principais acontecimentos políticos. Por exemplo, “Qu’une bâtarde de catin”, canção surgida na corte para detratar Madame de Pompadour, amante de Luís XV, ganhou as ruas e transformou-se ao sabor dos interesses e intervenções de seus difusores. Muitos de seus versos foram modificados e novos assuntos acrescentados a ela. Em algumas de suas versões, foram comentadas as negociações de paz da Guerra de Sucessão Austríaca, as últimas disputas intelectuais de Voltaire ou a resistência a um novo imposto. De origem cortesã, muitos versos e músicas podiam deixar os salões da nobreza e depois retornar a eles com acréscimos das ruas. Não é por menos que Luis XV considerasse em certa medida as opiniões de seus súditos. Ainda que projetos revolucionários e propostas para derrubar a monarquia não fizessem parte de tais canções, Darnton demonstra com profundidade como estas últimas delineavam uma espécie de esfera pública numa sociedade fortemente marcada pela oralidade.
O historiador é bastante arguto ao interpretar esse material e estimar seu impacto. As canções, como ele destaca, veiculavam mensagens e eram igualmente eficazes em fixar seus conteúdos, uma vez que atuavam como poderosos instrumentos mnemônicos. Em meio às poesias e versos encontrados, especialmente em cancioneiros, Darnton notou indicações das melodias que deveriam acompanhá-los. Seguindo essas pistas, ele localizou uma série de partituras destinadas a reproduzi-las. Na Paris revolucionária, a poesia oral era cantada nas ruas com o apoio de violinos, flautas, elementos que aumentavam sua eficácia no processo comunicativo. O livro de Darnton chegou a ser criticado pela suposta inadequação de seu título, dado que este se propõe a estudar poesia, mas envereda pela análise de músicas.6 Crítica injusta, pois a poesia oral, em sua maioria, é cantada.7 Outro elemento que merece destaque em sua análise é a identificação das canções no interior de seus respectivos gêneros. Entre elas, emergem jogos de palavras, baladas populares, piadas, contos de natal burlescos, diatribes. Trata-se de observação fundamental, pois as formas das histórias narradas e comentadas nas letras, e não apenas seus ritmos e tons, eram componentes fundamentais na definição de seus sentidos.
Darnton questiona-se ainda sobre a recepção dessas músicas pelos seus ouvintes. Em busca de respostas, ele analisou memórias e diários (como o do Marquês d’Argenson, irmão do Conde d’Argenson, o encarregado-mor da repressão no Caso dos Quatorze) referentes àquele período, e pôde confirmar não apenas a origem cortesã de muitos dos poemas satíricos, como também os incômodos que tais versos podiam causar à monarquia. Em sua análise da recepção, contudo, Darnton não consegue avançar satisfatoriamente, uma vez que os sons, fugazes como o são, deixam poucos traços nos arquivos. De modo a suprir essa lacuna, ele estabeleceu parceria com a cantora francesa Hélène Delavault, a qual procurou reinterpretar algumas das referidas canções, de modo a oferecer uma ideia de como elas eram veiculadas nas ruas no passado – com direito a anexos e hiperlink que disponibiliza tais músicas gratuitamente aos leitores. Evidentemente, tal material não tem valor de prova na argumentação do autor; entretanto, possui o mérito de conferir ainda mais sabor à sua narrativa, um forte elemento de persuasão.
Suas técnicas de sedução, sua elevada qualidade de pesquisa e de interpretação, sem esquecer a estimada reputação do autor e o sedimentado interesse pela história francesa, talvez ajudem a explicar a boa recepção deste livro sobre poesia política no Brasil. Para efeitos de comparação, vale a pena destacar que o historiador irlandês Vincent Morley publicou trabalho muito parecido em 2002. Nessa obra de pouquíssima repercussão no país, o autor se dedica a investigar os impactos do processo de independência das colônias norte-americanas entre 1760 e 1783 na opinião de diversos setores da sociedade irlandesa. Morley demonstra como as notícias sobre o conflito que cruzavam o Atlântico e eram publicadas nos principais jornais irlandeses logo adentravam o universo da oralidade, sendo transformadas em música e versos em língua vernácula.8 Seu conhecimento de gaélico permitiu-lhe traduzir essas composições e perceber como a grande massa da população católica e analfabeta, outrora considerada passiva e despolitizada, acompanhou de perto os acontecimentos na América do Norte e apoiou a resistência dos norte-americanos ao domínio britânico, algo a que também aspirava, transformando figuras como George Washington em heróis populares.9 Não se trata aqui de diminuir a originalidade de Darnton, mas apenas de situar seu trabalho numa tendência mais ampla. Ademais, tal exemplo nos leva a refletir sobre as condições de circulação de conhecimento historiográfico, ou melhor, sobre os aspectos que levam um determinado assunto ou abordagem a receber atenção e reconhecimento entre historiadores.
De qualquer maneira, as análises e conclusões de Darnton contribuem não apenas para a história francesa do século XVIII. Elas também sugerem fecundos caminhos de pesquisa em diversas outras sociedades e períodos. No caso brasileiro, Sílvio Romero, em trabalho de folclorista, afirmava no final do século XIX que seria importante investigar a relação da poesia popular com nossos movimentos políticos e sociais. Em seu trabalho de compilador, ele notou a ausência de composições tratando das guerras de Independência, dos Farrapos, dos Cabanos, dos Balaios e do Paraguai, lacuna que em sua opinião poderia ser preenchida.10 Além disso, é de amplo conhecimento a presença de figuras políticas nos versos da literatura de cordel, especialmente vigorosa na região nordeste, o que também chama a atenção para a importância do estudo da poesia política de caráter oral no período republicano. O método sugerido por Darnton instiga a historiografia brasileira a encontrar e analisar esse gênero de sons do passado, e inseri-los nos debates travados em torno do tema da oralidade fortemente desenvolvido nos últimos anos. Seu livro deve interessar também aos estudantes da área de humanidades e comunicação, bem como ao público não especializado em geral.
1Dois exemplos significativos no Brasil: CABRAL, Luís Felipe. Darnton, Robert. Poetry and the Police: communication networks in eighteenth-century Paris. Rev. Bras. de Hist., v. 34, n. 68, p. 333-338, 2014; MATTOS, Yllan de; DILLMAN, Mauro. Darnton, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 357-362, 2015. O primeiro, baseado no texto original, faz uma boa descrição do conteúdo da obra e comentários elogiosos a ela. O segundo, apoiado na tradução, segue o mesmo caminho, apesar de apontar problemas no texto em português, como a utilização do termo “Velho Regime” em vez de “Antigo Regime”, além de notar a ausência de diálogo do autor com trabalhos importantes que já haviam tocado no tema por ele estudado.
2FINNEGAN, Ruth. Oral poetry: its nature, significance, and social context. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992, p. 201-210.
3Ibidem, p. 58-70.
4Ibidem, p. 217-222.
5ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010, p. 307-308.
6SHAW, Matthew. Robert Darnton. Police and Poetry: communication networks in eighteeth-century Paris. Cambrige: Belkap Press, 2010. European History Quarterly, vol. 43, n. 2, p. 348.
7FINNEGAN, Ruth. Oral poetry: its nature, significance, and social context, op. cit., p. 118.
8MORLEY, Vincent. Irish opinion and the American Revolution (1760-1783). Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 97-107.
9Ibidem, p. 281.
10ROMERO, Sílvio. Estudos sobre a poesia popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977, p. 263.
Jefferson Queler – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. Professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: jeffqueler@hotmail.com.
Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva – PETIT (REi)
PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. 2. ed. Tradução de Celina Olga de Souza. São Paulo: Editora 34, 2009. Resenha de: MUNIZ, Dinéa Maria Sobral; VILAS BOAS, Fabíola Silva de Oliveira. Revista Entreideias, Salvador, v. 4, n. 2, 152-157 jul./dez. 2015.
Michèle Petit é antropóloga e tem obras traduzidas em vários países da Europa e da América Latina. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva foi a primeira lançada no Brasil (2008) e recebeu o Selo “Altamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Além dessa obra, a Editora 34 também publicou A arte de ler: ou como resistir à adversidade (2009) e Leituras: do espaço íntimo ao espaço público (2013). A edição brasileira de Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva estabelece o convite à leitura desde a capa, em tom azul forte, com uma xilogravura de Moisés Edgar, do Grupo Xiloceasa (SP). A “orelha” do livro, escrita por Marisa Lajolo, é igualmente convidativa, pois ressalta o fato de que a leitura integra a pauta de diferentes agendas brasileiras, o que torna o livro mais que oportuno no país, e por esse motivo, certamente, interessará àqueles “[…] fascinados pela alquimia que, através das palavras impressas, aproxima as pessoas umas das outras, descortinando novas paisagens do universo que compartilhamos.1” O sumário da obra, além do prefácio escrito por Petit especialmente para a edição brasileira, apresenta quatro seções: “As duas vertentes da leitura”, “O que está em jogo na leitura hoje”, “O medo do livro” e “O papel do mediador”. No prefácio, a autora declara que, antes de vir ao Brasil pela primeira vez, desde que participou, em Paris, no ano 2005, das comemorações do “ano do Brasil na França”, começou nutrir a esperança de conhecer o país.
Na ocasião das comemorações, assistiu a concertos e exposições, descobriu telas do pernambucano Cícero Dias, leu lendas contadas por Clarice Lispector, seguiu relatos de J. Borges e J. Miguel, através de suas xilogravuras, de modo que essas (e outras) experiências alimentaram o desejo de estar em terras brasileiras.
Também no prefácio, Petit, a fim de contextualizar o desenvolvimento das pesquisas apresentadas, analisa o processo da democratização do ensino na França e suas armadilhas. Para a antropóloga, a inserção de jovens oriundos de camadas populares e marginalizadas nos segmentos secundário e universitário sempre fora conduzida a passo forçado, sem a oferta de meios pedagógicos que de fato os acolhessem. A observação de suas formas de viver e estudar permitiu constatar que eles não tinham acesso à cultura escrita, faziam anotações malfeitas e ilegíveis, apresentavam desconhecimento total das bibliografias, não pesquisavam em bibliotecas.
Esse bloqueio extremamente prejudicial dos jovens em relação à leitura só foi ultrapassado “graças a mediações sutis, calorosas e discretas ao longo de seu percurso” (p. 11). A biblioteca, nesse cenário, figurou tanto como um espaço de formas de sociabilidade, que os protegia das ruas, quanto um local profícuo para que estabelecessem uma relação mais autônoma com a cultura escrita e mais singular com a leitura.
Na primeira seção, “As duas vertentes da leitura”, Petit toma depoimentos de pessoas de diferentes níveis sociais, nos meios rurais franceses, e apresenta duas concepções de leitura de onde deriva cada vertente: uma marcada pelo grande poder atribuído ao texto escrito e outra marcada pela liberdade do leitor. A prática de leitura individual e silenciosa era incomum para esses sujeitos, pois boa parte dos entrevistados evocou lembranças de leituras coletivas, em voz alta (escola, catecismo, internato), ocasiões nas quais era possível controlar o acesso aos textos escritos, seus conteúdos, seus modos de dizer. Opondo-se a essa concepção e prática de leitura como “controle”, Petit adverte:
[…] não se pode jamais estar seguro de dominar os leitores, mesmo onde os diferentes poderes dedicam-se a controlar o acesso aos textos. Na realidade, os leitores apropriam-se dos textos, lhes dão outro significado, mudam o sentido, interpretam à sua maneira, introduzindo seus desejos entre as linhas: é toda a alquimia da recepção. (p. 26)
Por acreditar na vertente que focaliza a leitura como elemento essencial à formação de um espírito crítico e livre, considerado a chave de uma cidadania ativa, a autora argumenta a favor do poder que a leitura tem para provocar um deslocamento da realidade, ao abrir espaço para o devaneio, no qual tantas possibilidades de interpretação podem ser cogitadas. Nesse sentido, Petit defende que a leitura instrutiva não deve se opor àquela que estimula a imaginação; ao contrário, ambas devem ser aliadas, uma vez que “contribuem para o pensamento, que necessita lazer, desvios, passos para fora do caminho.” (p. 28). Por fim, Petit discute e caracteriza o leitor “trabalhado” por sua leitura como um sujeito ativo, que opera um trabalho produtivo à medida que lê, inscreve sentidos na leitura, reescreve, altera-lhe o sentido, reemprega-o, mas que se permite, também, ser transformado por leituras não previstas.
Em “O que está em jogo na leitura hoje em dia”, segunda seção da obra, a antropóloga lança ao leitor questões disparadoras: “Por que é ler é importante? Por que a leitura não é uma atividade anódina, um lazer como outro qualquer? Por que a escassa prática de leitura em certas regiões, bairros, ainda que não chegue ao iletrismo, contribui para torná-los [os jovens] mais frágeis?” (p. 60). Pensando inversamente, Petit interroga: “de que maneira a leitura pode se tornar um componente de afirmação pessoal e de desenvolvimento para um bairro, uma região ou um país?” (p. 60).
Para a autora, tais questões envolvem uma série de ângulos e registros. Contudo, a verdadeira democratização da leitura engloba a concepção dessa como um meio para se ter acesso ao saber, aos conhecimentos formais, sendo capaz, assim, de modificar o destino escolar, profissional e social das pessoas. Passa também pelo aspecto da leitura como uma via privilegiada para se ter acesso a um uso mais desenvolto da língua, pois essa pode, por vezes, constituir-se “uma terrível barreira social” (p. 66). A linguagem e a leitura têm a ver, ainda, com a construção de si próprio como sujeitos falantes, pois a leitura pode, em todas as idades, “ser um caminho para se construir, se pensar, dar um sentido à própria existência, à própria vida; para dar voz a seu sofrimento, dar forma a seus desejos e sonhos”. (p. 72).
Petit também retoma nessa seção a ideia da hospitalidade da leitura literária, da literatura como um lar. Para ela, os jovens que leem literatura são os que mais têm curiosidade pelo mundo real, pela atualidade e pelas questões sociais. Dessa forma, a leitura permite ao sujeito conhecer a experiência de outras pessoas, outras épocas, outros lugares e confrontá-las com as suas próprias, ampliando, assim, os círculos de pertencimento e criando um pouco de “jogo” no tabuleiro social. (p. 100).
Na terceira parte, intitulada “O medo do livro”, Petit problematiza que, se por um lado a leitura é a chave para uma série de transformações e o prelúdio para uma cidadania ativa, ela também suscita medos e resistências que encontram representação na seguinte voz comum: “É preciso ler”. A partir dessa relação ambivalente com a leitura, a autora cita exemplos de pessoas de diferentes regiões, muitas do campo, que, para ler, enfrentaram obstáculos, tais como a falta de domínio da língua e de acesso aos textos impressos, acessível apenas para representantes do Estado e da Igreja. A leitura era, assim, arriscada para o leitor, que poderia se ver privado de sua segurança ao pôr em jogo “tanto as fidelidades familiares e comunitárias como as religiosas e políticas” (p. 110).
Petit finaliza o capítulo desenvolvendo esta questão central: agora, definitivamente, como nos tornamos leitores? Para além do que provoca em termos da estrutura psíquica, a autora responde que a leitura é, em grande parte, uma história de família, de presença de livros e de adultos leitores; é, também, o papel da troca de experiências relacionadas aos livros (ler em voz alta, com gestos de inflexão da voz); pode ser, ainda, uma máquina de guerra contra os totalitarismos, contra os conservadorismos identitários, contra os querem imobilizar o outro a qualquer custo; enfim, a leitura é “uma história de encontros”. (p. 148).
A última e quarta conferência, “O papel do mediador”, destaca a importância de cada um que atua como mediador de leitura, seja ele um professor, um bibliotecário, um livreiro, um amigo e, até mesmo, um desconhecido que cruza o nosso caminho.
Para Petit, um mediador funciona como um elo entre o leitor e o objeto de leitura e “pode autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse desejo.” (p. 148).
Os entrevistados participantes da pesquisa apontaram professores e, mais frequentemente, bibliotecários como seus principais mediadores. No caso dos professores, chamou a atenção um fato: mesmo muito críticos em relação ao sistema escolar, os jovens sempre lembravam um professor singular, que transmitia sua paixão por um livro, seu desejo de ler, fazendo-os, inclusive, gostar de ler textos difíceis. Após elencar excertos dos entrevistados sobre seus professores, Petit afirma que “para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha experimentado esse amor.” (p. 161). Sobre os bibliotecários, a autora os define como pontes para universos culturais mais amplos. Assim, o iniciador aos livros é aquele que ajuda o outro a ultrapassar os umbrais em diferentes momentos do percurso, “é também aquele que acompanha o leitor no momento, por vezes tão difícil, da escolha do livro, aquele que dá a oportunidade de fazer descobertas […]”. (p. 175).
Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva, de Michèle Petit, é, certamente, uma obra de grande relevância por sua temática, pela abordagem sensível e profunda do assunto e pelo evidente conhecimento da causa da autora sobre variadas questões relacionadas à leitura. Petit consegue arrematar, por meio das reflexões apresentadas, o quão importante é compreender a leitura como um elemento capaz de transformar sujeitos e retirá-los de um contexto de exclusão e segregação, dando-lhes novas perspectivas de vida.
Notas
(1) Trecho retirado da orelha do livro.
Dinéa Maria Sobral Muniz – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFBA Coordenadora do GELING (Grupo de estudo e pesquisa em Educação e Linguagem). E-mail: sobraldm@ufba.br
Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFBA. E-mail: fabiolasovb@gmail.com
Poesia e Polícia – Redes de comunicação na Paris do Século XVIII – DARNTON (AN)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 228p. Resenha de: MATTOS, Yllan; DILLMANN, Mauro. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 357-362, jul. 2015.
Em 2014, a comunidade de historiadores brasileiros recebeu a tradução de mais um livro do renomado historiador norte-americano Robert Darnton. Trata-se de Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII, publicado originalmente nos EUA, em 2010, (no mesmo ano de O Diabo na água benta, com tradução no Brasil em 2012). A obra é dedicada ao estudo dos circuitos de comunicação e poderes políticos de difamação na Paris de meados do século XVIII, uma continuidade e um complemento dos seus próprios estudos sobre o tema da arte da calúnia política.
Autor de obras historiográficas de grande repercussão internacional, como O grande massacre de gatos (1985) e O Beijo de Lamourette (1990), entre outras, o professor da Universidade de Harvard nos brindou com este novo livro que busca constatar as referidas “difamações” a partir da consulta a diversas fontes como poemas, canções, panfletos, cartazes e uma série de escritos críticos que imiscuíam política e moral contra o rei francês Luís XV [1710-1774].
A pesquisa de Darnton traz à luz a “mais abrangente operação policial” da Paris de 1749, seguindo a trilha deixada por seis poemas sediciosos (p. 8). Darnton está interessado em analisar os sistemas de comunicação e de circulação de informações na Paris semialfabetizada do século XVIII, através da poesia, seja em sua forma escrita, recitada ou cantada. Para tal, busca apreender a “opinião pública” (a atmosfera de opiniões, a “voz pública”) expressa nas poesias e nas canções que circulavam na época. Ao mesmo tempo, mas com menor envergadura, procurou compreender a maneira como as pessoas ouviam as canções, buscando recuperar os “sons do passado” para uma compreensão mais rica da história, a fim de “fazer a história cantar” e “[…] reconstituir alguns padrões de associação ligados a melodias populares” (p. 11, p. 85, p. 102). Em suma, Darnton busca rastrear uma rede de comunicação oral desaparecida, como ele enfatiza, há 250 anos, argumentando que “[…] a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p. 134).
Neste empreendimento, Robert Darnton parte de uma operação policial de 1749, grifada na capa do inquérito pelos algozes como “caso dos catorze”, quando a polícia prendeu catorze indivíduos na Bastilha acusados de difamar o rei Luís XV através da poesia. Uma das funções da polícia, à época, estava na “supressão da maledicência acerca do governo” (p. 09), pois difamar o rei era crime. O “caso dos catorze” foi o mote encontrado por Darnton para analisar a rede de comunicação oral e escrita e a circulação de informações, mas também de disputas políticas na França do Antigo Regime.
No que tange à comunicação oral, Poesia e polícia não consegue ir além daqueles que escreviam e copiavam poemas e versos sediciosos contra o rei e sua política, chegando muito pouco ao mundo dos analfabetos (ou semianalfabetos, como quer o autor) e pobres, quando muito aproxima-se daqueles que se envolviam com tais escritos, sejam clérigos, estudantes ou habitantes do Quartier Latin. É acertado que a memorização fora um instrumento importantíssimo nesses tempos, mas, no caso desses poemas, funcionava mais a rede escrita de bilhetes que circulavam de bolso em bolso, colete a colete. A leitura dos poemas em voz alta promovia uma “cadeia de difusão”, devido às amplas redes de comunicação que pouco puderam ser mapeadas tanto pela polícia do Antigo Regime quanto pelo historiador da atualidade, porque não deixaram registros facilmente identificáveis. Por outro lado, os poetas eram, em geral, filhos de chapeleiros, filhos de professores, escreventes, ex-jesuítas, estudantes, advogados, clérigos e os autores das poesias eram provenientes socialmente tanto da Corte quanto das camadas mais baixas (p. 119). Havia também um círculo clerical clandestino, já que era comum a presença de ideias políticas entre o clero e os padres interessados em literatura (p. 25), sobretudo quanto à temática acerca do jansenismo (p. 53-56).
Como argumenta Darnton, as poesias e canções não representavam nada de excepcional, mas revelavam o descontentamento social e o sistema de comunicação (p. 60) na França, uma vez que eram publicações irreverentes, sediciosas, satíricas, dadas ao escárnio.
Assim, o autor identifica a variedade de poesias e de gêneros, caracterizando-as em diversas categorias, como jogos de palavras, zombaria, piadas, tiradas de espírito, baladas populares, cartazes burlescos, cantos de natal burlescos, diatribes (p. 109-121).
O que Darnton enfatiza é o caráter político dos poemas, pois eram escritos que convertiam política em poesia (p. 49). Os protestos populares vinham desta rede de comunicação, dos poemas, das canções, dos impressos, cartazes e das conversas (p. 34). Alguns poemas tornavam-se odes, ou seja, “[…] versos trabalhados à maneira clássica e com um tom elevado, como se tivessem sido feitos para a declamação no palco ou numa tribuna pública” (p. 61). Poesias e odes tornavam-se facilmente canções, Chansonniers, cujos temas giravam em torno de diversas questões sociais, principalmente escárnio ao rei e críticas à administração pública. Cantores e canções moviamse nas escalas sociais; folhetos e manuscritos eram comercializados em Paris e a música estava na rua, o espaço do violino, da flauta e da gaita de fole. Essas canções eram, de fato, numerosas e, na sociedade semianalfabeta, as canções eram como jornais. Os versos compostos entre 1748 e 1750 pelos catorze incluíam 264 canções e o rei certamente via nessas canções o ódio de seu povo (p. 48).
A obra explicita claramente a metodologia empregada pelo historiador no manejo e na exploração de suas fontes, além do cuidado em apresentar os documentos como “prova” de seus argumentos, suas justificativas, suas interpretações, considerando, evidentemente, as dificuldades e os limites de apreensão da comunicação oral para um recorte temporal bastante recuado. O autor busca, então, os “ecos” dessa oralidade em outros textos, como epigramas, charadas, diários e cadernos de anotações (p. 81). Do mesmo modo, confessa a dificuldade do historiador para constatar a “recepção”, levando em conta que a análise textual não oferece conclusões sólidas sobre difusão e recepção (p. 108). De qualquer forma, ele busca a “reação dos contemporâneos aos poemas” (p. 122). Essa “reação” é indicativa da “recepção” e Darnton busca em fontes como diários e memórias. Para acessar a opinião pública, Darnton vale-se de uma série de documentos como diários, memórias, arquivos da Bastilha, fichas da polícia. O livro é justamente uma tentativa de recuperar as mensagens transmitidas em redes orais, em redes de comunicação, a “paisagem mental” composta de atitudes, valores e costumes, como Darnton refere na conclusão.
A metáfora do historiador-detetive, empreendida por Collingwood (A ideia de história) e Carlo Ginzburg (no famoso ensaio Sinais: raízes de um paradigma indiciário), é retomada por Robert Darnton, colocando em discussão o ofício do historiador: interpretar a interpretação, interpretar o significado, vinculados ao contexto de sua produção, ou em suas palavras: “[…] os detetives trabalham de modo empírico e hermenêutico […]”, interpretando pistas, seguindo fios condutores e montando o caso “[…] até chegar a uma convicção” (p. 146). Portanto, ele buscou interpretar a interpretação da política e da polícia, além do significado dos panfletos no contexto de comunicação do século XVIII francês.
É nesse sentido que a obra aproxima-se da metodologia de Clifford Geertz (1989). A inicial exposição descritiva do caso dos catorze e dos poemas (thick description, se quisermos usar o termo do antropólogo) segue-se à interpretação cultural, tomando por princípio a recusa à teorização, discordando tanto das perspectivas de Michael Foucault como das de Jürgen Habermas sobre a construção da “opinião pública”. Para este caso, além das explicações que faz em todo o livro, a discussão poderia ganhar mais fôlego se Darnton colocasse suas análises em relação a outros autores ligados a esta temática, tais como como Arlette Farge (Dire et mal dire: l’opinion au public XVIIIème siècle), Mona Ozouf (Verennes) ou Roger Chartier (entre outros: Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Règime e Origens culturais da Revolução Francesa), oferecendo bons contrapontos à sua análise. Um dos problemas da noção de “voz pública” é que se deixam de lado as diferenças sociais de todo tipo para dar ênfase ao que é comum. Lendo o livro de Darnton, pode-se ter a impressão de que todas as pessoas estavam imersas na crítica ao rei, à sua amante e às decisões reais. Embora o autor coloque em dúvida essa premissa (p. 132), não discorre muito sobre essa questão. Por outro lado, talvez nesse Poesia e polícia, Darnton tenha melhor utilizado a construção hermenêutica através do registro documental, recorrendo fartamente à contextualização, contrabalanceando com o uso do texto documental em si.
Por fim, considerando alguns aspectos formais, o livro é feito para atrair um público além dos historiadores: bastante conciso, com pouco mais de 140 páginas de texto, subdivididos em 15 curtos capítulos, e 44 páginas de anexos brevemente comentados, constituindo- se de fácil e prazerosa leitura, em que o leitor encontrará não poucas repetições de argumentos. Ressaltam-se, também, alguns desacertos da tradução, como “Velho Regime” ao invés de Antigo Regime, e ortográficos. Os anexos, por sua vez, são apresentados como apêndices e trazem a transcrição dos poemas analisados, divulgados em meados do século XVIII francês, e com um hiperlink para aquele leitor mais curioso que quiser ouvir as canções. Vale escutar essas canções subversivas através da voz de Hélène Delavault, acompanhada pelo violão de Claude Pavy, no seguinte endereço eletrônico: <www.hup.harvard.edu/features/dapoe>. Para melhor demonstrar essa circulação, Darnton construiu um diagrama com indicação do esquema de distribuição, do circuito de comunicação dos catorze homens das camadas médias, considerados “jovens intelectuais”, que foram presos pela polícia (p. 23). O livro também traz imagens dos documentos pesquisados, dos “pedaços de papel”, das “folhas rasgadas”, dos poemas manuscritos e rabiscados em folhas avulsas que chegaram aos dias de hoje, pois foram apreendidos e arquivados pela política francesa. Além disso, o autor ilustra a obra com pinturas retratando cantores e vendedores de livros e imagens de livros de canções manuscritas (p. 90-93).
O livro de Robert Darnton certamente interessará aos estudiosos das práticas de escrita e leitura, aos pesquisadores das ideias do Antigo Regime e da cultura política e aos interessados, especialistas ou não, em História Moderna, em História da Literatura ou em Crítica Literária. Uma boa leitura – poder-se-ia dizer adorável e prazerosa, se considerarmos a atual discussão que os historiadores brasileiros vêm fazendo a respeito da função social da História e da necessidade de significação histórica para além da academia – de um trabalho de historiador que nos brinda com uma diferente concepção da cultura política do Antigo Regime francês.
Referências
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009.
___________. Leituras e Leitores na França do Antigo Regime. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
COLLINGWOOD, R. G. A ideia de história. Portugal: Editorial Presença, 1981.
FARGE, Arlette. Dire et mal dire: l’opinion au public XVIIIème siècle. Paris: Seuil, 1992.
GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura.
In: A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989, p. 13-41.
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 143-80 .
OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realiza, 21 de junho de 1791. Tradução de Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Yllan de Mattos – Doutor em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense e professor do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ (UNESP, campus Franca). Contato: yllanmattos@yahoo.com.br.
Mauro Dillmann – Doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS -RS). Professor do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Le “nouveau” Front National: Etude de la nouvelle ligne du parti à travers le discours de Marine Le Pen | Elodie Trojanowski
O livro “A nova Frente Nacional: Estudo da nova linha do partido através dos discursos de Marine Le Pen”, da autora francesa Elodie Trojanowski, nos oferece uma análise sobre as mudanças dos discursos do partido de direita radical francês Frente Nacional, após a sucessão da presidência do partido por Marine Le Pen. Para tanto a autora também analisa a mudança da linha política desenvolvida por Marine Le Pen. A obra é fruto da sua dissertação de mestrado em jornalismo, porém sua pesquisa se enquadra dentro do âmbito das ciências políticas. Seu mestrado foi desenvolvido na Universidade Católica da Lovaina2, localizada no interior da Bélgica. Seu livro, composto de 118 páginas, foi publicado pela Editora Universitária Europeia3 em abril de 2014.
Para tanto, a autora estabeleceu um método rigoroso de estudo quando escreveu sua obra, a partir da crítica aos discursos oficiais do partido, como também a seleção de diversas entrevistas concedidas por Marine Le Pen, de vídeos postados no site da Frente Nacional e discursos de Marine Le Pen durante a as eleições presidenciais francesas em 2012. Elodie Trojanowski buscou em sua pesquisa analisar individualmente cada um dos discursos proferidos por Marine Le Pen e separa-los pelas novas temáticas escolhidas pela líder da FN, procurando traçar um paralelo com a antiga linha discursiva do partido, liderado por seu pai Jean-Marie Le Pen.
Tal investigação mostra-se relevante e pertinente para os estudiosos das ciências políticas, como também de extrema importância para os historiadores especializados na direita radical europeia, uma vez que, como a própria autora salienta na Introdução da obra, por se tratar de um fenômeno recente, em pleno acontecimento – enquadrado por nós historiadores como pertencente a história do tempo presente – ainda há poucos estudos que procuram investigar a mudança ideológica e discursiva da atual direita radical no século XXI.
O recorte de pesquisa escolhido pela autora, se enquadra no período em que a presidente do FN, Marine Le Pen ascendeu a presidência do partido em 2011, quando venceu seu adversário Bruno Gollnisch no Congresso Nacional do partido. Após vencer as eleições Marine Le Pen colocou em prática um projeto de desdiabolização da FN. Esse método consiste em um processo de transformação da imagem do partido, que outrora – durante quatro décadas da existência da agremiação política – esteve intrinsicamente ligado às práticas xenófobas, racistas e antissemitas. Nesse sentido Elodie Trojanowski trabalha para analisar se esse âmbito de mudanças da FN na figura de Marine Le Pen, acontece apenas no nível discursivo, se ele é inventado para definir uma nova identidade ou se existe uma ruptura real com as antigas concepções radicais, se elas são concretas.
A obra nesse percurso de investigação se coloca na posição de estudar comparativamente a ideologia desenvolvida pelo FN. Através de uma análise de discursos políticos da Presidente da Frente Nacional, o estudo é feito de forma detalhada, buscando nos discursos as palavras de ordem, como elas são colocadas, como as novas temáticas adotadas pelo partido são apresentadas e manipuladas para terem efeito positivo e atraírem votos para a FN. E como a partir dessa nova leitura da conjuntura e a nova linha discursiva da Frente Nacional se destaca o abandono de determinados temas e sua substituição por novos bodes expiatórios, como a União Europeia e a imigração muçulmana, por exemplo. A autora relativiza como a Marine Le Pen utiliza o contexto de crise econômica, social e política da França, para aumentar sua base eleitoral e como o partido tem diminuído seu tom agressivo e extremista, se diluindo em uma posição próxima a direita nacionalista. Desta forma a autora se dedica a fazer um levantamento do novo vocabulário desenvolvido por Marine Le Pen e cria um banco de dados contabilizando o uso dessas palavras e o quanto elas aparecem e permeiam grande parte dos seus discursos.
A criação do partido Frente Nacional foi inspirada no sucesso eleitoral do partido neofascista italiano Movimento Sociale Italiano (MSI). O início do partido começou com grupos distintos, incluindo membros do governo de Vichy, opositores do general de Gaulle, membros do movimento Poujadista, neofascistas, militantes da Federação dos Estudantes Nacionalistas, militantes do Jovem Nação e ativistas que não possuíam vinculo partidário mas simpatizavam com a ideia de organizar um partido de extrema direita. O início da FN começou sob liderança de Jean-Marie Le Pen e François Duprat.
No processo de construção do projeto político do FN, podemos perceber também que além da questão militar para reforçar o nacionalismo, o partido procurou construir outros símbolos, principalmente buscar heróis na história da França, personalidades históricas que pudessem reforçar, simbolizar o novo nacionalismo desenvolvido pelo FN. Nesse processo de busca para encontrar heróis, vemos o fortalecimento do catolicismo dentro do partido. Para representar o FN, foi escolhida a figura de Joana D’arc, como símbolo que representasse o nacionalismo do FN, uma heroína francesa, nacionalista, católica, devota à nação, que sacrificou sua vida em prol da liberdade do país, sem ter qualquer ação individualista, a nação acima de qualquer desejo individual. A escolha de Joana D’arc também passa pela questão da busca pela tradição histórica do país, demonstração de orgulho com o passado histórico. A escolha do símbolo do partido é também uma forma de procurar unir todas as células dentro do partido, colocando um novo foco a ser seguido, supondo que essa nova escolha conseguisse superar antigas figuras como Napoleão Bonaparte, Marechal Pétain, General Boulanger, Charles Maurras e Pierre Laval.
No sentido do nacionalismo do FN, o partido procurou se posicionar em defesa dos cidadãos naturais franceses. Podemos aqui pontuar que tal sujeito defendido pelo FN seria: o cidadão francês que provenha de uma longa geração de franceses (podemos indicar aqui que isso seria o francês branco caucasiano), católico, nacionalista, identificado com sua terra, um cidadão orgulhoso de suas raízes e identificado com a História da França, valoriza o desenvolvimento da nação acima da vontade individual4.
Para Jean-Yves Camus a questão da nação é algo central no FN, o nacionalismo para a FN é o principal ponto de referência ideológico, podemos afirmar que a ideia da nação é o ponto vital, é a fonte principal de luta e é fundamental para o discurso do partido5. Dar ênfase à nação é a questão chave para ocupar os espaços deixados pelos outros partidos. A defesa da nação como pauta da agenda política do FN tem dois objetivos: o primeiro é para legitimar a ideia do nacionalismo pertencer à FN, e quando outro partido utiliza dessa tática o FN sai em defesa da sua ideia acusando a oposição de apropriação política. O segundo objetivo é obrigar outros partidos a também fazerem um discurso que saia em defesa da soberania nacional6.
A FN tem como principal ideológica, a defesa da identidade nacional, no qual segundo ela estaria ameaçada pela imigração, internacionalização do comércio, a globalização, enesse sentido defende o retorno do “glorioso” nacionalismo francês. Em seu alegado plano de defender a França, lançavam-se contra seus inimigos internos (anteriormente judeus, maçons e protestantes, agora imigrantes, principalmente árabes e muçulmanos) e os inimigos externos (expeculação internacional e as forças das multinacionais e do corporativismo). A FN defende valores tradicionais e instituições as quais, segundo ela, devem se basear a identidade francesa nos principios de família exército, autoridade e catolicismo.7
O livro de Elodie Trojanowski é dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo a autora faz uma sistematização da história da Frente Nacional, citando os principais sujeitos que constituiu o partido durante sua criação na década de 1970. Talvez uma abordagem com maior capricho no que diz respeito aos mais de 40 anos da história da Frente Nacional pela autora seria necessária, para que o leitor que desconhece a história da Frente Nacional conseguisse visualizar de forma mais abrangente a história institucional do partido. Mesmo o primeiro capítulo necessitando de maior atenção, a autora utiliza a bibliografia correta e obrigatória para qualquer pesquisador que pretende estudar a Frente Nacional, utilizando autores como Nonna Mayer, Pascal Perrineau, Michel Winock e Pierre Taguieff para apresentar as principais características da direita radical francesa e suas raízes históricas.
Ainda no primeiro capítulo Elodie Trojanowski procura apresentar o debate sobre a direita radical na França, abordando as diferentes formas como ela se apresentou no país. Ela aponta os diferentes grupos que existiram, como o movimento monarquista Ação Francesa e também faz menções a Revolução Nacional, durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. Ela também procura descrever o conceito de populismo que é utilizado na Europa para caracterizar alguns partidos de direita radical. E para finalizar ela discute as características de Jean-Marie Le Pen.
No segundo capítulo a autora francesa demonstra seu método de análise dos discursos da Marine Le Pen. A metodologia escolhida pela autora para a análise discursiva da presidente da Frente Nacional se divide em várias etapas. Elodie Trojanowski separa os discursos em duas categorias, os discursos para a mídia e que foram divulgados pela internet, que ao todo são os 12 maiores discursos de Marine Le Pen e o segundo grupo são 4 discursos feitos por Marine Le Pen aos militantes do partido.
A autora trabalhou comparando os discursos e elencou as principais temáticas que aparecem na fala da líder da Frente Nacional e que são amplamente exploradas durante a a campanha presidencial. Os principais temas apresentados pela autora são; Violência Social, Globalização, Economia, Justiça, Nação, Vida em Sociedade, Imigração, Família, Liberdade, História da França, Cultura, Valores, Hierarquia e Democracia. Com essa definição e recorte do que investigar a autora do livro monta uma tabela onde enumera a quantidade de vezes em que cada temática aparece na fala de Marine Le Pen e também avalia a forma como ele é apresentado, se aparece de forma positiva ou se o tom do discurso é negativo, buscando induzir os eleitores a acreditar em suas alegações.
Nesse formato de investigação a autora contribui para os pesquisadores pois apresenta como algumas temáticas são manipuladas de acordo com o público presente, ou seja, de acordo com o setor político ou social em que se encontra o público da Frente Nacional, o discurso de Marine Le Pen pode ser mais apelativo para o lado sentimental ou pode reforçar a temática para reforçar a posição assumida por um setor. Um exemplo dessa distorção do discurso pode ser evidenciado nos discursos da Frente Nacional aos trabalhadores, quando Marine Le Pen defende a ampliação dos direitos trabalhistas e da garantia dos investimentos do Estado em políticas públicas. E quando a presidente da Frente Nacional fala para os empresários e comerciantes ela defende a redução dos tributos e a proteção do Estado para o crescimento da economia.
No terceiro capítulo a autora apresenta individualmente os resultados das análises quantitativas das temáticas recortadas por ela, demonstrando estatisticamente de que forma cada temática aparece, quantas vezes ela foi utilizada ou apareceu com maior ou menor incidência nos discursos políticos de Marine Le Pen. Além disso ao apresentar as temáticas, a autora também demonstra uma interpretação da conjuntura política e coloca como são construídos os discursos e as formas como eles se desenvolvem na medida que Marine Le Pen acerta a forma de abordagem e como ela modifica a estratégia quando não alcança os resultados esperados.
Notas
1 Doutorando em História na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS, na linha de pesquisa Sociedade, Urbanização e Imigração, orientado por Leandro Pereira Gonçalves. Bolsista CNPq. E-mail guilherme_andrade@hotmail.com
2 Université Catholique de Louvain.
3 EUE- Édition Universitaire Européenes.
4 FRONT NATIONAL, Défendre les Français, C’est le programme du Front National. Front National, no. 3, 1973.
5 CAMUS, Jean-Yves. Origine et formation du Front National…op.cit. pg.17
6 Idem, pg.18.
7 HAINSWORTH, Paul. The extreme right in France: The rise and rise of Jean-Marie Le Pen’s Front National. Representation, 40. 2004, p.44.
Referências
BIRENBAUM, Guy. Le Front National em Politique. Paris, Balland, 1992.
BOURSEILLER, Christophe. Extrême Droite: l’enquête. Paris, Editions François Bourin, 1991.
CAMUS, Jean-Yves. Origine et formation du Front National (1972 – 1981) in MAYER, N;
PERRINEAU, P. Le Front National à découvert. Paris, Presses de la FNSP, 1989.
FRONT NATIONAL, Défendre les Français, C’est le programme du Front National. Front National, no. 3, 1973.
HAINSWORTH, Paul. The extreme right in France: The rise and rise of Jean-Marie Le Pen’s Front National. Representation, 40. 2004.
TROJANOWSKI, Elodie. Le “nouveau” Front National: Etude de la nouvelle ligne du parti à travers le discours de Marine Le Pen. Saarbrucken, Editions Universitaires Européennes, 2014.
Guilherme Ignácio Franco de Andrade – Doutorando em História na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS, na linha de pesquisa Sociedade, Urbanização e Imigração, orientado por Leandro Pereira Gonçalves. Bolsista CNPq. E-mail guilherme_andrade@hotmail.com
TROJANOWSKI, Elodie. Le “nouveau” Front National: Etude de la nouvelle ligne du parti à travers le discours de Marine Le Pen. Saarbrucken: Editions Universitaires Européennes, 2014. Resenha de: ANDRADE, Guilherme Ignácio Franco de. Vozes, Pretérito & Devir. Piauí, v.4, n.1, p. 158- 163, 2015. Acessar publicação original [DR]
Recherche historique et enseignement secondaire (DH)
Recherche historique et enseignement secondaire. Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 70, n° 1, 2015, p. 141-214. Resenha de: BUGNARD, Pierre-Philippe. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.201, 2015.
Exceptionnellement, les Annales consacrent la deuxième partie de leur numéro de janvier-mars 2015 aux rapports qu’entretiennent la recherche historique et l’histoire enseignée en France, à partir du débat organisé par la revue aux Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 sur « Les Annales et l’enseignement ». Des rapports devenus sans doute plus aisés et plus consensuels à partir de la création des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), à la fin des années 1980, jusqu’aux réformes récentes de la formation des enseignants, avec en 2013 la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Un équilibre s’est ainsi établi entre les pôles que forment la science historique et sa pédagogie, conformément à une évolution signalée comme analogue en Europe et au-delà.
Une série d’articles stimulante, ouverte aux expériences concrètes conduites par des praticiens em collège et en lycée, entre en tension ou en harmonie avec la didactique, l’historiographie et l’épistémologie de l’histoire. Il est notamment souligné, en introduction, que l’intérêt pour la recherche manifesté dans les établissements pourrait permettre à l’histoire scolaire de « sortir de l’orniere » la confinant entre attentes politiques antinomiques et dédain des chercheurs: elle peut dans ces conditions « etre pensee autrement que comme une forme degradee d’histoire “savante” » (nous renvoyons ici à l’article de Laurence De Cock).
Le dossier des Annales est sans doute le plus important consacré à l’histoire enseignée depuis le numéro spécial « Difficile enseignement de l’histoire » de la revue Le Debat (vol. 175, no 3, 2013), mentionné dans l’introduction, ou la grande note de synthèse « La didactique de l’histoire » de Nicole Lautier et Nicole Allieu-Mary dans la Revue francaise de pedagogie (no 162, 2008, p. 95-131).
Table
Anheim Étienne, Girault Bénédicte, L’histoire, entre enseignement et recherche
Barbier Virginie, L’histoire-géographie en classe. La construction d’un savoir par l’apprentissage d’un savoir-faire
Berthon-Dumurgier Alexandre, Apprentissages historiques et métier d’historien. Un parcours de compétences
El Kaaouachi Hayat, La recherche en histoire dans la formation continue des enseignants
De Cock Laurence, L’histoire scolaire, une matière indisciplinée
Delacroix Christian, Un tournant pédagogique dans la formation des enseignants. Le cas du Capes d’histoire-géographie
Girault Bénédicte, De la didactique à l’épistémologie de l’histoire: une réflexivité partagée
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg.
[IF]
Histoire globale. Un autre regard sur le monde. Paris: éditions Sciences humaines – TESTOT (DH)
TESTOT, Laurent (éd.). Histoire globale. Un autre regard sur le monde. Paris: éditions Sciences humaines, 2015 (2e éd. revue et aug.), 288 p. Resenha de: BUGNARD, Pierre-Philippe. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.206-208, 2015.
Histoire globale, dans sa deuxième édition, renoue avec les approches et les objets lancés par la deuxième génération des nouveaux historiens, celle de l’école française des Annales, à partir des années 1970. Les meilleurs géo-historiens actuels renouvellent ici le genre en y greffant, notamment, la transdisciplinarité de l’espace-temps. L’ouvrage, entre « microstoria » et « histoire connectée », rassemble une série de monographies impliquant chacune leur propre histoire-monde. Voilà de quoi donner aux programmes scolaires toutes les raisons de s’ouvrir à une nouvelle histoire globale enseignée.
Le livre se conclut sur un chapitre consacré à l’enseignement de l’histoire globale par Vincent Capdepuy, géo-historien à l’Académie de La Réunion, invité au cours 2015 du GDH « L’Histoire-Monde, une histoire connectée ! ». Deux autres conférenciers de ce cours contribuent à Histoire globale: Bouda Etemad (« Empires coloniaux: essai de bilan global ») et Christian Grataloup (« Des mondes au Monde: la géohistoire »).
Nous livrons ici in extenso la recension et la table du site des éditions Sciences humaines: http:// editions.scienceshumaines.com/histoire-globale_ fr-559.htm (consulté le 5 mai 2015).
Recension La mondialisation nous impose aujourd’hui d’envisager une histoire du Monde pris dans son ensemble. Il est devenu urgent de concevoir une histoire ouverte, qui s’enrichit de comparaisons entre différentes sociétés, étudie les connexions entre civilisations, tisse des liens entre les parcours individuels et les destins des empires, ose s’attaquer à de nouveaux objets en mobilisant la géographie, l’économie, l’anthropologie, les sciences politiques, la sociologie… L’approche globale en histoire revêt deux visages.
D’abord celui de l’histoire mondiale, un récit englobant le passé commun de l’humanité, de son apparition en Afrique il y a plusieurs millions d’années à la globalisation contemporaine. Le second visage est celui de l’histoire globale. Elle propose une méthode d’analyse, à la fois transdisciplinaire, au long terme, sur longue distance. L’historien doit savoir jouer de la mobilité de son regard, varier les échelles d’approche, penser autrement le passé – ce passé qui aurait pu être autre, qui est aussi perçu différemment ailleurs.
Produire des histoires à parts égales, où l’humanité se découvre des passés et un futur communs. Tel est le projet de l’histoire globale. Depuis longtemps reconnue dans les pays anglo-saxons, cette histoire globale est restée dans le monde francophone l’apanage de quelques pionniers, de trop rares livres… Le présent ouvrage constitue une première exploration d’ensemble de ce champ de recherche en pleine émergence.
Laurent Testot est journaliste à Sciences humaines, il a dirigé plusieurs dossiers consacrés à cette nouvelle discipline qu’est l’histoire globale, dont le hors-série Sciences humaines Histoire n° 3 « La nouvelle histoire du Monde » (décembre 2014-janvier 2015).
Coordinateur du présent ouvrage, il a également coordonné, aux Éditions Sciences humaines, La Guerre. Des origines a nos jours (avec Jean-Vincent Holeindre), 2012 ; Une histoire du monde global (avec Philippe Norel), 2012 ; La Religion. Unite et diversite (avec Jean-François Dortier), 2006. Il administre, avec Vincent Capdepuy, le blog « Histoire globale »: http://blogs.histoireglobale.com.
Avec les contributions de: Frédéric Barbier, Jérôme Baschet, Philippe Beaujard, Roy Bin Wong, Lucette Boulnois, Vincent Capdepuy, Dipesh Chakrabarty, Gérard Chaliand, David Cosandey, René-Éric Dagorn, Frédéric Denhez, Marcel Detienne, Caroline Douki, Bouda Etemad, Christian Grataloup, Olivier Grenouilleau, Catherine Halpern, Nicolas Journet, Jacques Lévy, Régis Meyran, Philippe Minard, Philippe Norel, Jean- Pierre Poussou, Benoît Richard, Pierre-François Souyri, Bernard Vincent.
Table
Préface
Introduction
L’histoire au défi du monde (L. Testot)
Les sources de l’histoire globale (R. Meyran)
I. Restituer des dynamiques
Commerce et conquêtes… sur les routes de la soie (L. Boulnois)
Les racines médiévales de l’expansion occidentale (J. Baschet)
Le monde à l’envers: un Moyen Âge japonais? (Rencontre avec P.-F. Souyri)
1492: année cruciale (Rencontre avec B. Vincent)
Empires coloniaux: essai de bilan global (B. Etemad)
L’onde de choc des révolutions (J.-P. Poussou)
La société-Monde, une histoire courte (J. Lévy)
II. De nouvelles perspectives
Un espace mondialisé: l’océan Indien (P. Beaujard)
Comment les peuples guerriers ont façonné le monde (Rencontre avec G. Chaliand)
La naissance de l’imprimerie et la globalisation (F. Barbier)
Les raisons du « miracle européen » (Rencontre avec D. Cosandey)
Jalons pour une histoire globale de l’esclavage (O. Grenouilleau)
La Chine face à l’Occident (R. Bin Wong) Les enjeux d’une histoire du climat (F. Denhez)
III. Les approches méthodologiques
Pour un changement d’échelle historiographique (C. Douki et P. Minard)
La dimension globale en histoire économique (P. Norel)
Big history et histoire environnementale (R.-É. Dagorn)
Des mondes au Monde: la géohistoire (C. Grataloup)
Des Grecs aux Iroquois, une démarche comparative (Rencontre avec M. Detienne)
Les postcolonial studies: retour d’empires (N. Journet)
Quelle histoire pour les dominés? (Rencontre avec D. Chakrabarty)
Conclusion
Enseigner l’histoire globale (V. Capdepuy)
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg
[IF]
Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010. 209p. Resenha de: SOBRAL, Luís Felipe. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.68, jul./dez. 2014.
No momento em que o mundo encanta-se com os novos prodígios da comunicação, capazes de fazer crer que participamos de uma “sociedade da informação” absolutamente sem precedentes, o historiador cultural norte-americano Robert Darnton, especializado na chamada história dos livros e autor de um importante estudo sobre a publicação da Encyclopédie (Darnton, 1987), apresenta um caso desafiador que sublinha a importância da oralidade para a história da comunicação.
Em meados do século XVIII, a polícia parisiense prendeu o estudante de medicina François Bonis, acusado de redigir um poema contra Luís XV; no total, 14 pessoas foram encarceradas na Bastilha, conforme os investigadores seguiam o rastro de transmissão do poema. Ao longo desse percurso, o caso tornou-se complicado, pois surgiram outros cinco poemas sediciosos aos olhos policiais, cada um com seu próprio parâmetro de difusão: “eles eram copiados em pedaços de papel, trocados por pedaços similares, ditados a outros copistas, memorizados, declamados, impressos em folhetos clandestinos, adaptados em alguns casos a melodias populares e cantados” (p.11).1 A investigação não encontrou o autor do verso original provavelmente porque ele não existia: uma vez que os versos eram adicionados, subtraídos e transformados à medida que percorriam o circuito de comunicação, os poemas constituíam um caso de “criação coletiva” (p.11).
Registrada no dossiê policial como “L’Affaire des Quatorze”, a investigação produziu uma série de documentos (registros de interrogatórios, relatos de espiões, notas diversas) acessível na Bibliothèque de l’Arsenal, em Paris. Segundo Darnton, tal série “pode ser tomada como uma coleção de pistas para um mistério que chamamos ‘opinião pública'” (p.12);2 seu valor analítico repousa na capacidade de lançar luz sobre a importância da oralidade na história da comunicação, visto que o episódio indica a interpenetração entre oralidade e escrita em uma sociedade semiletrada.
Ao rejeitar definições apriorísticas de opinião pública (Michel Foucault e Jürgen Habermas), o autor envereda por 15 capítulos curtos que conferem a espessura histórica necessária para cada pista. O passo fundamental do livro é dado no momento em que se contrasta o teor político dos poemas à reação policial. Os 14 incluíam clérigos, burocratas e estudantes, isto é, pessoas oriundas dos estratos médios parisienses e provinciais, que “apreciavam trocar fofoca política em forma de rima” (p.22),3 uma atividade perigosa, porém distante de representar uma ameaça ideológica séria ao Antigo Regime; além disso, cantar músicas desrespeitosas e compor versos sarcásticos eram práticas comuns na Paris setecentista. A iniciativa da operação policial coube ao conde d’Argenson, “o homem mais poderoso do governo francês” (p.26),4 e foi realizada com muita competência: os suspeitos desapareciam das ruas da capital sem deixar rastros para não alertar o presumido autor do poema. Por que o Caso dos Quatorze provocou tamanha reação do aparato repressivo estatal? Tal questão não pode ser respondida pelos documentos produzidos pela Bastilha, pois o circuito de comunicação dos acusados carece de um vínculo tanto com a elite localizada acima da burguesia profissional como com os estratos populares alojados abaixo. Indícios presentes nos diários do marquês d’Argenson, irmão do conde, e de Charles Collé, poeta e dramaturgo da Opéra Comique, apontam a corte de Versalhes como fonte de alguns versos. Duas questões se apresentam: por que o conde tratou a investigação como um assunto da mais alta importância, e por que interessava a certos cortesãos que os versos fossem recitados pela população parisiense?
No final do livro, o leitor encontra seis apêndices: quatro fornecem detalhes sobre os poemas (letras, variações, popularidade), um transcreve um relatório policial, e o último, intitulado “Um cabaré eletrônico”, procura reconstruir, com a colaboração de músicos profissionais, 12 das inúmeras canções parisienses ouvidas em meados do Setecentos.5 Caracterizada pela transitoriedade, a prática musical impõe uma grande dificuldade ao historiador: o problema consiste na existência ou na ausência de uma ou mais fontes que ofereçam o repertório verbal e escrito do qual faziam parte as canções estudadas. Para reconstruir as canções, Darnton conta com cancioneiros, que fornecem as letras, e com outras fontes contemporâneas, que indicam a melodia, identificada pelas primeiras linhas ou títulos das canções. Se por um lado o esforço de reconstrução das canções implica levar a sério o desafio da história oral, por outro não se ilude com a falsa ideia de uma “réplica exata” (p.174).
Entre as canções do cabaré eletrônico distribuídas pelos 14, encontra-se “Qu’une bâtarde de catin”. Em uma de suas versões, ouve-se:
Qu’une bâtarde de catin
À la cour se voit avancée,
Que dans l’amour ou dans le vin
Louis cherche une gloire aisée,
Ah! le voilà, ah! le voici
Celui qui n’en a nul souci
Que uma puta bastarda
À corte se veja avançada,
Que no amor ou no vinho
Luís procure uma glória fácil,
Ah! lá está ele, ah! aqui está ele
Aquele que não tem nenhuma preocupação.6
Trata-se do poema mais simples e o que atingiu o público mais amplo entre os seis apreendidos pela polícia durante a investigação. Redigido para ser cantado ao som de uma melodia popular, identificada em algumas versões pelo refrão (“Ah! lá está ele, ah! aqui está ele”), esse poema apresenta a versificação mais comum das baladas francesas (ABABCC) e admitia inúmeras extensões, pois novos versos podiam ser facilmente incorporados. Cada um de seus versos atacava uma figura pública (a rainha, o delfim, o chanceler, os ministros), ao passo que o refrão denunciava os abusos do monarca, patético alvo do escárnio que se entregava aos prazeres mundanos enquanto o reino era ameaçado por vários problemas. Ao circular por Paris, a canção “tornou-se cada vez mais popular e cobriu um espectro cada vez mais amplo de questões contemporâneas conforme reunia versos” (p.68):7 as negociações de paz da Guerra da Sucessão Austríaca, a resistência ineficaz ao novo imposto denominado vingtième, as últimas disputas intelectuais de Voltaire. Em suma, observa-se a circulação de uma forma específica (as melodias) através das ruas e quais parisienses, processo pelo qual seu conteúdo (os poemas) é transformado pela população segundo os temas lançados em pauta pela conjuntura histórica: “Qu’une bâtarde de catin” tornou-se “um jornal cantado, cheio de comentários sobre os eventos contemporâneos e suficientemente cativante para um público amplo” (p.78).8
No exemplo transcrito, o alvo também era Madame de Pompadour, amante de Luís xv desde 1745. Compreende-se o ataque à Pompadour por sua origem plebeia; não apenas: na série de amantes reais, ela sucedeu às três filhas do marquês de Nesle, “o que era visto como adultério composto de incesto” (p.65).9 Do ponto de vista popular, tais escândalos ameaçavam o monarca e sua linhagem à ira divina; da perspectiva real, o ódio popular era uma manifestação da mão de Deus. Não se deve vislumbrar aí, explica o autor, uma possibilidade concreta de participação popular no mundo político, pois a França ainda está longe de 1789 assim como da Fronda, a revolta contra o governo do Cardeal Mazarino em meados do Seiscentos; no entanto, “uma população maior e mais alfabetizada exigia ser ouvida, e seus governantes a ouvia” (p.41).10 Luís xv era particularmente sensível ao que o povo dizia sobre ele, suas amantes e seus ministros, e monitorava a capital por meio da polícia e do ministro do Departamento de Paris, que detinha assim um imenso poder de manipular o rei. Há indícios de que o conde de Maurepas, hábil cortesão que ocupava tal cargo em 1749, distribuiu, encomendou ou escreveu versos satirizando Pompadour, aliada de seu rival, o conde d’Argenson; o objetivo era persuadir o rei da impopularidade de sua amante entre os súditos parisienses, porém seu plano não deu certo: Pompadour convenceu Luís xv a demitir Maurepas e d’Argenson tomou seu lugar.
A importância da circulação dos poemas, tendo eles origem na corte ou não, residia assim em sua capacidade de estabelecer uma rede de comunicação entre Versalhes e Paris: “um poema podia portanto funcionar simultaneamente como um elemento do jogo político cortesão e como uma expressão de outro tipo de poder: a autoridade indefinida mas inegavelmente influente conhecida como a ‘opinião pública'” (p.44).11 Tal argumento não apenas dispõe o autor contra o nominalismo que só permite falar em opinião pública após o primeiro uso documentado do termo, na segunda metade do século xix, como aponta uma conclusão mais abrangente. Ao argumentar, mediante o exame de um circuito de comunicação setecentista, que “a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p.130),12 Darnton descreve, seja na corte de Versalhes seja nas ruas de Paris, as relações de força particulares que constrangiam tal circuito; esse procedimento serve assim para pensar todas as redes de comunicação, inclusive a internet, que não seria a materialização virtual de uma democracia sem limites, mas um instrumento submetido aos interesses específicos de cada um de seus usuários, cujo acesso e emprego de tal ferramenta ainda é mediado pela posição social.13
Após esse percurso tortuoso, lê-se na conclusão:
A pesquisa histórica assemelha-se ao trabalho de detetive em muitos aspectos. De R. G. Collingwood a Carlo Ginzburg, os teóricos não consideram a comparação convincente porque ela apresenta-os em um papel atraente como detetives, mas porque ela está relacionada ao problema de estabelecer a verdade – verdade com v minúsculo. Longe de tentar ler a mente de um suspeito ou resolver crimes exercendo a intuição, os detetives procedem de forma empírica e hermenêutica. Eles interpretam pistas, seguem informações e constroem um caso até chegarem a uma condenação – sua própria e frequentemente a de um júri. A história, como eu a entendo, envolve um processo similar ao de construir um argumento a partir da evidência; e no Caso dos Quatorze o historiador pode seguir os passos da polícia. (p.142)14
Não se deve ver nessas linhas o fantasma do positivismo, pois os arquivos policiais, considerados como fonte privilegiada da rede de comunicação estudada por Darnton, não são autônomos: os indícios que eles apontam devem ser necessariamente relacionados a outras fontes. Ao contrário dos detetives, o historiador precisa ultrapassar a dimensão circunscrita de um caso para entender seu significado mais amplo: o Caso dos Quatorze não é senão o meio de acesso à rede de comunicação que operava na Paris setecentista. Apartado da vivência social que lhe interessa compreender, o historiador encontra-se sempre diante de fragmentos por meio dos quais aquela vivência será reconstruída. Quais os limites dessa tarefa? Se a verdade deve ser estabelecida – pois os eventos históricos ocorrem de uma maneira específica e não de outra –, a interpretação está sujeita à coleção de pistas reunidas, que impõem um jogo complicado entre conjecturas e refutações: nenhuma interpretação é definitiva, nem toda interpretação é válida.
Referências
DARNTON, Robert. A Police Inspector Sorts His Files: The Anatomy of the Republic of Letters. In: _______. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Vintage Books, 1985. p.145-189. [ Links ]
_______. The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encylopédie, 1775-1800. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. [ Links ]
_______. A World Digital Library Is Coming True! The New York Review of Books, v.LXI, n.9, p.8, 10-11, 2014. [ Links ]
Notas
1 “They were copied on scraps of paper, traded for similar scraps, dictated to more copyists, memorized, declaimed, printed in underground tracts, adapted in some cases to popular tunes, and sung”. Todas as traduções são minhas.
2 “The box in the archives … can be taken as a collection of clues to a mystery that we call ‘public opinion'”.
3 “The dossiers evoke a milieu of worldly abbés, law clerks, and students, who played at being beaux-esprits and enjoyed exchanging political gossip set to rhyme”.
4 “The initiative came from the most powerful man in the French government, the comte d’Argenson, and the police executed their assignment with great care and secrecy”.
5 Elas podem ser ouvidas e baixadas livremente em www.hup.harvard.edu/features/darpoe.
6 Bibliothèque historique de la ville de Paris, ms. 580, fólio 248-249, out. 1747 (p.153). Darnton modernizou o francês nas transcrições dos poemas (p.148).
7 “it [a canção] became increasingly popular and covered an ever-broader spectrum of contemporary issues as it gathered verses”.
8 “It had become a sung newspaper, full of commentary on current events and catchy enough to appeal to a broad public”.
9 “the king’s love affairs with the three daughters of the marquis de Nesle, which were viewed as adultery compounded by incest”.
10 “A larger, more literate population clamored to be heard, and its rulers listened”.
11 “A poem could therefore function simultaneously as an element in a power play by courtiers and as an expression of another kind of power: the undefined but undeniably influential authority known as the ‘public voice'”.
12 “The information society existed long before the Internet”.
13 Como se sabe, o próprio Darnton tem sido bastante ativo na defesa do livre acesso digital ao patrimônio intelectual constituído pela cultura escrita, ocupando atualmente uma posição na diretoria da Digital Public Library of America (www.dp.la); sobre essa questão, ver especialmente DARNTON, 2014, p.8, 10-11.
14 “Historical research resembles detective work in many respects. Theorists from R. G. Collingwood to Carlo Ginzburg find the comparison convincing not because it casts them in an attractive role as sleuths, but because it bears on the problem of establishing truth – truth with a lowercase t. Far from attempting to read a suspect’s mind or to solve crimes by exercising intuition, detectives operate empirically and hermeneutically. They interpret clues, follow leads, and build up a case until they arrive at a conviction – their own and frequently that of a jury. History, as I understand it, involves a similar process of constructing an argument from evidence; and in the Affair of the Fourteen, the historian can follow the lead of the police”. Darnton já discutiu as fontes policiais em outras ocasiões: cf., em particular, DARNTON, 1985.
Luís Felipe Sobral – Doutorando em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bolsista Fapesp. E-mail: lf_sobral@yahoo.com.
[IF]
Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France? LBRIAND (Lc)
LBRIAND, Dominique. Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ?, Canopé – CRDP Basse-Normandie, coll. « Ressources Formation », 2013, 234p. Resenha de: BESSON, Rémy. Dominique Briand, Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? Lectures, 25 fev. 2014.
Publié dans la collection « Ressources Formation » (Scérén-CRDP), Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? aborde des questions relatives aux usages sociaux des films en plaçant au centre de l’analyse les perceptions du passé partagées par les élèves. Pragmatique, Dominique Briand, professeur d’histoire à l’IUFM de Basse Normandie développe une analyse qui se situe à l’articulation entre une approche relevant du domaine de l’histoire par les films et une initiation à l’éducation aux images. Pour cela, il part du constat que les enfants et les adolescents évoluent quotidiennement dans un environnement médiatique diversifié (internet, télévision, cinéma, presse écrite, etc.). Il remarque que la place exercée par les films historiques est certainement supérieure pour eux, à celle de l’enseignement de l’histoire. Ainsi, le récit transmis à l’école est-il devenu second, depuis maintenant de nombreuses années. Selon l’auteur, il permet simplement d’amender, d’encadrer et de compléter une conception déjà établie par ailleurs. Des propositions méthodologiques afin de répondre aux défis posés aux enseignants par ce constat sont formulées tout au long du texte. En s’appuyant sur de nombreuses études de cas, portant principalement sur l’histoire des conflits du vingtième siècle (guerres mondiales et coloniales, entre autres), l’ouvrage cherche donc à déterminer comment le cinéma participe à la fixation de la mémoire collective/culturelle et en quoi il a conduit à une remise en cause du « roman national » transmis par les instituteurs de la Troisième République.
Si ce présupposé de départ est particulièrement intéressant, l’idée principale du livre – bien que reposant sur deux néologismes – est, elle, très classique. Selon l’auteur, la prise d’importance des représentations cinématographiques de l’histoire a conduit à des mésinterprétations du passé qui sont le ferment d’une confusion entre fait et fiction : la faction (pour reprendre le terme d’Antony Beevor, cité p. 36). À cela, il est possible d’opposer de manière presque positiviste une fréquentation encadrée de la fiction, c’est-à-dire réflexive et critique, la fréqtion (vocable proposé par l’auteur). Une telle conception du rôle de l’enseignant repose sur l’idée que les films véhiculent des représentations dangereuses, dont l’école doit préserver l’élève. La salle de classe est alors conçue comme un sanctuaire, un lieu de résistance, face à une prolifération incontrôlée de mésusages des images dans l’espace public (p. 38). Le professeur se trouve ainsi placé dans la position de l’évaluateur qui détermine si le film est assez « authentique » pour figurer dans le cadre d’un enseignement scolaire. Par exemple, Marie-Antoinette (Sofia Copolla, 2006) est retoqué, car il propose une vision du passé non fidèle à l’état des connaissances sur le sujet (p. 91).
Ces axes méthodologiques reposent sur une conception datée du rôle de l’historien face aux images. Pris dans cette perspective, celui-ci est avant tout un ardent rhéteur d’une récit « vrai », qui doit, à ce titre, s’opposer aux déformations induites par les choix visuels et scénaristiques des professionnels du cinéma. Le fait que l’histoire soit aussi une représentation du passé constitue une dimension qui n’est considérée qu’à la marge1. Cela s’explique, en partie, par le fait que la principale référence mobilisée dans la courte sous-partie introductive, « les historiens et l’histoire de France à l’écran » (p. 23-25), est Marc Ferro. Si cela conduit Briand à considérer les films comme des vecteurs de mémoire producteurs d’une contre-analyse de la société2, cela le mène aussi à manquer les développements méthodologiques postérieurs liés aux travaux de nombreux autres chercheurs (histoire culturelle du cinéma, réflexions sur les rapports entre récit historien et filmique, etc.3). Par exemple, l’auteur mobilise à plusieurs reprises4, l’idée selon laquelle un film porte autant sur la période contemporaine de sa réalisation, que sur celle qu’il représente, alors que ce point fait l’objet d’un consensus depuis le milieu des années 19705.
Cependant, critiquer cet ouvrage au seul regard d’un manque de prise en compte de l’historiographie contemporaine, revient à manquer son intérêt principal. En effet, dès qu’il abandonne une position de retrait et de surplomb, Briand propose de multiples clefs méthodologiques passionnantes pour les enseignants en histoire. Il teste alors ce qu’il identifie comme étant des potentiels didactiques du cinéma. Ainsi, si l’écriture de l’histoire par les chercheurs n’a pas été systématiquement mise en regard des modes de narration des films, cette comparaison est menée de manière particulière habile entre les films et les cours d’histoire. Les productions culturelles étudiées sont alors tour à tour considérées comme des documents permettant un accès au passé et comme des représentations complexes dont il s’agit d’avoir une approche sensible. Dans tous les cas, très attentif à la forme filmique donnée aux faits passés dans les films, l’auteur évite le piège qui consiste à critiquer les réalisateurs à l’aune de la méthodologie historienne. Il répète ainsi à plusieurs reprises que les cinéastes ne sont pas contraints par les normes en usage au sein de l’académie.
Passionné par les nombreuses productions qu’il analyse, il propose très rapidement de dépasser le seul face à face entre l’élève et le film. Il insiste sur la nécessite de prendre en compte l’amont (les conditions de production) et l’aval (leur réception) avec une égale rigueur. Il explique que pour comprendre comment un film a transformé la perception du passé d’une génération de Français, l’état de leurs connaissances sur le sujet abordé est à préciser. Ainsi, le film n’est pas seulement à considérer pour sa valeur artistique, mais aussi pour l’effet qu’il a pu avoir dans l’espace public. Prenant, l’exemple de La Marseillaise (Jean Renoir), il analyse finement les différences entre la réception du film en 1938 et la façon dont il est possible de le voir aujourd’hui (p. 88). De plus, dans l’un des chapitres les plus réussis du livre, Briand s’intéresse aux débats et polémiques provoqués par certains films. Il s’attarde alors particulièrement sur les aspects non consensuels de l’histoire de France et notamment sur la guerre d’Algérie (à travers le cas du film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, 2010). Il saisit parfaitement que le cinéma ne se limite pas à l’espace de la salle obscure et que son rôle social se joue tout autant dans ce qui en est dit a posteriori. Sans effectuer de remontée en généralité abusive, il s’attèle aussi à décrire en quoi l’étude des films permet d’initier les élèves à une histoire des représentations attentives aux différences et aux complémentarités entre histoire et mémoire. Il fait ainsi des films en général et de ceux de Bertrand Tavernier en particulier (Un dimanche à la campagne, La Princesse de Montpensier, Capitaine Conan et La Vie et rien d’autre, notamment), des objets exemplaires pour une réflexion sur la fabrique du passé.
Cet ouvrage est donc traversé par une tension entre une éducation aux images principalement développée sur un mode critique (parfois un peu caricatural) et une série d’analyses précises portant sur des films qui sont considérés comme utiles pour enseigner l’histoire. Cette distinction ne recoupe pas pour Briand l’opposition classique entre films d’art et d’essai (souvent survalorisés pour leurs qualités formelles) et films populaires (disqualifiés sur des critères purement esthétiques). Au contraire, en culturaliste accomplit, l’auteur choisit de faire porter ses analyses aussi bien sur des films désignés comme étant des « nanars », que sur des œuvres considérées comme appartenant au panthéon du 7ème art. Cette tension repose, en fait plus, sur le maintien d’une différence entre histoire par les images et histoire des images. Ce choix de l’auteur explique certaines des réserves exprimées précédemment. En effet, il s’avère que depuis une quinzaine d’années une histoire utilisant des sources visuelles comme documents ne peut plus se passer d’une étude précise des conditions de production et de diffusion de celles-ci. Les productions audiovisuelles ne sont plus actuellement considérées simplement comme des sources donnant un accès direct à quelque chose de l’ordre du passé, mais comme des formes polysémiques dont il est toujours nécessaire de mesurer la complexité6. Ce n’est qu’une fois ce travail fait sur les images comme objets, que dans un second temps, elles deviennent des documents pour une histoire portant sur autre chose. Il n’y a donc plus de distinction entre les deux approches. L’absence de prise en compte de cette réconciliation entre histoire des et par les images est peut-être ce qui empêche cet essai d’histoire avec le cinéma d’être pleinement concluant. Ces limites ayant été exprimées, il reste à inviter tous les passionnés d’histoire et de cinéma, les enseignants et les étudiants, à se précipiter sur les analyses et les tableaux de synthèse proposés dans cet ouvrage, car ils constituent des matériaux particulièrement riches pour tous ceux qui œuvrent à faire entrer le cinéma dans l’enseignement de l’histoire.
Notes
1 Cf. Antoine de Baecque et et Christian Delage (dir.), De l’histoire au cinéma, Paris et Bruxelles, Complexe, 1998.
2 Cf. Marc Ferro, « Le film, une contre-analyse de la société », Annales ESC, 1973, vol. 28, n°1, p. 109-124.
3 Cf. Pascal Dupuy, « Histoire et cinéma. Du cinéma à l’histoire », L’homme et la société, 2001/4, n°142, p. 91-107 ou Philippe Poirrier, « Le cinéma : de la source à l’objet culturel », dans Les enjeux de l’histoire culturelle, Seuil, 2004.
4 Notamment, p. 85 à travers l’exemple du film Danton (Andrzej Wajda, 1983) et des films de Gustage Kerven et Benoît Delépine (p. 142-143).
5 Pierre Sorlin, « Clio à l’écran, ou l’historien dans le noir », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1974, p. 252-278.
6 Cette manière de faire s’inscrit plus largement dans un tournant historiographique qui concerne l’ensemble des productions culturelles.
Rémy Besson
[IF]
O que é um autor? Revisão de uma genealogia / Roger Chartier
A obra Objeto gritante de Clarice Lispector foi pauta de debates na Comissão de Leitura do Instituto Nacional do Livro em 1972. A discussão colocava em xeque a qualidade do texto da autora e o peso da representação de sua autoria. Decisão complicada para os avaliadores envolvidos, mas ao que parece, Adonias Filho [3], principal parecerista, pendeu para o valor da autoria de Clarice e deixou em segundo plano os atributos “duvidosos” do livro [4]. Aqui e em outras situações, a tradição do nome e a noção de autoria foram evocadas, não só para legitimar a obra, como também para identificar os discursos. E é justamente a respeito da noção de autoria que este texto retoma e apresenta a obra de Roger Chartier publicada em 2012 pela EdUSFCar, intitulada O que é um autor? Revisão de uma genealogia [5].
No final da década de 1960, Michel Foucault proferiu a célebre conferência intitulada “O que é um autor?” [6] abordando a polêmica em torno do desaparecimento da figura autor. Ao contrário das principais teses em voga que reforçavam o ocultamento dessa personagem, dentre as quais se sobressaiam as de Roland Barthes, Foucault destaca as condições que possibilitaram o nascimento do sistema de autoria e traça as regras históricas e culturais de seu funcionamento na sociedade ocidental. Procurando refletir a respeito dos dispositivos através dos quais se tornou importante saber “quem fala”, Foucault ressalta os diferentes mecanismos no tempo e no espaço que legitimaram a atribuição de um nome próprio a certos textos. Além disso, destacou a filiação de certos discursos a um grupo específico, estabelecendo aos indivíduos a noção de autoria e ao conjunto de seus feitos, o conceito de obra.
Cerca de trinta anos depois da palestra de origem, o historiador Roger Chartier fora convidado a proferir, também para a Sociedade Francesa de Filosofia, uma palestra na qual revisita a famosa conferência de Foucault. Nesta fala, Chartier evidencia as limitações da análise do filósofo, tais como: a incorreção na genealogia cronológica da noção de autoria e a atribuição incorreta de características próprias das obras pertencentes às auctoritates a obras em linguagem vulgar. Nesse sentido e na tentativa de reforçar a relevância da questão apresentada por Foucault em 1969, Chartier propõe uma revisão da tese do filósofo.
No pequeno resumo da proposta da revisão, Roger Chartier afirma reavaliar a análise de Foucault através da associação da crítica textual dedicada a tratar da interpretação dos textos e das operações de historicidade dos discursos e da História Cultural que se ocupa da história dos objetos e das práticas sociais. A intenção do historiador é pensar não só na ordem dos discursos, mas também na própria ordem dos livros. Para tanto, retoma em Foucault a intenção de analisar a construção da “função autor”, isto é, considerar o autor como um agente dotado de uma função complexa e variável no discurso, e não apenas como uma evidência puramente individual. Daí decorre a tese fundamental de Foucault que consiste na constatação de que a “função autor” é característica do modo de existência de determinados discursos no interior de uma sociedade. Além disso, essa mesma função é marcadamente definida pelo nome próprio que, de início, possibilita o mecanismo de classificação dos discursos. Nesse sentido, a autoria é criadora da noção de obra e da existência de um estilo de escrita particular de determinados grupos.
O primeiro problema na análise de Foucault, destacado por Chartier, é o que se refere à distinção entre o “eu” empírico e a função discursiva, tal qual, apresentado por Borges, em 1960, na coleção El hacedor. O jogo narrativo proposto pelo argentino e retomado por Chartier tenciona entre aprisionamento do “Eu” pelo nome próprio e a invenção de uma escrita desvencilhada do autor. De acordo com Chartier, Foucault retoma essa utopia do discurso sem nome, no entanto, a considera apenas uma função discursiva e não um instrumento que oferece existência a uma ausência essencial. [7]
O segundo problema identificado na análise foucaultiana refere-se ao esboço de cronologia esquematizado na conferência de 1969. Esta cronologia compõe-se de três principais momentos que podem ser assim descritos: o primeiro aborda a questão da inscrição da “função autor” no sistema de propriedade característico das sociedades contemporâneas, compreendido por Foucault como uma relação que esteve diretamente ligada à própria concepção burguesa sobre o tema; o segundo se detém no fato de que essa mesma “função autor” esteve relacionada à censura dos textos e à punição dos escritores em decorrência de uma circulação de discursos considerados transgressores; e, por fim, a terceira e principal consideração de Foucault que trata do entrecruzamento dos enunciados científicos e as regras de identificação do texto literário datados entre o século XVII ou XVIII.
Sobre essa genealogia foucaultiana, Chartier tece algumas ponderações. A primeira delas é sobre o questionamento feito pelo filósofo a respeito da divisão entre literatura e ciência. Roger Chartier chama atenção para o fato de que a utilização de expressões imprecisas [8] é um indício da incerteza de Foucault na ocasião das genealogias que ele mesmo apontou. Um segundo aspecto inexplorado pelo filósofo é o que trata do momento de elaboração da “função autor”. Conforme indica o historiador, a construção dessa função reside na disseminação da noção de autoria entre os escritos de língua vulgar, algo que antes pertencia apenas aos escritores cristãos e aos da Antiguidade submetidos ao regime de auctoritates.
O terceiro ponto e o mais enfatizado por Chartier é a identificação da ausência da “função autor” para os textos ficcionais anteriores aos séculos XVII e XVIII, e o consequente desaparecimento dessa mesma função para os discursos científicos a partir desse período. Nas próximas páginas do livro e até o fim da conferência, Roger Chartier explora detalhadamente a história do copyright (direito sobre a obra) na Inglaterra em paralelo à cronologia imprecisa apresentada por Foucault.
A história do copyright foi profundamente modificada na Inglaterra do século XVIII. Em decisão tomada a partir de 1709, os autores ingleses passaram a ter o direito de registro sobre suas obras, ou seja, obtiveram desta data em diante o copyright por, pelo menos, 14 anos, mais 14 suplementares caso o autor estivesse vivo. Paralelamente, buscando a defesa do direito pessoal, os livreiros impressores londrinos inventaram a propriedade literária consistindo no princípio de posse sobre os textos, a partir daquela época, garantido por lei aos autores. E é embasado neste argumento que Chartier crítica a genealogia foucaultiana. De acordo com o historiador, é no interior desse processo judicial e com o propósito de resguardar o privilégio tradicional, que se “inventa” o autor proprietário de sua obra. A justificativa fundamental para a lei reside na teoria do direito natural que compreende o homem como sendo o proprietário intransferível de seu corpo e, consequentemente, dos produtos de seu trabalho. Além disso, fundamenta-se também na justificativa de ordem estética ancorada na categoria de originalidade, esta última em alta no século XVIII. É a partir desse ponto que Chartier repensa a cronologia proposta por Foucault ao defender que não fora em fins do século XVIII, mas sim em seus primórdios que emergiu a concepção do autor como proprietário de sua obra e a noção de propriedade literária. Além disso, esta emergência não pode ser considerada como fruto do direito burguês, mas advinda da perpetuação de um antigo sistema de privilégios.
Outro aspecto que recebe atenção do historiador é o referente à desmaterialização das obras, isto é, ao fato de que as consideramos apenas como o produto estético e intelectual dos autores, independentemente das suas formas materiais e das condições sociais de sua produção. A partir do século XVIII na Inglaterra se produz uma distinção entre os principais elementos do universo da produção e da circulação dos textos: a property e propriety. A primeira é a possibilidade de transformação de um escrito num bem negociável de mercado; e a segunda refere-se a um possível controle sobre os escritos, ou seja, a forma de preservação da moral, da honra e da reputação. No século XVIII, ambas as noções começaram a relacionar-se e culminaram no que conhecemos atualmente como propriedade literária: a interlocução entre o direito moral e o direito econômico dos autores sobre as obras.
O terceiro e último ponto da cronologia esboçada por Foucault é sobre a circulação dos enunciados científicos em regime de anonimato durante os séculos XVII-XVIII. Sobre este aspecto, Roger Chartier defende que, ao contrário do que propõe a análise foucaultiana, justamente nesse momento acontece uma reviravolta provocada pela revolução científica, tornando essencial a difusão do nome, ou seja, da autoridade competente para enunciar o que é verdadeiro numa sociedade cuja hierarquia define o jogo das posições sociais e a credibilidade da palavra. É no cerne dessas discussões que se molda a noção de autoria e, principalmente, a ideia do autor enquanto a autoridade do erudito, distante do universo comercial dos textos. Nesse sentido, o interesse tácito dos autores é a garantia de veracidade nos enunciados do saber que proferem [9].
Sobre a “função autor” e as apropriações penais destacadas por Foucault, Chartier também apresenta considerações. O historiador argumenta que os livros não só funcionavam como provas incriminatórias dos autores, mas a prospecção de todas as obras que esses mesmos autores condenados poderiam escrever e/ou publicar também servia como mecanismos de condenação. É inegável que o nome próprio funcionava como um meio de identificação, de criação e de transgressão, mas além dele, as obras publicadas em anonimato eram consideradas como suficientemente condenáveis, pois os livros deveriam trazer o nome de seu autor e de seu impressor. No entanto, apesar de estar diretamente ligada à censura, à repressão e à proibição, a “função autor” também esteve entrelaçada à própria passagem do manuscrito ao impresso, pois desde as primeiras versões, os livros contêm os mecanismos de identificação da “função autor”, dentre os quais podem ser citados a simbologia das impressões e até mesmo a disposição do retrato do autor.
Por todas essas nuances, a genealogia rediscutida por Chartier apresenta-se numa duração mais longa do que a sugerida por Foucault e coloca em questão não unicamente a ordem dos discursos, mas a dos livros. A proposta de Roger Chartier é a introdução de uma análise que considera as condições materiais de produção dos discursos e a noção de autoria, tal como a postulada por Donald MacKenzie em sua sociologia dos textos, promovendo, assim, o estudo dos escritos inscritos em sua materialidade. Para Chartier, a construção do autor é indissociável da materialidade e não é função exclusiva dos discursos conforme propunha Foucault.
Em 1972, a justificativa para a publicação da obra de Clarice Lispector não estava inscrita apenas na tradição de seu nome, mas nas próprias tramas intelectuais e editoriais que compunham o mercado editorial brasileiro e que definiam, acima de tudo, a materialidade dos textos e a construção da figura autor. Nesse sentido, para encerrar, é possível retomar as palavras de Herberto Sales, diretor do Instituto em 1974, ao afirmar que “uma coisa é escrever livros, e outra é entender deles, do seu comércio, de suas transas”. [10]
Notas
- Adonias Filho (1915-1990) foi jornalista, crítico literário, ensaísta e romancista. Mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro onde colaborou para os jornais Correio da Manhã (1944-45), Jornal das Letras (1955-1960) e do Diário de Notícias (1958-1960). Esteve à frente da direção da editora A Noite (1946-1950), diretor do Serviço Nacional de Teatro (1954) e da Biblioteca Nacional (1961-1971). Esteve na direção do INL entre os anos 1954-55 ingressando mais tarde nos quadro da direção da Biblioteca Nacional. Durante os anos 1970 e principalmente no período de coedições do INL pertenceu ao setor dos pareceristas da Instituição.
- Sobre esta produção de Clarice Lispector é necessária uma observação. Apesar dos pareceres favoráveis à publicação de Objeto gritante, esta obra nunca foi editada. Ela foi revisada, reduzida a metade e acabou sendo lançada anos mais tarde com outro título: Água viva. Para maiores detalhes ver: ANDRADE, Maria das Graças. Da escrita da si à escrita fora de si: uma leitura de Objeto gritante e Água viva de Clarice Lispector. 2007. 225 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, 2007.
- CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. Tradução de Luzmara Curcino; Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra. São Carlos: EdUFSCar, 2012.
- “Qu’est-ce qu’un auteur?” foi publicado inicialmente em 1969 no Bulletin de La Société Française de Philosophie e posteriormente alterado para ser lançado na revista Textual Strategies, sendo relançado em 1994 em Dits et écrits. Na versão traduzida para o português foi publicado com o título “O que é um autor?” em Ditos e Escritos, vol.III. Estética: literatura e pintura, música e cinema.
- CHARTIER, op cit., p. 35
- Chartier destaca como expressões imprecisas as seguintes frases: “textos que hoje chamaríamos de literários” e “textos que chamaríamos de científicos”.
- CHARTIER, op cit., p. 55
- Carta de Herberto Sales a Lygia Fagundes Telles. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1979.
Mariana Rodrigues Tavares – Mestranda em História Social pelo PPGH-UFF. Rio de Janeiro/Brasil. historia.mari@gmail.com.
CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. Tradução de Luzmara Curcino; Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 90p. Resenha de: TAVARES, Mariana Rodrigues. Redes intelectuais e noção de autoria: breve análise sobre a revisão de Roger Chartier para a Genealogia de Foucault. Outros Tempos, São Luís, v.11, n18, p.312-314, 2014. Acessar publicação original. [IF].
Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII | Robert Darnton
O historiador norte-americano Robert Darnton, amplamente conhecido no ambiente acadêmico brasileiro, é um dos grandes pesquisadores da história intelectual do século XVIII – um tema que geralmente abrigamos sob o guarda-chuva conceitual do Iluminismo.
Sua familiaridade com a antropologia cultural, sobretudo por conta da sua proximidade com os estudos de Clifford Geertz, bem como o cuidado obsessivo que dedica à pesquisa documental nos arquivos franceses fazem dos seus trabalhos verdadeiras incursões em universos desconhecidos, causando, como ocorre com as boas descrições etnográficas, estranhamento em relação às realidades que julgamos conhecer.
Neste Poesia e polícia não é diferente. Darnton, que dirige a biblioteca da Universidade de Harvard, volta aos arquivos parisienses e consegue reconstruir uma intrincada rede que ligava o submundo francês ao ambiente da corte de Luís XV no final da década de 1740. Uma denúncia anônima de um espião em 1749 leva a estrutura policial da monarquia à perseguição e à prisão de catorze indivíduos, entre estudantes universitários, jovens clérigos e pequenos funcionários da estrutura da justiça, envolvidos na produção e na difusão clandestina de poesias e canções que satirizavam medidas do governo e ofendiam o rei e sua amante, Jeanne-Antoinette Poisson, a marquesa de Pompadour.
Com idades que variavam entre dezesseis e trinta e um anos, os envolvidos no “Caso dos Catorze”, como ficou conhecido, eram provenientes das camadas médias parisienses. Pessoas que não faziam parte da elite política francesa mas eram bem educadas e em dia com as decisões da monarquia referentes à política externa e seus desdobramentos internos. Clérigos jansenistas que não se dobravam à vontade do rei, estudantes irreverentes (de Direito, majoritariamente), professores conectados às discussões científicas, funcionários desobedientes – pessoas capazes de versificar sátiras em francês e em latim e ouvir o burburinho das ruas, combinando tudo isso com os mexericos da corte. O personagem mais intrigante desta rede, sobre quem Darnton dedica, infelizmente, pouca atenção, era o professor de filosofia chamado Pierre Sigorne. O professor se negou a falar, não entregou um único nome e a investigação emperrou nele. Entusiasta dos princípios newtonianos, Sigorne era o centro de um grupo do qual faziam parte, entre outros, Anne Robert Jacques Turgot (futuro ministro das Finanças de Luís XVI) e Denis Diderot (futuro editor da Enciclopédia).
Os versos apreendidos naquela ocasião atacavam o centro do poder real e eram recitados, copiados, emendados, recriados, musicados, memorizados e discutidos por pessoas que se preocupavam com seus aspectos políticos e poéticos. Retornando às sátiras cantadas em 1747, Darnton consegue observar uma sutil mudança no corriqueiro hábito de maldizer autoridades através do riso, identificando fatos da vida política que acabaram constituindo interseções entre a velha política da corte e uma crescente conexão entre indivíduos do mundo da rua interessados em falar sobre uma esfera de decisões da qual estavam alijados. Como isto ocorreu?
Darnton, a partir de documentos de arquivo e de memórias produzidas ao longo do século XVIII, reconstitui os eventos que levaram à demissão do conde de Maurepas, secretário de Estado, em abril de 1749. O astuto nobre foi responsável por um vazamento de informação sobre um jantar oferecido pelo rei e por sua amante, informação esta que chegou às ruas de Paris por meio de uma sátira – Pompadour havia oferecido aos poucos convivas, entre eles o próprio Maurepas, flores brancas (fleurs blanches), o que se tornou, nos cafés e becos parisienses, “fluxos brancos” (flueurs blanches), referência a doença venérea. A polícia foi acionada e passou a fazer as prisões, levando à Bastilha pessoas acusadas de pertencer a uma rede que recitava e distribuía poemas satíricos, em cujos versos também apareciam medidas impopulares de Luís XV, como a ordem de prisão contra um príncipe inglês exilado em Paris, um acordo de paz vexatório e o lançamento de um novo imposto. Nos poemas e nos cantos que circulavam na capital francesa, reproduzidos na íntegra na obra, as fofocas cortesãs sobre a vida íntima dos governantes estavam associadas à carência de virtude nas decisões reais recentes. Mais do que isso: aparentemente, o rei e seus auxiliares mais próximos passaram a se importar de uma maneira até então não vista sobre a forma como estas conexões estavam sendo feitas em lugares públicos, sem o controle das autoridades.
A estrutura repressiva francesa, a partir daí, infiltrou espiões, pagou informantes, prendeu e interrogou suspeitos cujos depoimentos oferecem ao historiador de hoje material para entrar em contato com este universo nem sempre muito distante do nosso: a tentativa, nunca suave, de estabelecer um ambiente público de discussão.
Ficou de fora do trabalho uma discussão mais detida sobre o papel da sátira nas sociedades da Época Moderna. Embora se preocupe em observar aspectos tradicionais da cultura popular no maldizer público de autoridades, Darnton não atenta para aspectos intrínsecos à atitude satírica que poderiam oferecer outra camada de significados para o Caso dos Catorze, bem como para a maledicência social ao longo do Antigo Regime. Gilbert Highet, em estudo clássico sobre o tema, demonstra a ambivalência da atitude satírica, que pode ser cáustica em relação aos indivíduos atacados, mas tende a reforçar uma determinada ordem social. [1] As sátiras que fazem parte do caso estudado por Darnton são paródias, versificações compostas sobre estruturas monológicas previamente conhecidas pela audiência, o que reforça ainda mais o impacto de valores previamente defendidos por um público amplo – por exemplo, a gravidade cristã da vida sexual do rei, que estaria refletida, de algum modo, em suas virtudes políticas. Darnton também deixa de fora questões específicas relativas às estruturas poéticas ou narrativas utilizadas pelos letrados para produzir as sátiras, abrindo mão, portanto, de ferramentas oriundas da análise poética ou da crítica literária, de modo algum desprezíveis para a consideração de poemas como fontes para o historiador. Mais preocupado em reconstruir conexões entre grupos e acontecimentos políticos e culturais, pouco avança no escrutínio de um complexo cultural que também era informado por uma dimensão discursiva habitada e manipulada por indivíduos letrados.
Autor de obra clássica sobre um ícone do Iluminismo [2] – a Enciclopédia de Diderot e D’Alembert –, Darnton há muito também se dedica à “subliteratura” que roía, nos becos, nos cafés e nos salões menos nobres, as imagens até então impolutas dos velhos poderes. Um exemplo recente é o seu O diabo na água benta, saído no Brasil em 2012 [3], no qual acompanha a corrida de gato e rato entre a polícia francesa e os autores de libelos que se espalhavam dos dois lados do Canal da Mancha no século XVIII.
O historiador se dedica, em Poesia e polícia, às relações entre personagens anônimos que levavam e traziam palavras proibidas, mostrando que, além dos textos, as relações dos indivíduos e dos grupos com o conhecimento e com os escritos acabaram por engendrar um ambiente novo, base de um mundo que nos deveria ser familiar.
De linguagem acessível, a obra estabelece brevemente os problemas conceituais referentes à esfera pública, fazendo alusão aos textos basilares de Foucault e Habermas – o primeiro, mais preocupado com uma abordagem filosófica, segundo a qual uma coisa só existe quando é nomeada (portanto, a “opinião pública” não poderia existir antes de ser assim nomeada, no final do século XVIII), enquanto o segundo está mais interessado em uma abordagem sociológica (isto é, a coisa existe desde que seja percebida como tal pelo estudioso, no presente). Sem se satisfazer completamente com nenhum dos dois teóricos, Darnton lança mão das ferramentas vindas da antropologia – a imersão em uma cultura estranha e a tentativa de compreendê-la a partir dos seus próprios termos – para tentar ouvir as vozes de um mundo distante do século XXI. Assim, observa, por um lado, como Condorcet, um matemático, historiador e filósofo iluminista cooptado pelo Estado francês nos estertores do Antigo Regime, acreditava no projeto ilustrado de estabelecimento gradual da razão a partir da discussão pública, impressa, serena, que levaria a sociedade ao progresso; e, por outro, como Luis-Sébastien Mercier, dramaturgo, jornalista, escritor mediano, descreveu “o público” como um poder que vinha da rua, irresistível e contraditório, mas capaz de destronar a tirania. Condorcet foi decapitado durante o Terror; Mercier, que desprezava o heliocentrismo e a física newtoniana, foi nomeado professor de história pelo governo revolucionário.
Embora curto, o livro de Robert Darnton é uma esclarecedora incursão em um momento-chave no complicado processo de estabelecimento de um lugar de discussão política alheio à vontade do Estado. O resultado é belíssimo, sobretudo para nós que, autocentrados, acreditamos que inventamos, por força da internet, a sociedade da informação. A cultura não oficial, fragmentada e transmitida habilmente entre jovens indivíduos descontentes fez estragos na vida de quem morava em palácios nos século XVIII.
Notas
1. HIGHET, Gilbert. The anatomy of satire. Princeton: Princeton University Press, 1962.
2. DARNTON. Robert. O Iluminismo como negócio: história da publicação da “Enciclopédia”, 1775-1800. Tradução Laura Teixeira Motta e Marcia Lucia Machado (textos franceses). São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
3. DARNTON. Robert. O diabo na água benta Ou a arte da calúnia e da difamação de Luís XIV a Napoleão. Tradução Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
Rodrigo Elias – Revista de História da Biblioteca Nacional. E-mail: rodrigoelias2@gmail.com
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: ELIAS, Rodrigo. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.10, n.10, p. 152-154, 2014. Acessar publicação original [DR]
Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? – CANGUILHEM (AN)
CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? Tradução de Fábio Ferreira de Almeida. Goiânia: Edições Ricochete, 2012. (Coleção Inominável). Thiago Fernando Sant’Anna. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 443-448, dez. 2013.
Precisas as palavras de Georges Canguilhem sobre Michel Foucault no texto “Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito?”, publicado no número 242 da Revista Critique, em julho de 1967, as quais argumentaram que “[…] o êxito de Foucault pode ser justamente entendido como recompensa pela lucidez que permitiu a ele enxergar este ponto para o qual, diferentemente dele, outros foram cegos” (CANGUILHEM, 2012, p.9). Canguilhem tece, no texto, com palavras afiadas, uma defesa do pensamento edificado por Foucault em seu projeto arqueológico de explorar a rede epistêmica a partir da qual emergiram “certas formas de organização do discurso” (CANGUILHEM, 2012, p.22-23), subvertendo a devoção ao curso progressista da história e interditando “toda ambição de reconsti tuição do passado ultrapassado” (CANGUILHEM, 2012, p. 15). Irônicas, suas palavras desafiavam aos detratores de Foucault: “Humanistas de todos os partidos, uni-vos” (CANGUILHEM, 2012, p. 09)? Profundas teriam sido as relações entre Canguilhem e Foucault.
Nos anos 1960, Canguilhem, no relatório escrito para a avaliação da tese “Loucura e Insânia”, durante o doutoramento de Foucault, declarou ter sentido “um verdadeiro choque” (ERIBON, 1990, p. 130) diante de suas ideias que se inscreviam, indubitavelmente, no espaço da vanguarda acadêmica. Difícil também seria dimensionar a amplitude da inspiração que foi Canguilhem para Foucault quando nos deparamos com as palavras usadas por Eribon (1990, p. 131) para se referir ao reconhecimento do primeiro pelo segundo em seus trabalhos arqueológicos, como lugar onde estaria “gravada a sua marca”.
Conhecido por não publicar “grandes volumes, mas contribuições delimitadas” (ERIBON, 1990, p. 130), Georges Canguilhem, nascido em 1904, no sudoeste da França, e sucessor de Bachelard, na Sorbonne, em 1955, publicou, em 1967, o que Eribon (1990, p. 131) considerou como um “artigo muito vigoroso e muito notado”: um comentário sobre As palavras e as coisas. Canguilhem estaria “irritado com as críticas dos sartrianos contra Foucault” (ERIBON, 1990, p. 131), já que As palavras e as coisas “[…] foi recebida com hostilidade nos meios de esquerda”, acusada pelos comunistas como “um manifesto reacionário” que negava a história, a historicidade e servia aos “interesses da burguesia” (ERIBON, 1996, p. 101).
Esse referido texto, responsável por “[…] tirar Georges Canguilhem da sua tradicional reserva” (ERIBON, 1996, p. 104), é “[…] quase inteiramente consagrado a rebater as críticas que foram feitas a Foucault a propósito da história”, já que o arqueólogo propõe uma analítica que se diferencia das análises dos historiadores da biologia, principalmente no que diz respeito às “relações de continuidade e descontinuidade entre Buffon, Cuvier e Darwin.” (ERIBON, 1996, p. 105). Ao longo do breve e denso texto, objeto desta resenha, dividido em cinco partes, Canguilhem destacou a importância e o alcance da abordagem de Foucault, ao operar ferramentas, ancoradas numa incontornável experiência histórica, que possibilitaram à sua arqueologia perceber “indícios de uma rede epistêmica”, em resumo, descrever uma “episteme” (CANGUILHEM, 2012, p. 19).
Daí, ser inegável, aqui, reconhecer a importância das refl exões realizadas em As palavras e as coisas, onde Foucault entrecruza filosofia e historicidade. Machado (2005, p. 100) destacou bem as palavras de Canguilhem, para quem esse texto, aqui resenhado, significava a “[…] impugnação do fundamento que certos filósofos creem encontrar na essência ou na existência do homem”. Impugnação essa denunciadora da falência da filosofia moderna em “[…] manter a distinção entre o empírico e o transcendental, ao tomar o homem das ciências empíricas, o homem que nasceu com a vida, o trabalho e a linguagem, como o modo de ser do homem da modernidade” (MACHADO, 2005, p. 100). O próprio Canguilhem já havia reconhecido quando de sua relatoria sobre a tese de Foucault, que este “[…] leu e explorou pela primeira vez uma quantidade considerável de arquivos”; que “[…] um historiador profissional não deixaria de ser simpático ao esforço feito pelo jovem filósofo” ao analisar docu mentos em primeira mão; e que “[…] nenhum filósofo poderá censurar a M. Foucault ter alienado a autonomia do juízo filosófico pela submissão às fontes da informação histórica” (ERIBON, 1990, p. 133). Como poderíamos compreender esse fenômeno – Foucault – à luz de suas críticas às perspectivas tradicionais a partir das quais se escreve história e na direção de sinalizar para inversões outrora tão distantes de serem compreendidas por aqueles que o atacavam? Tais afirmações conduzem-nos a reconhecer que emoldurar em um quadro o contexto dos anos 1960/1970, e ali inscrever o pensamento de Michel Foucault, sinalizar-nos-ia equívocos. Impreciso também seria se, nesse enquadramento, optássemos por anunciar a fixação de alguma teoria foucaultiana à propalada crise dos paradigmas, quando, no plano geral, os modelos explicativos, orientados por conceitos de “ordem”, “evolução”, “linearidade”, “racionalidade”, “progresso” e “verdade inquestionável” não respondiam satisfatoriamente às questões colocadas às Ciências Humanas; a mesma coisa se deu em um plano específico, quando se emergiu uma revisão e desestabilização das certezas no interior da disciplina da História, confrontada com a suspeita quanto ao seu estatuto de inteligibilidade diante da ampliação de seu campo temático, de suas abordagens e de seus objetos, enfim, de ruptura com as metanarrativas.
Não seria menos insuficiente dizer que aqueles anos fundaram o pensamento de Foucault em um contexto de dissolução da sociedade burguesa, de crescente uniformização da cultura de massas e de questionamento da posição de “centro” por parte daqueles movimentos sociais como os movimentos feministas, negro, gay etc.
Inegável, por outro lado, seria reconhecer que a transgressão do paradigma iluminista, moderno, racionalista, cartesiano foi possível com as histórias das pessoas inomináveis de Michel Foucault e a contestação da construção discursiva da História na qual os acontecimentos ganhavam sentidos, desconstruindo a ideia de “verdade” impressa nos documentos. Atualmente, o pensamento de Foucault imprimiu, no campo de estudos da História, uma subversão incontornável, o que tornaria qualquer desprezo a essa incursão uma ingenuidade, na mesma direção que seria percebida se tentássemos rotular suas problematizações em qualquer outro tipo de enquadramento. O pensamento de Michel Foucault, ou melhor, o seu estilo de pensamento não é um bloco monolítico a ser apreendido, domesticado dentro dos limites de uma teoria, ou sequer enquadrado em qualquer contexto social, econômico ou cultural a priori.
A esquiva destes aprisionamentos discursivos que contextualizam e tipologizam masmorras do pensamento pode ser percebida na leitura do texto de Georges Canguilhem sobre o livro As palavras e as coisas.
O que Michel Foucault quis dizer com o conceito de episteme quando o escreveu, ao longo do livro, As palavras e as coisas? Trata- -se de problemática que permeia as refl exões de Georges Canguilhem em “Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito?”, traduzido agora para a língua portuguesa pelas Edições Ricochete, inaugurando a Coleção Inominável, coordenada por Marlon Salomon.
Canguilhem assinalou o texto de Foucault com pistas que fizessem surgir “um ponto” de abertura de uma “avenida” (CANGUILHEM, 2012, p. 09), que indicasse uma analítica sobre a constituição do “homem” como objeto de investigação das ciências humanas, distante de uma história social de uma ciência, e próxima, por outro lado, de uma rede de enunciados. O texto decifra os contornos de uma chave, usada e elaborada simultaneamente pelo filósofo francês para abrir sentidos em textos, diga-se de passagem, originais, empoeirados e desprezados por estudiosos. Chave essa da qual o leitor de Foucault pode lançar mão para encontrar não o seu proprietário ou inventor, não para revelar algo ou fenômeno escondido, à espera da iluminação. Mas uma chave a ser forjada no movimento de seu uso, a ser decriptada na direção de sinalizar para “a sucessão descontínua e autônoma das redes de enunciados fundamentais”, sucessão essa que “[…] interdita toda ambição de reconstituição do passado ultrapassado” (CANGUILHEM, 2012, p. 15).
A essa altura, podemos afirmar, conforme o texto de Canguilhem, que já não é mais possível recusar a incontornável presença da historicidade na constituição da cultura, em recusa a qualquer isolamento de Foucault a um tipo de pensamento que sonhasse naturalizar a cultura ou que aspirasse a superar, progressivamente, uma contradição (CANGUILHEM, 2012, p. 11). A analítica deste arqueólogo exuma descontinuidades radicais – fronteiras entre pensamentos possíveis de serem pensados e pensamentos que não podem mais ser pensados – sem receios em retomar pontos já abordados ou suspender o tráfego por questões não apropriadas naquele momento em que tecia As palavras e as coisas. Como a lâmina de uma katana de samurai, Foucault, que “[…] não tinha medo da morte […]” (VEYNE, 2009, p. 149), exercita a perigosa prática de pensar, “[…] correndo o risco de espantar-se e até de aterrorizar- -se consigo mesmo […]” (CANGUILHEM, 2012, p. 29), corta as palavras, decepa evidências, desentranha “condições práticas de possibilidades” (CANGUILHEM, 2012, p. 30) que constituíram o homem como objeto do saber e denuncia, com isso, o “sono antropológico” daqueles que tomavam o homem como um objeto dado para, daí em diante, fazer progredir, uma ciência.
Canguilhem, por sua vez, afia ainda mais a lâmina de Foucault em sua obra traduzida por Fábio Almeida. José Ternes e Marlon Salomon afinam-se, respectivamente, no prefácio e na gestão da coleção inaugurada pela Edições Ricochete. Os cinco estudiosos aqui citados nos permitem abdicar do recurso do contexto como explicador de um fenômeno. Longe disso, possibilitam uma transgressão do pensamento ao percorrer a rede de enunciados proposta pela episteme de Foucault, de forma a recusar as raízes, a origem ou a iden tidade fixa do objeto. Os referidos estudiosos elucidam a percepção de um “ponto”, um caminho, uma “avenida”, para além das estruturas engessadas, para além dos personalismos, mas na direção das descontinuidades, das rupturas, dos entrecruzamentos nos processos que o constituem. Foucault não se inscreve, portanto, em um quadro, mas o analisa no mesmo movimento em que o constitui, através 447 Thiago Fernando Sant’Anna. da sua “técnica de incursão reversível” (CANGUILHEM, 2012, p.19). Ele não lê um mundo previamente dado como um texto, mas o observa como quem observa o quadro inscrito, simultaneamente, em seu processo de pintar. Canguilhem afia o estilo de pensamento de Foucault, enfatizando, como um argumento em contra-ataque, o “sono antropológico” – termo de Michel Foucault – que definia “[…] a segurança tranqüila com a qual os promotores atuais das ciências humanas tomam como objeto dado aí antecipadamente para seus estudos progressivos o que, de início, era apenas seu projeto de constituição” (CANGUILHEM, 2012, p. 29). Em seu artigo, Canguilhem destaca a importância do conceito de episteme no livro As palavras e as coisas, em que o filósofo analisa, constitui, elabora uma “técnica laboriosa e lenta” (CANGUILHEM, 2012, p. 16), que percorre por Borges, Velásquez, passando por Cervantes, na reconstituição de uma rede de saberes que faz emergir as Ciências Humanas e o homem como sujeito e objeto deste saber, anunciando a morte do homem e o esgotamento do Cogito, em um mesmo ataque.
Referências
CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? Tradução de Fábio Ferreira de Almeida. Goiânia: Edições Ricochete, 2012. (Coleção Inominável)
ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
______. Michel Foucault (1926-1984). Lisboa: Livros do Brasil, 1990. (Coleção Vida e Cultura) MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. 3 ed. Rio de Janerio: Zahar, 2005.
VEYNE, Paul. Foucault. O pensamento, a pessoa. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.
Thiago Fernando Sant’Anna – Doutor em História pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Arte e Cultura Visual, pela Universidade Federal de Goiás. Professor do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiás/ Faculdade de Artes Visuais. Docente do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Goiás/ Campus Cidade de Goiás. E-mail: tfsantanna@yahoo.com.br.
François Duprat, l’homme qui inventa le Front National | Nicolas Lebourg e Joseph Beauregard
O livro François Duprat, L’homme qui inventa le Front National [2] é parte de um ambicioso projeto desenvolvido por dois autores franceses, o historiador Nicolas Lebourg e o cinegrafista e documentarista Joseph Beauregard. Essa parceria teve como objetivo reconstruir os passos e a história do político francês François Duprat. Em abril de 2011, os autores realizaram, em parceria com o jornal Le Monde, o Institut National de l’audiovisuel (INA) e a 1+1 Production, a produção de um documentário que tentou explicar a trajetória política de Duprat e o papel essencial que ele desempenhou nos grupos de extrema direita. Após a realização do documentário, foi concretizada a elaboração deste livro, escrito apenas por Nicolas Lebourg, que, porém, deu créditos a Beauregard também. A obra foi lançada pela editora francesa Denoel em 2012.
Nicolas Lebourg é um historiador da Universidade de Perpignan, na França. Um dos seus principais campos de pesquisa é sobre a extrema direita europeia, principalmente o partido francês Frente Nacional. Conhecido e estimado pela qualidade do seu trabalho e por outros pesquisadores na História de facções políticas. Lebourg também é conhecido por seu blog Fragments sur les Temps Présents [3] (Fragmentos do Tempo Presente) e por seus artigos em revistas e periódicos especializados. Ele também é autor do livro Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire [4] (O mundo visto da mais extrema direita: Do fascismo ao nacionalismo revolucionário).
No início do livro, a fim de legitimar a importância da pesquisa, os autores fazem uma ressalva demonstrando o porquê de se estudar à “Nova Direita’ e a influência e o papel primordial de Duprat nos movimentos, ressaltando a importância da obra. Personagem misterioso e fundamental da extrema direita francesa, ele atravessou um quarto de século da política francesa e internacional. Sua morte misteriosa antes do primeiro turno das eleições legislativas em 1978, deixou uma imagem de mártir da “causa nacional” nos grupos de extrema direita. Ele foi assassinado aos trinta e oito anos de idade, em um atentado a bomba, que explodiu seu carro em uma pequena estrada na Normandia em março de 1978. Este obscuro militante da extrema direita francesa, segundo os autores, aparece hoje esquecido pela Frente Nacional e por outros grupos radicais que ele ajudou a fundar.
A obra é importante nesse aspecto: Lebourg e Beauregard o tiram do esquecimento e do ostracismo, pois estudar o Nacionalismo Revolucionário desenvolvido por Duprat, pode nos auxiliar a compreender a formação ideológica dos partidos de extrema direita em ascensão hoje na Europa, pois além dele ter sido fundamental no desenvolvimento dessas organizações, os grupos utilizam conceitos desenvolvidos por ele. O livro, que à primeira vista parece, em seu formato, uma biografia do político, elimina essa dúvida em suas primeiras páginas, pois ultrapassa esse conceito, fazendo um importante balanço historiográfico da extrema direita na França, durante a V República (1955 – ).
François Duprat provinha de uma família de classe média do interior. Sua família tradicionalmente possuía vínculo com partidos de esquerda. Em sua adolescência ele se considerava trotskista, porém logo romperia com a esquerda e passaria a militar nos grupos conservadores. Em 1958 Duprat se filiou a um grupo nacionalista, a Jeune Nation (Jovem Nação), e posteriormente sua participação seria crucial na fundação do partido Frente Nacional. Os autores apresentam, como tese central do livro, a ideia de que François Duprat correspondeu ao principal ideólogo da FN, a partir de uma rigorosa pesquisa, baseada em centenas de entrevistas e também de numerosos cruzamentos de fontes e documentos de arquivos públicos e privados. Os autores tiveram uma árdua tarefa de reconstruir o itinerário político e pessoal de Duprat, que contém muitos detalhes e análises políticas. Encontraram todas as testemunhas chaves, como a família de Duprat, seus companheiros, seus adversários, seus inimigos. Toda a informação é verificada, cruzada. Uma obra de investigação que credita o importante papel de François Duprat. Mesmo esquecido pelos companheiros de partido, o livro demonstra como ele teve um papel fundamental no nascimento e na ascensão da Frente Nacional. A obra apresenta detalhadamente todo o contexto do surgimento da FN, a maioria dos fatos são investigados.
Entre os anos de 1958 e1978, Duprat aderiu e militou ativamente em todos os movimentos de extrema direita que se formaram durante a V República, inclusive os de ideologias neonazistas. O primeiro em que ele se alistou foi o já mencionado Jeune Nation, um grupo de extrema direita, conhecido por sua violência, fundado por Pierre Sidos, durante a guerra da Argélia. Por causa do seu enorme interesse e militância, Duprat se envolveu em diversas organizações; Europa Jovem (Jeune Europe), A Organização Luta do Povo (L’Organisation lutte du peuple), Os Grupos Nacionalistas Revolucionários de Base (Les Groupes nationalistes-révolutionnaires de base), o Movimento Nacionalista Revolucionário (Le Mouvement Nationaliste Révolutionnaire), Terceira Via (Troisième Voie), Nova Resistência e Unidade Radical (Nouvelle Résistance et Unité Radicale) e o grupo de ação politica internacional denominado de A Frente Europeia de Libertação (Le Front Européen de Libération).Em cada organização ele procurou imprimir a sua influência teórica, para se tornar o principal intelectual da extrema direita.
Além do extenso conhecimento acerca dos movimentos de extrema direita das décadas de 60 e 70, a obra não se limita a apenas esclarecer a participação de Duprat nesses movimentos. Os autores investigam detalhes sobre a vida privada do personagem, sua dedicação com a militância política, suas relações familiares e as suas amizades com políticos de outros partidos, ainda que tais pontos não constituam o enfoque principal do livro.
François Duprat foi professor de História no Ensino Médio e também aparecia como um intelectual da extrema direita, colaborando com várias revistas e cadernos políticos. Ele foi o primeiro a publicar livros negacionistas na França e a revitalizar o antissemitismo e a negação do Holocausto, combinando negacionismo e antissionismo. Entre suas obras podemos citar: “A História da SS na França”, “História dos fascismos”, “Os fascismos do mundo”, “Manifesto nacionalista revolucionário”, “A Ascensão do MSI (Movimento Socialista italiano)”, “A cruzada Antibolchevique: A Defesa do Ocidente” e entre outros. Foi ele quem conceituou a noção de “nacionalismo revolucionário”, como uma atualização do “movimento fascista”.
Intelectual e militante, Duprat era conhecido por gostar de participar de manifestações violentas; mesmo sua deficiência visual, pois possuía uma forte miopia, não o desencorajavam a fugir de conflitos com a polícia ou partidos de esquerda. Como pesquisador do nacionalismo europeu, ele viajou pelo continente para conhecer outros organismos de extrema direita e criar alianças, devido a esse interesse por grupos nacionalistas. Fascinado pelos serviços de inteligência, foi pessoalmente encarregado pela Central de Inteligência da França, onde informou seu agente sobre as vicissitudes da extrema direita. Foi também para a Nigéria e Congo, em plena descolonização, para ajudar o campo anticomunista.
No decorrer das páginas, se descobre um ecletismo ideológico da extrema direita francesa. Ambos os autores deixam nas entrelinhas a perspectiva de que Duprat evoca um personagem que fascina as pessoas, em um meio político pouco intelectualizado e organizado. Além de detalhar a mentalidade singular do personagem, os autores procuram descrever e desmistificar rumores que rondam sua história de vida, tais como as possíveis relações de Duprat com a espionagem e serviços secretos, com a imprensa, com órgãos do Estado e as fontes de financiamento das suas unidades radicais. Existiam mitos de ele ser policial infiltrado dentro dos grupos da extrema direita. De participar das agências de inteligência da KGB, da CIA e da Mossad.
No início da FN, os grupos de Duprat representavam a ala mais radical do partido. Suas células nacionalistas revolucionários influenciaram fortemente a linha de discurso do partido. O legado de Duprat para a FN compreenderia o antiamericanismo, o antissemitismo, o anticomunismo, o combate à imigração, o discurso contra o multiculturalismo e a globalização. Podemos perceber grande influência da ideologia nacionalista revolucionária no novo discurso da Frente Nacional, hoje presidida por Marine Le Pen. Podemos dizer que o bordão criado por Duprat na década de 70 caberia perfeitamente nos discursos da extrema direita hoje: “um milhão de desempregados, é um milhão de imigrantes também”.
No fim do livro, o assassinato de Duprat é metodicamente estudado, como poderíamos esperar. Um pouco como uma investigação policial, os autores descrevem com força de detalhes as circunstâncias da morte de Duprat. Eles analisam todas as hipóteses sobre seu assassinato, dando a entender, que ela pode estar relacionada a uma disputa interna da extrema direita francesa. Como até hoje não foram encontrados os responsáveis pela sua morte, o livro deixa em aberto a possibilidade de uma nova investigação, de um futuro livro. Considerado como uma personalidade explosiva, os autores fecham o livro dizendo que sua morte reflete sua vida.
Notas
2. “François Duprat o Homem que inventa a Frente Nacional”.
3. http://tempspresents.wordpress.com
Referências
LEBOURG, N. Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. PU PERPIGNAN edition, France, 2010. Resenha de: FRANCO DE ANDRADE, G. O Mundo visto da mais extrema-direita, do fascismo ao nacionalismo revolucionário. Cadernos do Tempo Presente, v.12, n.1, p.1-3, 2013.
LEBOURG, N. Le monde vu de la plus extrême droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. PU PERPIGNAN edition, France, 2010.
LEBOURG, N; BEAUREGARD, J. François Duprat, l’homme qui inventa le Front National. DENOEL edition, France. 2012.
Guilherme Ignácio Franco de Andrade1 – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História, Poder e Práticas Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste. Sob orientação do Prof. Dr. Gilberto Grassi Calil.
LEBOURG, N; BEAUREGARD, J. François Duprat, l’homme qui inventa le Front National. France: Denoel edition, 2012. ANDRADE, Guilherme Ignácio Franco de. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.13, p.290-293, ago./dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
A estranha derrota – BLOCH (P-HMP)
BLOCH, Marc. A estranha derrota. Tradução de E. Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2011. 170 p. Resenha de: MARTINEZ, Paulo Henrique. Perseu – História, Memória, Política, n.9, p.332-333, maio 2013.
A história do tempo presente vai crescendo dia após dia no interesse do público leitor, de editores de livros, da mídia e, claro, da produção de pesquisas nas universidades. A sua avaliação crítica nasce com ela e também vai se impondo como necessidade inescapável. A edição brasileira de A estranha derrota deriva dessa demanda de conhecimento do passado.
O autor do livro, o historiador francês Marc Bloch (1886-1944), foi combatente nas duas guerras mundiais e com os olhos atônitos pela derrota francesa diante da máquina de guerra nazista, em maio de 1940, procurou mobilizar a experiência pessoal nos campos de batalha e as habilidades de professor e investigador da história social e econômica europeia na explicação desse acontecimento traumático para muitas gerações: a derrota fulminante que as tropas alemãs impuseram ao exército francês.
O livro revela mais do que a história do tempo presente, hoje buscada e propagada pela historiografia. Escrito em 1940, vemos o historiador do imediato, imerso no acontecimento que pretende estudar com criteriosos métodos investigativos e a segurança de suas habilidades profissionais. Marc Bloch fez do episódio uma porta de entrada para conhecer todas as fissuras sociais da sociedade, das instituições culturais francesas e da organização do Estado. Todas elas compõem o mosaico de causas profundas cristalizadas nessa derrota militar.
Não se trata apenas de um livro de história da Segunda Guerra Mundial, em um dos seus fatos mais decisivos.
Não se trata também de uma narrativa da derrota, naquelas circunstâncias, fragmentada em suas possibilidades, mas, sim, do relato de uma experiência pessoal amarga, descrita no trecho denominado “O depoimento de um vencido”.
As ambições do autor são grandes e também modestas quando afirma, na “Apresentação do testemunho”: “ninguém poderia pretender tudo ter observado ou conhecido. Que cada um diga francamente o que tem a dizer. A verdade nascerá dessas sinceridades convergentes”.
O que esse livro nos oferece é uma análise da fragilidade e do esboroamento de uma sociedade imersa em ilusórias autoconfiança e percepção de si e do seu tempo. Eis aqui a matéria-prima do historiador, as dificuldades na compreensão do momento em que se vive e os riscos que tal incompreensão carrega em um ventre escuro. A observação atenta e a composição surgida na análise de diferentes registros, reunidos no calor dos acontecimentos, sustentam o estudo do fato militar e de seu significado cultural e político. A trajetória pessoal do autor jogou papel decisivo. O historiador meticuloso era pesquisador de variada documentação da história da vida rural europeia e da França, sobretudo nas Idades Média e Moderna. O historiador meticuloso, repito, foi apanhado no turbilhão das ocorrências que, simultaneamente, se sucedem na frente de batalha, na retaguarda – na qual ele atua com desesperada dedicação – do alto comando militar e das conveniências da política internacional que pairam sobre o continente europeu e que se projetam para além dele. O profissional habituado ao exame de diversificados registros de informação e da organização do território – elementos estratégicos na guerra – viu-se, estupefato, na contingência de cuidar do próprio destino, ao lado de seus companheiros de farda e da população civil: evadir-se, impedir a captura, aceitar a inutilidade e a ausência de qualquer resistência, buscar recomporse, rapidamente, atuar onde fosse esperado e necessário. Uma experiência melancólica para o indivíduo e para o seu país.
O relato e a análise dos dias de combate, da debandada das tropas e da capitulação ocupam a maior parte das páginas. Tudo derivado da causa direta e profunda, a incapacidade do comando militar francês, um grupo humano como qualquer outro, passível de educação, de crítica e de responsabilidades.
O autor logo nos adverte: “em nenhum grupo humano os indivíduos são tudo”. As peculiaridades individuais acentuam-se no momento em que o grupo está integrado a “uma comunidade fortemente constituída”, o exército e a nação francesa. O foco do problema desloca-se prontamente para a dimensão social e cultural da vida francesa na primeira metade do século XX. É a derrota intelectual o fato grave e não a derrota militar. Esta, diz Bloch, ocorreu diante da incapacidade dos chefes e comandantes que “não souberam pensar a guerra”. Eis a razão de o livro não conter uma “história crítica da guerra” ou Nº 9, Ano 7, 2013 334 da campanha no norte da França. É “toda uma formação intelectual que deve ser recriminada”, aquela das escolas superiores e das instituições, guardiãs de tradições retransmitidas e da autoconfiança dos franceses.
A crítica incide sobre a incompreensão que a França tinha da época em que vivia e não sobre indivíduos e instituições que lhe davam sustentação. As mudanças tecnológicas acumuladas nos últimos 50 anos, antes que estalasse o conflito na Europa, haviam mudado radicalmente o ritmo e a noção de tempo e das distâncias. Os alemães guerrearam sob o signo da velocidade e da potência de seus armamentos notáveis, como tanques, aviões, motocicletas e caminhões.
O efeito psicológico dos bombardeios aéreos, disseminando o pânico e a insegurança entre comandantes e comandados. Técnicas e psicologia, dois campos de estudo que a sensibilidade analítica e a obra do historiador Marc Bloch incorporaram com argúcia na fundamentação crítica da história rural e da história das mentalidades. Um profundo conhecedor da tecnologia rural e da vida camponesa não poderia deixar de atentar para o contraste com as conquistas técnicas da sociedade industrial. Um profundo conhecedor dos efeitos psicológicos na vida social não poderia deixar de atentar para o significado dos novos ritmos inscritos no tempo histórico, como exemplifica a observação de que as tropas alemãs “não marchavam a pé”.
Na incompreensão brotariam o despreparo, a lentidão e a inação. Estas contagiaram os comandos e as tropas da França, incapazes de efetivo planejamento e de reação. Foi uma “guerra acelerada”, de movimentos rápidos, transpondo com agilidade e facilidade as posições fixas no solo francês, como a linha Maginot, cujo componente psicológico foi a sensação de desordem e de medo que a todos dominou. Enfim, a consequência de “uma cândida ignorância da verdadeira análise social” e das dificuldades de lidar com a surpresa. O conhecimento histórico exibe aqui todo o seu potencial, o da ciência da mudança, das mudanças estruturais, sociais, psíquicas, econômicas, tecnológicas que introduzem novos fatores na vida das sociedades. E não foram as duas guerras mundiais distintas entre si, na duração e no ritmo dos conflitos? A ocupação da Polônia em poucas semanas não demonstrara isso? Os bombardeios aéreos na Espanha não foram um prenúncio do que poderia ocorrer? E qual é a razão dessa incompreensão, que subsistiu nos oito meses seguintes? Diz Bloch: o falso culto da experiência do passado, a reparação de erros e a reedição de métodos de 1914-1918 não poderiam desaguar em “boa interpretação do presente”. A derrota intelectual desencadearia as sucessivas derrotas seguintes: política, psicológica, militar, o armistício, Vichy e, por fim, a ocupação alemã.
Menos extenso é o “Exame de Consciência de um francês”, a terceira e última parte do testemunho. Nela encontramos o prolongamento do teste335 munho do soldado no exame de consciência do cidadão, esses dois pilares do Estado nacional e da organização das nações. Aos sentimentos nacionais, Bloch agrega o exercício consciente do ofício do historiador e faz despontar uma “nova ordem de problemas: aqueles do próprio pensamento” e da preparação mental da sociedade. Marc Bloch rende tributo à sua geração, a da III República francesa, e a coesão social e moral são evocadas como fator de compreensão do presente pela instrução para a ação coletiva e da nação. Foi alguma “preguiça de saber” a responsável por uma funesta complacência da França para consigo mesma, leal aos modos de vida do passado. Segundo Bloch, tratava-se, agora, de restabelecer a coerência entre pensamento e ação política, ajustando-se à nova era, a da máquina e do progresso técnico. Ele vaticina: “E para fazer o novo é preciso, antes de mais nada, instruir-se”. O foco da crítica volta-se para a educação que lançou os homens da França na estranha derrota: de um lado, o culto excessivo do patriotismo, do civismo e do militarismo e, de outro, a ausência da análise social nos programas escolares, impregnados pela política. Reformar a preparação intelectual do país, a tarefa para o pós-guerra, um desafio para as jovens gerações de franceses.
Diante do espírito do soldado alemão, nutrido nas grandes celebrações coletivas da nação, na Alemanha de Hitler, Bloch sugere a “boa preparação mental para lutar” e para compreender os antagonismos. O conhecimento histórico adquire relevância social e política, como tomada de consciência das coletividades humanas. Não pode haver bons cidadãos sem boa história. E esta não pode existir sem o compromisso e a dedicação profissional dos seus artífices: os historiadores e os professores de História.
É lamentável que a edição brasileira de A estranha derrota não tenha acompanhado as edições francesa e espanhola. Estas trazem, além do texto publicado pela primeira vez em 1946, uma reunião de “Escritos clandestinos”, fruto do período da França ocupada e o movimento de resistência, no qual Bloch militou até sua prisão, seguida do fuzilamento, pelos invasores, em 1944. Ali figura um escrito sobre a reforma do ensino, estimulante diálogo com A estranha derrota. Dos anexos, os editores reproduziram os elogios militares recebidos por Marc Bloch, entre 1915 e 1940, as epígrafes que o autor selecionara para o livro inacabado, e que não esperava póstumo, e o poema que encarnou sua angústia na guerra: “O general que perdeu seu exército”. O livro publicado por Jorge Zahar Editor traz ainda o “Testamento” espiritual que Bloch escreveu em março de 1941.
A estranha derrota amargou o ostracismo, mesmo entre historiadores.
Foi na década de 1970 que o colaboracionismo francês durante a Segunda Guerra deixou de ser tabu político e intelectual. O intervalo entre a terceira (1961) e a quarta edição (1990), de onde provém a edição brasileira, é revelaN º 9, Ano 7, 2013 336 dor do alcance dessa interdição crítica. Curiosamente, o fato remete à citação de Pascal, presente no livro: “O silêncio é a maior perseguição”. As gerações do pós-guerra tardariam em acolher o retorno de Marc Bloch.
Paulo Henrique Martinez – Professor no Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis − Universidade Estadual Paulista. Contato do autor: martinezph@uol.com.br.
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Outros olhares acerca da Revolução Francesa [1]
A Revolução Francesa foi abordada, e ainda o é, por diversos trabalhos significativos na historiografia mundial. Lynn Hunt, entretanto, em seu livro Política, cultura e classe na Revolução Francesa nos traz uma nova maneira de abordá-la. A autora se encaixa em uma corrente historiográfica denominada como Nova História Cultural. Esta perspectiva propõe uma maneira diferente de compreendermos as relações entre os significados simbólicos e o mundo social (tanto comportamentos individuais como coletivos) a partir de suas representações, práticas e linguagens. É a partir desta perspectiva, portanto, que Hunt analisa o tema: busca compreender a cultura política da Revolução, isto é, as práticas e representações simbólicas daqueles indivíduos que levaram a uma reconstituição de novas relações sociais e políticas.
A pesquisa acerca do tema iniciou-se na década de 1970 e resultou na publicação do livro em 1984. Inicialmente, a autora buscava demonstrar a validade da interpretação marxista: a Revolução fora liderada pela burguesia capitalista, representada pelos comerciantes e manufatores. Os críticos desta abordagem, entretanto, afirmavam que tais líderes foram os advogados e altos funcionários públicos. Focando-se nestes aspectos, após um levantamento de dados feito a partir da pesquisa documental, Hunt percebeu que os locais mais industrializados, com maiores influências de comerciantes e manufatureiros, não foram, necessariamente, os mais revolucionários. Outros fatores deveriam então ser levados em consideração para explicar tal tendência revolucionária, não somente o da posição social dos revolucionários. Sendo assim, Hunt procurou evitar tal abordagem marxista, que coloca a estrutura econômica como base para as estruturas políticas e culturais. Desta maneira, a partir de uma mudança de olhar, tomou como objeto de estudo a cultura política da Revolução, que segundo a autora, propõe “uma análise dos padrões sociais e suposições culturais que moldaram a política revolucionária” (HUNT, 2007, p.11). Para ela, a cultura, a política e o social devem ser investigados em conjunto, e não um subordinado ou separado do outro.
Tais questões surgidas em sua pesquisa estão dentro de um contexto da década de 1980, quando os historiadores culturais procuravam demonstrar que a sociedade só poderia ser compreendida através de suas representações e práticas culturais. Na introdução de seu livro, a autora nos apresenta três influências principais: François Furet, que entendia a Revolução Francesa como uma luta pelo controle da linguagem e dos símbolos culturais e não somente como um conflito de classes sociais; Maurice Agulhon e Mona Ozouf, que demonstraram em seus estudos que as manifestações culturais moldaram a política revolucionária. Suas fontes foram documentos oficiais, como jornais, relatórios policiais, discursos parlamentares, declarações ficais, entre outros; contudo, a sua abordagem não poderia ignorar outras fontes como relatos biográficos, calendários, imagens, panfletos e estampas, que são produtos de manifestações e linguagens culturais da época.
Partindo de três vertentes interpretativas, a autora procura justificar a proposta de sua análise. Critica as abordagens marxista, revisionista e de Tocqueville por entenderem a Revolução centrando-se em suas origens e resultados, desconsiderando as práticas e intenções dos agentes revolucionários. Para Hunt,
A cultura política revolucionária não pode ser deduzida das estruturas sociais, dos conflitos sociais ou da identidade social dos revolucionários. As práticas políticas não foram simplesmente a expressão de interesses econômicos e sociais “subjacentes”. Por meio de sua linguagem, imagens e atividades políticas diárias, os revolucionários trabalharam para reconstituir a sociedade e as relações sociais. Procuraram conscientemente romper com o passado francês e estabelecer a base para uma nova comunidade nacional. (Ibid, p.33)
Mais do que uma luta de classes, uma mudança de poder ou uma modernização do Estado, Hunt enxerga como a principal realização da Revolução Francesa a instituição de uma nova relação do pensamento social com a ação política, uma vez que tal relação era uma problemática percebida pelos revolucionários e já posta por Rousseau no Contrato Social.
A partir de tais considerações, Hunt estruturou seu texto em dois capítulos: no primeiro, A poética do poder, a autora analisa como a ação política se manifestou simbolicamente, através de imagens e gestos; no segundo, A sociologia da política, apresenta o contexto social da Revolução e as possíveis divergências presentes nas experiências revolucionárias. Em todo o texto, a autora nos traz um debate historiográfico acerca de termos, conceitos e concepções das três perspectivas anteriormente citadas.
Hunt destaca a importância da linguagem na Revolução. A linguagem política passou a carregar significado emocional, uma vez que os revolucionários precisavam encontrar algo que substituísse o carisma simbólico do rei. A linguagem tornou-se, portanto, um instrumento de mudança política e social. Através da retórica, os revolucionários expressavam seus interesses e ideologias em nome do povo: “a linguagem do ritual e a linguagem ritualizada tinham a função de integrar a nação” (Ibid, p.46). Contudo, este instrumento deveria inovar nas palavras e atribuir diferentes significados a elas, já que se buscava romper com o passado de dominação aristocrática. Não é a toa que a denominação Ancien Régime foi inventada nesta época.
Nesta tentativa de se quebrar com um governo anterior dito tradicional foi que as imagens do radicalismo jacobino ficaram mais evidentes, afirma Hunt. O ato de representar-se através de uma ritualística foi questionado, descentralizando assim a figura do monarca e a base em que ele estava firmemente assentado: a ordem hierárquica católica. A imagem do rei sumiu do selo oficial do Estado; nele agora estava presente uma figura feminina que representava a Liberdade. Os símbolos da monarquia foram destruídos: o cetro, a coroa. Por fim, em 1793, os revolucionários eliminaram o maior símbolo da monarquia: Luís XVI foi guilhotinado.
Há outro aspecto da linguagem evidenciado pela autora: a comunicação entre os cidadãos. Influenciados por Rousseau, os revolucionários acreditavam que uma sociedade ideal era aquela na qual o indivíduo deixaria de lado os seus interesses particulares pelo geral. Entretanto, para que isto fosse possível, era necessário uma “transparência” entre os cidadãos, isto é uma livre comunicação, na qual todos pudessem deliberar publicamente sobre a política. A partir deste pensamento e da necessidade de se romper com as simbologias, rituais e linguagens do Ancien Régime, os revolucionários precisavam educar e, de certa maneira, colocar o povo em um molde republicano. Houve, portanto, uma “politização do dia-a-dia” (Ibid, p.81), no qual as práticas políticas dos revolucionários deveriam ser didáticas, com a finalidade de educar o povo. O âmbito político expandiu-se, portanto, para o cotidiano e, segundo a autora, multiplicaram-se as estratégias e formas de se exercer o poder. E o exercício deste poder demandava práticas e rituais simbólicos: a maneira de se vestir, cerimônias, festivais, debates, o uso de alegorias e, principalmente, uma reformulação dos hábitos cotidianos.
No livro Origens Culturais da Revolução Francesa, Roger Chartier busca compreender algumas práticas que contribuíram para a emergência da Revolução Francesa. Apesar do que sugere o título, o autor não está preocupado em estabelecer uma história linear e teleológica do século XVIII partindo de uma origem específica e fechada; mas em entender as dinâmicas de sociabilidade, de comunicação, de processos educacionais e de práticas de leitura que contribuíram para um universo mental, político e cultural dos franceses naquele período. Dentre os vários capítulos de sua obra, trago aqui algumas ideias principais do capítulo Será que livros fazem revoluções? para complementar a perspectiva de Hunt, visto que os dois autores bebem de uma mesma perspectiva.
Assim como Hunt, Chartier também desenvolve em sua introdução um debate historiográfico com os escritos de Tocqueville, Taine e Mornet. No capítulo especifico citado anteriormente, Chartier afirma que estes três autores entenderam a França pré-revolucionária como um processo de internalização das propostas dos textos filosóficos que estavam sendo impressos no momento: “carregadas pela palavra impressa, as novas ideias conquistavam as mentes das pessoas, moldando sua forma de ser e propiciando questionamentos. Se os franceses do final do século XVIII moldaram a revolução foi porque haviam sido, por sua vez, moldados pelos livros” (CHARTIER, 2009, p.115). Contudo, Chartier vai além: propõe que o que moldou o pensamento dos franceses não foi o conteúdo de tais livros filosóficos, mas novas práticas de leituras, um novo modo de ler que desenvolveu uma atitude crítica em relação às representações de ordem política e religiosa estabelecidas no momento. Como foi demonstrado por Hunt, novos significados e conceitos foram reapropriados pela linguagem e retórica revolucionária. Neste sentido, Chartier propõe uma reflexão: talvez tenha sido a Revolução que “fez” os livros, uma vez que ela deu determinado significado a algumas obras.
“Assim, a prática da Revolução somente poderia consistir em libertar a vontade do povo dos grilhões da opressão passada” (HUNT, 2007, p.98). Todavia, seríamos ingênuos de pensar que estes revolucionários almejavam uma igualdade social e política sem hierarquias, na qual todos estivessem em contato pleno com o poder. Focault afirma que o poder não está centralizado, ele constitui-se a partir de uma rede de forças que se relacionam entre si: o poder perpassa por tudo e por todos. Contudo, admite que há assimetrias no exercício e nas apropriações do poder (FOUCAULT, 2006). E neste contexto revolucionário não poderia ser diferente: os republicanos, através de seus discursos, buscaram disciplinar o povo de acordo com seus interesses.
Devemos relembrar que o próprio conceito de política foi ampliado. Neste sentido, Hunt afirma que as eleições estiveram entre as principais práticas simbólicas: “ofereciam participação imediata na nova nação por meio do cumprimento de um dever cívico” (Ibid, p.155). Como consequência disto, expandiu-se a noção do que significava a divisão política e a partir de então diversas denominações surgiram: democratas, republicanos, patriotas, exclusivos, jacobinos, monarquistas, entre vários outros. Mais significante ainda foi a divisão da Assembleia Nacional em “direita” e “esquerda”; termos que perduram até hoje.
Durante este processo surgiu uma nova classe política revolucionária, conforme a autora. Contudo, não devemos pensar esta classe como completamente homogênea: ela é composta por interesses e intenções individuais, mas define-se por oportunidades comuns e papéis compartilhados em um contexto social. “Nessa concepção, os revolucionários foram modernizadores que transmitiram os valores racionalistas e cosmopolitas de uma sociedade cada vez mais influenciada pela urbanização, alfabetização e diferenciação de funções” (Ibid, p.237).
O conteúdo simbólico foi se modificando e se moldando conforme as aspirações revolucionárias durante a década que sucedeu a Revolução. Mas a autora questiona-se como tais transformações foram percebidas e recebidas nas diferentes regiões da França e de que maneira os diversos grupos lidaram com elas. Seria equivocado pensarmos que a cultura política revolucionária foi homogênea em todos os lugares, até porque tal política estava sendo construída no momento. Sendo assim, Hunt também procura contextualizar socialmente a Revolução. Ela nos propõe uma análise da sua geografia política, considerando que “a identidade social fornece importantes indicadores sobre o processo de inventar e estabelecer novas práticas políticas” (Ibid, p.153). Neste sentido, o contexto social da ação política se deu conforme as condições sociais e econômicas; laços, experiências e valores culturais de cada local.
“A Revolução foi, em um sentido muito especial fundamentalmente ‘política’” (Ibid, p.246). O estudo de Hunt nos mostra como as novas formas simbólicas da prática política transformaram as noções contemporâneas sobre o tema. Talvez este tenha sido o principal legado da Revolução Francesa e talvez ela ainda nos fascine porque gestou muitas características fundamentais da política moderna. Ela conclui, portanto, que houve uma revolução na cultura política. Mais do que enxergarmos as origens e resultados da Revolução, é fundamental compreendermos como ela foi pensada pelos revolucionários e de que maneira estes sujeitos históricos se modificaram a si próprios e a própria Revolução.
Nota
1. Resenha produzida para a disciplina de História Moderna II, ministrada pela professora Dra. Silvia Liebel, do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Referências
CHARTIER, Roger. Origens Culturais da Revolução Francesa. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
FOUCAULT, Michel. Estratégia, Poder-Saber. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Carolina Corbellini Rovaris – Graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). E-mail: carolina.hst@hotmail.com
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Resenha de: ROVARIS, Carolina Corbellini. Outros olhares acerca da Revolução Francesa. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.12, p.284-288, jan. / jul., 2013. Acessar publicação original [DR]
O que é um autor? Revisão de uma genealogia – CHARTIER (RBH)
CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. São Carlos (SP): Ed. UFScar, 2012. 90p. Resenha de: MORAES, Kleiton de Sousa. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Retornar aos clássicos é sempre um risco, ainda mais quando se pretende fazer uma revisão crítica do clássico. Lançar-se a essa árdua tarefa é colocar-se diante de um desafio que pode resultar, não raras vezes, frustrante. Assumindo esse risco o historiador francês Roger Chartier, professor da cátedra Écrit et cultures dans l’Europe Moderne no Collège de France desde 2007, retorna à clássica conferência do filósofo Michel Foucault, pronunciada em fevereiro de 1969 sob o título “O que é um autor?”. Na esteira dela, Roger Chartier propõe-se em O que é um autor? Revisão de uma genealogia a revisitar as reflexões do filósofo na sua análise do funcionamento do que ele chamara de ‘função autor’ no mundo da escrita ocidental.
Fruto de uma conferência realizada na Sorbonne no ano 2000, e apresentada para a mesma Société Française de Philosophie que promoveu a conferência homônima de Foucault, O que é um autor? é o desdobramento de um diálogo profícuo do historiador com o filósofo esboçado já há alguns anos. Historiador especialista na cultura escrita, Chartier, em A Ordem dos livros (publicado em 1994), já havia visitado a famosa conferência de Foucault para analisar as representações dadas à figura do autor e fazer uma primeira correção nas reflexões do filósofo francês. Já naquela ocasião, Chartier buscava dialogar com Foucault, fundamentalmente no que tange à periodicidade do aparecimento do autor em textos ‘científicos’ e ‘literários’, tema que retomará neste novo livro.
Aqui, Chartier reitera a originalidade do filósofo ao chamar atenção para a pertinência de seu questionamento sobre o funcionamento do mecanismo segundo o qual um texto ou uma obra são identificados a um nome próprio. Reafirmando a tese central da conferência de Foucault, Chartier desenvolve uma análise histórica das distintas maneiras pelas quais foi acionada a ‘função autor’ no tempo. Para tanto, inicia com uma revisão da cronologia esboçada pelo filósofo francês a fim de corrigir algumas imprecisões em suas assertivas, renovando, assim, sua força interpretativa.
Nesse empreendimento, Chartier evoca outro frequente interlocutor em seus livros, o escritor argentino Jorge Luís Borges. No conto Borges e eu, que faz parte do volume O Fazedor, Borges conta, mediante um humor profundo, da não identidade entre o indivíduo que escreve e o autor, embora reitere a complementaridade fenomenológica inescapável entre ambos: “Seria exagerado afirmar que nossas relações são hostis. Eu vivo e deixo-me viver, para que Borges possa urdir sua literatura, e essa literatura justifica-me” (p.32-33).
A citação do conto borgiano não é gratuita. Trata-se de afirmar, com Foucault, que o funcionamento da ‘função autor’ não se inscreve no momento de uma prática de escrita, mas se insere dentro de uma ordem do discurso específica que a engloba. É essa adesão à tese foucaultiana o ponto de partida do qual Chartier empreende sua revisão crítica, evocando daí a vaga cronologia em três tempos esboçada por Michel Foucault na famosa conferência.
A primeira seria a do nascimento da concepção burguesa da propriedade literária, que Foucault localiza entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Embora reafirme a importância desse momento como fundamental na construção de uma ‘função autor’, Chartier chama atenção para o fato de que a propriedade literária do autor nasce na Inglaterra não tanto no interesse do autor, mas do livreiro-editor londrino que, na iminência de perder seus direitos sobre determinada obra – direito exclusivo de reprodução adquirido pelos velhos estatutos e revogado por nova lei –, em inícios do século XVII e não no final, cria, ou faz criar, a propriedade do autor sobre seu texto. Chartier afirma que essa conquista do autor encobriria o verdadeiro objetivo que seria dar ao autor o direito de, ao repassar sua propriedade para determinado livreiro-editor, também transmitir os mesmos direitos de perpetuidade e imprescritibilidade da obra.
Avançando na reflexão, o historiador observa que a justificativa para a criação do copyright ainda nesse período fundou-se tanto no direito natural – segundo o qual o homem é proprietário de seu corpo e dos produtos do seu trabalho – quanto numa justificativa estética, fundada na originalidade daquele que produz, gerando, nessa esteira, a figura do indivíduo criador único e original. Isso significa, nos alerta Chartier, não só uma reivindicação econômica do direito do autor, mas a existência de uma antiga reivindicação que se baseava numa propriedade moral, segundo a qual o controle de uma obra poderia ser pedido em nome da honra de um autor.
A outra cronologia, aquela em que o historiador segue mais de perto Foucault, relaciona-se à distinção do processo de anonimato que caracterizaria os textos literários e científicos entre os séculos XVII e XVIII. Pensa Chartier que talvez a aporia existente nas reflexões de Foucault seria resultado de três problemas: o primeiro, uma inércia linguística, criada pela impossibilidade de definir-se prudentemente uma divisão entre ciência e literatura em períodos específicos; o segundo se referia à necessidade de se pensar a evocação de autoridades (Hipócrates, Plínio etc.), procedimentos comum antes dos séculos XVII ou XVIII, e essa relação com os autores de determinada época; e o terceiro, a ausência da ‘função autor’ em textos literários anteriores ao século XVII ou XVIII e a mesma ausência para enunciados científicos após essa mesma data, hipótese que Chartier rejeita.
Embora concorde em parte com Foucault, quando este salienta a necessidade da referência a um autor bem antes do século XVII para textos identificados como ‘científicos’, Roger Chartier não concorda quando nessa distinção acusa o anonimato em textos literários. Para Foucault, entre os séculos XVII ou XVIII, há uma mudança entre o aparecimento da figura do autor em textos literários e, inversamente, o seu desaparecimento em textos científicos. Para o historiador, mesmo depois do século XVII, uma descoberta ou um enunciado científico só tinham validação pela evocação de um nome próprio, não necessariamente o erudito, técnico ou profissional. Chartier identifica esse procedimento como um método de validação aristocrático, em que vale mais, para aceitação de um enunciado, aquele que tem o poder de dizer uma verdade – um poderoso, um príncipe ou um ministro. Em contrapartida, o desinteresse de um autor, representado pela não relação de propriedade por seus enunciados, é fundamental para que o erudito seja reconhecido como o autor ou autoridade nesse regime. Tal procedimento, ao contrário do que pensava Foucault, encontrava-se presente até mesmo nos textos literários posteriores a esse momento de ruptura que teria sido o século XVII, no qual, em prólogos, prefácios ou dedicatórias, o desinteresse do autor é evocado como fator de credibilidade para textos. Por fim, Chartier afirma, diferentemente do que Foucault pensava, que alguns textos com valor de verdade circulavam em anonimato desde a Idade Média, sem necessidade da referência a uma autoridade – os livros de segredos e os manuais técnicos, por exemplo.
Se o século XVIII revela a construção do autor-proprietário, a figura do autor é bem anterior a ela. A última cronologia esboçada por Foucault remete à ligação do autor a uma função ligada à identificação de um indivíduo com determinado texto para fins punitivos, notadamente os de censura. Chartier concorda com essa proposição citando fontes inquisitoriais do século XVII, onde o anonimato de um texto impresso já era motivo de sua censura, sendo os títulos de obras vinculadas a um nome próprio uma fórmula essencial de melhor vigilância para as autoridades.
Essa investigação levou alguns historiadores a concluir que a ‘função autor’ nasce com o livro impresso, a partir do aparecimento do nome de um indivíduo no impresso, com os processos acionados por escritores que tiveram seus textos publicados sem seu consentimento desde inícios do século XVI e com o aparecimento de um retrato do indivíduo autor. Mas Chartier julga errônea essa precipitação. Em primeiro lugar, seguindo a mudança lexical que se dá com os termos auctor e actor quando ainda o regime de circulação de textos era fundamentalmente manuscrito, no século XIV e no começo do século XV, com o primeiro designando uma autoridade e o segundo um compilador. Chartier aponta a conquista progressiva da autoridade dos auctores pelos actores e, já no final do século XIV e em inícios do XV, a existência da designação acteur valendo tanto para autoridades quanto para certos textos publicados em língua vulgar, nascendo daí a figura do escritor, não apenas como aquele que copia, mas aquele que compõe e inventa.
Essa forte presença da representação – palavra-chave em Chartier – do autor como criador em contraste com o decifrador, glosador ou compilador, impõe uma reflexão em torno da historicidade da identificação do nome à obra e à própria materialidade do objeto. Para Chartier, se desde a alta Idade Média a forma mais conhecida do livro era aquela da miscelânea, ou seja, de diferentes textos reunidos num objeto-livro, o que parece existir é uma suposta ‘função leitor’ – aquele que desejou que fossem reunidos textos distintos em um só objeto – e uma ‘função copista’ – o que copiou o texto num único livro. Mas, se a miscelânea é a característica desse tipo de livro, já no século XIV, quando a circulação de textos ainda se fazia em livros manuscritos, é possível identificar a ‘função autor’ a um indivíduo, ligando-o a uma obra ou livro. Aí reside para Roger Chartier a incontornável recomendação de que à genealogia da ‘função autor’ imersa na ordem do discurso deve-se acrescentar, concomitantemente, uma ordem dos livros. A consequência disso residiria na maneira de tratamento dada à investigação dos impressos, que não poderia prescindir também da investigação dos suportes que veiculam os textos como forma de identificar os seus sentidos.
Ao corrigir algumas imprecisões expostas na famosa conferência de Michel Foucault, Roger Chartier em O que é um autor? enfatiza a força interpretativa do filósofo francês incorporando alguns questionamentos advindos das pesquisas recentes sobre impressos, notadamente oriundos da História Cultural. Essa démarche não o conduz à negação da questão proposta por Foucault. O retorno visa reforçar o quanto sua reflexão crítica continua expressa em questionamentos atuais sobre o funcionamento de um determinado mecanismo de autoridade sobre os textos. Essa reflexão não finda na investigação da ordem do discurso, mas incorpora, de maneira fundamental, a dimensão da materialidade desse mesmo discurso. E isso porque, respondendo às questões ao final do livro, Chartier afirma que um leitor nunca encontra um texto a não ser por meio de uma forma específica, sendo a ordem do discurso sempre uma ordem de materialidade.
Por fim, cabe reiterar que tal visita a Michel Foucault como parte de um movimento que busca dialogar com um clássico se funda num espaço de tensão em que o interlocutor se apropria das ideias de outrem contribuindo de forma a torná-las vivas. Chartier não parece em seu O que é um autor querer cair nas armadilhas que pudessem confrontá-lo com o filósofo. Ele vai ao encontro do risco inevitável de, ao se apropriar das ideias de Foucault, tornar-se também ele um autor dessas ideias, aprofundado-as de forma crítica. Mas os sentidos que os leitores vão dar a essa apropriação respeitosa podem não ser tão compatíveis com os desejos do historiador. Esta última proposição Chartier assume como parte incontornável de uma prática de leitura que é também, sabe ele, espaço de imprevisíveis criações.
Kleiton de Sousa Moraes – Doutorando em História Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), IFCS – Programa de Pós-Graduação em História Social. Largo de São Francisco, 1, sala 205, Centro. 20051-070 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: kleiton_angra@yahoo.com.br
[IF]
Cinéma et turbulences politiques en Amérique Latine | Jimena P. Obregón Iturra e F. Adela Pinheda
El libro Cine y turbulencias políticas en América Latina1 es el producto de un Coloquio internacional realizado en la ciudad de Rennes, titulado “Imaginarios cinematográficos y turbulencias en las Américas: Revoluciones, revueltas, crisis”2, en febrero del 2011. Dicho Coloquio se llevó a cabo en sinergia con el Festival de cine Travelling, en el marco del año de México en Francia3. Fruto de este encuentro entre investigadores tanto latinoamericanos como franceses, surge una obra que aborda las relaciones entre cine y política en una visión a largo plazo, tomando diferentes países y periodos históricos.
En esta obra colectiva dialogan las miradas de distintos investigadores y se interroga sobre las producciones audiovisuales en América Latina, específicamente sobre cómo circulan los imaginarios cinematográficos y cómo éstos se relacionan con la realidad política de un continente. El concepto de “imaginario cinematográfico” es clave y central en el libro, en tanto herramienta conceptual a través de la cual se busca ahondar en las representaciones socioculturales y políticas que abundan en el espectro audiovisual de los distintos países considerados: México, Cuba, Colombia, Brasil y Chile por el lado Latinoamericano, pero también Estados Unidos/Hollywood en cuanto industria globalizante e Italia por el lado europeo. Leia Mais
A estranha derrota – BLOCH (RTA)
BLOCH, Marc Leopold Benjamim. A estranha derrota. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. Resenha de: OLIVEIRA, Marlíbia Raquel. Vencidos pelo mofo: Marc Bloch e a França derrotada. Revista Tempo Amazônico, Macapá, v.1, n.1, p.98-100, jan./jun., 2013.
Um dos acontecimentos mais extraordinários durante a Segunda Guerra (1939-1945) foi a derrota da França frente ao exército de Hitler em 1940. Sem duvida, a rápida capitulação daquele país foi por muito tempo alvo de críticas e espantos e, ainda hoje, é vista por muitos franceses como algo insuportável, vergonhoso.
Por que a França, detentora de um respeitado corpo militar, que havia saído vitorioso da Primeira Grande Guerra (1914-1918) sofreu tão duro e humilhante golpe? Quem nos responde a este e a outros questionamentos é Marc Bloch em sua obra A Estranha Derrota. Contemporâneo ao fato, o autor reunia as características e motivos necessários para redigir a história que se desenrolava diante dos seus olhos. Bloch escreveu baseando-se na sua experiência como historiador, militar e, acima de tudo, como um “bom e autêntico cidadão francês”.
Como historiador profissional era consciente de seu ofício e, portanto, da importância de registrar tal fato histórico. Neste sentido, preocupou-se severamente em não impregnar sua análise por um subjetivismo nacionalista. Como militar, mostrou-se comprometido com os deveres para com a sua pátria. Seu discurso era sustentado pela realidade vivida nas duas guerras, pois ele havia atuado no conflito desencadeado em 1914 e a partir de 1939 voluntariou-se para servir nas tropas francesas mesmo possuindo argumentos suficientes que poderiam livrá-lo das obrigações para com o exército nacional. Sendo um cidadão francês, fato do qual muito se orgulhava, Bloch demonstrou a tristeza de um povo vencido que, absurdamente, parecia conformado com a ocupação do seu território e submissão ao regime nazista.
A Estranha Derrota trata-se de um testemunho escrito entre julho e setembro de 1940 por Bloch em uma casa de campo depois da rendição francesa à Alemanha. Os manuscritos que dariam origem ao livro ficaram cuidadosamente escondidos até o final da guerra. A obra foi publicada pela primeira vez em 1946, mas só veio a alcançar sucesso editorial na década de 1990. Nela, o autor fez uma pertinente análise sobre os motivos que fizeram os franceses perderem a guerra. Ele, que junto com Lucien Febvre, fundou a Revista Annales, ousou historiograficamente ao escrever quase em tempo real uma história dos seus próprios dias cujo final ainda era desconhecido. Marc Bloch nasceu em 1886 e morreu fuzilado pela Gestapo em 1944. Nessa época ele estava vinculado ao movimento clandestino que visava libertar a França.
A versão brasileira publicada em 2009 está dividida em três partes somadas a quatro outros documentos relevantes. A primeira parte traz a “Apresentação do Testemunho”, onde o autor justifica o seu relato sobre a derrota. Na segunda, apreciamos “O depoimento de um vencido” em que é descrito o difícil dia-a-dia na guerra e, por último, temos o “Exame de consciência de um francês” onde são apontas as falhas conjuntas cometidos pela população da França. É interessante resaltar que em nenhum momento Bloch eximiu os vários setores da sociedade francesa da responsabilidade que culminou na derrota do seu país. Segundo ele, o povo francês de modo geral, ou seja, civis e militares, possuíam sua parcela de culpa na tragédia e ele, humildemente assume que também não era uma exceção diante de tal regra.
Bloch apresenta ao leitor uma serie de fatores que levaram ao colapso da França. Entre eles podemos destacar, o excesso de burocracia exigido pelo exército francês, a precariedade dos serviços de inteligência e informação que prejudicavam significativamente o contato entre as várias divisões militares bem como a tomada de decisões a tempo suficiente de serem executadas e, a apatia da população francesa frente a guerra. O país não estava preparado nem de forma bélica tão pouco psicologicamente. Os franceses não desejavam a guerra e diante dela faltou heroísmo, compromisso com a nação que de forma pouco honrosa assistiu a rápida desistência no campo de batalha e a traição de muitos dos seus filhos. Os franceses pareciam terem sido atacados de surpresa quando na verdade não foram.
Outro fator apontado como contribuinte para a derrota foi a falta de “camaradagem” entre o exército francês e inglês. Sobre isto, o autor de certa maneira defende os ingleses, afinal, como eles poderiam confiar na França tendo ela um exército tal mal organizado?
Essa realidade seria para Bloch, aquela que mais afetou negativamente a França durante toda a guerra. A desorganização do exército, percebida desde os mais altos comandos e que se estendeu até entre os soldados mais rasos, o indignava.
Em seu texto, ele enfatizou as falhas nas ações tomadas pelo alto comando. Este era formado por militares com idade avançada, veteranos da Primeira Guerra Mundial advindos da Escola de Guerra francesa, ainda arraigados às antigas doutrinas militares das primeiras décadas do século XX. No dito grupo, em menor número, podíamos encontrar jovens comandantes que por terem sido formados na mesma academia militar, infelizmente também carregavam consigo um pensamento estratégico-militar atrasado, “cheio de mofo”.
O exército francês demorou a entender que as armas e medidas adotadas em 1914 já não seriam suficientes para garantir uma vitória em 1940, afinal, lutavam contra as inovações tecnológicas já adotadas pelo exército do Terceiro Reich. Os tempos eram outros, as noções de tempo, espaço e as armas de guerra haviam mudado. Enquanto a França fazia uma guerra “velha” os alemães utilizavam a mais recente tecnologia bélica desenvolvida. Sendo assim, fica claro para nós que faltou inovação por parte dos franceses.
A estranha derrota, escrita em primeira pessoa por um dos maiores historiadores franceses, possui uma narrativa por vezes comovente de alguém que participou de forma ativa da guerra. O fato de Marc Bloch estar refugiado sem poder ter acesso a fontes documentais não desmerece a grande relevância dessa obra. Tampouco um certo sentimentalismo em sua análise não fez com que ele deixasse de lado o trabalho crítico do historiador.
Bloch deixou registrado o seu desejo e esperança de ver a França libertada. Infelizmente ele não sobreviveu para assistir a esse acontecimento, mas lutou até a morte acreditando nisso. Sem dúvida, trata-se de um incrível testemunho desse francês que nas entrelinhas do seu tempo deixou evidente uma personalidade forte e admirável caráter.
Referências
BLOCH, Marc Leopold Benjamim. A estranha derrota. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
Marlíbia Raquel de Oliveira – Graduanda em História pela UFS. Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET/História/UFS. Integrante do Grupo de Estudo do Tempo Presente – GET/CNPq/UFS. Email: marlibia@getempo.org. Colabora no Projeto “Memórias da Segunda Guerra em Sergipe” coordenado pelo Prof.Dr. Dilton Maynard (PROHIS/PPGHC).
[IF]
Nova história em perspectiva. Propostas e desdobramentos (v. 1) | Fernando A. Novais e Rogério Forastieri Silva
Pensar os caminhos e desdobramentos da Nova História, suas implicações teóricas em meio aos discursos dos historiadores e situá-la no contexto geral da historiografia são algumas das propostas que norteiam este denso e instigante trabalho.
Organizado por Fernando Novais e Rogério Forastieri da Silva, professores de brilhante trajetória em universidades como a Universidade de São Paulo, Instituto de Economia da Unicamp e participação internacional em universidades como Louvain, Coimbra e Lisboa, este vem a ser o primeiro volume de uma coletânea de dois volumes: o primeiro intitulado “Propostas e desdobramento” e o segundo “Debates”. Leia Mais
A Distinção: crítica social do julgamento | Pierre Bourdieu
Publicado originalmente na França em 1979, sob o título La Distinction. Critique sociale du jugement, o último livro de Pierre Bourdieu traduzido para o português no Brasil apresenta uma teoria sociológica do gosto. Em uma perspectiva mais ampla, pode-se dizer que a obra oferece um arcabouço teórico acerca das categorias de percepção e de classificação do mundo social.
Dividida em três partes, além das tradicionais introdução e conclusão, A Distinção expõe, em quatro anexos, localizados no final do livro, reflexões sobre o método e relação comentada de fontes e de dados estatísticos com base nos quais o sociólogo constrói sua argumentação. E, para executar sua proposta, Bourdieu lança mão não apenas de sua tradicional escrita repleta de jogos de palavras, mas também da problematização de gráficos (construídos a partir da metodologia estatística da análise de correspondência), tabelas, ilustrações e trechos de entrevistas. Tais recursos, mais que adornar o texto, evidenciam a complexidade da leitura proposta pelo autor para o tema.
Na primeira parte, denominada “Crítica social do julgamento do gosto”, constituída de um único capítulo, Bourdieu explica que a competência cultural apreendida através da natureza dos bens consumidos e da maneira de consumi-los varia conforme as categorias de percepção dos agentes e segundo os domínios aos quais tais categorias se aplicam, desde os mais legítimos (pintura ou música) até os mais livres (vestuário ou cardápio). Nesse sentido, para buscar a significação sociológica das diferentes preferências, é necessário atentar para a relação que une as práticas culturais ao capital social e ao capital escolar. Nesses termos, o autor começa a deslindar a ideia lançada na introdução e que perpassa toda a obra: “O ‘olho’ é um produto da história reproduzido pela educação” (p.10). Utilizando-se de questionários aplicados a indivíduos de classes diversas e sobre assuntos igualmente variados no início dos anos 1960, Bourdieu analisa – através de indicadores como nível de instrução ou origem social – as preferências musicais e as relativas à pintura e à compra de móveis, demonstrando a existência de gostos mutáveis consoante as diferentes condições de aquisição de capital (econômico e cultural). Dentre tais predileções, o autor destaca o “gosto puro” – aptidão incorporada para perceber e decifrar as características propriamente estilísticas – e o “gosto bárbaro” – relacionado àqueles desprovidos de capital cultural e que, por falta de familiaridade, acabam aplicando ao objeto os esquemas que estruturam a percepção comum da experiência comum.
Na segunda parte, composta por três capítulos e intitulada “A economia das práticas”, o autor dá continuidade à reflexão, afirmando que o gosto relacionado a consumos estéticos está indissociável do relativo aos consumos habituais. Desta ideia deriva a de que o consumo tanto pressupõe um trabalho de apropriação, quanto contribui para produzir (por identificação e decifração) os produtos que se consome (mesmo os industriais). Os significados dos objetos não impõem a evidência de um sentido universal. Eles variam segundo os esquemas de percepção, apreciação e ação produzidos em condições objetivamente observáveis das classes, as quais não são definidas apenas pela posição que ocupam nas relações de produção, mas também pelo conjunto de agentes que, situados em condições de existência análogas, produzem sistemas de disposições homogêneos, os quais originam práticas semelhantes. Significa que é pelo habitus, princípio gerador de práticas objetivamente observáveis ao mesmo tempo em que sistema de classificação de tais práticas, que se constitui o espaço dos estilos de vida. Em seu interior, a distância da necessidade – possível de ser determinada pela renda – engendra o princípio das diferenças, isto é, a oposição entre os “gostos de luxo” – definidos pelas facilidades proporcionadas pela posse de capital econômico – e os “gostos de necessidade”. A alimentação, a cultura e as despesas com apresentação de si são as três estruturas de consumo através das quais a classe dominante pode se distinguir, principalmente pelas maneiras de se comportar. O interesse que as diferentes classes atribuem à apresentação de si – seja na alimentação, seja no esporte – é proporcional às oportunidades de lucros (materiais ou simbólicos) que podem esperar como retorno. No final desta segunda parte, o autor afirma que a relação entre oferta e demanda não é direta, fruto de simples imposição da produção sobre o consumo, mas uma homologia entre um campo e outro, e suas respectivas lógicas. No interior do campo da produção, responsável pelo universo de bens culturais oferecidos, estão os produtores em luta para satisfazerem os interesses/necessidades dos consumidores e, assim, obterem lucro, seguramente alheios às funções sociais que desempenham para este público. Já no campo de consumo, estão os consumidores manifestando interesses culturais diferentes, os quais se devem a sua condição e a sua posição de classe. Eles se apropriam do produto cultural de uma forma exclusiva porque orientados por disposições e competências que não são distribuídas universalmente. As diferentes formas de apropriação dos bens configuram-se verdadeiras lutas simbólicas, travadas entre aqueles que Bourdieu chama de “pretendentes” e “detentores”, pela apropriação dos sinais distintivos ou pela conservação ou subversão dos princípios de classificação das propriedades distintivas. Os “pretendentes” (exagerados, inseguros e obcecados pelo entesouramento), encarnados na figura do pequeno-burguês, tentam se apropriar dos sinais distintivos nem que seja sob a forma do símile para se distanciar dos desprovidos de distinção (as classes populares). Através do “parecer” eles pretendem “ser”. Já os “detentores”, os burgueses, são seguros de seu ser e só quando seus hábitos de consumo são ameaçados de vulgarização procuram afirmar sua raridade em novas propriedades.
Quatro capítulos integram a terceira e última parte, nomeada “Gostos de classe e estilos de vida”. Segundo o autor, no interior das classes – principalmente da burguesia e da pequena burguesia – existem variações de gosto que correspondem às frações de classe, caracterizadas, por um lado, pela distribuição das diferentes espécies de capital e, por outro, pela trajetória social. Primeiramente, ele trata da classe dominante e do que chama de “sentido de distinção”, no seio da qual há constante luta pela imposição do princípio dominante de dominação, que é inseparável do conflito de valores que comprometem toda a visão de mundo. A apropriação (material ou simbólica) confere aos bens de luxo, além de legitimidade, uma raridade que os transforma no símbolo por excelência da excelência, colocando em jogo não apenas a “personalidade”, mas a “qualidade” daquele que se apropria do produto. Em seguida, o sociólogo examina a pequena burguesia, caracterizada por ele pela “boa vontade cultural”, quer dizer, pela capacidade de tomar o símile como algo autêntico. A diferença entre conhecimento e reconhecimento assume formas diferentes dependendo do grau de familiaridade com a cultura legítima, conforme a origem social e seu modo correlato de aquisição da cultura. Daí decorrem três posições tipicamente pequeno-burguesas: a pequena burguesia em declínio (associada a um passado ultrapassado, manifesta-se contra todos os sinais de ruptura), a pequena burguesia em execução (que exibe em grau mais elevado os traços de “pretendentes”) e a nova pequena-burguesia (geralmente indivíduos oriundos da burguesia que operaram um conversão para novas profissões, mas mantendo um capital social de relações importante). Na sequência, Bourdieu trata das classes populares e seu “gosto do necessário”, disposição adaptada à privação dos bens imprescindíveis e que traz consigo um modo de resignação, um princípio de conformidade que incentiva escolhas compatíveis com as imposições das condições objetivas e adverte contra a ambição de se distinguir pela identificação com outros grupos. A submissão à necessidade acaba produzindo uma “estética” pragmática e funcionalista, recusando a futilidade das formalidades e de toda espécie de arte pela arte.
No último capítulo, Bourdieu problematiza a relação entre cultura e política, questionando a noção de “opinião pública”. Responder a um questionário, votar ou ler um jornal, para ele, são casos em que acontece um encontro entre uma oferta – uma questão, uma situação etc. definida pelo campo de produção ideológica – e uma demanda – dos agentes sociais que ocupam posições diferentes no campo de relações de classe e caracterizados por uma competência política específica (uma capacidade proporcional às oportunidades de exercer tal capacidade). A probabilidade de dar uma resposta política a uma pergunta constituída politicamente depende não apenas do volume e da estrutura dos capitais econômico e cultural, mas também da trajetória do grupo e do indivíduo considerado. Assim como o julgamento do gosto, o julgamento político não está indissociado da arte de viver.
Para os neófitos em textos bourdianos, arriscaria um conselho: iniciar a leitura de A Distinção pela conclusão, intitulada “Classes e Classificações”. Nela, o autor retoma e explica minuciosamente as principais categorias teóricas apresentadas ao longo do livro – como gosto, habitus, lutas simbólicas, classe etc. – e o modo como elas se interrelacionam, constituindo uma rede de conceitos que ajudam a tornar inteligíveis os processos de percepção e de classificação do mundo social.
A maior contribuição no livro é mostrar que as diferenciações sociais são definidas relacionalmente, e não essencialmente, contrariando a aparente inflexibilidade da máxima “gosto não se discute”. O autor apóia- se em estudos realizados em áreas diversas – ora acatando, ora questionando Emmanuel Kant, Karl Marx, Max Weber, Ernest Gombricht, entre outros – e aprofunda a reflexão sobre categorias teóricas importantes. Muitos de seus conceitos foram formulados nos anos 1960 e 1970, mas adquiriram popularidade no meio acadêmico brasileiro a partir dos anos 1990 através da organização, no formato de livros, de artigos publicados inicialmente em periódicos franceses. Nesse sentido, A Distinção preenche uma sentida lacuna para aqueles interessados em acompanhar a trajetória intelectual de Bourdieu e em entender sua lógica.
As formulações teórico-metodológicas apresentadas em A Distinção marcam um momento em que, por caminhos diversos, teóricos sociais – como Antony Giddens, Alain Touraine, Marshal Sallins e o próprio Bourdieu – buscavam alternativas ao estruturalismo. Através da perspectiva relacional e operando com um vocabulário conceitual peculiar, o sociólogo francês oferece uma via para explicar o mundo social situando os agentes no interior de estruturas historicizadas, fortalecendo, assim, o diálogo com os historiadores.
Marisângela Terezinha Antunes Martins – Mestre em História pela UFRGS, doutoranda em História pelo PPGHIST-UFRGS. E-mail: marisangelamartins@gmail.com.
BOURDIEU, Pierre. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2008. Resenha de: MARTINS, Marisângela Terezinha Antunes. Os Gostos e a Dinâmica da Distinção Social. Aedos. Porto Alegre, v.4, n.10, p.182-185, jan. / jul., 2012. Acessar publicação original [DR]
Présent, nation, mémoire – NORA (RBH)
NORA, Pierre. Présent, nation, mémoire. Paris: Gallimard, 2011. 432p. Resenha de: BOEIRA, Luciana Fernandes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.63, 2012.
No dia 6 de outubro de 2011 o historiador e editor francês Pierre Nora lançou, simultaneamente, dois livros: Historien public e Présent, nation, mémoire, ambos publicados pela prestigiada Gallimard, editora por ele dirigida desde 1965. As duas obras reúnem artigos escritos por Nora ao longo de sua extensa carreira. Nas mais de quinhentas páginas do primeiro livro, o autor apresenta inúmeros manifestos, intervenções públicas e tomadas de posição por ele sustentados nos seus mais de cinquenta anos de vida pública. Entre vários assuntos, Nora expõe considerações sobre o fazer editorial e tece observações sobre a história contemporânea e a nação francesa. Fala, ainda, sobre a Guerra da Argélia e a respeito da importante revista Le Débat, fundada por ele e por Marcel Gauchet em 1980 e que alcança, até hoje, grande êxito no mundo intelectual.
Présent, nation, mémoire integra a Coleção Bibliothèque des Histoires e reúne mais de trinta artigos do historiador, todos girando em torno das mutações entre história e memória. Essa volumosa gama de artigos é resultado das reflexões que precederam, acompanharam e sucederam a publicação de Les lieux de mémoire, a monumental obra coletiva em sete volumes escrita entre 1984 e 1992 e que constituiu o empreendimento editorial mais importante que Nora dirigiu em sua carreira, na qual soma-se, também, Faire de l’Histoire (organizado em parceria com Jacques Le Goff, em 1974), outro estrondoso sucesso da Coleção Bibliothèque des Histoires, composto por três volumes e no qual inúmeros historiadores franceses apresentavam suas reflexões sobre a nova história da década de 1970.
Tudo em Présent, nation, mémoire se relaciona com Les lieux de mémoire e, portanto, é inseparável da obra. Assim, o que dá uma unidade aos seus 32 artigos, alocados em três partes distintas – Presente, Nação e Memória (que são, também, os três eixos centrais através dos quais os artigos se relacionam e, como afirma Nora, constituem os três polos da consciência histórica contemporânea) –, é a pretensão de representarem uma introdução aos lieux de mémoire. Embora os assuntos de cada um dos artigos sejam bastante diversos (Nora explora desde a questão do patrimônio até referências a Michelet e Lavisse como modelos de história nacional, passando por temas como o fim do gaullo-comunismo na França, a aparição do best-seller no mercado editorial ou o trauma causado pela lembrança de Vichy), os três eixos sob os quais se dividem acabam por orientar a leitura do material. Um material que o próprio autor admite estar apresentado de maneira inabitual, tanto pelo assunto que o título da obra anuncia, quanto pelo conteúdo, que foge aos cânones eruditos da disciplina histórica. Porém, como ele mesmo sublinha, sua intenção, ao propor a coletânea, não foi a de fazer uma reflexão teórica sobre a história, e sim expor uma reflexão que brotou de sua prática enquanto historiador.
E é justamente essa prática historiadora e os eventos que a compuseram que Nora mostra, fazendo uma retrospectiva dos momentos mais importantes vividos pela disciplina histórica durante o século XX, particularmente a partir do advento dos Annales e que culminariam, nos anos 1970 e 1980, com a eclosão do que ele chama de uma ‘onda de memória’ que varreu não só a França, mas o mundo ocidental como um todo e do qual o momento presentista e dominado pela patrimonialização seria herdeiro.
Pensar o advento dessa onda memorialística generalizada e, com ele, o movimento de aceleração da história, que condenou o presente à memória, é a intenção maior do livro. Mesmo propósito, diz Nora, que ele e mais de cem historiadores tiveram quando lançaram Les lieux de mémoire, tentando entender quais foram os principais lugares, sejam eles materiais ou abstratos, em que a memória da França se encarnou.
Em fins da década de 1970 e no início dos anos 1980, os ‘lugares de memória’ de Nora constatavam o desaparecimento rápido da memória nacional francesa, e, naquele momento, inventariar os lugares em que ela efetivamente havia se encarnado e que ainda restavam como brilhantes símbolos (festas, emblemas, monumentos, comemorações, elogios fúnebres, dicionários e museus) era uma forma de destrinchar, de dissecar a memória nacional, a nação e suas relações. Em 2011, Présent, nation, mémoire, a reunião de artigos escritos ao longo de toda uma vida, apresenta uma dupla função: servir de base para Les lieux de mémoire, mas, independentemente disso, mostrar ao público como Nora constituiu seu próprio percurso enquanto pesquisador e, concomitantemente, como foi construindo um novo campo de estudos. Um campo, diz ele, delimitado por estas três palavras: presente, nação e memória. Termos que, para Nora, condicionam a forma da consciência histórica contemporânea e palavras que lhe permitiram, além disso, reagrupar os artigos que compõem o volume segundo uma lógica que ele chama ‘retrospectiva’ e que, para ele, teria um ‘sentido pedagógico’ eficaz em sua intenção de demonstrar como ele formou esse campo de estudos que envolve a memória e a história no tempo presente.
No livro, Nora não atualiza os artigos. No máximo, muda sutilmente alguns dos títulos. Também não apresenta-os de maneira cronológica, mas de acordo com o assunto que está tratando em cada parte, de forma que podemos ter um texto escrito em 1968 após outro escrito em 1973, ou um assunto trabalhado em 2007 colocado imediatamente após outro artigo, relacionado àquele, mas escrito em 1993. Esse recurso é bastante interessante, pois possibilita ao leitor perceber uma coerência no percurso do autor no que toca aos temas levantados e há quanto tempo estes fazem parte de seu universo de preocupações.
Nesse olhar retrospectivo acerca de sua própria obra enquanto escritor, Nora admite que cada um dos textos que formam a coletânea poderia ter sido objeto de um desenvolvimento maior e quem sabe, até mesmo gerado livros específicos, o que de fato não aconteceu. Isso porque, embora o volume de artigos que Nora publicou até hoje seja bastante grande, sua dedicação, como historiador, à escrita de obras próprias, é muito pequena. Antes da publicação desses dois volumes que reúnem alguns de seus muitos textos dispersos, Nora havia participado apenas de empreendimentos coletivos e publicado um único livro: Les Français d’Algérie, em 1961.
Seu interesse em dar a conhecer esses tão variados textos no volume que denominou Présent, nation, mémoire residiria, segundo Nora, tão somente em reconstituir um percurso intelectual e mostrar como ele formou, durante sua trajetória, um canteiro de obras composto por vários estratos historiográficos que esquadrinhou enquanto historiador.
Porém, pelo teor dos artigos que costuram o volume, o que se percebe é que Pierre Nora faz questão de pontuar o significado que sua própria obra teve na renovação dos estudos históricos na França. Somente para citar um exemplo, no artigo “Une autre histoire de France”, originalmente publicado no Diccionnaire des sciences historiques, de André Burguière (1986), sob o título de “Histoire national”, Nora destaca que o momento em questão era aquele da renovação historiográfica da história nacional, no qual os historiadores estavam interessados em dissecar a herança do passado. Para ele, Les lieux de mémoire se inseriam perfeitamente nessa perspectiva: apreendendo as tradições nas suas expressões mais significativas e mais simbólicas, os ‘lugares de memória’ souberam fazer uma história crítica da história-memória e produziram uma vasta topologia do simbólico francês. Aqui, uma forma até certo ponto sutil de Nora reverenciar seu empreendimento como uma contribuição singular para a renovação historiográfica contemporânea. No artigo seguinte, “Les lieux de mémoire, mode d’emploi”, um prefácio escrito pelo autor para a edição norte-americana da obra, publicada entre 1996 e 1998, Nora é muito mais enfático ao situar seu trabalho e, também, muito mais direto em reafirmar a importância que Les lieux de mémoire tiveram na ‘era da descontinuidade historiográfica’ da nova historiografia francesa.
E se Nora é mestre em pontuar a importância de sua obra, ele também sabe defendê-la. O texto por ele escolhido para fechar o volume, “L’histoire au second degré”, publicado em sua revista Le Débat em 2002, é uma resposta do autor às críticas que Paul Ricoeur fez aos “insólitos lieux de mémoire“, em A memória, a história, o esquecimento, publicado naquele mesmo ano. No artigo, Nora, mais uma vez, denuncia a atual invasão do campo da história pela memória ao ponto de estarmos mergulhados em um mundo do ‘tudo patrimônio’ e da história como comemoração. Diz ele partilhar das mesmas análises de Ricoeur sobre a comemoração e de suas irritações a respeito do ‘dever de memória’, mas com uma única diferença: para ele, não há a possibilidade de se escapar dessa situação, como acreditava o filósofo. Segundo Nora, a melhor forma de lidar com a tirania da memória seria apreendê-la e percebê-la em seu interior, como propõem, ao fim e ao cabo, seus lieux de mémoire.
Luciana Fernandes Boeira
[IF]
Oeuvres complètes tome I – Écrits philosophiques et politiques 1926-1939 – CANGUILHEM (Ph)
CANGUILHEM, Georges. Oeuvres complètes tome I – Écrits philosophiques et politiques 1926-1939. Paris: Vrin, 2011. Resenha de: ALMEIDA, Fábio Ferreira de. Philósophos, Goiânia, v.17, n. 1, p.237-248 jan./jun., 2012.
Com o subtítulo “Escritos filosóficos e políticos – 1926- 1939”, acaba de ser publicado, sob a direção de dois reconhecidos especialistas (Jean-François Braunstein e Yves Schwartz), o primeiro volume das obras completas de Georges Canguilhem. Estamos, de fato, diante de escritos filosóficos e políticos, como anuncia o título deste volume, mas também estamos diante, seguindo uma classificação costumeira que encontra bem seu emprego aqui, dos escritos de juventude de Canguilhem, cuja obra, a parte Le normal et le pathologique (1966) e, talvez, La connaissance de la vie (1965) e os Etudes d’histoire et philosophie des sciences (1968), ainda é bem pouco conhecida1. Os textos deste período, aos quais agora passamos a ter acesso, nos mostram um Canguilhem anterior ao Canguilhem cujas ideias, a pesar da discrição, não cessam de repercutir e de se renovar entre pensadores e estudiosos mundo a fora; um Canguilhem de antes do Canguilhem (Canguilhem avant Canguilhem), como diz o feliz título do artigo em que Jean-François Braunstein afirma com razão: “Está claro que não se trata aqui de trabalhos de epistemologia, nem mesmo de história das ciências em sentido corrente, mas alguns dos primeiros combates de Georges Canguilhem orientarão a visada epistemológica das obras ulteriores” (BRAUNSTEIN 2000, 11).
A obra é composta basicamente de artigos filosóficos, resenhas, conferências e alguns textos polêmicos publicados em diferentes jornais e revistas, mas, principalmente, no Libre propos, o jornal de Alain, cujo pacifismo antimilitarista, determinado fundamentalmente pelas atrocidades da Primeira Guerra Mundial, marcou profundamente o pensamento de Canguilhem, sobretudo, em sua primeira juventude; e na revista Europe, da qual foi um dos fundadores.
Além destes textos mais curtos, vale mencionar três trabalhos particularmente significativos, até então quase, se não totalmente desconhecidos: a brochura Le fascisme et les paysans, o Traité de logique et de morale e a tradução da tese da tese latina de Émile Boutroux, Des vérités éternélles chez Descartes. Como destaca J.-Fr. Braunstein no artigo citado há pouco, antes da edição de sua tese de medicina, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, em 1943, Canguilhem já havia, portanto, publicado muito, até mesmo um livro, e este primeiro volume de suas Obras Completas permite, com efeito, “retificar a imagem corrente que faz de Canguilhem um puro historiador das ciências ou um simples continuador da obra de Gaston Bachelard” (BRAUNSTEIN 2000, 10).
Escritos filosóficos e políticos: o período que completa o título deste primeiro volume, “1926-1939”, não é trivial; não é um mero recorte didático. O texto que abre o livro é uma resposta do então jovem estudante da Escola Normal Superior, à questão proposta pela seção “La chronique internationale” da Revue de Genève, mesma questão à qual já haviam respondido Raymond Aron e Daniel Lagache, sobre “o que pensa a juventude universitária francesa”. Neste artigo já se podem identificar certos traços da personalidade de Canguilhem, sempre lembrada por seus comentadores, como o estilo provocador, incisivo e de uma petulância “rústica” e mordaz, o que, diríamos nós, o filósofo fez questão de cultivar como demonstração de sua forte ligação com suas origens campesinas. O modo como assina este artigo costuma ser mencionado sempre como exemplo disso: “Georges Canguilhem, languedociano, aluno da Escola Normal Superior onde se prepara para o concurso de agregação de filosofia.
No tempo que sobra, no labor do campo” (p. 152).2Este traço, que também evidencia a influência de Alain, se refletirá mais tarde na brochura de 1935, Le fascisme et les paysans, publicada clandestinamente pelo CVIA (Comité de vigilance des intellectuels antifascistes), na qual analisa a questão agrária na França frente ao desenvolvimento dos regimes fascistas que, na Itália e na Alemanha, buscavam valerse da crise agrária que, devido a suas especificidades, na década de 1930 atingiu particularmente os produtores rurais franceses, forjando uma ideologia de retomada de valores – diríamos nós: campestres – usurpados pelo rápido desenvolvimento das técnicas de agricultura e pelos grandes produtores, a fim de atrair essa força importante e, a esta altura, bastante organizada. Percebe-se, então, que neste momento, 1935, Canguilhem já enxergava os traços particulares do fascismo que é o que determinará sua ruptura com as posições pacifistas. Mas foi sob a influência de Silvio Trentin que Canguilhem pode perceber o quanto o cenário político internacional repudiava que se continuasse professando “A paz sem reservas” (este é o título do artigo que Canguilhem publica em 1932 tomando posição na polêmica entre Félicien Challaye e Théodor Ruyssen a propósito da questão do “pacifismo integral”), pois estava em curso um fenômeno que não tinha paralelo, nem com os acontecimentos da Primeira Guerra, nem com nenhum outro acontecimento anterior. A seguinte passagem deste artigo permite perceber, ao mesmo tempo, o teor do pacifismo que Canguilhem ainda professava em 1932, e a necessidade de uma ruptura total com ele, ruptura esta determinada pelos acontecimentos, ou melhor, pelos fatos:
Ora, a guerra, que cada vez mais se tornou um extermínio radical de tudo o que é jovem e generoso e, por isso, capaz de criação, – se for verdade que a criação é a mesma coisa que o porvir –, suprime aquilo pelo que a vida do homem ganha uma significação. […] Para que seja dado algum valor à vida e à justiça, é preciso que primeiro a vida seja. E para que eu possa mudar esse mundo, eu quero primeiramente – o que não quer dizer nem unicamente nem principalmente – viver nele. Sem dúvida, a morte é sempre possível. E a morte, pois que vem aniquilar o esforço do dever, é o mal absoluto. Mas esta morte que nos chega sempre do fundo de um acidente que vai de par com o de nossa existência, este próprio acidente abranda para nós o gosto amargo que ela tem. O que é horrível, não é a morte pelas coisas e pelo mecanismo, é a morte dada por um homem. O que é horrível, não é a morte, é a matança. Ora, a guerra é o assassinato e a morte preparados, paramentados, honrados. É a consciência tornada instrumento de sua negação, o aniquilamento de consciências por suas decisões recíprocas. Eis por que, como Challaye, eu digo: a guerra é o mal absoluto, sendo a morte tomada pela vontade como a saída a ser buscada e não como acidente possível. (p. 404)
O mal absoluto e a morte degradante, o esfarrapamento de toda humanidade pelo absurdo de uma vontade doentia, enfim, a aniquilação de toda possibilidade de criação da novidade, como se vê, na verdade, ainda estava por vir. E é a Trentin, em Toulouse, que Canguilhem deve a tomada de consciência que o levou romper com o pacifismo, poupando- o de seguir a deriva de outros que, fiéis à distinção defendida por Alain entre política interna e política externa, acreditavam, por exemplo, poder negociar com a Alemanha hitlerista.
Durante este período, e face a estes acontecimentos [afirma Canguilhem numa entrevista de 1991], muitas atitudes e convicções políticas que convinha chamar ‘de esquerda’ deram ensejo a confusões, a amálgamas, a mal-entendidos cuja interpretação e apreciação ainda alimentam querelas ideológicas. Viram-se socialistas tomarem distância em relação ao antifascismo. Viram-se pacifistas compreensivos com o hitlerismo. Viram-se intelectuais marxistas aprovarem o pacto germano-soviético. No entanto, aqueles que tiveram a sorte – e eu acrescentaria: a honra – de ouvir Trentin em suas analises, de seguilo em suas iniciativas, por vezes de acompanha-lo em suas investidas, devem agradecê-lo por terem podido, graças a ele, evitar as armadilhas de que comumente são vítimas os de boa vontade sem experiência política crítica.3
A partir de daí, é a volta ao concreto, à experiência concreta, o que se dá pela resistência e pela medicina. Neste sentido é que devemos reconhecer que, apesar da dificuldade em determinar quando ocorre efetivamente esta transição, o ano de 1939, com o Traité de logique et de morale, escrito em parceria com Camille Planet, marca, com ressalta Xavier Roth em sua Introdução ao texto, o fim do período de juventude, pois representa um ponto de inflexão no itinerário filosófico de Canguilhem “que testemunha menos uma doutrina definitivamente estabilizada, que uma filosofia do julgamento se orientando paulatinamente para um encontro decisivo – o encontro com a vida – que fornecerá a esta filosofia em devir, a um só tempo, uma base e uma ocasião de deslocamento” (p. 615). Neste sentido é que, ao final do Tratado, temos a constatação de que “para construir relações internacionais outras que as que existiram até o momento, é necessário primeiro determinar as condições do conflito. A ideia de Paz de nada serve a esta determinação”.
E logo em seguida:
Em resumo, dada a aspiração humana a uma sociedade verdadeiramente pacífica, dado o fato das soberanias nacionais e dos imperialismos concorrentes, recusando antecipadamente toda limitação do direito às suas pretensões e a sua autonomia, como subordinar o fato à aspiração? Haveremos de convir que os meios ficam por serem definidos e que, nestas circunstâncias, os fatos pesam mais que a aspiração. O realismo condicional é, neste caso, mais urgente que nunca (p. 921).
Este realismo condicional é o que determina a escolha, que é um aspecto decisivo desta “filosofia axiológica” para a qual, como afirmam os autores do Tratado de lógica de moral, o Valor prima em relação ao Ser (Cf. p. 793).
O período de juventude, portanto, entre os anos de 1926 e 1939, é um período marcado pela reflexão filosófica e política e, ao mesmo tempo, é um período de formação que resultará nos trabalhos mais conhecidos do filósofo, sobretudo, naturalmente, a tese Ensaio sobre alguns problemas concernentes ao normal e ao patológico, republicada mais tarde com o título reduzido, O normal e o patológico, acrescido de “novas reflexões” sobre o tema. Neste período está manifesto o grande interesse de Canguilhem, por exemplo, pela filosofia de Kant e, sobretudo, Descartes (além da tradução da tese de E. Boutroux, são deste período os dois importantes artigos “Descartes et la technique” e “Activité technique et création”). Como afirma Braunstein, alguns combates deste período de juventude continuarão, de fato, a orientar o pensamento maduro de Canguilhem, e não apenas as posições filosóficas defendidas no Tratado de 1939.
Neste sentido, destacaria a resenha do livro de Alain, Onze chapitres sur Platon, intitulada “O sorriso de Platão”, que, em 1929, Canguilhem publica na revista Europe. Este artigo, como outros reunidos neste volume, mereceria um estudo completo. Para o que nos interessa destacar aqui, no entanto, bastará a seguinte passagem:
Platão, tendo feito da metafísica o tecido das coisas positivas, levou, sem dúvida e de um só golpe, a irreligião ao seu estágio máximo, recusando- se desatar o drama humano através de um Deus que surgisse da transcendência como se de um céu de teatro. O deus ex machina da comédia antiga é um símbolo tão profundo quanto se queira e sem qualquer erro, pois falar de transcendência é falar do espírito em termos de carne e num lugar. Mas em Platão, e talvez apenas nele, nenhuma comédia. Compreendemos nós este sorriso e que não estamos, de modo algum, diante do espetáculo de nossa vida? A metafísica nas coisas positivas, eis novamente Platão”. (p. 236)
Para Platão, assim como para Canguilhem, o idealismo é um racionalismo; idealismo altamente irreligioso, na medida em que, nele, os dramas humanos se desatam numa busca do espiritual nas coisas, no mundo da vida, se for possível dar um sentido não fenomenológico a este termo.
Para Canguilhem, assim como para Platão e para Spinoza, o racionalismo deve ser, portanto, engajado; contra o deus ex maquina que acorre quando o drama da existência é transformado em espetáculo, o Deus sive natura insere e a metafísica nas coisas positivas e obriga o pensamento a “falar de espírito em termos de carne e de lugar”. Esse racionalismo, que será mais elaborado mais tarde através dos estudos de filosofia das ciências e que se recrudescerá pela influência cada vez mais marcante de Gaston Bachelard, enfim, este idealismo em sentido altamente platônico, caminha lado a lado com aquele “realismo condicional” de que nos fala o Tratado de 1939. E não é precisamente isso que se reflete na conhecida passagem da Introdução a Le normal et le pathologique, quando Canguilhem afirma que “a filosofia é uma reflexão para a qual toda matéria estranha serve e, diríamos até, é uma reflexão para a qual só serve a matéria que for estranha”? Na continuação deste parágrafo inicial da obra, a coerência entre a resistência na qual ingressou e os estudos de medicina que abraçou na mesma época fica ainda mais evidente: “Não é necessariamente para melhor conhecer as doenças mentais que um professor de filosofia pode se interessar pela medicina. Tampouco é para necessariamente se dedicar a uma disciplina científica. O que esperávamos precisamente da medicina é uma introdução a problemas humanos concretos” (CANGUILHEM 2009, 7).
É este idealismo platônico, que nos permitiremos identificar em Canguilhem como um racionalismo engajado, que configura aquele realismo condicional e seu enorme interesse pelos problemas humanos concretos. Esta conjunção, como se vê, profundamente filosófica, se realizará, enfim, nos maquis de Auvergne e pela medicina, a cujos estudos se consagra a partir de 1940, quando solicita afastamento de seu cargo de professor de liceu em Toulouse, cargo que, afirma ele, demorou muito a conseguir e que o único que realmente almejou em sua vida4, “a fim de não ter de ensinar o que parecia se preparar, isto é, a moral do marechal Pétain” (BING; BRAUNSTEIN 1998, 122). A respeito deste duplo engajamento, Elizabeth Roudinesco tem uma observação precisa no artigo Georges Canguilhem, de la médecine à la résistence: destin du concept de normalité, referindo- se à tese de 1943:
Nada deixava supor, à leitura deste texto magistral, que Canguilhem e Lafont [codinome de resistente] pudessem ser uma única e mesma pessoa. A clivagem entre as brilhantes hipóteses do filósofo e o contexto exterior, totalmente ausente de seu raciocínio, era tamanha que temos dificuldade em acreditar, ainda hoje, que uma tese dessa natureza tenha sido defendida em plena guerra, num momento em que, com a derrocada das potências do Eixo na África e o desembarque aliado na Itália, já se esboçava a derrota do fascismo na Europa.
E, entretanto, a reflexão empreendida pelo filósofo não era estranha às atividades do maquisard. […] No maquis, ele se encarregou essencialmente de atividades humanitárias, exercendo a medicina sob risco de morte. E este foi o único momento de sua vida em que praticou a medicina. Em outras palavras, foi médico apenas na guerra e pela guerra: um médico de urgência e do trauma. (BING; BRAUNSTEIN 1998, 25-26)
Estas circunstâncias da volta para o concreto, nos ajuda ainda a entender a reabilitação de uma referência filosófica importante para o Canguilhem da maturidade: Henri Bergson.
Depois de uma elogiosa resenha, publicada em 1929, do panfleto antibergsoniano de Georges Politzer, La fin d’une parade philosophique: le bergsonisme, no qual se leem afirmações rudes, como a seguinte: “À parte a mentira, somente a mediocridade poder erigir o bergsonismo em grade filosofia” (POLITZER 1967, 149), Canguilhem afirma a Fr.Bing e J.Fr. Braunstein, quando perguntado sobre o papel de Bergson em sua filosofia: “Eu o li melhor depois de meus estudos de medicina”. E logo em seguida: “Quando éramos alainistas, finalmente (risos), tínhamos poucos relacionamentos, éramos muito exigentes. Isso ficou pra trás, e o que me fez deixar isso para trás foi precisamente a ocupação, a resistência e o que se seguiu… a medicina” (BING; BRAUNSTEIN 1998, 129).5 Como se vê, de fato, o ano de 1939, com a ocupação, a resistência e os estudos de medicina, marca, ainda que de maneira imprecisa, o fim destes anos de formação. A partir daí, é uma obra, nos dizeres de Michel Foucault, “austera, voluntária e cuidadosamente limitada a um domínio particular de uma história das ciências que, em todo caso, não se coaduna com uma disciplina de grande espetáculo” (FOUCAULT 2008, 1582).
O que nos prometem os próximos cinco volumes das obras completas de Georges Canguilhem é precisamente a reunião dos trabalhos em que o rigor desta obra reflete, antes de tudo, a ação do pensamento. Maduro o pensamento, ele não se deixará levar pelas modas, nem seduzir por uma filosofia da ação, nem por uma filosofia do engajamento. A volta para o concreto oferece isso que aqueles que Canguilhem gostava de chamar “terroristas literários”, não puderam perceber, pois, quando uma tarefa essencial se apresenta ao espírito, é muito confortável separar da palavra e da escrita a mão e o gesto. Se Canguilhem sempre foi, ao longo da vida, discreto a respeito de sua atividade como resistente, seus escritos sobre o amigo e companheiro de maquis, Jean Cavaillès não cessarão de lembrar aos incautos que “a luta contra o inaceitável [é] inelutável” (CANGUILHEM 2004, 34). Neste sentido, a ação não é uma escolha, mas uma necessidade lógica, pois, como afirma em sua conclusão a conferência intitulada Vie et mort de Jean Cavaillès, “antes de ser irmã do sonho, ação deve ser filha do rigor” (Idem, 30) – o que, bem entendido, não vai sem poesia. Canguilhem nos ensina, seguindo Cavaillès, mas também Bachelard (não por acaso, é Canguilhem quem organiza a publicação, em 1972, da coletânea de artigos de Bachelard à qual intitula L’engagement rationaliste), que, se há ainda um problema filosófico importante em nossos dias, este problema é o do engajamento! * Por fim, é preciso assinalar o aspecto didático dado a este primeiro volume. Cada seção é precedida por uma longa e erudita Introdução e os textos são rica e cuidadosamente anotados. Abrem o volume um prefácio, quase que exclusivamente autobiográfico, de Jacques Bouveresse e uma Apresentação geral que destaca os aspectos centrais deste período, intitulada “Jeunesse d’un philosophe”, por Yves Schwartz. Nos anexos, nos são dados o texto de Félicien Challaye, ao qual Canguilhem reagiu com o artigo “La paix sans reserve? Oui”, bem como as respostas de Théodor Ruyssen, e ainda o artigo “Réflexions sur le pacifisme intégral”, publicado em 1933 no Libres propos, no qual Raymond Aron se manifesta a respeito deste debate.
Assim, este primeiro volume, sem dúvida, deixa-nos na expectativa dos próximo cinco que completarão a edição definitiva das Obras Completas de Georges Canguilhem (que inclui uma “Bibliografia crítica”, a cargo de Camille Limoges, como VI volume). Através delas se poderá finalmente perceber a dimensão da obra deste filósofo que, conhecido mais pelas referências feitas por aqueles a quem ele influenciou que pelos seus próprios trabalhos, tem a atualidade perene de todo grande pensamento.
Notas
1 No Brasil, data do final dos anos 1970 a tradução de O normal e o patológico, que é, com efeito, sua obra mais significativa. Publicou-se, tempos mais tarde, o pequeno Escritos sobre a medicina (2005) e, recentemente, os Estudos de história e filosofia das ciências e O conhecimento da vida, ambos em 2012.
2 Vale a pena aqui remeter o leitor à bela fotografia que abre a seção de “Artigos, discursos e conferências (1926-1938)”, primeira do livro, na qual Canguilhem aparece precisamente neste labor, empurrando o arado puxado por duas reses.
3 CANGUILHEM, G. citado por Jean-François Braunstein na Introdução à Obras completas intitulada “À la découverte d’un ‘Canguilhem perdu’”, p.112.
4 Canguilhem o reconhece na entrevista a François Bing e a Jean-François Braunstein, em 1991, publicada em Actualité de Georges Canguilhem, p.121.
5 Já em Le normal et le pathologique podemos ler, por exemplo: “Pelo menos potencialmente, as normas são relativas umas às outras num sistema. Sua correlatividade num sistema social tende a fazer desse sistema uma organização, isto é, uma unidade em si, senão por si e para si. Pelo menos um filósofo percebeu e trouxe à luz o caráter orgânico das normas morais na medida em que elas são, em primeiro lugar, normas sociais. Foi Bergson, analisando em Les deux sources de la morale et de la réligion, o que chama de ‘o todo da obrigação’.” (CANGUILHEN 2009, 185)
Referências
BRAUNSTEIN, Jean-François. Canguilhem avant Canguilhem. In: Revue d’histoire des sciences, 2000, tome 53, n°1, pp. 9-26.
BRAUNSTEIN, J.-Fr.; BING, Fr.; et alii. Actualité de Georges Canguilhem. Le Plessis-Robinson: Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1998.
CANGUILHEM, Georges. Le normal et le pathologique. Paris: PUF, 2009.
CANGUILHEM, Georges. Vie et mort de Jean Cavaillès. Paris: Allia, 2004.
FOUCAULT, Michel. La vie: l’expérience et la science. In:___. Dits et écrits II, Paris: Gallimard, 2008, pp. 1582-1595 (texte361).
POLITZER, Georges. La fin d’une parade philosophique: le bergsonisme. S.l.: J. J. Pauvert Éditeurs, 1967.
Fábio Ferreira de Almeida – Professor adjunto da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil.
Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos | Cyril Lionel Robert James
I. Sobre o Sr. Cyril Lionel Robert James [2]
O historiador, romancista e jornalista Cyril Lionel Robert James nasceu em janeiro de 1901 na ilha de Trinidad. Teve uma infância e juventude privilegiada, marcada por uma excelente formação escolar e pela prática esportiva do cricket. Com apenas 19 anos deu início a sua carreira docente, lecionando literatura, na Royal Queen’s College.
Em 1932, aos 31 anos, muda-se para a Grã-Bretanha, devido a sua paixão e conhecimento sobre cricket tornasse repórter esportivo do Manchester Guardian. Na terra da rainha, filia-se ao Partido Trabalhista Independente, (Independent Labour Party) e, em 1938, aderiu a IV Internacional Comunista, entrando em contato, mais intensamente, com as ideias de Leon Trotsky.
É notória a influência que as teses marxistas, em especial as interpretações trotskista, exercerão em suas obras “A Revolução Mundial 1917-1937”, publicada em 1937, e os “Jacobinos negros” de 1938. Vale destacar, que nesse período, a Europa passava por grande instabilidade política, devido à ascensão do nazi- -fascismo e pelo totalitarismo stalinista na URSS.
Por conta da Segunda Guerra Mundial, James refugia-se nos Estados Unidos, onde deu prosseguimento a suas atividades acadêmicas e políticas. Membro fundador do Partido Socialista dos Trabalhadores (Socialist Workers Party ou SWP) publicou em 1948 o manifesto “Uma resposta revolucionária ao problema do negro nos Estados Unidos”.
Devido a sua militância, em 1953, James foi expulso dos Estados Unidos. Ele decidiu voltar à Inglaterra, onde permaneceu até 1958, quando, então, retorna a Trinidad. Em sua terra natal, envolve-se na luta pela libertação anti-colonialista britânica. Ainda na década de 1950 publica a obra “Navegantes, Renegados e Náufragos: Herman Melville e o mundo em que vivemos” em 1953.
A década de 1960 foi bem movimentada para o nosso autor, no campo político James se envolve nos movimentos de independência na África e em Trinidad, é entusiasta dos ideais do Pan-Africanismo e da integração das ilhas caribenhas em uma – Federação das Índias Ocidentais.
No tocante a carreira acadêmica e produção intelectual publica em 1960, “Política Moderna”, em 1962, “Partidos Políticos Livres nas Índias Ocidentais” e, em 1963, “Além da Fronteira”. Em 1968, vem o convite para lecionar na prestigiada Universidade de Columbia nos Estados Unidos.
Durante a década de 1970, James retorna para a Inglaterra e ainda encontra fôlego para publicar “Nkruma e a Revolução de Gana” em 1977. Na década de 1980 retorna para Trinidad aonde veio a falecer em 1989, deixando como legado, uma produção acadêmica respeitada e de referência para estudos nas ciências humanas, bem com, um exemplo de vida marcado pela entrega a militância e a seus ideais.
II. Sobre a obra: Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos
Em 1938 James, residindo em Londres, publica “Os jacobinos negros” (The black jacobins), a obra trás questões referentes à revolução negra de São Domingos e a sua relação com a sua principal liderança: Toussaint L’Ouverture. No Brasil o texto terá sua primeira tradução apenas em 2000, feita por Afonso Teixeira Filho, com uma edição revisada em 2007 pela Editora Boitempo. Em suas 400 páginas a estrutura física do livro está dividida em 13 capítulos acompanhados de um apêndice intitulado “De Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro”.
Para maior compreensão do livro, temos que levar em conta o contexto em que foi escrito: descrédito do liberalismo, auge do nazi-fascismo e predominância das teorias eugênicas. Tal cenário acabou motivando o autor a escrever um texto, que denunciava o estado de opressão em que vivam os africanos e seus descendentes, seja na África ou em outras partes do globo, tornando a posteriori leitura obrigatória para estudos sobre a diáspora Africana.
Embora o ano de publicação date de 1938 James já havia escrito sobre o assunto antes, em 1932. O trabalho de levantamento bibliográfico e de fontes foi grandioso, sendo necessário até “importar da França livros que trataram seriamente desses eventos tão célebres na história daquele país.” [3]. A pesquisa também contou com correspondências e relatórios oficiais, compêndios de história do comercio colonial, narrativas de viajantes, dados estatísticos e biografias.
Ainda no tocante a função social da obra e sua importância para a interpretação histórica, James nos aponta, que a grande virtude contida no “Os jacobinos negros” é a ênfase dada ao protagonismo dos escravos no processo revolucionário, nas palavras do autor: “foram os próprios escravos que fizeram a revolução.” [4] , tendo especial destaque a figura do líder do movimento – “foi quase totalmente trabalho de um único homem: Toussaint L’Ouverture” [5] .
III. A tese central
A viabilização da revolução no Haiti deve-se, em parte, ao fato dos escravos já se encontrarem, em certa mediada, organizados e disciplinados, devido o sistema fabril, já implantada, no século XVIII, nas lavouras da ilha. Para o autor:
Trabalhando e vivendo juntos em grupos de centenas nos enormes engenhos de açúcar que cobriam a Planície do Norte, eles estavam mais próximos de um proletariado moderno do que qualquer outro grupo de trabalhadores daquela época, e o levante foi, por essa razão, um movimento de massas inteiramente preparado e organizado [6]. (Grifo nosso)
Observa-se que para o autor, já no século XVIII, havia entre os escravos do Haiti uma consciência de classe, que os permitiu se organizarem para combater a exploração colonial. Deve-se destacar também, que os revoltosos tinham o desejo de libertar-se da tirania a que eram submetidos, deste modo, se insurgiam contra os maus tratos, ainda nos navios negreiros – “Morriam não apenas por causa do tratamento, mas também de mágoa, de raiva e de desespero. Faziam longas greves de fome; desatavam as suas cadeias e se atiravam sobre a tripulação numa tentativa inútil de revolta.” [7]
III. Leitura Marxista Revolta escrava ou uma luta de classes?
Mesmo para os leitores que não tem contato com a biografia de James, a terminologia empregada por ele, deixa claro que se trata de uma leitura fundada no marxismo. Não são poucos os conceitos empregos em seu texto: proletariado, imperialismo, luta de classes, revolta das massas trabalhadoras, exploração dos escravos, dos trabalhadores – constituem a interpretação dado pelo nosso autor para o problema em que se dispões a analisar além das citações a Lênin e a Trotsky.
É possível afirmarmos, diante do seu livro, bem como de sua biografia, que James, como filiado ao Partido Trabalhista Independente, militante da IV Internacional, fundador do Partido Socialista dos Trabalhadores (SWP) e integrante ativo de diversos movimentos sociais, de que demarcou sua interpretação sobre a História a partir de sua leitura da “teoria da revolução permanente” proposta por Leon Trotsky.
Respondendo a questão feita acima, se partirmos da leitura de nosso autor sobre o fato histórico que ocorreu no Haiti, foi à demonstração de uma luta de classes. Tal leitura recebeu diversa criticas, uma das mais conhecidas no Brasil foi feita pelo professor Dr. Jacob Gorender
As rebeliões, no começo do século XIX, no continente americano, só podiam ter caráter antiescravista e anticolonialista. No mundo atual, o cenário internacional é sacudido pelas lutas anticapitalistas e antiimperialistas. Trata-se de etapas históricas profundamente diversas. Não obstante, o anacronismo não prejudica o texto que se segue ao Preâmbulo.[]8
Não podemos deixar de mencionar a crítica feita pelo professor Jacob Gorender ao preâmbulo datado de 1980, em que James liga as rebeliões escravas no Haiti com as lutas operárias do século XX cometendo aquele que é considerado o maior dos pecados para o historiador: o Anacronismo. Todavia dentro de uma abordagem histórica e social, entendemos que devemos contextualizar o autor e sua obra com sua leitura de vida, nos parece que a escrita de “Os jacobinos negros” e o prefácio de 1980, antes de um texto acadêmico é um esforço militante, que tem como pretensão denunciar, conforme o próprio autor, a “perseguição e opressão” que vivem os africanos e os afro- descendentes.
VI. O caso Haiti
Em 1789, a colônia francesa das Índias Ocidentais de São Domingos representava dois terços do comércio exterior da França e era o maior mercado individual para o tráfico negreiro europeu. Era parte integral da vida econômica da época, a maior colônia do mundo, o orgulho da França e a inveja de todas as outras nações imperialistas. A sua estrutura era sustentada pelo trabalho de meio milhão de escravos.[9]
Basta ligar a televisão, sintonizar o radio ou acessar a internet e entrar em contato com as notícias que vem do Haiti. Logo nos depararmos com as palavras: tragédia, caos, crise, fome, morte, doenças. Estas informações quando soam aos nossos ouvidos nos faz refletir – como uma colônia produtora de açúcar, café, anil, cacau, algodão, entre outros produtos, responsável por dois terços do comércio exterior da França, que em 1789, exportou 11 milhões de libras [10], fracassou no projeto de Estado-nação livre da miséria e das desigualdades? James propôs uma resposta.
Para o nosso autor, o fracasso do projeto Haiti não se deve apenas a falta de diversidade econômica, uma vez que, a produção primária dominava a paisagem, não havendo maiores perspectivas de geração de riqueza, em especial ao desenvolvimento industrial.
Na análise de James o isolamento ou quarentena imposta pelas potências imperialistas e até mesmo as nações latino-americanas, foram responsáveis pelo atrofiamento econômico da ilha caribenha, não permitindo o desenvolvimento de uma economia mais sólida, tendo por consequência o agravamento das desigualdades históricas já bem conhecidas pela massa trabalhadora do Haiti.
V. Considerações finais
Compreendemos o texto de Cyril Lionel Robert James, como sendo um esforço para responder questões que não se restringem somente ao caso da independência do Haiti, mas como uma leitura sobre a exploração do trabalho escravo e as formas de relação do sistema escravista e colonial na América.
Para finalizarmos, podemos dizer que ainda hoje, o texto serve como instrumento de análise para entendermos as relações de trabalho em muitos países latino-americanos, onde encontramos cada vez mais latente essa realidade apregoada pelo método capitalista de exploração, proposta pela manutenção dos grandes latifúndios, das monoculturas de exportação e da exploração da mão de obra dos trabalhadores do campo.
Notas
2. Informações extraídas da comunicação feita pelo doutorando, Unesp/Franca, Rubens Arantes no curso “A escravidão na cultura ocidental”; e pela comunicação de: SILVA, Tiago Hilarino Christophe da. Um marxista caribenho: o pensamento e a práxis de Cyril Lionel Robert James. Texto integrante dos Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP-USP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 2008. Cd-Rom.
3. JAMES, C. L. R. Op. cit., p. 11.
4. Idem, p. 14.
5. Idem, p. 15.
6. Idem, p. 99.
7. Idem, p. 23.
8. GORENDER, Jacob. O épico e o trágico na história Haiti. Estudos Avançados. V. 18, n. 50, 2004, p. 296.
9. JAMES, C. L. R. Op. cit., p. 15.
10. Idem.
Carlos Alexandre Barros Trubiliano1 – Doutorando em História Política da Universidade Julho de Mesquita (Unesp – Campus Franca)/ Bolsista FAPESP. E-mail: trubiliano@hotmail.com
JAMES, C. L. R. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2010. Resenha de: TRUBILIANO, Carlos Alexandre Barros. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 4, n. 7, p. 225-230, jan./jun., 2012.
Relações Internacionais: perspectivas francesas | Carlos R. S. Milani
Lançado em 2009 para completar uma série de quatro publicações em comemoração ano Ano da França no Brasil, “Relações Internacionais: Perspectivas francesas” apresenta aos leitores brasileiros uma seleção de textos clássicos e contemporâneos do pensamento Frances em Relações Internacionais. Coube ao Professor Carlos Milani a organização desses textos que permitem aos interessados viajar pela produção acadêmica francesa, de Raymond Aron à Bertrand Badie.
O livro se divide em duas grandes partes. A primeira, chamada de “O conceito de ‘Internacional’”, apresenta textos que trabalham os sentidos e contornos das Relações Internacionais. A segunda parte, intitulada “Atores e Conflitos”, retrata o pensamento francês acerca de atores e processos internacionais contemporâneos. Opinião pública internacional, regionalismo, igreja, meio ambiente e redistribuição do poder no sistema internacional são alguns dos objetos abordados nesta segunda seção da obra. Leia Mais
Filosofia, ética e educação: de Platão a Merleau-Ponty – PAVIANI (C)
PAVIANI, Jayme. Filosofia, ética e educação: de Platão a Merleau-Ponty. Caxias do Sul: Educs, 2010. Resenha de: SABBI, Caros Roberto. Conjectura, Caxias do Sul, v. 17, n. 1, p. 241-245, jan./abr, 2012.
Nas dobras do tempo, tal qual um legítimo pontifex,1 Paviani liga mais de dois mil e trezentos anos que separam um dos expoentes da filosofia, senão o maior – Platão – ao filósofo fenomenólogo francês Merleau-Ponty na sua obra Filosofia, ética e educação: de Platão a Merleau- Ponty.
O primeiro, representando a Academia, criada por ele próprio em 387 a.C., num olival situado no subúrbio de Atenas, enquanto o segundo, em 1952, ganhou a cadeira de Filosofia no Collège de France. De 1945 a 1952, Merleau-Ponty foi coeditor (com Jean-Paul Sartre) da revista Les Temps Modernes. Leia Mais
Livro – PEIXOTO (A-EN)
PEIXOTO, José Luís. Livro. Lisboa: Quetzal, 2010. Resenha de: NOGUEIRA, Carlos. Alea, Rio de Janeiro, v.14 n.1, jan./jun., 2012.
Livro, o sexto romance de José Luís Peixoto (1974), tem como contexto a emigração portuguesa para França e a literatura enquanto universo complexo, enigmático e contraditório. Estes dois temas surgem ligados na primeira frase do romance, mas o leitor não poderá compreender a verdadeira amplitude desta associação senão na segunda parte do livro.
“A mãe pousou o livro nas mãos do filho” (11) inicia uma narrativa que seduz o leitor pela imprevisibilidade e pelo dramatismo das situações, pela densidade psicológica das personagens e pelo encadeamento dos episódios, que se vão sucedendo numa progressão cronológica assinalada, entre parênteses, no início de alguns capítulos ou no seu interior, imediatamente antes do parágrafo que se segue e no mesmo tipo de letra do texto. Há ainda palavras-chave, como “(Fonte)” (26) ou “Posto da guarda” (101), números, o nome de uma personagem e, por vezes, a representação pictórica de uma mala, que também delimitam os momentos narrativos. À medida que o romance avança, o andamento dos episódios e a alternância entre eles intensificam-se.
Também neste aspecto da sintagmática narrativa o autor recorre, no nível gráfico, a uma estratégia que visa marcar esses momentos: um espaço em branco, equivalente a duas ou três linhas, entre cada parte. Num livro que tem tanto de romance tradicional como de narrativa pós-moderna, esta técnica, tal como as que enumeramos acima, contribui para a inscrição do romance numa categoria genealógica singular. As personagens deste romance estão divididas entre Portugal, de onde algumas nunca saíram, como Josué e a velha Lubélia, e França, para onde partiram na situação de emigrantes não propriamente convencionais e de onde voltam para períodos de férias e, mais tarde, no caso de Adelaide e do filho “Livro”, definitivamente.
Lubélia, personagem amargurada por ter abortado e por ter sido afastada pelos pais da experiência amorosa, envia a sobrinha à força para França, para separá-la de Ilídio, que, ao aperceber-se disso, decide partir à procura de Adelaide. Para além do episódio inicial, constituído pelo abandono de Ilídio pela mãe, que parte para França, é este o núcleo a partir do qual se desencadeiam todas as outras linhas efabulativas do romance. Apesar de narrados autonomamente, todos estes episódios se encontram associados numa lógica de alternância cinematográfica que dá ao leitor a possibilidade de saber o que as personagens não sabem umas das outras.
Fala-se, neste romance, de vidas humanas individuais, dos seus desejos, vontades, erros e conflitos; fala-se de amor, de morte, de encontros e desencontros; e fala-se também de Portugal como povo, com as suas crendices e obsessões, vícios e virtudes, alegrias e tragédias, e como país que vive a tragédia de uma ditadura e a conquista de liberdade política, social e individual. 1974 é, por isso mesmo, um ano privilegiado neste livro, em especial os dias que precedem e sucedem à revolução do 25 de Abril. “27 de Abril de 1974” é uma data com implicações narrativas e autobiográficas: é a data que assinala o fim da primeira parte do romance, narrado em terceira pessoa, e a data de nascimento do narrador (autodiegético) da segunda parte, que é também a data de nascimento do autor empírico (cuja projeção autobiográfica tem ainda a ver com o facto de os pais de José Luís Peixoto terem sido emigrantes em França nos anos 60).
O livro que Ilídio recebe da mãe é o mesmo livro que ele, adolescente, oferecerá a Adelaide, com quem, muito mais tarde, terá um filho ilegítimo, cujo nome insólito é também o nome deste romance: Livro.
Este é um romance que muda radicalmente de registo no início da segunda parte, que surpreende o leitor com um inquérito, constituído por doze perguntas, enunciado nestes termos: “Indique os seguintes dados” (207). Percebe-se, mais à frente, que o próprio narrador autodiegético responderá a este questionário repentino e insólito, em que entram aspectos de natureza não só civil e biográfica, mas também pessoal: “Nome da sua mãe” ou “Nome do seu bilhete de identidade”, por um lado, e “Adjectivo que melhor caracteriza o penteado que tem neste momento” ou “Número de vezes que lava os dentes por semana” (207), por outro. Antes, contudo, dos primeiros indícios que fazem a ligação com a intriga da primeira parte do romance, surge outro momento perturbador que acentua ainda mais o estranhamento causado pelo inquérito: “Preencha os espaços em branco com as respostas anteriores” (209).
Esta segunda parte não se desliga completamente da anterior, mas obriga o leitor a rever as expectativas que foi criando ao longo de duzentas páginas. Paralelamente às sequências de ações, às relações entre personagens e à caracterização direta e indireta de espaços e figuras, as incursões no metaliterário inscrevem este romance no âmbito pós-moderno. O leitor lê o livro, primeiro na segurança de uma história bem-construída e escrita com a elegância de um autor que sabe usar o ritmo, a metáfora e a comparação: “Cada martelada que acertava na parede era como uma explosão no centro da terra. […] As cabeças dos martelos eram pesadelos de aço maciço, trovões negros. O Ilídio segurava o seu martelo com as duas mãos e acertava na parede, que caía em grandes postas caiadas, com tijolos vermelhos nas pontas, como entranhas” (178).
Mas este Livro também interpela o leitor através da visão criativa do pós-moderno, que já não se satisfaz com a apresentação de uma história linear e previsível; interessa-lhe, dialogando ironicamente com o passado histórico, literário e cultural, inovar pelo lado da reflexão metaliterária. Para o narrador deste Livro, que no final se dirige a um narratário, tudo está em julgamento e em movimento: a sociedade, o pensamento e a própria literatura: “Este livro podia acabar aqui. Ficávamos assim, no vácuo desta revelação. The end. Ou talvez nem seja sequer uma revelação, talvez seja apenas um sinal da minha incapacidade de interpretar detalhes” (261).
Carlos Nogueira – Universidade Nova de Lisboa carlosnogueira1@sapo.pt
[IF]
Visões do Rio de Janeiro colonial: antologia de textos (1531-1800) – FRANÇA (HH)
FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Visões do Rio de Janeiro colonial: antologia de textos (1531-1800). Rio de Janeiro: José Olympio, 2008, 356 p. Resenha de: GANDELMAN, Luciana. A cidade e o mar: o olhar dos viajantes sobre o Rio de Janeiro e os circuitos marítimos entre os séculos XVI e XVIII. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p.325-330, nov./dez. 2011.
Um soldado alemão rumando para a região do Rio da Prata a serviço da Coroa espanhola. Um piloto francês embarcado nos sonhos da França Antártica. Um capitão holandês de uma fragata corsária retornando de confrontos com portugueses no Golfo da Guiné. Dois irmãos galegos marinheiros em viagem à Terra do Fogo, a serviço da Coroa espanhola, comandando uma tripulação portuguesa. Um poeta e suposto religioso inglês vira-mundo que chega ao Rio de Janeiro na fragata do recém-nomeado governador português. Um marinheiro inglês que chega ao Rio de Janeiro em uma embarcação de comerciante londrino com 500 pipas de vinho. Um engenheiro francês vindo à América do Sul, a mando do rei da França, para estabelecer uma colônia-presídio no estreito de Magalhães. Um tipógrafo alemão a caminho de uma missão inglesa na Índia, carregado de 250 cópias do Evangelho de São Mateus em português. Um pastor alemão em rota para a Índia abordo de um navio inglês, repleto de adoentados e esfomeados, que ancora na Guanabara. Degredados seguindo para cumprirem suas penas na Oceania. Franceses e ingleses se aventurando na empreitada da circum-navegação. Essa é uma amostra da grande riqueza de trajetórias cujos testemunhos nos oferecem a cuidadosa pesquisa histórica e seleção de textos empreendida por Jean Marcel Carvalho França em sua antologia: Visões do Rio de Janeiro colonial.
A cidade que emerge desses testemunhos também é múltipla e em transformação. E isto torna-se bastante claro quando percorremos as descrições selecionadas pelo organizador da coletânea. Segundo o poeta Richard Flecknoe, escrevendo em 1649, A cidade antiga, como testemunham as ruínas das casas e igreja grande, fora construída sobre um morro. Contudo as exigências do comércio e do transporte de mercadorias fizeram com que ela fosse gradativamente transferida para a planície. Os edifícios são pouco elevados e as ruas, três ou quatro apenas, todas orientadas para o mar (FRANÇA 2008, p. 43).
Nas palavras do comandante inglês John Byron, escritas em 1764, por sua vez, podemos entrever a cidade enriquecida do período posterior ao auge do ouro e de seu estabelecimento como cabeça de governo e um dos portos predominantes sobre o Atlântico: O Rio de Janeiro está situado ao pé de várias montanhas […]. É dessas montanhas que, por meio de um aqueduto, vem a água que abastece a cidade. […] O palácio (do vice-.rei), além de ser uma suntuosa construção de pedra, é o único edifício da cidade que conta com janelas de vidro, pois as casas só dispõem de pequenas gelosias. […] As igrejas e os conventos locais são magníficos. […] As casas, quase todas de pedra e ornadas com grandes balcões, têm em geral três ou quatro andares (FRANÇA 2008, p. 148-149).
A cidade se modifica, portanto, não somente diante dos diferentes olhares que seus observadores lançam sobre ela, mas também em virtude das intensas transformações enfrentadas por este porto de crescente importância na América portuguesa ao longo de três séculos. Constante nas observações dos viajantes é a menção à existência de numerosa população de escravos e agregados familiares, fossem estes de origem africana ou nativos e mestiços. Igualmente predominantes são as observações acerca das manifestações religiosas e as descrições de igrejas e mosteiro, sendo essas observações previsíveis em um grupo de viajantes estrangeiros, muitos deles protestantes. Uma bibliografia bastante extensa, produzida não só por historiadores, estabeleceu e estabelece ainda um profícuo diálogo com a literatura de viagens, ainda que focada especialmente na dos viajantes do século XIX, e já discutiu as implicações e os desafios daqueles que buscam trabalhar com o olhar dos viajantes.1 Conforme referenciado pelo autor em seu texto de introdução à antologia, a obra apresenta 35 descrições da cidade do Rio de Janeiro elaboradas por viajantes de diversas procedências, cujas viagens respondiam igualmente aos mais variados propósitos, sendo a primeira datada de 1531 e a última de 1800.
Trata-se da seleção de trechos de livros, cartas e escritos que fazem algum tipo de referência ao Rio de Janeiro e seu entorno. Alguns destes trechos já haviam sido transcritos ou referenciados por historiadores e memorialistas, sem, no entanto, contar com um trabalho tão circunstanciado de contextualização e organização. Cada relato é precedido por um breve, porém bem elaborado, artigo de introdução onde são oferecidas notas biográficas do viajante em questão e explicações acerca da viagem na qual se insere o relato. Reside nesses textos explicativos uma parte da preciosidade do trabalho feito por Carvalho França e que possibilita ao leitor um aproveitamento dos testemunhos que não se limita à descrição da cidade do Rio de Janeiro, mas que oferece também, por exemplo, pistas acerca dos circuitos mercantis do período, da organização da navegação e da paulatina reestruturação dos impérios ultramarinos no período moderno.
A escolha das edições foi cuidadosa e deu preferência, como afirma o autor, sempre que possível, às primeiras edições ou edições consideradas mais completas e cuidadas das obras. Característica essa confere à antologia um caráter bastante útil, não somente para o leitor em geral, mas também para o público acadêmico. Houve por parte do autor um investimento e uma preocupação com a elaboração das versões para o português, uma vez que se trata na sua quase totalidade de textos publicados em língua estrangeira, havendo, como este reconhece na introdução, a modificação dos mesmos em nome da clareza da leitura. Isto significa que, se para o leitor em geral o texto ganha em facilidade de compreensão, para o especialista pode tornar necessário o cotejamento com os originais.
Organizados em ordem cronológica, os 35 testemunhos selecionados pelo autor podem ser divididos da seguinte maneira: 1) três são anteriores à União Ibérica e estão concentrados nas décadas de 1530-1550; 2) dois devem ser situados no período do domínio filipino; 3) dois são marcados pelo contexto dos conflitos da chamada Guerra de Restauração, entre 1640 e 1668; 4) um, pertencente a François Froger, diz respeito justamente à década das primeiras descobertas na região mineradora e aponta notícias, inclusive, sobre a região de São Paulo; 5) dois relatos são das primeiras décadas do século XVIII, sendo um deles testemunha da invasão francesa liderada pelo capitão Duguay-Trouin; 6) cinco testemunhos encerram a primeira década do século XVIII, incluindo os cruciais anos do governo de Gomes Freire de Andrade, 1º Conde de Bobadela, que se encerraria com a transformação da cidade em cabeça do governo geral do Estado do Brasil, já no governo de Antônio Álvares da Cunha; 7) vinte dos relatos dizem respeito à segunda metade do século XVIII e testemunham o definitivo adensamento da presença de reinos europeus, como a Inglaterra, na Ásia e na Oceania.
O espaço da resenha seria pequeno para tentarmos mapear devidamente os contextos aos quais pertencem todos esses depoimentos e suas respectivas implicações para esses mesmos relatos. Deve-se destacar, entretanto, a amplitude cronológica e histórica dos testemunhos reunidos.
Publicado pela primeira vez em 1999, e contando presentemente com a terceira edição de 2008,2 a antologia proposta por Jean Marcel Carvalho França tem por objetivo tirar as descrições do Rio de Janeiro da obscuridade e do desconhecimento. Os testemunhos selecionados, entretanto, como argumenta o próprio organizador, não se limitam a descrições acerca da cidade e seu cotidiano, muitas vezes nos dão indicações acerca da visão que esses europeus registraram da natureza circundante e do próprio continente americano de maneira mais ampla. Além disso, o leitor passa a conhecer bastante as características do porto da cidade e suas condições de navegação. Pode-se dizer que a obra cumpre seus objetivos e justifica, desta maneira, as reedições disponíveis, bem como as que futuramente sejam realizadas com o intuito de garantir aos leitores e pesquisadores acesso a esse rico acervo de testemunhos.
Para concluir, cabem alguns breves comentários suscitados pela própria fertilidade da antologia reunida na obra resenhada. França nos apresenta mais do que a riqueza das descrições da cidade do Rio de Janeiro e seu entorno, revela-nos igualmente um pouco das mudanças sofridas no papel da América dentro do Império colonial português e mesmo a transformação dos circuitos comerciais, da navegação e do papel desempenhado por outras nações europeias no desenvolvimento dos demais circuitos coloniais do período. Esse verdadeiro mosaico contradiz, de certa maneira, as próprias alegações de França quando este, na introdução, ressalta a política “ciumenta” da Coroa portuguesa e o consequente isolamento de sua colônia americana em relação a seus visitantes estrangeiros. Mesmo quando os testemunhos nos deixam entrever as cautelas e receios de governadores e representantes régios ou colonos em comercializar e permitir contato com navegadores e embarcação de súditos de outros 2 A antologia de França foi desdobrada ainda em outra importante seleção de relatos de viajantes, ver: FRANÇA 2000.
monarcas, a própria riqueza dos depoimentos e das circunstâncias que os envolvem nos permite pensar mais em conexões do que em isolamento.
Conexões, circulação, alianças, confrontos e compromissos, às vezes os mais improváveis, fizeram parte desse universo, como procuramos destacar no início deste texto. Entre o “ciúme mercantilista” e os entrecruzamentos de uma aventura ultramarina que se constrói por meio de diferentes níveis de interdependência e que se espalha concomitantemente nas mais diversas direções, encontramos, para retomarmos uma imagem de A. J. R. Russell-Wood, um mundo em movimento (RUSSELL-WOOD 2006). São justamente esses movimentos conectados, em alusão ao conceito de Sanjay Subrahmanyam, que aparecem belamente representados em Visões do Rio de Janeiro colonial (SUBRAHMANYAM 1999).
Referências
BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos viajantes. 3 vols. São Paulo: Metalivros, 1994.
FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro colonial: antologia de textos (1582-1808). Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.
GALVÃO, Cristina Carrijo. A escravidão compartilhada: os relatos de viajantes e os intérpretes da sociedade brasileira. Dissertação de mestrado. Campinas: IFCH/ UNICAMP, 2001.
KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
LEITE, Miriam L. Moreira. Livros de viagem (1803-1900). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
LISBOA, Karen M. A nova Atlântida de Spix e Martius: natureza e civilização na viagem pelo Brasil (1817-1820). São Paulo: Hucitec, 1997.
MARTINS, Luciana de Lima O Rio de Janeiro dos viajantes: o olhar britânico (1800-1850). Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
RUSSELL-WOOD, A. J. R. Um mundo em movimento. Lisboa: DIFEL, 2006.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SELA, Eneida Mercadante. Desvendando figurinhas: um olhar histórico para as aquarelas de Guillobel. Dissertação de mestrado. Campinas: IFCH/ UNICAMP, 2001.
______________________. Modos de ser, modos de ver: viajantes europeus e escravos africanos no Rio de Janeiro (1808-1850). Campinas: Ed. da UNICAMP, 2008.
SLENES, Robert W. A Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected histories: notes towards a reconfiguration of Early Modern Eurasia. In: LIEBERMAN, Victor (ed.). Beyond binary histories: re-imagining Eurasia to c. 1830. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999, p. 289-316.
VIANA, Larissa Moreira. As dimensões da cor: um estudo do olhar norte americano sobre as relações interétnicas, Rio de Janeiro, século XIX. Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 1998.
Notas
1 Gostaria de citar entre outros: BELLUZZO 1994; GALVÃO 2001; KARASCH 2000; LEITE 1997; LISBOA 1997; MARTINS 2001; SCHWARCZ 1993; SELA 2001; SELA 2008; SLENES, 1999; VIANA 1998.
Luciana Gandelman – Professora adjunta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro lucianagandelman@yahoo.com.br Km 07 da BR 465 23890-000 – Seropédica – RJ Brasil Palavras-chave América portuguesa; Colônia; Relatos de viajantes.
Navette Literária França-Brasil – A crítica de Roger Bastide – AMARAL (B-RED)
AMARAL, Glória Carneiro do. Navette Literária França-Brasil – A crítica de Roger Bastide. São Paulo: EDUSP, 2010, Tomo I, 259 p; Tomo II, 1084p. Resenha de: ATIK, Maria Luiza Guarnieri. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.6 n.1, São Paulo, Aug./Dec. 2011.
Pierre Verger destaca que uma das características das obras de Roger Bastide é o espírito de diálogo. As obras “geralmente se baseiam na aproximação de dois temas complementares, um valorizando o outro. Quer se trate de religiões afro-brasileiras, de interpenetração de civilizações, de dupla herança, de dois catolicismos ou de aculturações recíprocas, são sempre dois temas fundados na complementaridade. […]. Há sempre diálogo, compreensão mútua e não incompatibilidade e agressividade” (LÜHNING, A. (org.). Verger – Bastide: dimensões de uma amizade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p.256-257).
A contribuição do estudo de Glória Carneiro do Amaral consiste exatamente em nos revelar essa estrutura dialógica dos textos bastidianos, em sua obra Navette Literária França-Brasil – A crítica de Roger Bastide, publicada em 2010 pela EDUSP.
O primeiro mérito da autora é debruçar-se corajosamente sobre uma obra alicerçada sobre “inquietantes areias movediças, de intrínseca vocação interdisciplinar”. Assim, para abarcar as vertentes da crítica bastidiana, lança-se numa análise cuidadosa e percuciente, destacando os procedimentos discursivos dos artigos publicados em diferente periódicos, na França e no Brasil.
O primeiro volume consiste num estudo do percurso de Bastide no universo da literatura, da sociologia e da religião. E o segundo, abarca mais de 200 títulos escritos entre 1920 e 1974, apresentados cronologicamente.
Para compor a antologia do segundo volume, a pesquisadora contou com o material de dois arquivos: “em São Paulo, o arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros, e, na França, os arquivos do Imec (Institut de la Mémoire de l’ Édition Contemporaine)”, resgatado, para os estudiosos de Bastide, um vasto material que traz à luz textos sobre a literatura brasileira, a literatura francesa, sobre as relações entre poesia e sociologia, literatura e protestantismo, questões de estética, dentre outros.
A partir de uma análise extremamente refinada, ao mesmo tempo em que nos dá a conhecer alguns dados biográficos do crítico francês, a pesquisadora examina os textos críticos sob uma perspectiva ampla e abrangente, apontando as contradições, os exageros e a desigualdade entre eles, que oscilam desde rápidas resenhas sobre os mais diferentes autores, muitas de interesse duvidoso, até textos fundamentais sobre literatura francesa e brasileira.
Roger Bastide escreveu sobre todos os grandes escritores mas, como atesta Glória do Amaral, o crítico concedeu pouca atenção aos cânones da literatura francesa. Exceção feita a Gide, único escritor pelo qual Bastide se interessou ao longo de toda a sua vida, publicando a obra Anatomie d’André Gide. Escreveu também sobre Marcel Proust e François Mauriac. O seu interesse, contudo, não era o objeto estético enquanto produto literário, e sim o viés religioso presente em suas obras. O judaísmo de Proust, o catolicismo de Mauriac e o protestantismo de Gide são os aspectos fundamentais dos ensaios bastidianos.
Em relação aos escritores brasileiros, a autora percebe no conjunto de artigos analisados que a crítica bastidiana não se fixa no côté exotique, nas imagens estereotipadas do Brasil difundidas na França. Sua crítica “inscreve-se na diferença, como a de um intelectual francês interessado em entender a cultura, a arte e a literatura brasileiras” (p.242). Ressalta, ainda, que muito antes de chegar ao nosso país, Bastide já estava interessado na relação dos escritores brasileiros com a terra e procurou entendêlos de uma perspectiva antietnocêntrica. Sua intensa produção, livros e artigos publicados em revistas e em jornais, mostra sua integração ao nosso meio social e a preocupação em desvelar as especificidades e os contrastes da realidade brasileira. Como assinala Glória do Amaral, Roger Bastide produziu muito material na literatura em geral e na poesia em particular. Dentre as obras analisadas, destacam-se a de Cruz e Sousa, Euclides da Cunha, José Lins do Rego, Mário de Andrade e Machado de Assis.
Concomitantemente à análise cuidadosa e perspicaz do crítico literário, a autora nos revela as preocupações de Bastide como filósofo e sociólogo e o seu interesse maior pelo homem do que pelo escritor, destacando que a idéia de uma alma ancestral, espécie de alma arquetípica, persistia em seu pensamento.
Glória do Amaral dedica um capítulo do primeiro volume de Navette Literária França-Brasil às contribuições de Bastide para as revistas Mercure de France e Anhembi, a primeira francesa e a segunda brasileira. Entre 1948 e 1965, Bastide publicou na revista Mercure de France vinte crônicas sobre a literatura brasileira para um público francês. A composição de suas crônicas, segundo a autora, obedece ao padrão comum da seção “Lettres brésiliennes” da revista: “um pequeno texto crítico, cujo tema varia, seguido de várias resenhas de poucas linhas, com uma apresentação gráfica diferente do texto principal” (p.213). Lançando mão do recurso comparativo, Bastide procura manter o leitor francês a par da vida literária brasileira, apontando aspectos do processo formativo da nossa literatura.
Na revista Anhembi, a colaboração de Bastide se estendeu de 1950 a 1962. E mesmo quando retornou à França continuou a sua atuação como uma espécie de correspondente. Fazendo um balanço de sua produção no referido periódico, Glória do Amaral aponta que os artigos abarcam estudos sobre sociologia, literatura, cinema e teatro, diversidade que contribui para o adensamento de sua crítica. Os textos, “em princípio de caráter informativo, acabam por se transformar em espaço para o desenvolvimento de conceitos e reflexões sobre a vida cultural francesa”.
Navette Literária França-Brasil traz uma importante contribuição para o conhecimento da obra de Roger Bastide, onde o diálogo não é apenas um traço formal. Mostra o percurso de sua reflexão sobre a literatura, bem como o seu interesse por diversas áreas do saber: sociologia, filosofia, religião, artes, estudos culturais. Trata-se de um livro de referência para todos os que se interessam pelas relações França-Brasil, pelas relações entre o eu e o outro.
Maria Luiza Guarnieri Atik – Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, São Paulo, São Paulo, Brasil; vatik@uol.com.br.
Leituras e Leitores na França do Antigo Regime | Roger Chartier
Roger Chartier historiador francês vinculado à atual historiografia da Escola de Annales, onde trabalha sobre a história do livro, da edição e da leitura, e que nesta obra apresenta oito ensaios que constituem uma história cultural em busca de textos, crenças e gestos aptos a caracterizar a cultura popular tal como ela existia na sociedade francesa entre a Idade Média e a Revolução Francesa. O intelectual francês mostra que a cultura escrita influencia mesmo àqueles que não produzem ou lêem textos, mas interagem com eles. Ao revisitar a chamada Biblioteca Azul, coleção de livros acessíveis vendidos por ambulantes (romances de cavalaria, contos de fada, livros de devoção), além de documentos próprios da chamada “religião popular” e textos sobre temas que se dirigem a um público geral, como a cultura folclórica, o autor enfoca as tênues fronteiras entre a chamada cultura erudita e a popular, mostrando como se ligam duas histórias: da leitura e dos objetos de leitura. Leia Mais
Pierre Nora- homo historicus – DOSSE (RBH)
DOSSE, François. Pierre Nora- homo historicus. Paris: Perrin, 2011. 660p. Resenha de: SILVA, Helenice Rodrigues da. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011.
Dando sequência ao gênero de ‘biografia intelectual’ de autores franceses que marcaram a segunda metade do século XX (Michel de Certeau, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze/Félix Guattari), François Dosse completa um extenso trabalho sobre Pierre Nora. Figura singular no espaço intelectual francês, esse autor atravessa, de maneira discreta e silenciosa, diferentes domínios de produção e difusão (literatura, jornalismo, edição e ensino) nestes últimos 50 anos.
Conhecido pelos historiadores como um dos coordenadores (com Jacques Le Goff) de “Fazer a história” e o idealizador dos “lugares da memória”, Pierre Nora é, sobretudo, visto como o editor da maison Gallimard e o criador da famosa “Bibliothèque des sciences humaines”. Nessa coleção, a ‘nata’ da intelligentsia francesa e estrangeira (Michel Foucault, Georges Dumézil, Émile Benveniste, entre tantos outros) promove, nas décadas de 1960 e 1970, “os anos dourados das ciências humanas”.
Professor universitário (assistente na École des Hautes Études en Sciences Sociales e no Institut d’Études Politiques, nas décadas de 1970 e 1980), idealizador de diferentes coleções de ciências humanas (inicialmente na editora Julliard, em seguida na Gallimard), fundador (com Marcel Gauchet), em 1980, da revista Le Débat (importante mídia intelectual ancorada na crítica de ideias e nas análises da atualidade), imortal (eleito para a Académie Française em 2002), Pierre Nora ocupa ainda uma posição de destaque nos debates atuais da Cité (esfera pública) no que diz respeito, notadamente, aos imbróglios da memória, da história e do patrimônio francês.
No entanto, autor de um único livro, publicado durante a guerra da Argélia, Les Français d’Algérie, e de numerosos artigos (jamais agrupados) sobre história do presente e epistemologia da história, Pierre Nora encarna o intelectual solitário, o escritor de talento que duvida do caminho a seguir, e que se sente incapacitado para edificar uma obra individual.
Ao longo de um trabalho denso e detalhado, graças, notadamente, a uma extensa documentação do arquivo pessoal do biografado, François Dosse reconstitui os diversos itinerários desse historiador, buscando entender o enigma do acadêmico ‘fora da norma’. Como bem mostra a biografia, o paradoxo de Nora, editor de grandes livros em todas as disciplinas – da linguística à economia, da antropologia à história, da filosofia à política – residiria na sua impossibilidade de se afirmar como autor de uma obra.
Sensível à recepção de novas ideias, Pierre Nora publica, desde a década de 1960, textos até então inéditos e originais, produzidos na França e no estrangeiro. De As palavras e as coisas, de Michel Foucault, a Montaillou, povoado occitâneo, de Leroy Ladurie (300 mil exemplares vendidos), Pierre Nora, na Gallimard, lança os best sellers das ciências humanas e sociais. No entanto, duas obras de peso que marcaram seu tempo constituíram exceções. Tristes trópicos, de Lévi-Strauss, e A era dos extremos, de Eric Hobsbawm, foram recusados pela editora.
Ora, como explicar a trajetória de um autor sem obra, mas que parece ter feito de sua existência sua própria obra? Tal interrogação constitui um ‘desafio biográfico’ (título de um dos livros de François Dosse). Pierre Nora seria mais solícito a ideias de seus autores que à produção de suas próprias ideias. Escritor talentoso, ele teria dito: “os melhores editores são, certamente, escritores reconvertidos, reprimidos, transformados”.
Pautada por sucessos e fracassos, sua trajetória intelectual é reveladora de um Ser em busca permanente de si mesmo. Nora coloca em dúvida seu percurso, critica as normas acadêmicas e recusa fechar-se dentro de uma disciplina. Mas, ao lado de aparentes frustrações e insucessos (os concursos de admissão para a École Normale Supérieure, a renúncia a uma tese já iniciada, a desistência de trabalhos coletivos) encontram-se incontestáveis conquistas. Graças a seu dom de escritor, a sua visão antecipada e a sua incansável curiosidade, Pierre Nora obtém a difícil agrégation em história (concurso para se tornar professor da Educação Nacional), antecipa a criação de novos modelos historiográficos e consegue sobreviver à crise das ciências humanas e sociais, criando, em 1980, uma revista aberta aos debates intelectuais.
Relatar essa ‘aventura intelectual’ solicita, por parte de um bom biógrafo, recursos da psicanálise. François Dosse é, assim, levado a ressaltar uma experiência traumática, vivida pelo jovem Pierre aos 12 anos. De origem judia, totalmente assimilada à República francesa, a família Nora (originalmente Aron, antes do século XIX) se considera, no entanto, “uma família judia mais francesa do que francesa”. Refugiado com os parentes no sul da França, no momento da ocupação alemã, Pierre se salva de uma rafle (uma blitz para prender judeus) organizada pela Gestapo. Nas palavras do biógrafo, esse episódio drástico acrescentará certa inquietação e gravidade a sua existência, marcando-o para sempre.
Na opinião de François Dosse, a lembrança desse acontecimento incidirá, provavelmente, sobre seu trabalho intelectual posterior, levando-o a repensar as categorias da memória e da história: “[Esta] será, incontestavelmente, a contribuição mais decisiva de Pierre Nora à historiografia; a sua singularidade de judeu o leva a valorizar a memória – o Zakhor [‘lembre-se’] -, mas a submete a uma artilharia ininterrupta da crítica à disciplina histórica, à vigilância histórica”.
Outras pistas que podem explicar suas escolhas ou suas recusas são recenseadas: o autoritarismo do pai, o sucesso de um irmão mais velho (aluno brilhante na prestigiosa École Nationale d’Administration – ENA, alto funcionário das finanças e conselheiro de Mendès France, presidente do conselho de ministros da IV República), a paixão inicial pela literatura e poesia, o espírito crítico em relação à retórica e à filosofia ensinadas na juventude. Este último aspecto justificaria seu triplo fracasso no concurso de admissão para a École Normale Supérieure. Destinada aos futuros filósofos, a ENS constitui um dos ‘lugares de passagem’ da elite intelectual e ‘republicana parisiense’.
No entanto, a escrita de Les Français d’Algérie (1961) despertará seu interesse pelos arquivos. Nora idealiza, ainda na editora Julliard, o lançamento de uma coleção de bolso que apresentaria aos leitores a integralidade dos arquivos, acompanhados de comentários por parte de especialistas. Intitulada “Archives”, essa coleção, publicada em 1964, parece renovar a disciplina história. Seu projeto de lançamento de novas coleções, desta vez na editora Gallimard, se concretizaria na “Bibliothèque des sciences humaines”, na “Bibliothèque des histoires” e na coleção “Témoins”.
Seus sucessos editoriais, no entanto, o impedem de elaborar seu próprio pensamento. Em carta redigida no final da década de 1960, Edgar Morin demonstra sua inquietude e afirma:
cada vez mais, você encarcera sua primeira personalidade, que penso que é sonhadora, meditativa, afetuosa, plena de curiosidades profundas que vão alhures. Não existe uma solução em vista, mas existe um caminho: cultive sua própria filosofia. Isto não quer dizer: faça uma tese ou um livro, ou ande a cavalo. Isto quer dizer, apenas, que é hora de partir em busca da expressão daquilo que mais conta dentro de você mesmo.
Ora, segundo François Dosse, a grande obra na vida de Pierre Nora realizar-se-á através de sua ligação íntima com a França, por intermédio dos ‘lugares da memória’; ele até afirma que um ‘momento Nora’, semelhante a um ‘momento Michelet’ e a um ‘momento Lavisse’, marcará a historiografia francesa.
Esse empreendimento ‘memorial’, coordenado por Pierre Nora, tem por origem seu seminário sobre história do presente, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e durará mais de 10 anos, concluído em 1993 com a publicação do último tomo dos “Lugares da memória”. Propondo o retorno ao questionamento sobre a nação mediante a análise dos ‘lugares da memória’ (material, simbólico, funcional), o primeiro tomo consagra-se à “República” (1 volume sobre o século XIX), o segundo (3 volumes) à “Nação” (a partir da Idade Média), e o terceiro (3 volumes) às “Franças” (les France).
Trabalho historiográfico e epistemológico notável na trajetória intelectual de Nora, esse ‘empreendimento’ ocupa um espaço central em sua biografia. No capítulo intitulado “A fábrica dos lugares da memória”, François Dosse descreve a confecção dessa produção historiográfica lembrando que, nas décadas de 1980 e 1990, a expressão ‘lugares de memória’ passa a integrar a linguagem corrente. Se a noção da memória emerge no território dos historiadores franceses, ela se apresenta como coadjuvante da categoria da história. Através dos ‘lugares da memória’, Pierre Nora fornecerá “uma resposta histórica pessoal a esta situação ‘ambígua’ do intelectual francês judeu; desta [situação] resulta sua relação passional com este monumento editorial”.
No entanto, a partir da década de 1970, a França conhece o ressurgimento das memórias ocultas, reprimidas e recalcadas pela história oficial. Consequentemente, o fenômeno do après coup, do traumatismo, expresso pelos sobreviventes das catástrofes do século XX, modificará sensivelmente a abordagem do passado. Contudo, longe de exprimir a dialética da memória e do esquecimento (da memória coletiva), os ‘lugares da memória’ (responsáveis pelo retorno da questão nacional, por intermédio da memória e da política) se erigem como um estudo do patrimônio francês.
Embora reconhecendo seu valor heurístico, compartilho as críticas emitidas por alguns historiadores franceses (citadas por Dosse). Enquanto patrimônio nacional (simbólico e material), os ‘lugares da memória’ sacralizam a história oficial, os mitos da nação, os lugares de culto. Assim, os sete volumes que formam os três tomos dessa coletânea não deixam de representar um ‘monumento histórico’, uma celebração da história nacional francesa. Voltados à trilogia – a República, a Nação e as Franças – os ‘lugares da memória’, injustificadamente, não levam em conta a análise do passado colonial, ou seja, do império francês e da guerra da Argélia, esquecendo-se dos traumatismos da memória coletiva (o governo de Vichy, a guerra da Argélia e o tráfico de escravos, dentre outros).
Analisar, retrospectivamente, o chamado ‘momento Nora’ nos tempos atuais da vigência do paradigma da global history leva os historiadores a exprimir sérias reservas em relação à matriz histórica do Estado-nação. Além do mais, a noção de ‘identidade nacional’ (intrínseca e explícita a esta obra), que se transformou em uma categoria polêmica e perigosa na França atual, obriga os historiadores a rever as interpretações históricas e historiográficas das décadas anteriores.
Em contrapartida, é de fundamental importância o empreendimento posterior de Pierre Nora para a história intelectual. Criada em 1980, a revista Le Débat (dirigida por Pierre Nora, Marcel Gauchet e Krzysztof Pomian) se propõe a repensar novos modelos intelectuais e/ou ‘a mudança de paradigmas’ nas ciências humanas. Aberta à inovação, à reflexão, às contribuições estrangeiras e, sobretudo, à heterogeneidade das ideias, ela se instala na paisagem intelectual como uma referência obrigatória.
“A palavra-chave para caracterizar Le Débat é a abertura, uma vontade de descompartimentalização, de romper as fronteiras, tanto disciplinares como nacionais.” Ao longo dos 30 anos de sua existência, o espírito de renovação e a sensibilidade em relação às mutações históricas e intelectuais do momento da revista permanecem atuais.
Conjugando história do intelectual, história intelectual e história da historiografia francesa (dos últimos 50 anos), este estudo biográfico oferece ao leitor um estimulante percurso através das ideias. Abordando diferentes cenários – instituições, pessoas, obras e redes sociais -, François Dosse reconstitui tensões políticas e intelectuais, debates ideológicos, modelos de análise etc. através do percurso original de um discreto ‘aristocrata de esquerda’..
Helenice Rodrigues da Silva Silva – Professora Associada, Universidade Federal do Paraná. Rua General Carneiro, 460. 80060-150 Curitiba – PR – Brasil. E-mail: helenrod@terra.com.br.
[IF]
História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944) | Glaydson José da Silva
Glaydson José da Silva é historiador com doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo e diretor associado do Centro de Estudos e Documentação do Pensamento Antigo Clássico, Helenístico e de sua Posteridade Histórica (CPA/UNICAMP). Também é avaliador do Ministério da Educação para fins de reconhecimento de cursos de História. Seus principais temas de pesquisa concentram-se nas relações entre antiguidade e modernidade, nas tradições interpretativas em História Antiga, direcionando para o estudo das leituras acerca do mundo antigo no caso da França contemporânea e extremas direitas.
O pesquisador possui várias publicações dentre artigos e capítulos de livros e participou da organização de diversas obras. O livro História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944), de 2007, recebeu auxílio publicação da FAPESP e trata-se de uma versão revisada de sua tese de doutorado defendida em março de 2005 sob orientação do Professor Doutor Pedro Paulo Funari. A partir de sua leitura notamos como o historiador constrói uma História crítica e analisa como a modernidade pode usar o passado. O estudo das apropriações da Antiguidade no regime de Vichy é a maneira pela qual o autor nos evidencia isso.
O livro está dividido, além da introdução e conclusão, em quatro capítulos, cada um com duas partes e iniciando com um breve prólogo que contextualiza o tema a ser tratado. O assunto geral é o regime de Vichy e o objeto de análise o passado gaulês, romano e galo-romano usado para justificar a dominação alemã e o colaboracionismo francês com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. As fontes são materiais da época, como livros acadêmicos, livros de vulgarização científica, manuais de História e de Arqueologia, jornais, revistas, discursos, textos oficiais, correspondências, cartazes, moedas e outros.
Como os capítulos iniciam com um pequeno prólogo, possuem bastante autonomia em relação à totalidade da obra. No primeiro Silva realiza uma discussão teórica acerca da instrumentalização do passado e defende ser preciso percebermos que na historiografia do mundo antigo, as imagens e lógicas históricas são produzidas dentro de tradições interpretativas atreladas, mais ou menos, ao contemporâneo.
Nesse capítulo o autor também discute as noções de herança e legado para explicar como se constituem os mitos fundadores, os quais perpetuam valores e imagens da vida nacional, objetivando criar identidades pelo uso da ideia de permanência. Dessa forma, com o intuito de resgatar a memória nacional, a História e a Arqueologia assumem um papel importante: estão a serviço do Estado e permitem qual tipo de memória se pode (re)construir. Essa tradição de apropriação do passado em prol do governo assume dimensões gigantescas no século XIX e continua ainda no XX, principalmente no contexto das duas grandes guerras – do qual Silva retira seus exemplos de instrumentalização do passado, a Itália fascista e a Alemanha nazista.
Silva ainda trata do caso francês a partir do nascimento do herói Vercingetórix na escrita da História francesa após a sua Revolução. O autor reflete sobre como na França a disciplina histórica está atrelada a memórias construídas durante a elaboração da identidade nacional e, também, constitui-se em uma História mitológica – afinal, cria mitos de origem – encontrada principalmente na escola, espaço ideal de divulgação e popularização, e possuindo na política sua primeira finalidade já que são controladas por discursos desse gênero.
O mito consolida-se a partir de 1814 e 1815 com a invasão da França por prussianos e cossacos. Nesse contexto cresce o apelo a Vercingetórix, líder gaulês vencido pelos romanos na antiguidade, que simboliza a luta pela liberdade e é um verdadeiro herói. Segundo o autor, os historiadores e escritores colocam-no em evidência para retornarem a oposição entre romanos e gauleses e, assim, justificar as lutas políticas da época. Novamente em 1870 a França é derrotada pelos alemães e a imagem de Vercingetórix, que se rende diante de César, mas sem ser humilhado, preserva para os republicanos algo essencial: a honra da França vencida. E, também, na primeira grande guerra a imagem do herói gaulês aparece.
No segundo capítulo “A Antiguidade a serviço da colaboração: nas trilhas da memória, a reescrita da História da França dominada (1940-1944)” Glaydson José da Silva contextualiza no prólogo o momento histórico estudado, fornecendo informações importantes sobre o debate governamental francês acerca da derrota. Silva também nos explica o que é a Revolução Nacional (R.N.) e como Vichy torna-se um Estado autoritário, explanando o papel da propaganda na sua legitimação.
O autor termina tal introdução do segundo capítulo nos explicando a importância de seu estudo. A pesquisa desse período da França até as décadas de 1970 e 1980 eram poucas, mas desde então isso mudou. Contudo, questões sobre o colaboracionismo e o estatuto da História e da Arqueologia durante o Regime ainda não foram muito trabalhadas. Dessa maneira, seu livro pretende contribuir com esse domínio tão pouco explorado.
Na continuidade da leitura, observamos o retorno do mito de Vercingentórix. O autor inicia a primeira parte do capítulo explicando o conceito de memória coletiva que surge com os estudos de Maurice Halbwachs e a partir do qual reflete sobre a ideia de um patrimônio histórico e cultural comum aos franceses, amparando a R.N. e o Regime de Vichy. A memória coletiva proporciona as bases necessárias à compreensão da derrota, à justificativa da dominação e à colaboração com estrangeiros.
O patrimônio histórico e cultural comum é buscado por meio da História e da Arqueologia a serviço de um Estado autocrático e, por isso, estão comprometidas com ideologias legitimadoras, pois o governo propõe uma releitura das origens coletivas que atende aos seus próprios interesses. Essa interpretação do passado é baseada em uma ideologia política de fundo revisionista: procura difundir a ideia “de que os gauleses não foram vencidos pelos romanos, mas, sim, beneficiados pela inserção da Gália nos domínios do Império, e que da união desses dois povos nasceram os franceses.” (SILVA, 2007: 91).
A justificativa da dominação tanto romana como alemã, em épocas diferentes, então, é fundamentada em uma ideologia da derrota, ou seja, no entendimento de que os gauleses e depois franceses (mesmo sendo povos brilhantes) mereciam o castigo da ocupação por causa de seus desvios disciplinares. Dessa forma, como nos mostra Silva, a recuperação do passado gaulês para a propaganda de Vichy possui dois aspectos: o de homenagem aos gauleses por sua luta heróica contra as legiões de César e pelo reconhecimento da superioridade romana. E com essa noção de que a associação com o outro (romano ou alemão) propicia o avanço e o progresso, o colaboracionismo também se justifica.
O próximo capítulo do livro nos traz o caso específico de Jérôme Carcopino, historiador, arqueólogo e epigrafista do mundo romano, secretário do Estado e ministro da educação entre 1941 e 1942. No prólogo observamos a preocupação do autor em explicar a discussão que existe em torno desse estudioso em saber se teria sido mais um intelectual do que um político ou se o contrário. Para Silva, sua função no governo não justifica suas escolhas na elaboração do passado, porque a própria função é uma escolha e o importante é notarmos as interfaces entre o historiador e o político na figura de Carcopino. As escolhas desse pesquisador constroem uma História política factual focada nos grandes homens do passado, o que o autor percebe a partir de trechos dos seus escritos. Nesses escritos, também notamos a emissão de juízos de valor a respeito de indivíduos, situações e momentos históricos.
Com essas considerações sobre Carcopino, o autor passa a analisar a partir de Stéphane Corcy-Bebray e outros autores, sua inserção no cenário político vichysta. Carcopino é favorável ao armistício e evolve-se com o colaboracionismo. A partir de 1940 recebe diversas nomeações, como diretor da École Normale Supérieure onde empreende grande reforma: reforço do poder do diretor, exclusão das mulheres e dos judeus, entre outros; ao mesmo tempo em que defende junto ao Regime a manutenção de bolsas para alunos judeus e de advogar em favor de seus amigos e colegas do meio universitário, Mare Bloch por exemplo. É a partir desse estudo da relação de Carcopino com o poder que Silva tece algumas considerações acerca da aproximação de suas obras políticas com as suas obras acadêmicas e realiza uma importe reflexão sobre qual é o lugar dos historiadores da Antiguidade, um dos assuntos abordados no próximo e último capítulo.
No prólogo do quarto capítulo, o autor desenvolve o que é extrema direita e o que é a extrema direita francesa, tratando do caso específico da França no pós-guerra, a qual teria esses grupos de radicalização política como herdeiros do Regime de Vichy. De acordo com o autor, elas são ditas como Nouvelle Droite e são uma resposta ao fracionamento da direita, além de estarem ligadas a uma prática historiográfica na qual a História Antiga é comprometida com ideologias de justificação e legitimação de direitos, desigualdades raciais e de grupo social.
Na sequência, Glaydson José da Silva nos traz as discussões mais recentes, da nossa contemporaneidade, em torno do F.N. e a luta contra os imigrantes e a violência. Para o partido, a imigração se inscreve no mais atual aspecto dos debates identitários na França. Porque gera problemas como: a falta de segurança pública, desemprego, saúde e decadência moral; ocasionando uma noção de crise social advinda da perda de identidade. Portanto, o F.N. defende uma delimitação de fronteiras sólidas, a qual exclua os países não europeus e assegure a proteção contra os imigrantes. A noção tida é, por exemplo, de que Roma caiu ao se unir com os povos instalados aos poucos no Império.
Segundo o autor, atualmente o mito gaulês continua sendo veementemente defendido pelo F.N. A sua juventude nacionalista e racista, um exemplo, orgulha-se em exaltar suas origens gaulesas na internet, em camisetas, prospectos, letras de músicas e outros. E esse uso que o partido faz do passado ainda é pouco estudado. Por isso, Silva propõe a pesquisa de historiadores do mundo antigo nesse campo, combatendo o racismo, o elitismo, a xenofobia e outros discursos característicos de partidos como o F.N. Dessa maneira, convida o estudioso da antiguidade a assumir uma pesquisa, em nossa opinião, de muita relevância, mostrando-nos, com um exemplo bastante atual, a aproximação dos estudos antigos com discursos políticos e ideológicos. Por fim, no fechamento do livro, Silva nos deixa a pergunta: qual lugar a antiguidade ocupa em nossas sociedades?
Essa questão nos permite pensar sobre o ofício do historiador, principalmente o do mundo antigo, e se encaixa nas recentes discussões sobre o presentismo da História. A importância de indagar acerca desse lugar nos permite notar a utilização da História a serviço de certa lógica justificadora e legitimadora de questões identitárias, nacionais, raciais e políticas. Além de nos mostrar a História como um discurso do passado que representa as perspectivas nas quais foi construído.
No Brasil, estudos como esse de Glaydson José da Silva estão, aos poucos, ganhando espaço com a formação de grupos de pesquisa dentro do tema da instrumentalização do passado. Um exemplo é o grupo de pesquisa “Antiguidade e Modernidade: História Antiga e Usos do Passado” formado nesse ano de 2010 e cujos líderes são o próprio Silva e a Professora Doutora Renata Senna Garraffoni.
Mesmo que tenhamos resumido a obra História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944) e tecido algumas considerações sobre a sua leitura, destacamos somente aquilo que mais nos interessou. O livro todo possui outras explanações e questionamentos, porém, certamente, a indagação principal é sobre o lugar dos estudos antigos. Para refletir mais profundamente no assunto recomendamos sua leitura integral que, como comenta o Professor Doutor Leandro Karnal na apresentação, não é destinado apenas aos especialistas em Antiguidade, mas “a todos que manifestem alguma preocupação sobre os usos e abusos do passado histórico.” (SILVA, 2007: 16).
Camilla Miranda Martins – Bolsista PIBIC/CNPq.
SILVA, Glaydson José da. História Antiga e usos do Passado. Um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944). São Paulo: Annablume; FAPESP, 2007. Resenha de: MARTINS, Camilla Miranda. Cadernos de Clio. Curitiba, v.2, p.295-304, 2011.Acessar publicação original [DR]
Agincourt: o Rei, a Campanha, a Batalha | Juliet Barker
O livro Agincourt: O Rei, a Campanha, a Batalha da autora inglesa Juliet Barker foi publicado pela primeira vez na Inglaterra em 2005, pela editora Little Brown; foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2009 pela editora Record. Em uma vasta análise bibliográfica e de fontes, a autora descreve todo o processo, desde o início da Guerra dos Cem Anos até a batalha de Agincourt.
Juliet Barker nasceu em 1956 na cidade inglesa de Yorkshire, onde vive até hoje. É historiadora especialista em Idade Média e em literatura bibliográfica. Obteve seu doutorado em História Medieval em St Anne’s College, Oxford e, em 1999, obteve um doutorado honorário de Letras pela Universidade de Bradford. Foi curadora e bibliotecária no Bronte Parsonage Museum [2] e também é membro da Real Sociedade de Literatura inglesa.
A batalha de Agincourt (1415) é um ponto da História muito estudado e que faz parte sem dúvida do imaginário histórico inglês. Incluída no calendário da Guerra dos Cem Anos, assim como Crécy (1346) e Poitiers (1356), os ingleses triunfariam sobre os franceses embora estivessem com um exército consideravelmente menor. Agincourt também foi imortalizada na literatura mundial por ninguém menos que William Shakespeare em seu livro Henrique V. É sem dúvida um tema de relevância altíssima para ser abordado.
O livro foi estruturado em três partes que têm seus respectivos focos, mas todos organizados em seqüência cronológica. Na primeira parte “A Estrada para Agincourt”, há uma breve descrição do contexto inglês e francês dos séculos XIV e início do XV, bem como dos preparativos para a campanha. A segunda parte “A Campanha de Agincourt” trata da campanha que os ingleses empreenderam na França, desde Harfleur até a batalha de Agincourt em si. A última parte “As Consequências da Batalha” versa sobre o que ocorreu posteriormente a esse confronto e o impacto que a batalha teve nos anos seguintes.
Barker destaca o rei Henrique V da Inglaterra. Ela tenta, através de documentos e bibliografia a respeito do monarca, traçar um perfil de como ele teria sido e como foi sua liderança para a campanha na Normandia. Resgatando todo seu histórico, a autora mostra um rei influenciado pelas experiências militares vividas; os contatos pessoais – estes que declara imprescindíveis para o sucesso da campanha de Agincourt, tanto com grandes políticos como com os próprios guerreiros que lutavam por seu exército; enfim, como Henrique V se tornou um ícone, uma inspiração para a hoste inglesa que lutaria pela seqüência da legitimação do poder real inglês sobre a França.
Tem-se também o perfil religioso de Henrique. Como relatado nas fontes, o rei buscava dentro da Bíblia orientações para sua campanha, como no momento em que diz aos sitiados em Harfleur que Deus autorizaria, segundo o livro de Deuteronômio da Bíblia, que saqueassem a cidade se esta não fosse entregue.
A autora faz ainda uma extensa análise para todos os empreendimentos, levantamento de recursos, organização de guerreiros, mercenários, ferreiros, armeiros, cavalos, enfim, tudo o que era necessário para se realizar uma campanha na França. Também se detém no relato do sítio de Harfleur – ponto inicial de um viés prático da campanha. Após isso, só interessa a marcha dos ingleses e tudo o que girava em torno destes até culminar na grande batalha de Agincourt.
Barker analisa o porquê de os ingleses, em um número tão inferior, terem vencido a batalha de forma “simples”: eram um exército muito mais coesos, unidos em torno do rei Henrique V e se sentiam encurralados. Já os franceses estavam subdivididos de forma desorganizada em senhores feudais e nobres egoístas que não tinham como idéia principal unirem-se para vencer. Eram numerosos e julgavam a vitória certa – e a matança fácil. Essa desorganização foi o que os levou à derrota.
Mesmo realçando o papel de Henrique V na batalha, a autora não elabora uma narrativa estritamente política. Ainda sim, é a partir dessa figura que Barker tece uma teia de relações sociais e econômicas, conseguindo quase que contar de forma romântica a história. Embora as fontes tratem majoritariamente da sociedade nobre da época, Barker se permite estudar como agiam todos os membros que compuseram a hoste inglesa e toda a movimentação por trás dela.
É possível identificar ainda as diferenças entre os guerreiros ingleses e franceses, sobretudo focando no aspecto do corpo militar inglês formado em sua grande maioria por arqueiros. Há uma boa análise, embora pudesse ter sido mais explorada, da identidade que caracterizava o exército inglês por sua tática de batalha fundamentada no arco e flecha.
Isso não é um fator que desmereça a obra. Barker fez um trabalho exaustivo de leitura de fontes e análises bibliográficas baseada em diversos autores especialistas no assunto, como Anne Curry [3] e Robert Hardy [4] . É um livro que não relata apenas a batalha de Agincourt em si, pode servir de base para diversas pesquisas dentro do período, e, sobretudo, sobre a Guerra dos Cem Anos.
No Brasil, ainda que o mercado editorial seja tão inconstante a respeito das escolhas por boas traduções, mais sobre uma “História que não nos pertence”, potencialmente haveria um público alvo para o tema. Com a difusão de jogos, filmes e romances que tratam de temas históricos e grandes batalhas cresce cada vez mais o interesse a respeito. Assim, a tradução e publicação em menos de quatro anos desde seu original em inglês é um avanço grandíssimo e que pode servir de exemplo para que mais e mais tenhamos contato com diferentes culturas e Histórias, além de dar suporte a quaisquer estudos que estejam relacionados a esses conhecimentos.
Notas
2. Uma das mais antigas sociedades literárias de língua inglesa do mundo.
3. Historiadora britânica, especialista na temática envolvendo a Guerra dos Cem Anos, especialmente a batalha de Agincourt.
4. Ator inglês, também é especialista em estudos sobre o arco-longo inglês e Comandante da Ordem do Império Britânico (Ordem de Cavalaria inglesa fundada em 1917).
Guilherme Floriani Saccomori1 – Graduando e bolsista do PET-História desde 2009, com pesquisa individual orientada pela Prof. Dra. Marcella Lopes Guimarães intitulada “Arqueiros Ingleses na Guerra dos Cem Anos: a Transição Militar na Baixa Idade Média”.
BARKER, Juliet. Agincourt: o Rei, a Campanha, a Batalha. Rio de Janeiro: Record, 2009. Resenha de: SACCOMORI, Guilherme Floriani. Cadernos de Clio. Curitiba, v.2, p.305-309, 2011. Acessar publicação original [DR]
Artistes Femmes dans La Collection du Musée National d’Art Moderne, Centre de Création Industrielle – ELLES (CP)
Elles@centrepompidou. Artistes Femmes dans La Collection du Musée National d’Art Moderne, Centre de Création Industrielle. Paris, Centre Pompidou, 2009. Resenha de: SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. A difícil arte de expor mulheres artistas. Cadernos Pagu, Campinas, n. 36, Jan./Jun. 2011.
Durante todo o ano de 2009, o Musée National d’Art Moderne, mais conhecido como Centre Georges Pompidou, abrigou uma exposição considerada, por seus curadores, radical e sem precedentes: a das obras de mulheres artistas presentes em sua coleção. O critério curatorial adotado, centrado no gênero dos criadores, ainda que incomum, não é propriamente inédito. O museu organizou em 1995 a exposição Féminin-Masculin: le sexe de l’art e, mais recentemente, em 2007, Wack! Art and Feminist Revolution foi realizada pelo Museum of Contemporary Art, de Los Angeles. Todavia, a dimensão de Elles a destaca e a singulariza; pois como explicita o diretor da instituição, a mostra ocorreu “numa escala jamais realizada por outro museu, reunindo mais de 200 artistas e mais de 500 obras em 8000m²”.1
É interessante notar que, em 2010, com apenas um ano de diferença, o Moma de Nova Iorque lançou o livro Modern Women (Butler e Schwartz, 2010), dedicado ao levantamento, análise e compreensão das obras de mulheres artistas em sua coleção. Ainda que a publicação não resulte de uma exposição, mas sim de um projeto de pesquisa, a sincronia é reveladora. Trata-se de consistente indício do impacto que os estudos sobre as relações entre arte e gênero realizados no ambiente acadêmico foram finalmente capazes de gerar no campo das instituições artísticas. Pode-se dizer que tais debates tiveram início nos anos de 1970, com o célebre artigo de Linda Nochlin (1973), Why there been no greatest women artists, no qual a autora indagava-se sobre as causas da aparente inexistência das mulheres artistas na história. Ao demonstrar que tais lacunas em nada derivariam da ausência “natural” de talentos, mas sim da exclusão feminina das principais instâncias de formação de carreiras artísticas ao longo dos séculos XVIII e XIX – as academias de arte –, a autora ensejou um importante deslocamento explicativo, inaugurando o que se pode denominar como uma perspectiva feminista na história da arte. Desde então, inúmeras monografias, artigos e livros dedicados a mulheres artistas, bem como colóquios, revistas e debates acadêmicos passaram a mobilizar, de diversas maneiras, a dimensão do gênero, para refletir sobre as produções artísticas, sua história e os limites da historiografia da arte tradicional.2 Cabe notar que uma questão nevrálgica em tais estudos diz respeito ao modo desigual com que as instituições historicamente trataram homens e mulheres, o que significa esquadrinhar tanto aquelas instituições dedicadas à formação dos artistas, como àquelas dedicadas à consagração de sua atividade, tais como a crítica de arte, a imprensa, o mercado e, finalmente, os espaços expositivos e os museus. Assim, o fato de dois museus de notória relevância e prestígio, alocados nas duas maiores metrópoles da arte moderna do século XX – Paris e Nova Iorque – terem, quase ao mesmo tempo, produzido uma exposição e um vasto estudo sobre obras das artistas mulheres de suas coleções é, em si, uma resposta concreta e positiva às proposições, indagações e críticas que as relações entre gênero e arte vêm sedimentando há algumas décadas.
Para dar corpo a tal proposta, as obras foram organizadas a partir de divisão temática, e não cronológica. Opção essa que, por sinal, é afirmada na introdução do catálogo como uma diretriz do Musée d’Art Moderne e, diferindo da questão do gênero da autoria, não é debatida com a profundidade esperada em nenhum outro momento.3 Os módulos apresentados em sua sequencia original são os seguintes: Pionnieères [Pioneiras], Feu à Volonté [Fogo livre], Corps Slogan [Corpo Slogan], Eccentric Abstraction [Abstração Excêntrica], Le Mot a l’Oeuvre [Da Palavra à obra], “Un Chambre a Soi” [Um quarto para si], Immaterielles [Imateriais] e “A Propos de l’Exposition” [Acerca da Exposição]. O catálogo que será neste texto discutido é composto por uma introdução para cada um dos módulos assinada por um curador responsável, ao que se segue um conjunto de obras escolhidas como ilustrativas da questão abordada, sem com isso se esgotar todas aquelas presentes na exposição e, ao final, uma série de 15 ensaios e documentos sucintos que permitem recuperar histórica e teoricamente os debates sobre arte e gênero no campo da história da arte.
Tendo em vista a amplitude possível de temas ofertados para a reflexão pelo catálogo e pela mostra, gostaria de me dedicar particularmente a um: a escolha por expor “apenas” mulheres artistas; questão que possui centralidade nos estudos sobre arte e gênero. O partido adotado provoca inúmeros questionamentos que, sabiamente, os curadores não tentaram responder de modo definitivo ou tranquilizador. Elles se pretendeu mais do que uma exposição de obras selecionadas por sua suposta inquestionável qualidade artística dispostas num espaço museal tendo como fim último a sua simples visibilidade. A mostra procurou suscitar um vasto programa pluridisciplinar de discussões sobre as complexas relações entre arte e gênero. Prova disso é que ao lado da exposição e do catálogo, o Museu colocou a disposição um amplo conjunto de documentos em seu site (vídeos históricos e contemporâneos, entrevistas com artistas, textos críticos, manifestos etc.), bem como estimulou debates virtuais sobre temas diversos que perpassam e tangenciam a exibição.4 O próprio catálogo publicado exibe constantemente a preocupação com as bases teóricas que alicerçam as escolhas, amparando e sustentando o gênero como um critério possível e instigante de indagação, ao mesmo tempo em que não se furta a enfrentar um evidente dilema: a fim de dar visibilidade às mulheres artistas optou-se por autonomizá-las em função de algo em comum, seu pertencimento ao mesmo “sexo”5, com isso não se incorre no perigo de suscitar a falaciosa crença na existência de uma sensibilidade, uma plástica, um espírito comum a todas? Ou, em outros termos, se estaria revisitando o fantasma de uma “arte feminina”?
Tamar Garb (1989) demonstrou o nascimento da categoria “arte feminina” no século XIX como um nicho particular para abrigar o que era então uma novidade: um grande contingente de artistas do sexo feminino que almejavam expor suas obras. Para tanto as associações femininas como a Union des femmes peintres et sculpteurs desempenharam um papel fundamental ao possibilitarem que as artistas expusessem seus trabalhos, o que não era de pouca importância tendo em vista as dificuldades que enfrentavam para se formarem e serem avaliadas de modo equiparável aos homens. Todavia, esses salões exclusivos estimularam um olhar diferenciado para as suas obras, que paulatinamente passaram a ser julgadas não a partir de valores estéticos determinados pelo campo artístico, mas sim de expectativas sociais ditadas pelas demandas de seu gênero, como a de serem “doces”, “femininas”, “delicadas”, “graciosas”, etc. No limite, a “arte feminina”” impôs-se então como uma modalidade classificatória perigosa na medida em que tanto solapava a diversidade estética das obras feitas por mulheres, quanto as afastava dos debates estéticos centrais.
Em La gêne du féminin, um pequeno e lúcido ensaio presente no catálogo, Élisabeth Lebovici (276-279) aborda o modo com que a categoria “arte feminina” continuou a ecoar no olhar dos críticos na França da primeira metade do século XX, fazendo-se perceptível nos escritos de Camille Mauclaire, Appolinaire e mesmo Aragon. O feminismo dos anos de 1970 a retoma, em um novo contexto, atribuindo-lhe sentido diverso. As ideias de Hélène Cioux podem ser vistas como emblemáticas desse momento, pois sua defesa de uma “escritura feminina” como expressão de uma subjetividade diversa daquela predominante (a masculina) recoloca a existência de um estilo comum às mulheres. Todavia, trata-se agora de uma categoria reivindicada pelos próprios sujeitos e, vale frisar, positivada.
O mencionado artigo, bem como o escrito por Quentin Bajac dedicado ao módulo “Feu à volonté“, que inclui obras mais diretamente relacionadas ao feminismo, exploram bem a diversidade que a questão assumiu a partir da década de 1980, transcendendo (ainda que reconhecendo a relevância histórica) do discurso essencialista que prevaleceu nos anos de 1970. Nesse sentido, apresentam-se desde obras que tratam de modo militante a questão das diferenças de gênero, questionando o lugar das mulheres na história da arte, tais como as “Guerrilas Girls”, bem como outras produções que abordam de modo irônico os valores estéticos dominantes, tais como Rebecca Horn, Louise Lawer, ou Rosemarie Trockel. A partir dos anos de 1980, segundo o autor, cada vez mais mulheres artistas lançam seu olhar sobre a história em seu sentido mais público, destacam-se então fotógrafas como Susan Meiselas, e seu retrato dos conflitos na América Central, ou ainda Tania Bruguera e Sigalit Landau em sua busca por documentar os conflitos entre Israel e Palestina. O íntimo e o político convergem nos trabalhos de Sanja Ivekovic e Sandra Vásquez de la Horra, ambas alternando suas memórias pessoais ao passado recente de seus países, os conflitos na ex-Iugoslávia e a ditadura de Pinochet no Chile, respectivamente. Como finaliza o autor, essa geração coloca-se a tarefa de debater o papel das mulheres na história contemporânea. Seja como for, percebe-se que o fardo da tradição associada à “arte feminina” ainda coloca-se para muitas artistas como um tema que tanto pode ser reivindicado, como criticado, parodiado, ironizado, ou negado.
Retomo então o problema: expor obras de artistas mulheres em separado é, realmente, uma boa opção? O capítulo de Camile Morineau (14-19) intitulado Elles@centrepompidou: un appel à la difference é um dos que mais diretamente enfrenta a pergunta. Segundo a autora, o gesto expositivo é propositalmente paradoxal. O museu optou por expor apenas mulheres, mas não para demonstrar que existe uma arte feminina ou um objeto feminista, mas ao contrário, para explodir as supostas unidades e estereótipos. Alicerçando-se nas teorias de Joan Scott (1996), retoma-se a existência de dois universalismos contraditórios na origem do pensamento republicano francês. Primeiramente, aquele dos direitos políticos individuais, universalista, igualitário e válido para aos homens (pois apenas para eles facultava-se a plena cidadania e participação política) e, por outro lado, o universalismo da diferença sexual, considerada como diferença “natural” entre homens e mulheres, a qual subsidiaria expectativas de atuações sociais diversas para cada sexo. Como defendeu a autora, na história contemporânea da França o universalismo da diferença prevaleceu sobre o dos direitos naturais, a ponto do indivíduo abstrato não ser neutro, mas masculino. A desnaturalização de tal sujeito passa, necessariamente, pelo reconhecimento de que existe um “outro” não representado nessa categoria, esse outro oculto e silenciado que são as mulheres. O desmascaramento da masculinidade sub-reptícia implícita no sujeito universal iluminista exige que se reivindique o lugar da “diferença” da categoria mulheres, diferença essa que, ironicamente, foi a base sobre a qual se erigiu todo um sistema de desigualdades sociais.
Nesse sentido, a exposição é atravessada por um duplo e profundo paradoxo, como todo gesto que tenta interrogar, retificar ou simplesmente evocar uma paridade não resolvida. De um lado, o ato que impede as mulheres de tomar a palavra; de outro, aquele que as impede de a tomarem a não ser em nome das mulheres. Assim, a conclusão de Scott é reivindicada por Morineau como legitimadora dos partidos curatoriais tomados: a fim de almejar o universalismo, é preciso paradoxalmente tomar a palavra, para tanto fazendo-o em nome da diferença das mulheres, a mesma que, num primeiro momento, as conduziu à exclusão. É justamente essa a contradição de reivindicar a particularidade com vistas a promover a visibilidade das artistas, a multiplicidade de suas potencialidades, suscitando uma autocrítica dos atores e instituições, que permitirá um objetivo ainda maior, o de promover uma outra história da arte possível. Trata-se de finalmente dar a “elles” a palavra, por meio de um gesto ambíguo no qual a diferenciação pelo gênero existe apenas para abrir-se para a universalidade, a mistura e a excelência; no limite, para explodir a própria unidade contida na ideia da diferença que supostamente as uniria (17).
O texto de Morineau exibe, de modo muito bem fundamentado teoricamente, as justificativas das escolhas curatoriais. Todavia, quando examinamos as subdivisões em módulos tais como se nos apresentam pelo catálogo, novas interrogações despontam, sendo estas sugestivas muito mais da dificuldade de encontrar critérios coerentes teoricamente e artisticamente para congregar obras do que de qualquer tipo de ausência de capacidades da parte dos seus idealizadores. No limite, a exposição pode também ser tomada como um exemplo instigante das muitas dificuldades contidas nas escolhas e atividades dos curadores.
O primeiro dos módulos intitula-se Pionnières [Pioneiras]. Congrega a produção de artistas pertencentes ao círculo das vanguardas desde finais do século XIX até os movimentos mais tardios, como o surrealismo das décadas de 1930 e 1940. Tais mulheres enfrentaram um desafio comum: o de lidarem de modo complexo e inventivo com os estereótipos e preconceitos tradicionais que se abatiam sobre a arte feita por mulheres em suas épocas. Casos como os de Suzanne Valadon, Marie Blanchard e Marie Laurencin são paradigmáticos das possibilidades de ingresso no mundo artístico inauguradas com os circuitos modernistas das quais todas fizeram, ativamente, parte. Mas suas inserções foram pautadas pelo signo da ambiguidade. O modo com que Appollinaire julgou Marie Laurencin como uma típica representante de uma arte moderna “feminina” é esclarecedor; exemplifica uma tendência interpretativa geral que prevalecia na primeira metade do século XX mesmo no interior dos circuitos modernistas.6
O texto de apresentação do módulo, assinado por Cécile Debray, explicita que tais artistas enfrentaram, criativamente, o peso da herança identitária que sobre elas pesava. Tanto a herança de gênero, tantas vezes presente nas obras de cunho criticamente autobiográfico como as de Frida Kahlo ou Hannha Höch, quanto o modo com que o gênero associou-se a outra herança, a das tradições culturais não-eurocêntricas – questão evidente nas incorporações de padrões iconográficos e artesanais levados a cabo Natalia Goncharova e, novamente, Frida Kahlo. Vale notar que no texto de Debray, bem como no sucinto e muito sugestivo ensaio assinado por Patrick Favardin (248-249) sobre as mulheres e o design, a maneira com que as artistas lograram revolucionar os estereótipos de gênero que rondavam tanto as tradições artesanais quanto elementos da cultura material atrelados a uma feminilidade desvalorizada, é um mote precioso. Lembremos aí da transformação que Sonia Delaunay imprimiu às artes têxteis, antes vistas como “naturalmente” domésticas, artesanais e femininas, ou seja, inferiores, e que, depois de sua aplicação particular do orfismo às estamparias, tapetes e à moda, tornaram-se emblemáticas de um modo de ser moderno.
Também os casos Charlotte Perriand e Janette Laverrière são muito sugestivos. Ambas pertenceram aos mais afamados círculos de vanguarda de seu tempo e obtiveram sucesso em suas carreiras por se notabilizarem como produtoras de linguagens extremamente modernas no interior de práticas até então negligenciadas, porque feminilizadas, como a decoração de interiores. Para compreender as trajetórias, Favarday lança mão de uma perspectiva analítica fecunda, presente também no artigo de Debray, que é a de entender o ingresso das artistas nos circuitos de vanguarda por meio da interação estabelecida com os colegas homens, ou seja, pelos vínculos de parceria diversos que lograram constituir. Tal visada permite compreender a particularidade das trajetórias e obras, percebidas em sua materialidade, sem as autonomizar excessivamente. Obras e artistas mulheres são vistas em sua relação com a de outros artistas com quem dialogavam, tanto em suas vidas cotidianas, quanto em seus trabalhos. Tal tipo de análise contextualiza o modo com que a dimensão do gênero pesava concretamente sobre as artistas, traduzindo-se em estilos, modalidades e práticas que lhes eram então “destinadas”, tais como as artes decorativas, aplicadas – em uma expressão, as artes vistas como “domésticas”. No entanto, como o texto permite ver, as determinações não eram absolutas ou intransponíveis: tais pioneiras destacaram-se pela forma com que subverteram tal legado, logrando construir carreiras bem sucedidas em campos até então ora compreendidos como masculinos, ora subvalorizados por serem femininos. Suas atuações foram fundamentais na promoção da própria reavaliação da importância de tais modalidades, conferindo-lhes um novo lugar na história da arte.7
A indagação consciente e política do lugar das mulheres na história da arte que caracteriza a produção feminista em vigor nos anos 1970 e 1980 é o mote do segundo módulo do catálogo, Feu a Volonté. Nele encontram-se reproduzidas obras de Orlan, Judy Chicago, Betty Tompkins, Rosemaire Trockel, Chantal Akerman, Niki de Saint Phale, etc. Para além da inegável qualidade das obras e das artistas representadas, o que as une? Quando se observa suas produções percebe-se que para algumas a crítica à sociedade “patriarcal” passa pela tematização do corpo feminino e da afirmação de sua força sexual, como, por exemplo, na obra de Orlan, “Baiser de l’artiste”, que em seu contexto, 1975, era transgressora; ou ainda nas obras propositalmente eróticas de Judy Chicago, Betty Tompkins e Hannah Wilke. Mas há dúvidas sobre o porquê dessas artistas terem sido inseridas nesse módulo e não no seguinte, Corps Slogan. Este é dedicado justamente à forma com que o corpo consiste em um mote privilegiado da pesquisa e criação estética para diversas mulheres, visível especialmente no espaço que as performances ocupam em seus trabalhos.
Outras artistas escolhidas como representativas do módulo Feu à Volonté no catálogo incorporam o feminismo por meio de um debate sobre a feminilização dos meios artísticos, tais como Rosemaire Trockel que, em sua leitura crítica do legado da abstração racionalista de Malevitch, compõe obras em faturas tradicionalmente vistas como “femininas’, como os tecidos e os bordados. E novamente pergunto-me, por que está nesse módulo e não em Eccentric Abstracion? – espaço no qual o tema geral é justamente a forma com que diversas artistas questionaram e subverteram a teoria modernista, paradigma dominante na história da arte contemporânea, que em sua defesa da evolução artística rumo à simplificação das formas, e da busca de uma essência (conceitual?) tendeu a sub-valorizar práticas, estilos e plásticas associadas às dos “outros”, como as mulheres, os artistas naif, ou as “artes primitivas”. O ornamento, a decoração, a cor, a materialidade artesanal, tudo aquilo que, grosso modo, Camile Morineau, autora do texto dedicado a esse módulo denomina como “arte orgânica”, tornou-se uma espécie de excrescência nesse trajeto da arte contemporânea rumo à uma pureza estrutural. Nas mãos de tais artistas, tais “sobras” ou “desvios” tornam-se matéria constitutiva, predominante. Ao trazerem para o centro aqueles elementos que estavam à margem, elas subvertem o discurso, colocam em xeque sua unicidade, sua supremacia. A escolha de artistas como Valérie Jouve, Hanne Darboven, Ghada Amer, entre outras, é plenamente satisfatória, as obras convincentes. O problema é entender porque algumas artistas estão nesse módulo e não em outro. Por vezes, o catálogo enseja a sensação de que a proposta teórica, apesar de lúcida e consistente, bem como as obras, de inegável qualidade, não se combinam. Ou seja, o discurso, apesar de interessante, não encontra apoio nas materialidades das obras que ali se exibem.
Esse problema permanece em outros espaços abordados no catálogo. O que diferencia, formalmente, as obras reproduzidas no módulo Le mot a l’oeuvre – dedicado à problemática da arte conceitual, entendida como uma pesquisa consciente da questão da linguagem artística, um dos momentos da história de desmaterialização da obra de arte característica de parte da produção da segunda metade do século XX – do módulo seguinte, Immaterielles, que o próprio título indica tratar-se da problemática da desmaterialização? No primeiro caso, o catálogo esclarece, existira uma preocupação (especificamente feminina?) com o questionamento sobre a linguagem enquanto discurso, sobre o “eu” que emite a palavra; enquanto que no segundo caso haveria uma reivindicação da plena autonomia do artista, sendo a questão do gênero superada por um novo tipo de sensação de universalidade. Se no discurso tal diferenciação parece convincente, quando olhamos as obras que o catálogo apresenta como representativas, as diferenças, os critérios, tornam-se bem menos visíveis. Só para dar alguns exemplos, Nan Goldin com sua instalação “Heartbeat” parece tematizar muito mais a questão da sexualidade e da identidade sexual, própria a outros módulos que não a questão conceitual8; Gina Pane com a exposição de “Action Autoportrait(s): mise en condition, contraction, rejet” bem poderia estar em Feu à Volonté9; Marine Aballéa com seu trabalho sobre o gênero dos objetos exibido em “The Memory Club” ficaria bem melhor no módulo “Un chambre a soi”, dedicado à tematização da relação entre o espaço e as mulheres, do que entre artistas conceituais.
Enfim, apesar de textos, obras, artistas e objetivos serem excelentes, por vezes parecem disparatados. A opção temática, e não histórica, que ordena os módulos pode ser sugestiva à reflexão, mas talvez não o seja para uma vista à exposição, ou seja, produz debates instigantes e fundamentados intelectualmente, mas padece justamente de seu intelectualismo. As obras apresentadas como ilustrativas dos textos nos catálogos nem sempre correspondem ao que delas é exigido. E não porque elas não são capazes de comunicar, porque não provoquem, mas porque os critérios curatoriais parecem corresponder por vezes mais a escolhas teóricas prévias do que aquelas suscitadas pelas próprias obras e artistas.
Expor as obras de artistas mulheres, por tanto tempo negligenciadas pelas instituições, é uma real contribuição para a revisão da historiografia da arte dominante, mostrando um notável avanço das instituições. Fomentar a discussão pública sobre tais temas, bem como gerar um catálogo com textos de alto calibre é também uma postura muito bem vinda, contribuindo para o adensamento do campo de pesquisas e reflexões em história da arte na contemporaneidade, algo que poderia ser replicado em outros eventos semelhantes, inclusive no Brasil. Mas Elles não veio para aplacar o leitor, e sim para inquietá-lo. Assim, as dúvidas sobre as opções delineadas pelos partidos curatoriais debatidos no catálogo produzido a partir da exposição podem permanecer, ser alvo de novos questionamentos. Organizar as artistas apenas em função do gênero é de fato um critério que subsiste às décadas de uma história da arte compromissada com a crítica da separação entre os gêneros, que tanto tem insistido em sua dimensão “relacional”? Não teria sido também oportuna uma reflexão sobre as políticas de aquisição institucionais a partir da década de 1960? Quais são, afinal, os critérios que guiaram a constituição dos acervos e, portanto, que permitiram a formação desse conjunto notável mobilizado pela exposição e reproduzido em seu catálogo, mas ainda assim sujeito a ausências de outras artistas? Questões essas suscitadas a partir do debate possibilitado por esse evento complexo e corajoso que se intitulou “Elles”, que já nasceu como um marco e permanecerá por meio das reflexões que é capaz mobilizar.
Referências
Broude, Norma & Garland, Judith. Feminism and Art History. Questioning the Litany. New York, Harper & Row Publishers, 1982. [ Links ]
Butler, Cornelia and Schwartz, Alexandra. (orgs.) Modern Women. Women Artists at the Museum of Modern Art. New York, Moma, 2010. [ Links ]
Garb, Tamar. L’Art Féminin: The Formation of a Critical Category in Late Nineteenth-Century France. Art History, London, vol. 12, nº 1, mar 1989, pp.39-65. [ Links ]
Nochlin, Linda. Why There Have Been no Gratests Women Artists? Art and Sexual Politics. New York, Macmilan Publishing Co, 1973, 2ª ed. [ Links ]
Pollock, Griselda. Vision and Difference. Feminity, Feminism and the Histories of Art. London, Routledge, 1994a. [ Links ]
Pollock, Griselda. Histoire et politique: l’histoire peut-elle survivre au feminism?. Féminism, Art et Histoire de l’Art. Paris, Esnba, 1994b. [ Links ]
Scott, Joan. Genre: une catégorie utile d’analyse historique. Les Cahiers du Grif, Paris, nº 37/38, 1998. [ Links ]
Scott, Joan. Only Paradosex to Offer. French Feminism and the Rights of Man. Harvard University Press, 1996. [ Links ]
Weltge, Sigrid Wortmann. Women’s Work. Textile Art From the Bauhaus. London, Thames and Hudson, 1993. [ Links ]
Notas
1 No original: “[….]D’où l’idée de leur consacrer la totalité de cette nouvelle installation de la collection, d’étender cette présentation à une échelle jamais atteinte par aucun musée, rassemblant plus de 200 artistes et plus de 500 oeuvres sur quelque 8000m2” (13).
2 A bibliografia a esse respeito é por demais extensa para que possa ser aqui resumida. Sugiro então algumas obras de referência que sintetizam parcialmente o debate: Broude & Garland, 1982; Pollock, 1994 a e b.
3 Existem vários critérios curatoriais possíveis, dentre eles os mais recorrentes são os que agrupam as obras ou autores por sua proximidade histórica, ou ainda por afinidade estilística, fazendo parte de escolas, movimentos ou grupos artísticos comuns, bem como as divisões por nações, países ou regiões, entre diversas outras possibilidades.
4 A exposição foi um evento catalisador de várias outras intervenções. O catálogo é apenas um de seus desdobramentos. O site inclui numerosos documentos, obras, debates e textos que foram postados ao longo do tempo em que exposição ficou em cartaz, portanto contendo informações que transcendem e complementam tanto a exibição quanto o catálogo dela resultante. Para maiores informações, consultar: http://elles.centrepompidou.fr
5 Sobre a complexa diferença entre sexo e gênero, consultar: Scott, 1998.
6 Como aponta Cécile Debray (26), Laurencin é abordada pela historiografia como uma “musa” de sua geração, e não como uma pintora plena. Para tanto, os textos de Appolinnaire tiveram papel fundamental ao se referirem a ela como “graciosa”, bem como alguém que se situa entre Picasso e Douanier Rousseau, ou seja, sem uma independência artística absoluta.
7 Nesse ponto há uma lacuna incompreensível a se considerar tanto no catálogo quanto no acervo do Museu: o das mulheres artistas da Bauhaus. A esse respeito, consultar: Weltge, 1993.
8 A obra projeta 245 fotografias coloridas, nas quais duplas compostas por mulheres-homens, homens-homens, mulheres-mulheres são captadas em cenas sexuais, ao fundo escuta-se a canção “Prayer of The Heart”. Ver catálogo, p. 192.
9 Nessa obra de 1973, a artista registra uma performance dedicada a “transposer l’auatocréation em signe autonome de la femme”, para tanto recupera atividades pulsionais que sobre elas pesam no nível do espírito e da matéria: dor, fantasmas, contradições, rejeição, são modos de provocar “la desctruction de quelque chose pour la mise au jour d’um nouveau langage: celu de la FEMME” [….], ver Elles@centrepompidou, pp.202-203.
SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti Simioni – Doutora em Sociologia pela USP, docente do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP), E-mail: ana.simioni@hotmail.com.
[MLPDB]
Dicionário Crítico do feminismo – HIRATA (CP)
HIRATA, Helena; Laborie, Françoise et al. Dicionário Crítico do feminismo. São Paulo, Editora UNESP, 2009. Resenha de: ABREU, Maira. Dicionário crítico do feminismo. Cadernos Pagu, Campinas, n. 36, Jan./Jun. 2011.
Publicado originalmente em francês1 e traduzido no ano de 2009 para o português, o Dicionário crítico do feminismo vem preencher uma importante lacuna no Brasil. Primeira obra do gênero editada no país2 oferece um panorama – numa linguagem clara e acessível a não especialistas – dos grandes temas do movimento feminista (aborto e contracepção, violências, família, etc.), polêmicas e conceitos centrais desse movimento (igualdade x diferença, patriarcado), além de interpretações feministas de algumas categorias (dominação, desemprego, trabalho, cidadania, poder).
São 48 verbetes formulados, em sua grande maioria, por autoras/es francesas/es, entre as quais um grande número de sociólogas, baseados numa bibliografia predominantemente francófona, embora em diálogo com outras produções. A proposta não é “colocar em ordem alfabética um conjunto de conhecimentos adquiridos”, ou seja, o Dicionário não tem a pretensão de contemplar toda a pungente produção teórica sobre o tema já produzida– proposta pouco factível – mas, “transmitir uma nova grade de leitura”, tornando “metodologicamente visível a sexualização do social e seus efeitos”, e colocando no centro do debate “a problemática da dominação entre os sexos e suas consequências” (13).
No Brasil, a pretensão de “transmitir uma nova grade de leitura” ganha outra dimensão. Por motivos que caberiam ser investigados e que pertencem a múltiplos fatores históricos, culturais, intelectuais e institucionais da constituição do campo de “estudos de gênero” no país, aqui foram privilegiadas teorias desenvolvidas nos países anglo-saxões. Deve-se ter em mente que há sempre um conjunto complexo de mediações de natureza diversa na constituição dos aparatos teórico-conceituais, que são elaborados no bojo de disputas políticas e em simbiose com as tradições intelectuais, históricas e políticas de um determinado contexto. É por isso que a “diversidade de sotaques” nas ciências humanas é fundamental para o cosmopolitismo das ideias (Ortiz, 2002). Assim, um dos méritos da publicação do dicionário no Brasil é de permitir um maior contato, em português, do público brasileiro com alguns debates feministas franceses, abrindo meios para um diálogo entre essas produções teóricas. As escassas traduções da produção feminista francesa para o português, aliada à preponderância do inglês como “segunda língua”, tornou a referida produção pouco acessível a um público mais amplo no país, mesmo se tratando de estudantes da área de ciências humanas.
As especificidades do contexto francês suscitaram uma produção teórica com características bastante distintas em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Os conceitos “relações sociais de sexo” (rapports sociaux de sexe) e “modo de produção doméstico” são exemplos de contribuições teóricas do feminismo francês. Esse quadro conceitual pode causar certo estranhamento em parte das/os leitoras/es brasileiras/os mais acostumados a outros referenciais teóricos e conceituais.
Alguns verbetes são fundamentais para compreender o contexto teórico/político feminista francês, entre os quais destacamos: “diferença dos sexos”, “igualdade”, “movimento feminista”, “patriarcado (teorias do)”, “sexo e gênero”, “universalismo e particularismo”.
A escolha dos temas abordados também é bastante significativa do contexto de elaboração da obra. Chamam a atenção, por exemplo, verbetes como “paridade”, “diferença sexual” e a ausência de outros como “gênero” e “queer“. Destaca-se também um grande número de verbetes relacionados à temática trabalho (“trabalho”, “ofício, profissão, bico”; “categorias socioprofissionais”, “desemprego”, “divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo”, “emprego”, “flexibilidade”, “saúde no trabalho”, “sindicatos”, “trabalho”, “trabalho doméstico”, etc.), que parece refletir em parte temas de interesse do grupo que organizou a obra. Segundo o esclarecimento no prefácio, essa obra é fruto da atividade do Grupo de Estudos sobre Divisão Social e Sexual do Trabalho (GEDISST-CNRS) que ganhou o nome de Gênero, Trabalho, Mobilidades (GTM)3 em 2005 (16).
Em análise comparativa com outros dicionários congêneres produzidos nos Estados Unidos percebe-se que no Dicionário em questão são poucos os verbetes relacionados à “sexualidade”. Brigitte Lhomond ressalta que alguns debates relacionados à temática que deram lugar a “vívidas polêmicas nos países anglo-saxões” restaram marginais na França – como, por exemplo, prostituição, pornografia, sadomasoquismo dentre outras práticas sexuais (234). O fraco interesse por alguns debates que polarizaram feministas estadunidenses, como pornografia e políticas sexuais em geral, é uma questão ressaltada em outras obras . Para Lilian Mathieu (2003:45-46), diante do pouco interesse das feministas francesas pela discussão sobre prostituição, a presença de dois verbetes sobre o tema no Dicionário seria um “fato excepcional”. Cabe ressaltar que é o único verbete com esse formato. O primeiro, escrito por Claudine Legardinier, define a prostituição como “uma organização lucrativa, nacional e internacional de exploração sexual do outro” (198) e critica a expressão “trabalhadoras do sexo” que legitimaria “a ideia de que a mercadoria sexo se tornou um dado indiscutível da economia moderna” (200). Por outro lado, Gail Pheterson, autora do segundo verbete, define a prostituição como uma instituição de regulação das relações sociais de sexo, procurando mostrar que há um continuum de trocas econômico-sexuais entre homens e mulheres, no qual a prostituição seria somente uma de suas modalidades (203-204).
No prefácio da obra, as organizadoras esclarecem que as análises que concebem a prostituição como um trabalho e aquelas que a definem como uma violência constituiriam, na França, pontos de vista irredutíveis e por isso a opção de apresentar duas rubricas contraditórias (15).4
Ainda sobre os verbetes, uma outra observação pertinente para o público brasileiro é que alguns estão bastante presos ao contexto francês, como “sindicatos”5, por exemplo.
Em relação ao referencial teórico predominante no Dicionário, cabe fazermos alguns comentários. Françoise Collin, no verbete “diferença dos sexos (teorias da)”, enfatiza a importância da ideia de universalismo, vinculada às tradições cultural, filosófica e política herdadas do racionalismo iluminista, para o feminismo francês. Em “universalismo e particularismo”, Eleni Varikas reconstrói as origens da noção de universalismo e assim resume um dos dilemas da discussão para o feminismo:
O interesse geral está tão associado a uma visão homogênea e uniforme do ‘corpo’ político que qualquer expressão de particularidades é imediatamente tida como suspeita de um particularismo ameaçador do princípio da universalidade dos direitos, que fundou a sacrossanta República (269).
Embora o verbete “movimentos feministas”, de autoria de Dominique Fougeyrollas-Schwebel, enfatize a clivagem entre feminismo radical, marxista e liberal, essa não foi a divisão mais importante dentro do MLF (Mouvement de Libération des Femmes) na França (Picq, 1993 e Kandel, 2000). A polarização entre feminismo universalista e diferencialista, que dividiu MLF e provoca vivas polêmicas até os dias atuais, abordada por Collin no verbete acima mencionado, é fundamental para o feminismo francês. O Dicionário se insere claramente dentro de uma perspectiva universalista para a qual, como define Collin, a diferença que caracteriza homens e mulheres seria em si mesma insignificante e “sua importância determinante e socialmente estruturante é um efeito das relações de poder” (62).
Por tudo isso, pode-se perceber o distanciamento do Dicionário daquilo que ficou conhecido como “french feminism“. Essa categoria, muito utilizada por acadêmicas anglófonas, engloba um conjunto de elaborações influenciadas pela psicanálise lacaniana e outros autores/as pós-estruturalistas, cujos principais nomes seriam Helene Cixous, Julia Kristeva e Luce Irigaray, e que têm, em maior ou menor medida, afinidades com as ideias da corrente diferencialista do feminismo francês.6
Outra particularidade do feminismo francês foi a importância do marxismo na sua constituição. Ao contrapor os movimentos feministas europeus ao contexto norte-americano Fougeyrollas-Schwebel enfatiza que nos primeiros “a relação com os partidos de esquerda é essencial e a dialética de inclusão-exclusão é permanente” (148). Como nos lembra Teresa de Lauretis, a ideia de que as mulheres não constituem um “grupo natural”, cuja opressão seria o resultado de sua natureza física era compartilhada por diversas feministas de contextos diversos, “ainda que na Europa essa compreensão tenha precedido o feminismo, na América anglófona ela frequentemente seguiu e foi resultado de uma análise feminista do gênero” (Lauretis, 2003).
As militantes do MLF eram provenientes, em grande medida, de organizações de esquerda, embora a relação de muitas dessas com esses agrupamentos fosse de oposição e até mesmo de ruptura. As elaborações teóricas feministas na França se deram em constante debate com a teoria marxista, e é nesse contexto que devem ser compreendidos alguns dos seus conceitos e propostas. Uma das correntes que surge no seu bojo e que tem significativa influência do marxismo é o feminismo materialista. Essa perspectiva, que teve pouca divulgação e impacto no Brasil, mas cuja penetração foi significativa na França entre pesquisadoras de ciências humanas, particularmente sociólogas (Giraud, 2004:109), desponta em diversos momentos do Dicionário. Essa corrente surge no interior das mobilizações feministas francesas no final dos anos 1970, e se articula inicialmente em torno da revista Questions féministes, tendo como marca um posicionamento antiessencialista. A crítica ao naturalismo proposta consiste não somente na compreensão do caráter cultural das noções de feminilidade e masculinidade, mas, de maneira ainda mais radical, na afirmação de que as diferenciações sociais entre os sexos não preexistem logicamente às relações sociais que as engendram. Estão entre as propositoras dessa perspectiva Christine Delphy, Nicole-Claude Mathieu, Monique Wittig, Paola Tabet, Colete Guillaumin, entre outras. As duas primeiras autoras colaboraram com o Dicionário, e suas contribuições são expressamente mencionadas ao longo da obra, assim como as de outras autoras citadas. O primeiro parágrafo do verbete “divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo”, de Danièle Kergoat, sintetiza algumas das contribuições desse referencial:
As condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, sobretudo, construções sociais. Homens e mulheres não são uma coleção – ou duas coleções – de indivíduos biologicamente diferentes. Eles formam dois grupos sociais envolvidos numa relação social específica: as relações sociais de sexo. (67)
No Brasil, é muito difundida a ideia de uma certa equivalência entre teorias pós-modernas e uma perspectiva antiessencialista, como se a segunda só pudesse ser fruto da primeira posição. É interessante notar que os referenciais antinaturalistas vêm, em grande medida, nessa obra, de autoras de outras perspectivas teóricas. Além disso, percebe-se até mesmo uma certa reticência, por parte de algumas autoras, em relação às teorias chamadas de “pós-modernas” ou “pós-estruturalistas”. Collin faz referência ao “pouco impacto” dessa perspectiva na França (64). Para Danielle Juteau essas teorias ocultariam frequentemente “as relações sociais fundadoras das categorias de sexo” (93). Para Nicole-Claude Mathieu nessas teorias “os aspectos simbólicos, discursivos e paródicos do gênero são privilegiados em detrimento da realidade material histórica das opressões sofridas pelas mulheres” (228).
Uma polêmica que perpassa o Dicionário já mencionada na introdução como uma das grandes controvérsias do livro é sobre o uso da categoria “gênero”. O termo é frequentemente descrito como “de origem anglo-saxã” (15), “muito utilizado nos meios anglo-saxões” (93). Para Françoise Collin, o termo “importado dos Estados Unidos e traduzido por ‘gênero'” não seria de “uso habitual” na França (59). Sabe-se que o conceito não teve aceitação imediata na França, mas, apesar das controvérsias, foi progressivamente incorporado. Embora seja de uso menos frequente que “relações sociais de sexo”, o termo aparece em diversos verbetes. Múltiplas são as razões para que o conceito não tivesse uma aceitação imediata na França – e aqui não me limito às argumentações presentes no Dicionário. Para algumas autoras, o uso do termo “gênero” seria não só inapropriado como desnecessário. Um primeiro motivo, dentro dessa argumentação, é que “gênero” seria um estrangeirismo desnecessário, chegando ao ponto de considerá-lo como “tão somente um anglicismo irritante” (Ozouf e Sohn apud Offen, 2006). Delphy nos alerta para o que ela considera ser uma certa “hostilidade irracional contra aquilo que é visto como uma ‘importação do exterior'” (177) existente na França. Embora algumas objeções ao uso do conceito de gênero na França se enquadrem nessa argumentação, há oposições de outra ordem que comentaremos ligeiramente a seguir.
Algumas leituras apontam para o caráter intraduzível do termo “gender” para o francês. Há inclusive uma recomendação oficial de 2005 da Comissão Geral de Terminologia e Neologismo (França) para o uso de termos franceses equivalentes ao termo “gender“, considerando que não há necessidade linguística que justifique a substituição de “sexe” por “genre“.[7] Nicole-Claude Mathieu, no verbete “sexo e gênero”, menciona algumas outras objeções ao uso. Para algumas autoras, a distinção entre sexo e gênero, uma vez que compreenderia uma dicotomização entre biológico e cultural, acarretaria uma reificação da biologia, ocultando, assim, seu caráter ideológico e histórico. Para outras, o conceito de gênero eufemizaria as relações de poder e a ideia de antagonismo social correspondente a um sistema de exploração e dominação. Mas percebe-se que em muitos momentos as categorias “gênero” e “relações sociais de sexo” são utilizadas como sinônimos, sem que isso implique necessariamente um posicionamento teórico. Como enfatiza Delphy
não mais que outros termos de Ciências Sociais, os termos ‘patriarcado’, ‘gênero’ ou ‘sistema de gênero’, ‘relações sociais de sexo’ ou ‘relações sociais de gênero’, ou qualquer outro termo suscetível de ser empregado em seu lugar, não têm definição estrita e tampouco uma com a qual todos estejam de acordo (177-8).
Essa obra constitui um bom “guia” para uma viagem por alguns dos conceitos e propostas de um movimento teórico-político que revolucionou o século XX. Mas, trata-se de um dicionário, como procuramos mostrar, profundamente ancorado numa certa tradição teórica feminista francesa. O quadro teórico utilizado, a bibliografia que serviu de referência, os verbetes escolhidos são resultado de um contexto teórico/político particular. O caráter situado dessas elaborações, como de qualquer outra, não pode ser esquecido. Mas isso, de forma alguma, tira a pertinência da edição da obra no Brasil. Esperamos que a viagem dessas teorias ao país traga novos elementos para os debates brasileiros.
Referências
Code, Lorraine. (org.) Encyclopedia of feminist theories. Londres/Nova York, Routledge, 2000. [ Links ]
Delphy, Christine. L’invention du “French Feminism”: un démarche essentielle. Nouvelles Questions Féministes, Paris, vol. 17, nº 1, 1996, pp.15-58. [ Links ]
Gambe, Sara. (org) The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism. Londres, Routledge, 2001. [ Links ]
Giraud, Véronique et alii. Fonde en théorie qui n’y a pas hierarchie de domination et de lutes. Entretien avec Christine Delphy. Mouvements, nº 35, Paris, La Découverte, setembro-outubro de 2004, pp.119-131. [ Links ]
Gubin, Eliane; Jacques, Catherine. (orgs.) Le siècle des féminismes. Paris, Éditions de l’Atelier/ Éditions Ouvrières, 2004. [ Links ]
Hirata, Helena; Laborie, Françoise et alii. Dictionnaire critique du féminisme. Paris, PUF, 2004 (edição ampliada). [ Links ]
Kandel,Liliane. Sur la difference des sexes et celle des feminismes. Les Temps modernes, nº 609, Paris, Gallimard, junho-julho-agosto 2000, pp.283-306. [ Links ]
Lauretis, Teresa de. When lesbians were not women. Labrys, études féministes, número especial, setembro 2003. Site: http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/special/special/delauretis.htm [visitado em 10/07/2010] [ Links ].
Louis, Marie-Victoire. Lettre à Danièle Kergoat – GEDISST [14/09/1999]. Site: http://www.marievictoirelouis.net/document.php? id=354&themeid=336 [visitado em 30/01/2011] [ Links ].
Mathieu, Lilian. Prostituées et féministes en 1975 et 2002: l’impossible reconduction d’un alliance. Travail, genre et societé, nº 10, Paris, La Découverte, 2003. [ Links ]
__________. The debate on prostitution in France: a conflict between Abolitionism, Regulation and Prohibition. Journal of Contemporary European Studies, vol. 12, nº 2, Routledge, agosto de 2004, pp. 153-163. [ Links ]
Ortiz, Renato. A diversidade de sotaques: o inglês e as ciências sociais. São Paulo, Brasiliense, 2002. [ Links ]
Picq, Françoise. Liberation des femmes. Les années-mouvement. Paris, Seuil, 1993. [ Links ]
Spender, Citeris. Routledge International Encyclopedia of women.Global women’s issues and kwowledge. Londres/Nova York, Routledge, 2000. [ Links ]
Varikas, Eleni. Féminisme, modernité, postmodernisme: pour un dialogue des deux cotés de l’ocean. Futur Anterieur, 1993. Site: www.multitudes.samizdat,net/spip.php?rubrique334 – visitado em 5/03/2007. [ Links ]
__________. Penser le sexe et le genre. Paris, PUF, 2006. [ Links ]
Notas
1 A versão brasileira é uma tradução da 2ª edição da obra publicada na França em 2004. A principal modificação em relação à edição anterior, de 2000, é a inclusão de dois verbetes: emprego e lesbianismo.
2 Nos Estados Unidos há diversas publicações do gênero, ver, por exemplo: Code, 2000; Spender, 2000; Gambe, 2001.
3 “Genre Travail Mobilités” é apresentado no site do grupo como uma equipe do laboratório CRESSPPA (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris) centrado nas questões do trabalho numa perspectiva de análise de gênero. Para maiores informações, ver site http://www.gtm.cnrs.fr/
4 Para se ter uma ideia das polêmicas envolvidas na elaboração desse verbete, cito um trecho da carta de Marie-Victoire Louis a Danièle Kergoat recusando o convite para escrever um verbete sobre o tema no Dicionário e explicando os motivos dessa posição: “Participar deste dicionário, conjuntamente com esta pesquisadora [Gail Pheterson], cujas posições eu conheço após diversos anos, significa que nossas duas “análises” pertencem ao mesmo debate de ‘ideias’. E seriam da mesma natureza. Eu considero, de minha parte, que um texto legitimando um sistema de dominação proxeneta que – depois de séculos, frequentemente em acordo com os Estados – justificou o aprisionamento, a negação de direitos, os estupros, as violências, as torturas, os assassinatos praticados depois de séculos sobre as mulheres, as crianças e adolescentes dos dois sexos – mas também cada vez mais sobre os homens – não tem seu lugar num projeto de dicionário feminista” [www.marievictoirelous.netdocument.php?id=354 – visitado em 30/01/2011].
5 O verbete “sindicatos” começa, sem especificar o contexto ao qual se refere, com a seguinte frase “Em 21 de março de 1884, a lei Waldeck-Rousseau põe fim à lei de Le Chapelier (1791), permitindo a formação de sindicatos profissionais de operários e de trabalhadores de escritório” (236).
6 Sobre a ideia de “french feminism” ver Delphy (1996) e Varikas (1993).
7 Para consultar o documento, ver anexo do livro de Eleni Varikas, Penser le sexe et le genre (2006).
Maira Abreu – Doutoranda em Ciências Sociais – Unicamp, E-mail: mairabreu@yahoo.com.
[MLPDB]
Leituras e Leitores na França do Antigo Regime – CHARTIER (PH)
CHARTIER, Roger. Leituras e Leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora Unesp, 2004. Resenha de: BOBEK, João Vinícius. Distinção e divulgação: a civilidade e seus livros. Projeto História n. 41. 650 Dezembro de 2010.
Chartier historiador francês vinculado à atual historiografia da Escola de Annales, onde trabalha sobre a história do livro, da edição e da leitura, e que nesta obra apresenta oito ensaios que constituem uma história cultural em busca de textos, crenças e gestos aptos a caracterizar a cultura popular tal como ela existia na sociedade francesa entre a Idade Média e a Revolução Francesa. O intelectual francês mostra que a cultura escrita influencia mesmo aqueles que não produzem ou lêem textos, mas interagem com eles.
Ao revisitar a chamada Biblioteca Azul, coleção de livros acessíveis vendidos por ambulantes (romances de cavalaria, contos de fada, livros de devoção), além de documentos próprios da chamada “religião popular” e textos sobre temas que se dirigem a um público geral, como a cultura folclórica, o autor enfoca as tênues fronteiras entre a chamada cultura erudita e a popular e mostra como se ligam duas histórias: da leitura e dos objetos de leitura.
Assim sendo Chartier reforça o plural do plural “civilidades”, que remete aos usos e intercâmbios de um código de polidez reconhecido por uma sociedade distinta, fazendo menção a Erasmo que rejeita os modelos aristocráticos da época pregando que a civilidade deveria ser uma instrução de um grupo moralizadora, determinado, e deveria começar pelas crianças fazendo do aprendizado escolar a primeira instrução. O autor também indica sempre citando autores como Courtin, que a civilidade pode ser uma virtude cristã, a caridade, pois deve ser uma questão de cada um, diferenciando o Homem do Animal, distinguido na sua execução em tantos comportamentos convenientes a cada estado ou situação. A partir desses conceitos a partir do século XVII, a noção de civilidade ganha um sentido ambíguo, pois sua função é designar a conduta histórica dos príncipes de tragédia, pois segundo Toussaint, a civilidade torna-se “um cerimonial de convenção”, dando origem a uma polidez devida aos príncipes, sendo muitas vezes uma aparência ou uma máscara que disfarça e engana. Assim nesse contexto, o conceito de civilidade está situado no próprio centro da tensão entre o parecer e o ser que define a sensibilidade e a etiqueta barroca.
Sendo Roger Chartier discípulo da Escola de Annales1 percebe-se no texto um intercâmbio entre a História Cultural e a Antropologia, pois ele menciona Jean-Baptiste de La Salle para citar que este pensador abrange a civilidade como honestidade e piedade como conveniência social. Portanto nessa teoria a civilidade se afasta do uso aristocrático para constituir-se num controle permanente e geral se todas as condutas, sendo um modelo eficaz de comportamento das elites nas camadas inferiores. A partir do século XVIII, a noção de civilidade conhece um duplo e contraditório destino, segundo Chartier. Ela permite aos humildes compreender o código de comportamentos, sendo que ensinada ao povo, a polidez se vê ao mesmo tempo desvalorizada aos olhos da elite que a partir daí não exige nenhuma autenticidade de sentimento, sanciona a ruptura admitida e contraditória.
História, Historiadores, Historiografia. 651 Para Jacourt a civilidade foi imposta a inúmeros indivíduos e por isso perdeu seu valor de distinção, considerando que foi colocada a maioria e se tornou uma norma para as condutas populares.
Para fundar uma civilidade republicana, o articulista, juntamente com outros pensadores sugerem uma ruptura radical com a educação tradicional, já que a repetição dos gestos considerados convenientes é idealmente substituída pela aprendizagem de virtudes que conseguirão sempre expressar-se numa linguagem moral resultando numa instrução moral. Para o autor as novas obrigações dessa civilidade republicana não devem se regulamentar-se pelas diferenças de condição ou posição, pois se apoia na liberdade, conforme a igualdade, a civilidade refundida deve reconciliar enfim as qualidades da alma e as aparências exteriores, sendo nítida a recusa das formalidades antigas, pois essa abdicação à etiqueta tradicional encontrase manifesta na esfera política.
Finalizando esse capítulo de sua obra, que deixa claro os conceitos de polidez e civilidade, Chartier, deixa evidente que a partir do século XIX, a civilidade pode ser definida como um conjunto de regras que tornam agradáveis e fáceis às relações dos homens entre si, podendo ser entendida como um código de boas maneiras necessárias na sociedade, sendo fixada por todo esse século, a identificação da civilidade com a conveniência burguesa.
Conclui então que entre os séculos XVI e XIX, a noção de civilidade sofre mudanças e apanha um enfraquecimento, portanto apesar das tentativas de reformulá-la, a noção perde um pouco da teoria ético-cristã para significar apenas a aprendizagem das maneiras convenientes na vida das relações da sociedade, que questionando a diferença entre cultura popular e erudita e a definição de popular simplesmente como oposição à cultura erudita, Roger discute como diversos textos franceses desses séculos atravessam as fronteiras sociais entre clero, nobreza e Terceiro Estado. O historiador francês mostra assim a influência exercida pelo texto escrito mesmo entre os que não estão familiarizados com o livro e reconstitui em sua complexidade a comunicação cultural entre os homens do Antigo Regime.
Projeto História nº 41. 652 Dezembro de 2010 Sendo assim, através dessa leitura é possível trabalhar com os discursos historiográficos, realizando uma análise da passagem da leitura extensiva à intensiva, para assim poder abordar com destaque os aspectos da leitura como formação da identidade cultural intelectual francesa, para futuramente abordar tópicos sociais do Antigo Regime.
Nota
1 Incorpora métodos das Ciências Sociais à História. Encontramos neste movimento, certa unidade em sua composição, mas não uma homogeneidade. Sendo como um conjunto de estratégias, uma nova sensibilidade, uma atividade que de fato mostra-se pouco preocupada com definições teóricas.
João Vinícius Bobek – Licenciado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). E-mail: jotavini@gmail.com.
O 18 de Brumário de Luís Bonaparte | Karl Marx
O marxismo é geralmente associado e descrito, por muitos críticos, como determinismo econômico. Em que pese o assento dado por Marx à análise econômica da sociedade, tal interpretação não é capaz de apreender a relação dialética entre as bases materiais de existência, diretamente ligadas à atividade econômica, e o exercício do poder politico, bem como a dinâmica do desenvolvimento da luta de classes. Neste sentido, O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, publicado em 1852, é uma demonstração da aplicação do método dialético materialista à análise e síntese dos acontecimentos que se desenrolaram no decorrer de quase quatro anos. O dinamismo da luta de classes e a relação dialética entre base e superestrutura, evidenciados no destaque dado aos aspectos políticos e às disputas decorrentes deles vão de encontro às acusações de determinismo econômico. Leia Mais
Quatro visões iluministas sobre a educação matemática: Diderot, D’Alembert, Condillac e Condorcet – GOMES (Bo)
GOMES, M. L. M. Quatro visões iluministas sobre a educação matemática: Diderot, D’Alembert, Condillac e Condorcet. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. Resenha de: ANDRADE, Mirian Maria. BOLEMA, Rio Claro, v.23, n. 36, p.809-817, ago., 2010.
O livro de Gomes originou-se de seu doutorado2 realizado na Universidade de Campinas, UNICAMP – SP, sob orientação de Antonio Miguel. A estrutura adotada na obra configura-se, grosso modo, em uma introdução seguida de seis capítulos aos quais seguem conclusões e referências bibliográficas.
Na introdução Gomes faz algumas considerações iniciais em relação ao trabalho como um todo, explicitando o que abordará em cada um dos capítulos seguintes. Neste momento esboça elementos para uma ideia sobre as contribuições, à educação matemática, dadas por quatro importantes pensadores das Luzes, a saber: Diderot, D’Alembert, Condillac e Condorcet.
Vinculadas a essas contribuições apontadas pela autora, é que se originaram os títulos dos capítulos, ou seja, cada um desses títulos, de certo modo, sublinha um aspecto considerado importante (talvez o aspecto mais marcante, segundo a leitura de Gomes) da obra de cada um desses “filósofos”3 em relação à Educação e à Educação Matemática4.
O capítulo 1, intitulado “Considerações sobre a educação matemática na França do século das Luzes”, é dedicado à apresentação de um quadro geral da educação na França do século XVIII, buscando fixar o solo em que radicam as contribuições dos quatro iluministas. A referência inicial é a carta 128 do conjunto das Cartas Persas de Montesquieu, cujo conteúdo expressa dois pontos fundamentais relacionados à educação matemática na França àquela época: O primeiro deles transparece no destaque conferido ao matemático, frequentemente denominado geômetra à época, bem como à sua maneira de ver o mundo – é o grande estágio de desenvolvimento atingido pelas ciências e pela matemática, já no início do Setecentos. […] o segundo ponto […] na ordem pedagógica setecentista, o estudo das letras prevalece sobre o das ciências, e a matemática tem pouco espaço. (GOMES, 2008, p. 26-27) A autora refere-se ao expressivo número de publicações na segunda metade dos setecentos, na França, carregadas de reflexão pedagógica que produziram uma diversidade de ideias. Dentre elas, Gomes destaca duas que se configuram como fundamentais à compreensão das concepções (em relação à educação matemática) dos quatro filósofos em questão: “[…] a necessidade de estatizar a educação escolar, é particularmente marcante, como veremos em Diderot e Condorcet” (GOMES, 2008, p. 30) e “[…] a necessidade premente de reformar o conteúdo da educação escolar, com a abertura de um espaço importante para a matemática, está explícita nos escritos dos quatro autores abordados neste trabalho” (GOMES, 2008, p. 30). Ainda, nesse momento, nos são apresentados aspectos gerais da instrução primária e secundária antes da Revolução Francesa. Na França do século XVIII, a educação primária era a escola do povo, enquanto a educação secundária atendia apenas a uma minoria composta pela nobreza e pela elite burguesa.
Dentre os quatro iluministas, Diderot e Condorcet se sobressaem por defenderem uma educação para todos, uma formação na qual a educação matemática possuiria especial importância.
Encerrando este capítulo inicial, a autora discute em linhas gerais o ensino jesuíta e a educação matemática na França. De acordo com Gomes, a Companhia de Jesus investia efetivamente no ensino secundário, dado que o ensino primário não lhe era conveniente – citando Compayre, “tudo se subordina a fé, e a fé do povo não tem melhor salvaguarda do que a ignorância” – e o ensino superior, dito “a alta ciência”, vive de liberdade, o que os jesuítas não poderiam admitir. Maria Laura Magalhães Gomes apresenta, então, um esboço de como eram gerenciadas as questões relativas ao estudo nos colégios da Companhia de Jesus, apontando que, dos quatro iluministas aos quais o foco do livro se volta, apenas D’Alembert não estudou em instituição jesuíta.
Com isso, ficam ressaltadas, de certo modo, algumas das influências educacionais originárias – tanto desses pensadores quanto de uma significativa parcela da sociedade da época – que seriam, no correr da história, questionadas e reformuladas pelos iluministas.
O capítulo segundo, “Diderot e o sentido político da educação matemática”, é dedicado ao estudo da obra de Denis Diderot (1713 – 1784).
Para esse pensador – como já ressaltado no próprio título do capítulo – a educação é um fato primordial para a vida individual e social do indivíduo, direito de todos, de acordo com os méritos e as capacidades de cada indivíduo: para Diderot, portanto, a educação (e veremos que também a educação matemática) é elemento de uma agenda política.
Diderot é considerado o principal editor da Enciclopédia (obra emblemática do iluminismo francês) ainda que usualmente, nas citações, ele apareça como companheiro de D’Alembert. Em 1775 Diderot responde à solicitação da imperatriz da Rússia, Catarina II, enviando-lhe o projeto para a constituição de uma universidade no qual é visível o lugar privilegiado dado à educação matemática.
Um exame da Explicação detalhada do sistema de conhecimentos humanos – texto da Enciclopédia cuidadosamente analisado por Gomes – mostra a proposta de Diderot e D’Alembert quanto à localização da matemática na divisão geral dos conhecimentos humanos, sendo portanto esse exame um ingrediente fundamental para compreendermos a posição de Diderot em relação à matemática. Para ele “o objeto da matemática é a quantidade, um abstrato que os sentidos exteriores percebem; a partir dessa percepção, o Entendimento produz o conhecimento pela reflexão” (GOMES, 2008, p. 53).
Na organização dos estudos proposta por Diderot no Plano de uma Universidade, o enciclopedista exercita suas crenças sobre a educação matemática, que defendiam o conhecimento matemático como instrumental e formativo. A importância do aspecto formativo é notada no texto das Primeiras noções sobre as matemáticas para uso das crianças, obra inacabada que atenderia à execução do Plano. Essa potencialidade da matemática é evidenciada quando Diderot refere-se à geometria que, segundo ele, é a mais simples das lógicas. Para Diderot, o estudo das matemáticas, junto à alfabetização, deveria necessariamente ser acessível a todos, do primeiro ministro ao camponês: todos deveriam saber ler, escrever e contar.
Em relação ao aspecto prático/instrumental, percebe-se que a prioridade da educação matemática é justificada no projeto de Diderot pelo bom funcionamento da sociedade. A autora interpreta o papel desses dois aspectos matemáticos (formativo e instrumental) como constituintes essenciais de seu projeto pedagógico. Apoiada em Dolle, Gomes afirma que, para Diderot, a essência da organização política é a educação.
Duas passagens, segundo a autora, ilustram de modo claro as principais ideias de Diderot em relação à aprendizagem matemática, a saber: “Como quer que seja, segue-se que as matemáticas puras entram em nossa alma por todos os sentidos, e, portanto, que as noções abstratas nos deveriam ser bem familiares” (GOMES, 2008, p.79), um excerto das Adições à Carta sobre os surdos e mudos, e “Saber geometria ou ser geômetra são duas coisas muito diversas. É dado a poucos homens serem geômetras; é dado a todos aprender a aritmética e a geometria”. (GOMES, 2008, p. 79), excerto do Plano de uma Universidade. Finalizando o segundo capítulo, a autora discute as indicações metodológicas de Diderot em relação ao ensino de matemática.
O terceiro capítulo, cujo título é “D’Alembert e a epistemologia da matemática como base da educação matemática”, é dedicado ao estudo do iluminista Jean Le Ronde D’Alembert (1717 – 1783). Para Gomes, fontes ricas para conhecermos o pensamento desse iluminista em relação à educação matemática são os verbetes da Enciclopédia e o Ensaio sobre os elementos da Filosofia. Estudando esses textos, a autora afirma que é possível constatar dois componentes fundamentais das reflexões desse filósofo: D’Alembert situa Bolema, Rio Claro (SP), v. 23, nº 36, p. 809 a 817, agosto 2010 813 a fonte de todo conhecimento na experiência (concordando com Locke) e acredita que existe uma ligação entre todos os objetos de nosso conhecimento, e pensa a geometria como sinônimo da matemática, ainda que não deixe de, em seus escritos, atribuir importância à álgebra.
Duas questões são tomadas como centrais para a compreensão das idéias de D’Alembert: sua posição de, tendo como base o pensamento de Locke, defender a matemática como um conhecimento tributário da experiência; e sua concepção sobre o conhecimento matemático ser e funcionar como uma cadeia de verdades (no que D’Alembert reflete harmonia com concepções cartesianas).
Nas linhas desse capítulo, Gomes nos deixa perceber que a matemática participava – de modo essencial e com destaque – do quadro de conhecimentos de D’Alembert: para ele, deveria ser facultado a todas as pessoas o acesso ao conhecimento elementar da matemática. Sobre as indicações para a educação matemática, a autora nos mostra que, em D’Alembert, o principal instrumento para a instrução científica (particularmente a educação matemática) é o livro-texto.
O ponto básico da proposta de educação matemática de D’Alembert reside na elaboração de livros didáticos que exponham esses conteúdos de acordo com as diretrizes que ele propõe. Essa tarefa não é simples: D’Alembert revela-se muito insatisfeito em relação aos textos de matemática de sua época e critica fortemente seus autores por não considerá-los à altura do empreendimento que realizam. […] para D’Alembert, não é o professor quem entregará ao educando o conhecimento pronto: os textos devem fornecer muito material a ser pensado, pois só existe aprendizagem pelo esforço da própria mente. (GOMES, 2008, p. 153).
No quarto capítulo do livro, “Condillac e o prisma cognitivo da educação matemática”, por sua vez, seguem as discussões em torno do filósofo Étienne Bonnot Condillac (1714 – 1780). Segundo Gomes, o objeto essencial dos trabalhos de Condillac é o conhecimento humano, o método por excelência é o analítico, e os fundamentos centrais de sua obra provêm dos trabalhos de Newton e de Locke. Duas parecem ser as principais diferenças entre Locke e Condillac: a primeira delas é que, no filósofo francês, há uma radicalização do sensacionismo; a segunda refere-se ao papel desempenhado pelos signos nas operações mentais (para Locke a linguagem é instrumento, enquanto que para Condillac o papel dos signos está na própria formação do pensamento refletido).
Para tecer relações entre a obra de Condillac e a Educação Matemática, Gomes abre três frentes: na primeira, aborda as concepções desse iluminista em relação à aritmética, expondo a importância dada por ele aos signos e seus usos; na segunda, traz à tona a visão de Condillac em relação à álgebra – quando Gomes afirma que tudo o que Condillac valoriza na matemática é exatamente o que Diderot frequentemente rejeita –; e, por fim, na terceira das frentes, Gomes apresenta as concepções do filósofo francês em relação aos conhecimentos geométricos.
A apresentação e discussão de algumas considerações epistemológicas e pedagógicas de Condillac, relativas à educação matemática, encerra o capítulo: como D’Alembert e Diderot, Condillac também valoriza a matemática como um conhecimento essencial à formação humana.
O último dos quatro iluministas a ser estudado por Gomes é Jean- Antoine-Nicolas Caritat, o Marquês de Condorcet (1743 – 1794), a quem a autora dedica o quinto capítulo de seu livro. Em “Condorcet e a educação matemática na instrução pública”, sabemos que foi ele, dentre os quatro filósofos abordados, o único que viveu para conhecer a Revolução Francesa. Gomes refere-se a Condorcet como uma figura ilustre na matemática, na filosofia e na educação, além de brilhante político e intelectual do século das Luzes. Por alguns é chamado de “o último dos iluministas”, por outros, como um dos principais – se não o principal – divulgadores da Enciclopédia ao século XIX. Baseada em trabalhos de historiadores da Matemática, Gomes destaca o pioneirismo de Condorcet em um campo denominado por ele mesmo como “matemática social”. Na história da Filosofia, esse pensador é destacado pelo Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano que, segundo a autora, é seu testamento filosófico, uma síntese histórica dos progressos da humanidade. Em Condorcet, é possível notar a influência de Voltaire principalmente no que tange ao combate à Igreja e à luta em favor da tolerância.
Na sequência do capítulo – que, como os demais, é riquíssimo em informações e precioso nas interpretações – Gomes tece considerações quanto à visão de Condorcet sobre a educação matemática. Para tanto, ela focaliza as concepções e propostas desse pensador elaboradas, antes da Revolução Francesa, em seu plano de instrução pública, e o seu manual de aritmética (Meios de aprender a contar com segurança e facilidade) composto visando o mesmo Plano e, portanto, faz parte das diretrizes de um projeto para a França Revolucionária. Para esse filósofo, o conhecimento matemático está entre os que mais podem contribuir para a formação humana, e o que é mais necessário ao cidadão. Condorcet, assim como Diderot, crê que toda criança precisa saber contar e medir. Para ele, as ciências abstratas adequadas para uma criança são a aritmética, a geometria e a álgebra e sua proposta é favorável a fazer recomendações aos professores sobre a aprendizagem, ao invés de meramente oferecer livros às crianças.
Gomes apresenta e discute também o “informe” de Arbogast – um antecedente do manual de aritmética de Condorcet –, as doze lições de aritmética, os conteúdos do manual, bem como as dimensões didáticas, metodológicas e psicológicas desses materiais. Para finalizar tal capítulo, a autora expõe uma síntese da educação matemática na concepção desse iluminista iniciada com um paralelo em relação às concepções dos demais pensadores por ela tratados.
Diderot, defensor incansável da instrução pública, laica, gratuita e para todos os filhos de uma nação, afirmou a necessidade de começar o ensino pela matemática no Plano de uma universidade. D’Alembert, no Discurso preliminar da Enciclopédia, iniciou pela matemática a abordagem dos conhecimentos humanos, e insistiu na necessidade de que os livros elementares fossem escritos pelos cientistas mais eminentes. Condillac sublinhou em seus trabalhos o valor cognitivo da matemática, propôs reformas terminológicas sobre os nomes dos números de modo a evidenciar a analogia, fez o elogio da linguagem matemática, praticamente confundiu a álgebra com o método filosófico da análise.
Condorcet, o último representante da filosofia iluminista francesa, pertenceu a um tempo que lhe possibilitou, como matemático e político, empreender ações concretas no sentido da realização dos ideais científicos e pedagógicos de seus antecessores (GOMES, 2008, p. 297).
Gomes aponta outras similaridades entre as ações e intenções desses iluministas e encerra este capítulo afirmando que “Condorcet teve a oportunidade de ir além do trabalho de doutrinação no sentido de atribuir à educação matemática um lugar privilegiado no combate em favor da autonomia, da igualdade e do aperfeiçoamento do homem” (GOMES, 2008, p. 300- 301). A autora interpreta a obra de Condorcet – morto em 1794, quando fugia da perseguição sanguinária do regime do terror, num momento em que seu Plano para a instrução pública, posteriormente substituído por outras propostas, nem mesmo havia sido votado em assembleia – como uma das derradeiras expressões da filosofia iluminista da França do século XVIII.
O capítulo sexto do livro de Gomes é dedicado a considerar a educação matemática na França pós-iluminista. Resultado das contribuições desses quatro filósofos das Luzes, a Matemática torna-se, ainda que por pouco tempo, uma das principais disciplinas escolares. A partir da apresentação e da discussão dos Ensaios sobre a história do ensino de matemática, particularmente na França e na Prússia, um trabalho do pesquisador alemão Gert Schubring, a autora faz apontamentos sucintos em relação à situação da educação matemática em diversos períodos da história da França, como o da Convenção Nacional (1792 – 1795), o do Diretório (1795 – 1799), do Consulado (1799 – 1804), do Império napoleônico (1804 – 1814) e o da Restauração (1814 – 1848).
Ao concluir seu livro, Gomes afirma que, em síntese, os quatro iluministas por ela tematizados, apesar de divergirem em vários aspectos, sempre tiveram como ponto comum e princípio a luta pela prioridade da educação matemática na instrução. Salienta um aspecto fundamental que, dentre eles, diferencia Diderot: a defesa do método analítico, que fundamenta a defesa da mesma abordagem em D’Alembert, Condillac e Condorcet. Ressalta a crença de Diderot, Condillac e Condorcet na possibilidade de que toda criança pode – e deveria – ter acesso aos conhecimentos matemáticos e recorda a defesa de D’Alembert, Diderot e Condorcet quanto à responsabilidade dos professores que trabalham com a educação matemática e a importância dos livros elementares, cujos autores deveriam ser intelectuais eminentes.
Gomes afirma que não parece adequado concluir seu trabalho sem se referir, mesmo que rapidamente, ao pensamento de Rousseau, manifestado principalmente no Emílio ou Da educação, obra relevante e de grande repercussão no pensamento pedagógico após o século XVIII. Os quatro iluministas e Rousseau – nos assegura a autora – partilham das concepções sobre aprendizagem por meio da experiência dos sentidos mas, no entanto, a visão de Rousseau diverge demasiadamente da dos demais quanto às concepções metodológicas e psicológicas sobre a educação matemática que amparam suas propostas.
Gomes, por fim, considera a complexidade de seu tema de estudo e afirma que não teve a intenção de esgotá-lo: espera ter apresentado, em seu livro, uma contribuição à história da educação matemática e, especialmente, à história da educação matemática brasileira.
Nas páginas anteriores tentei sintetizar – a partir de minha leitura específica – o trabalho de Gomes. Uma angústia constante acompanha, entretanto, meu esforço de resenhista: a impressão de sempre estar deixando algo para trás, de sistematicamente estar negligenciando aspectos importantes, de não comunicar minimamente a riqueza que a autora expressa em seu livro.
Os capítulos são maciços de informações e interpretações extremamente relevantes e bem tecidas, o que torna complexa a intenção de resumir e transmitir ao leitor uma idéia de tudo o que Gomes aborda. Aos interessados na história da educação matemática e suas cercanias, recomendo fortemente a leitura da íntegra do trabalho. Trata-se de um texto de leitura agradável e de um notável exercício de análise e interpretação.
Notas
2 Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000297451>.
3 “O termo philosophes” – afirma Gomes – “com que se auto-intitularam os intelectuais da Ilustração na França, caracteriza não um filósofo no sentido tradicional – um metafísico – , mas antes um pensador engajado, progressista, que luta contra o fanatismo e a intolerância, que defende a razão e as luzes, que mobiliza seu espírito crítico especialmente contra a Igreja católica e a monarquia absoluta” (GOMES, 2008, p. 105) .
4 “Embora na atualidade a expressão ´educação matemática´seja usada com diversos significados, entre os quais se sobressai o de um campo de investigação científica, utilizo-a no contexto histórico a que este trabalho se refere, a França do século XVIII, para designar o ensino de matemática em uma perspectiva mais ampla, isto é, como algo indissociável de seus múltiplos aspectos: epistemológicos, políticos, éticos, pedagógicos, históricos, filosóficos, metodológicos, psicológicos, sociais, culturais, teleológicos, axiológicos etc.” (GOMES, 2008, p. 21)
Mirian Maria Andrade – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista – UNESP/Rio Claro. E-mail: andrade.mirian@gmail.com
[MLPDB]
Les littératures de langue française à l’heure de la mondialisation – GAUVIN (A-EN)
GAUVIN, Li-Se (org). Les littératures de langue française à l’heure de la mondialisation. Montreal: Editora da Constantes/Académie des Lettres du Québec/Hurtubise, 2010. Resenha de: FIGUEIREDO, Eurídice. Uma visão atual das literaturas de língua francesa. Alea, Rio de Janeiro, v.12 n.2 jul./dec., 2010.
O livro Les littératures de langue française à l’heure de la mondialisation, organizado por Lise Gauvin, contém textos apresentados no colóquio anual da Académie des Lettres du Québec, feito em parceria com a Bibliothèque et Archives nationales du Québec. O evento foi realizado em Montreal, no dia 17 de outubro de 2008, simultaneamente à reunião de cúpula da OIT (Organização Internacional da Francofonia), que aconteceu na cidade de Quebec. O tema em torno do qual girou o colóquio foi o Manifeste pour une littérature-monde en français, publicado no jornal Le Monde em março de 2007. Este livro assinala a posição crítica dos quebequenses em relação ao Manifesto e a favor da francofonia literária, embora reconheça o ranço colonial que subsiste no termo francofonia, tal como usado no terreno da política internacional.
Lise Gauvin, professora da Universidade de Montreal, que era então presidente da Academia, fala de “malentendido francófono”, visando atacar sobretudo as instituições literárias francesas: o paradoxo apontado por ela é que a França constitui o centro da francofonia sem querer fazer parte dela. No artigo “La francophonie littéraire, un espace encore à créer”, ela comenta o sentido e as repercussões do Manifeste pour une littérature-monde en français, que tinha a pretensão de marcar a morte da francofonia. Aliás, curiosamente, o Manifesto aqui aparece publicado pela primeira vez em livro, apesar de seus mentores, Michel Le Bris e Jean Rouaud, terem dado a público, pela Gallimard, Pour une littérature-monde poucos meses depois (2007), com textos de alguns escritores, signatários ou não do Manifesto, mas sem o Manifesto.
Associando o termo littérature-monde com World Literature, Lise Gauvin diz temer que esta noção seja um avatar disfarçado da ideia de universal imposto pelas culturas dominantes para garantir sua hegemonia. Ela retoma uma noção, já desenvolvida por ela há alguns anos, notadamente no livro Langagement (Boréal, 2000), de que o escritor de língua francesa desenvolve uma superconsciência linguística (surconscience linguistique) pelo fato de conviver com mais de uma língua, seja com o inglês no caso do Quebec, com o crioulo nas Antilhas, com o árabe no Magreb, com línguas étnicas na África subsaariana. “Condenado a pensar a língua, a encontrar sua própria língua de escrita num contexto multilingue, este autor deve inventar novas formas capazes de fazer ouvir a complexidade de suas pertenças. Deve assim, sem renunciar a certos patamares de legibilidade, compor com a opacidade das culturas singulares no imaginário da língua” (p. 28). A hibridação provocada pelo contato com outra língua contribui fortemente para processos de desterritorialização do francês e para transformações da forma romancesca nas literaturas francófonas. Inspirada na poética de Fernando Pessoa, Gauvin considera que se trata de “literaturas do desassossego” (littératures de l’intranquillité), em contraposição ao conceito de “literatura menor”, cunhado por Gilles Deleuze e Jacques Guattari em seu livro sobre Kafka, que muitos críticos associaram a essas literaturas. Ela observa também que a forma do romance foi desestabilizada e reinventada por autores caribenhos e latino-americanos, ao estabelecerem fronteiras porosas entre a realidade e a ficção, entre os diversos níveis de ficção, interpelando o leitor e obrigando-o a uma constante reavaliação do pacto enunciativo (p. 25).
No belo depoimento de J.M.G. Le Clézio, “Le français, beaucoup plus qu’une langue”, primeira conferência proferida por ele após o anúncio do Prêmio Nobel que lhe foi conferido em 2008, ele evoca suas lembranças de infância, época formadora de seu imaginário. Considera que a história das línguas é tão injusta e imprevisível quanto a história dos povos já que à dominação de umas cor-responde o enfraquecimento – quiçá o desaparecimento – de outras. Ele reitera aquilo que Roland Barthes já dizia, que as línguas não são inocentes, elas têm uma história política. No caso do francês, trata-se de uma língua que tem uma situação ambígua: ameaçada no Quebec, ela é, por isto mesmo, fortemente reivindicada; já em antigas colônias da América e da África, ela pode ser vista como uma língua de dominação, impregnada de violência e de racismo. Ele avalia positivamente o estatuto do francês no mundo contemporâneo, afirmando: “O francês é muito mais que uma língua. É um lugar de trocas e encontros. Suas fronteiras se dissolveram na totalidade do mundo, o que não significa um desenraizamento nem uma vulnerabilidade, mas ao contrário maior liberdade, uma audácia e uma ressonância novas” (p. 41).
Olivier Kemeid, em “Une résistance classique”, manifesta-se também contrário a alguns pontos levantados pelo Manifesto, assinalando que a causa principal da recusa dos autores francófonos na França estaria antes no uso particular que eles fazem da língua francesa. Desde Richelieu, o francês tornou-se uma língua rígida, clássica, que não admite barroquismos; assim, os franceses podem apreciar o barroco praticado por escritores latino-americanos, traduzidos em francês, mas não aceitam as rupturas praticadas no nível linguístico por aqueles que escrevem em francês.
Em “La littérature-monde au détour de la transculturalité?”, Dominique D. Fisher considera que a literatura do Quebec não carrega o peso da história colonial francesa nem as pressões das instituições literárias francesas, o lhe confere autonomia. Além disto, desde os anos 1980 ela se inscreve numa geopolítica transnacional e transcultural, com o aporte dos numerosos escritores vindos dos quatro cantos do mundo.
Dany Laferrière, que deixou o Haiti em 1976 devido à ditadura de Baby Doc e se radicou no Quebec, critica a etiqueta usada pela crítica quebequense que o classifica como escritor exilado ou imigrado (écrivain exilé, écrivain immigré), afirmando que o escritor não escreve porque é exilado ou porque emigrou. Aliás, em outros textos, Laferrière recusa outras apelações, tais como escritor francófono ou antilhano, declarando-se, antes, escritor americano. Provocadoramente, ele publicou um romance intitulado Je suis un écrivain japonais em 2008.
Dois textos – um do crítico quebequense Paul Chamberland, e outro, do cineasta Jean-Daniel Lafond – são depoimentos sobre Aimé Césaire, sua vida e sua obra. Durante o colóquio de 2008, foi projetado o filme La manière nègre ou Aimé Césaire, chemin faisant, realizado por Lafond.
Além destes, o livro reúne artigos de outros escritores e críticos do Quebec, como Lise Bissonnette, Madeleine Gagnon, Vénus Khoury-Ghata, Monique LaRue, Joël Des Rosiers e Gilles Pellerin. No final, aparece o Manifesto Pour une “littérature-monde” en français, que foi assinado por 44 escritores, entre eles Edouard Glissant, J.M.G. Le Clézio, Dany Laferrière, Nancy Huston, Jacques Godbout, Maryse Condé e Alain Mabanckou.
Eurídice Figueiredo – UFF/CNPq
[IF]
The case for books: past, present and future – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. The case for books: past, present and future. New York: Public Affairs, 2009. 240p. Resenha de: ARAÚJO, André de Melo. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
Com base nas correspondências trocadas entre editores, filósofos escritores e livreiros, como também nos contratos de concessão de direitos de impressão e comercialização da Encyclopédie, Robert Darnton identifica, em O Iluminismo como negócio (1979), conflitos editoriais e manobras lucrativas no mercado da cultura letrada setecentista. Trinta anos após a primeira edição desse estudo, e ainda tendo em vista os mecanismos de controle da produção e circulação do conhecimento impresso, Darnton apresenta em The case for books (2009) divergências desafiadoras e identidades lúcidas entre os (quase) dois séculos e meio que separam a França pré-revolucionária do final da primeira década do século XXI.
A identidade temática entre as duas obras se mostra presente já na recomposição atual da frase de abertura do texto de 1979. Em O Iluminismo como negócio Darnton expõe o resultado de suas pesquisas como “a book about a book”. Em The case for books, o historiador reexplora sua fórmula consagrada ao publicar um livro sobre livros: “this is a book about books” (p.vii). No plural, o autor inscreve a primeira situação divergente. Em 1979, Darnton estuda a história da publicação de um único livro, a Encyclopédie. Trinta anos depois, e já com a experiência de pouco mais de dois anos como diretor da rede de bibliotecas da Universidade Harvard, Darnton identifica no cargo que assumiu em junho de 2007 “uma oportunidade para fazer alguma coisa sobre as questões que … havia estudado como fenômeno histórico” (p.ix).1
E tais questões eram prementes: “assim que me transferi para o novo escritório, descobri que a Biblioteca de Harvard estava envolvida em conversas secretas com o Google sobre um projeto que tirou meu fôlego”, relata Darnton. “O Google planejava digitalizar milhões de livros, começando com o acervo de Harvard e de mais outras três bibliotecas universitárias, e comercializar as cópias digitais…” (p.ix). O projeto de comercialização de milhões de livros em formato digital faz o historiador relembrar os traités que lera ao estudar o grande negócio do Iluminismo e identificar a forma necessariamente plural do seu novo ponto de partida. Com base no grande volume de livros já digitalizados, Darnton resolve refletir principalmente sobre o papel das bibliotecas de pesquisa e seus possíveis caminhos na era do conhecimento armazenado em memórias de silício.
The case for books é uma coletânea de onze textos, publicados entre 1982 e 2009, dividida em três partes editadas nesta ordem: futuro, presente e passado. No título do livro, Darnton não só sugere a forma tradicional de se armazenar livros em uma estante – a book case -, como também faz ecoar por meio da assonância entre os termos four [quatro] e for [para] o núcleo da fantasia futurística de Louis Sébastien Mercier, conhecida desde 1771 e segundo a qual o volumoso conhecimento impresso seria coisa do passado. A verdade do futuro caberia em quatro estantes, “into the four bookcases” (p.44). Assim, Darnton parte do futuro do passado para fazer um alerta quanto ao presente do futuro: “Nós poderíamos ter criado uma Biblioteca Nacional digital – o equivalente, no século XXI, à Biblioteca de Alexandria. Já é tarde. Não somente fracassamos em conceber tal possibilidade, quanto, o que é pior, estamos permitindo que uma questão de política pública – o controle do acesso à informação – seja determinada por processo judicial de caráter privado [private lawsuit]” (p.17). Aqui resumo três preocupações centrais de Darnton quanto ao futuro.
1) Ao estudar a cultura letrada do século XVIII, o historiador localizava, a partir do caso francês, um projeto de abertura e divulgação do conhecimento que era, em princípio, universalista. No entanto, o projeto iluminista restringia paradoxalmente o seu universalismo à população economicamente favorecida. O primeiro alerta de Darnton quanto ao futuro diz respeito ao acesso pago às redes de conhecimento, controladas, por sua vez, por um monopólio privado. É certo que Darnton fala tanto do Google quanto de projetos de digitalização de acervos com bastante entusiasmo. Sua preocupação recai, no entanto, sobre o que ele chama de “tendências monopolistas” (p.33).
2) O autor insiste na presença mais ativa das instituições públicas nas decisões políticas de acesso ao conhecimento: “Sim, temos que digitalizar. Mas mais importante: temos que democratizar. Temos de abrir acesso à nossa herança cultural. Como? Reescrevendo as regras do jogo, subordinando interesses privados ao bem público…” (p.13). Desse modo, Darnton propõe a união das bibliotecas no futuro em nome do projeto de uma grande biblioteca pública digital (p.57): “Abertura, livre acesso [openness], é o princípio-guia que procuraremos seguir para adaptar as bibliotecas às condições do século XXI” (p.50).
3) Ao enfatizar o alto preço que as bibliotecas hoje já pagam para manter em dia seus acervos com periódicos, Darnton se preocupa com o comprometimento do orçamento das bibliotecas de pesquisa com as altas taxas de acesso aos acervos digitais, baseados originalmente em acervos públicos. Como consequência, as bibliotecas do futuro teriam de adquirir menos livros (p.18-19)!
Dessas três preocupações centrais decorrem ainda outros problemas estruturais. A instabilidade da informação, tal como Darnton a define (p.23), requer a possibilidade de exploração das mínimas variações no mundo das ideias: várias cópias de um mesmo título – algo que se pode deixar de lado para que o mundo digital se resuma em quatro estantes – podem apresentar dissonâncias reveladoras da cultura letrada (p.29-31). Historiador de profissão, o novo bibliotecário desconfia da eficácia do sistema de preservação de acervos digitais: a materialidade temporária – ou quase “imaterialidade” – dos livros nascidos em formato digital pode se dissipar no espaço cibernético (p.37). Darnton ainda amplia o alerta ao mencionar a fragilidade do registro das comunicações no mundo contemporâneo (p.53). Sua tônica incide principalmente sobre a necessidade de discutir as políticas públicas de preservação de acervos e de controle dos canais de divulgação do conhecimento. E esse é o motivo pelo qual a responsabilidade das bibliotecas aumenta na era digital, não apenas por terem em vista o ideal de livre acesso a fontes de pesquisa, mas também por se verem responsáveis por preservar o passado do futuro. O pressuposto de todo historiador é bem conhecido: se o presente não deixar rastros para o futuro, ele jamais poderá ser passado.
Algumas das preocupações de Darnton quanto ao futuro se repetem na segunda parte do texto, ou seja, no presente. As repetições dos argumentos, quando não dos próprios exemplos, marcam a leitura dessa coletânea de textos em que se procura destruir o mito de que o futuro eletrônico coloca em risco a tradição dos livros impressos (p.67). De forma a explorar a convivência da tinta sobre papel com as tecnologias da informação eletrônica no mundo contemporâneo (p.77), The case for books foi lançado simultaneamente tanto como livro eletrônico (e-book), quanto no formato tradicional do códice impresso.
No último capítulo, ou seja, na parte que diz respeito mais diretamente ao passado, Darnton reedita seu estudo clássico de 1982 sobre a história dos livros, já disponível ao público brasileiro há duas décadas em O beijo de Lamourette. Nesse texto, discute como as formas de transporte e de comunicação influenciaram decisivamente a história da literatura (p.199). Ao revisar recentemente o artigo de 1982, Darnton insiste no caráter material do objeto chamado livro,2 e tal insistência se faz mais uma vez presente em The case for books. Familiarizado com o mundo em que as notícias se viam atreladas à forma em papel (p.109), Darnton aponta a importância para o historiador do contato material com as suas fontes de pesquisa: a cor, o tamanho das páginas (p.125), até mesmo a experiência de passá-las uma a uma fazem parte do estudo das práticas de leitura.
E como Darnton insiste em buscar uma saída conciliatória entre a forma impressa e a forma eletrônica para o passado, para o presente e para o futuro dos livros – ao dar provas de que o historiador não se ocupa apenas do passado -, também prefiro aqui esboçar um caminho conciliador das duas atividades profissionais de Robert Darnton, historiador do Iluminismo francês e diretor da rede de bibliotecas da Universidade Harvard. Parto do núcleo deflagrador das divergências – entre o passado e o futuro – que desafiam o presente e a partir do qual Darnton procura com lucidez indicar, em The case for books, algumas identidades.
O projeto de digitalização – e comercialização – de milhões de livros, tal como Darnton o descobriu em seu novo escritório em Harvard, relembra o modelo econômico e epistemológico de filiação iluminista, para o qual The case for books oferece uma resposta cética e um desafio. No plano epistemológico, o modelo das Luzes procura ordenar e encadear o conhecimento dos homens – tal como D’Alembert propunha no discurso preliminar da Encyclopédie, em 1751 – ou ainda reunir o conhecimento disseminado na face da Terra, como Diderot sugere no quinto tomo da mesma obra. Aqui atua o ceticismo de Darnton, ao apontar lacunas e fragilidades em projetos de caráter supostamente totalizante. No caso dos acervos digitais, páginas incompletas e ausência potencial de variantes são índices claros de tal fragilidade.
Do ponto de vista econômico, a promessa de acesso a volumes compactos da cultura escrita mais uma vez se mostra como um grande negócio. Mas eis que o desafio proposto por Darnton procura renovar, no século XXI, os termos da utopia setecentista, segundo a qual uma grande biblioteca pública digital asseguraria o acesso universal ao conhecimento. Ou seja, se por um lado as reflexões publicadas em The case for books ensaiam a crítica ao projeto das Luzes, ao identificar com lucidez semelhanças entre os interesses de mercado dos grandes negócios do passado e do futuro, bem como entre as formas de privilégio de acesso à cultura escrita, por outro, Darnton procura ampliar o mesmo projeto que havia estudado como fenômeno histórico, na medida em que aposta na redefinição dos mecanismos de acesso universal ao conhecimento letrado. Em The case for books, o futuro do presente é uma aposta ao fracasso do universalismo do passado.
Notas
1 As traduções do texto de Robert Darnton foram feitas pelo autor da resenha, o qual agradece ao prof. dr. Luiz Sávio de Almeida a leitura crítica de todo este texto.
2 Cf. DARNTON, Robert. “What is the history of books?” Revisited. Modern Intellectual History , Cambridge: Cambridge University Press, v.4, Issue 3, p.495-508, 2007. [ Links ]
André de Melo Araújo – Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Institute for Advanced Study in the Humanities, Goethestr. 3145128 Essen Germany. E-mail: andre_meloaraujo@yahoo.com.br.
[IF]
Do dom à profissão: a formação de futebolistas no Brasil e na França | Arlei Sander Damo
Há uma tese, bastante difundida nos círculos onde o futebol é discutido, que versa sobre a habilidade ímpar do jogador brasileiro diante dos atletas das demais nacionalidades. Graças ao seu dom, este jogador apresentaria um diferencial na maneira de praticar futebol capaz de suplantar qualquer limite técnico. Essa imagem, amplamente explorada no chamado futebol espetacularizado, cujo monopólio pertence à FIFA (Federação Internacional de Futebol) fornece a base para a formação/produção e a venda de jogadores brasileiros.
É este o principal cenário investigado por Arlei Sander Damo em Do dom à profissão – a formação de futebolistas no Brasil e na França. O livro, originalmente uma tese de doutorado4, apresenta minucioso trabalho etnográfico que analisa o processo de formação de jogadores de futebol no Brasil, no Sport Club Internacional, de Porto Alegre, e na França, no Olympique Marseille. O dom, noção amplamente utilizada no meio futebolístico, figura como tema central, pois fornece a base simbólica para o processo de formação dos jogadores brasileiros. Leia Mais
Cinematógrafo: um olhar sobre a história | Jorge Nóvoa, Soleni Biscouto Fressato e Kristian Feigelson
O cinema é a arte da luz, da imagem e do movimento, é a arte da expressão audiovisual. Geertz nos ensina que é difícil falar de arte, pois, “a arte parece existir em um mundo próprio, que o discurso não pode alcançar” [1] e este preceito é válido para o cinema, conhecido como a sétima arte. Analisar uma arte que envolve imagem e movimento é uma tarefa complexa, pois “aquilo que vimos, ou que imaginamos ter visto, parece ser tão maior e tão mais importante que o que logramos expressar com nossa balbucia, que nossas palavras soam vazias, cheias de ar, até falsas.” [2] A imagem é captada e projetada por meio de um processo mecânico, através do olhar e do veículo condutor da câmera. A mensagem audiovisual é composta dentro de determinados parâmetros e preceitos da construção cinematográfica, na maioria das vezes de forma narrativa. Como observa Bertoni e Montagnoli:
Elementos que trabalham com a expressividade da câmera, com os detalhes, com as mudanças de planos, os enquadramentos, o som, a possibilidade de sugestão daquilo que está dentro e fora do quadro; mas também com o corte que direciona a visão do espectador, com a articulação da montagem, a característica minimal do cinema, com a irrealidade construída. Enfim, todo esse conjunto de elementos e de procedimentos, traça a característica de construção fundamental da linguagem e da estética do cinema.[3] Leia Mais
How Enemies Become Friends | Charles Kupchan
Charles Kupchan é professor de relações internacionais na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Também é associado ao Conselho de Relações Exteriores. Foi diretor do Departamento de Assuntos para a Europa, órgão do Conselho Nacional de Segurança, durante o governo Clinton. Portanto, um especialista renomado e influente.
Tem estudado sistematicamente o que os americanos já chamaram de «nova ordem mundial». Kupchan, de forma mais contundente, considera o momento como «O fim da Era Americana» («The End of the American Era: U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century», publicado em 2002) e um período de transição, não para uma nova, mas para uma outra ordem mundial («Power in Transition: The Peaceful Change of International Order», 2001). Leia Mais
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Originalmente lançado em 1984, mas publicado no Brasil apenas em 2007, o estudo da historiadora norte-americana Lynn Hunt intitulado Política, cultura e classe na Revolução Francesa oferece não apenas pertinentes contribuições ao exame de um dos eventos mais estudados da história mundial, como também apresenta uma original abordagem da política, vista de maneira indissociável das práticas culturais e sociais.
Quando Hunt começou a pesquisa que daria origem ao livro, esperava demonstrar a validade da interpretação marxista, ou seja, de que a Revolução Francesa teria sido liderada pela burguesia (comerciantes e manufatores). Os críticos dessa visão (chamados de “revisionistas”), afirmavam, ao contrário, que a Revolução havia sido liderada por advogados e altos funcionários públicos. Procedendo a um minucioso levantamento de dados sobre a composição social dos revolucionários e suas regiões de origem, Hunt esperava encontrar maior apoio à Revolução nas regiões francesas mais industrializadas. Contudo, ela constatou que as regiões que mais industrializavam não foram consistentemente revolucionárias, e havendo de ser buscados outros fatores para tais comportamentos como os conflitos políticos locais, as redes sociais locais e as influências dos intermediários de poder regionais. “Em suma, as identidades políticas não dependeram apenas da posição social; tiveram componentes culturais importantes” (HUNT, 2007:10). Leia Mais
História Antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944) – SILVA (AN)
SILVA, Glaydson José da. História Antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940-1944). São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007, 222p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Os usos e abusos do passado na França durante o regime de Vichy. Anos 90, Porto Alegre, v. 16, n. 30, p. 301-309, dez. 2009.
[…] todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vêzes […] a primeira como tragédia, a segunda como farsa (MARX, 1969, p. 17).
Nestes termos, Karl Marx (1818-1883), na década de 1850, resumiria sua análise de uma das obras de Hegel. Ao expor o que definiu como a ‘farsa’ (do Dezoito Brumário) de Napoleão III, Marx constataria que: Doutorando em História pela UFPR, bolsista CNPq. Mestre em História pela Unesp, Campus de Franca. Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Amambaí.
Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram os espíritos do passado, tomando- lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de [se] apresentar[em] e nessa linguagem emprestada (1969, p. 17-8).
Sob circunstâncias diferentes, mas com idéias semelhantes, Jean Chesneaux (1995) destacaria, na década de 1970, em sua análise da história e dos historiadores, tomando de empréstimo o debate do Le Monde de 26 de julho de 1974, que: “Tem-se sempre necessidade de ancestrais quando o presente vai mal” (1995, p.23). Ainda na década de 1970, Georges Duby (1993), com seu livro O domingo de Bouvines, 27 de julho de 1214 (de 1973), demonstraria como aquela batalha seria recriada e adequada às circunstâncias de cada momento histórico, ao ponto de indicar os ‘choques franco-prussianos’. “Em outras palavras, o autor trabalha como um fato concreto, o enfrentamento entre Filipe Augusto da França e o Imperador Oto IV, a 27 de julho de 1214, foi adaptado a novas situações políticas” (2007, p. 15), dirá Leandro Karnal, ao apresentar a obra de Glaydson José da Silva, História Antiga e usos do passado.
Nos anos 80, Raoul Girardet, ao estudar os mitos e as mitologias políticas, lembrará que: “(…) a cada momento de sensibilidade (…) corresponde (…) uma leitura da História, com seus esquecimentos, suas rejeições e suas lacunas, mas também com suas fidelidades e suas devoções” (1987, p. 98). Neste mesmo período, Eric Hobsbawm (1997), ao enfatizar a maneira pela qual são ‘inventadas certas tradições’, ressaltará que:
(…) por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam a inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (…). Contudo, na medida em que há referência a um passado histórico, as tradições ‘inventadas’ caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações novas que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória. (1997, p. 9-10)
Discordando de tais argumentos, Stephen Bann (1994) propôs pensar as representações que foram (e são) criadas sobre o passado (europeu do século XIX), com vistas a enfatizar o papel exercido pelos historiadores e pelos lugares de produção da ‘memória social’ como os museus, os arquivos e as universidades, ao serem elaboradas certas leituras sobre o passado.
Usar o ‘passado’ para dar ‘sentido’ às ações no ‘presente’, desse modo, não é algo novo nem na História (dos homens e das mulheres do passado), nem na historiografia (HARTOG, 2003).
Mas a maneira com que o passado é usado para demarcar as ações e as reflexões no presente, de cada momento histórico, senão é ‘nova’ em todos os instantes, ao menos é múltipla. Foi esta direção que os trabalhos de François Hartog acabaram seguindo desde os anos de 1980, quando demonstrou em seu livro O espelho de Heródoto (1999) as diferentes formas de apropriação deste autor ao longo do tempo. Nesse sentido, com seu conceito de ‘regimes de historicidade’, Hartog se preocupou em teorizar de que modo os grupos e as sociedades do passado se apropriavam da história para fazerem diferentes usos do tempo e da relação passado-presente- futuro.
Foi tendo em vista essas questões que Glaydson José da Silva, em seu livro História Antiga e usos do passado (que é uma versão revista de sua tese de doutorado, intitulada Antiguidade, Arqueologia e a França de Vichy: usos do passado, defendida em 14 de março de 2005, no programa de pós-graduação em História da Unicamp, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari), preocupou-se em apresentar uma análise pormenorizada das formas com que a Antiguidade e o passado gaulês, romano e galo-romano haviam sido apropriadas na França durante o Regime de Vichy, que durou entre 1940 e 1944.
Para demonstrar essa questão, o autor estudou e evidenciou a relação de diferentes temporalidades (a da Antiguidade, a do regime de Vichy na década de 1940, e a ação da direita francesa nos anos 80 e 90), para circunstanciar de que modo os passados gauleses, romanos e galo-romano estavam sendo apropriados e usados politicamente, em diferentes momentos, para justificar a ação de grupos e partidos políticos na França durante o século XX. Com isso, o autor revela, de modo didático e inovador, as relações, nem sempre lineares, entre passado e presente, e a maneira pela qual o passado é apropriado para justificar as ações de grupos e indivíduos no presente histórico. Mais detidamente, tenta descortinar a importância da Antiguidade Clássica, para se elaborar um conhecimento mais balizado sobre a História Contemporânea. Em suas palavras: O saber histórico é tomado mais como um espaço de desconstruções que de construções e reconstruções. Busca- se neste trabalho uma compreensão dos meandros, dos escaninhos de um domínio em que a memória e a sua destruição são recorrentes na reconstrução dos acontecimentos históricos, em que memória e esquecimento se ligam e tomam forma atendendo a imperativos circunscritos do tempo presente. (p. 17-8) Com isso, a obra foi dividida em quatro capítulos. Em cada um deles o autor escreveu um pequeno prólogo para apresentar ao leitor o que discutiria no capítulo. Cada capítulo foi dividido em duas partes.
No primeiro capítulo, O caráter moderno da Antiguidade: considerações teóricas e análises documentais acerca da instrumentalização do passado, há uma descrição de como a Antiguidade foi pesquisada nos anos 80 e 90, e a maneira com que o passado é usado em diferentes momentos. Detém-se na forma pela qual o Fascismo e o Nazismo se apropriaram da Antiguidade para justificarem seus projetos nacionais e suas propostas políticas para a Europa nos anos 30 e 40 do século passado.
Essas diferentes antiguidades, ou melhor, essas diferentes leituras da Antiguidade, apontam sempre para o presentismo do pensamento antigo na elaboração das práticas políticas, das doutrinas, dos jogos identitários, enfim, das visões de homem e de mundo no Ocidente. (p. 30) Nesse sentido, evidencia como o regime Vichy, nesse mesmo período, se apoiou no passado gaulês, romano e galoromano, e, em especial, na figura de Vercingetórix, para empreender suas ações políticas. Vale notar que a França não foi o único país Europeu que sucumbiu às ações do Nazismo e do Fascismo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e se apoiou no passado para justificar suas ações no presente. Mesmo fora da Europa, esses regimes tiveram forte influência sobre a maneira com que o passado era usado e estudado, e a propaganda política era uma das estratégias para impor o consenso. No Brasil, Getúlio Vargas é um exemplo emblemático de como o Fascismo e o Nazismo serviram de base para que este desenvolvesse estratégias semelhantes de usar o passado e a propaganda política como formas de construir o consenso (GOMES, 1996).
No segundo capítulo, A Antiguidade a serviço da colaboração: nas trilhas da memória, a reescrita da História na França dominada (1940- 1944), o autor demonstra como a História e a Arqueologia romana e galo-romana francesas se moveram e foram usadas durante o período de ocupação alemã no país. Ao discutir a historiografia sobre o Regime de Vichy, o autor mostra como o período é pouco conhecido, mesmo em parte significativa do povo francês. Além disso, ao se ocupar da questão nacional, enfatiza como após a Revolução Francesa os usos do passado romano, gaulês e galoromano foram cada vez mais frequentes na história francesa contemporânea. A partir da análise de manuais de História, artigos de jornal e discursos, o autor reconstitui os diferentes usos que foram feitos, durantes esse período, da figura de Vercingetórix e dos gauleses “pela Révolution National – termo designado pelo Marechal Philipe Pétain para referir-se à retomada à ordem no país após a derrota militar” (p. 20). Destaca ainda como a História e a Arqueologia serviram de base na construção de um consenso, ao serem utilizadas como instrumentos de afirmação e legitimação, quando o regime procurou declaradamente romper com as tradições republicanas do passado francês.
No terceiro capítulo, Jérôme Carcopino – um historiador da Antiguidade sob Vichy, indica a importância deste intelectual com sua obra, e seus estudos sobre a Antiguidade e a maneira com que foi legada à posteridade, em função de sua participação direta no regime de Vichy como ministro da educação. “Durante o Regime Vichy, no período compreendido entre 23 de fevereiro de 1941 e 16 de abril de 1942, Jérôme Carcopino, já à época consagrado historiador, arqueólogo e epigrafista do mundo romano, exerce a função de secretário de Estado, com estatuto de ministro na área de Educação” (p. 127). Para evidenciar essa questão, o autor reconstitui a participação de Jérôme Carcopino no interior do regime e a forma como os estudos clássicos eram produzidos durante esse período.
Ministro de Vichy, Carcopino é o intelectual chamado à ação. Suas posturas face ao Regime se inscrevem na sua trajetória acadêmica, nas interfaces de múltiplas e contraditórias ideologias, diante das quais sempre teve claras as suas opções. Desejoso de ser visto como intelectual e não como político (…), é o intelectual a serviço da política. Sua atuação política não se dissocia de sua obra acadêmica; esta possibilita a compreensão daquela e se apresenta, a um só tempo, como continuidade e ruptura da mesma. O estudo do Regime de Vichy e do papel de Carcopino no mesmo período conduz, inelutavelmente, à atestação do envolvimento do historiador com o colaboracionismo de Estado, com tudo que implica esse colaboracionismo. Mas conduz, também, à necessidade de reflexão acerca da História e do papel do historiador, bem como à irrefutável relação que este mantém com os poderes. (p. 151) Por esse motivo, mesmo os estudos recentes sobre esse importante romanista, na França, levam em consideração, antes de ser analisada sua produção, a sua participação no Regime.
No quarto capítulo, História da Antiguidade e as extremas direitas francesas, a pesada herança de Vichy, revela-se que não apenas as obras de Carcopino foram lidas e interpretadas pela posteridade, de acordo com a sua participação no Regime de Vichy, mas o próprio regime deixou suas marcas na produção histórica francesa, em especial nas extremas direitas. O autor demonstra como os grupos que surgiram no imediato pós-guerra na França, a Nouvelle Droite, a Europe Acton, o GRECE e o Club de l’Horloge, acabaram sendo as matrizes ideológicas dos grupos de direita que foram se formando a partir da década de 1970. Nesse sentido, ressalta-se a participação do Front National na luta contra a imigração, os imigrantes e a Gália, e o papel exercido pela Antiguidade em Terre et Peuple para demarcar e justificar a ‘guerra étnica’, pois a “Antiguidade é, aqui, mais uma vez, um dos principais veículos da ideologia direitista” (p. 21). E: É na França de Vichy, com suas leis racistas que retiram direitos tendo como pretexto a origem dos cidadãos (…) que se inspira o F. N. [o Front National]. (…) A identidade nacional ancorada no mito gaulês permite, assim, o reencontro com o passado ideal, distante e que tem na tradição gaulesa, em sua longevidade, a resposta para os dramas atuais da sociedade francesa. (p. 178-9)
Assim, nessa mesma linha, ainda que com suas peculiaridades, defensor “de uma espécie de enraizamento cultural e de uma fidelidade identitária, o circulo T. P. [de Terre et Peuple] tem a História, desde os gregos e romanos, como testemunha dos fracassos e das derrocadas das sociedades multiculturais” (p. 190). E sobre esse aspecto, o grupo procuraria justificar sua ‘guerra total’, com ênfase nas questões étnicas.
Por suas qualidades, essa obra traz uma bela contribuição para um melhor entendimento de como a História, e certos grupos e sociedades do passado, são utilizados, em diferentes momentos, para justificar as ações no presente. Demonstrando como se utilizou, e também se abusou, do passado gaulês, romano e galo-romano na França durante o Regime de Vichy, e a herança que essas estratégias políticas e intelectuais deixaram para os partidos e grupos de extrema direita no país nos anos 80 e 90, o autor apresenta pormenorizadamente as relações entre História Antiga e História Contemporânea, e destaca que nem sempre as relações entre passado e presente são somente (ou completamente) ‘lineares’, mas sim dependem diretamente das especificidades e circunstâncias de cada momento histórico.
Referências
BANN, S. As invenções da História: ensaios sobre a representação do passado. Tradução de Flávia Vilas Boas. São Paulo: Edunesp, 1994.
CHESNEAUX, J. Devemos fazer tabula rasa do passado? Sobre a história e os historiadores.
Tradução de Marcos A. da Silva. São Paulo: Ática, 1995.
DUBY, G. O domingo de Bouvines, 27 de julho de 1214. Tradução de Maria Cristina Frias.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.
GIRARDET, R. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GOMES, A. C. História e historiadores. A política cultural do estado novo. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
HARTOG, F. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Le Seuil, 2003.
___________. O espelho de Heródoto: ensaios sobre a representação do outro. Tradução de Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
HOBSBAWM, E. & RANGER, T. (org.) A invenção das tradições. Tradução de Celina Cardim Cavalcante – 2ª edição – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
MARX, K. O Dezoito Brumário e cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História pela UFPR, bolsista CNPq. Mestre em História pela Unesp, Campus de Franca. Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Amambaí.
O Antigo Regime e a Revolução – TOCQUEVILLE (FU)
TOCQUEVILLE, A. de. O Antigo Regime e a Revolução. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Resenha de: REIS, Helena Esser dos. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.10, n.3, p.348-349, set./dez., 2009.
Em meio a tantas análises acerca da Revolução Francesa, qual o interesse que O Antigo Regime e a Revolução de Alexis de Tocqueville, escrito em 1856, pode ainda despertar nos leitores contemporâneos? Ilumina, de modo original, nossa compreensão daquele evento e das ideias que ali foram forjadas? As respostas não são evidentes, requerem ler o texto e seu contexto, a letra e a intenção do autor.
No início do prefácio onde apresenta seu livro aos leitores, Tocqueville descarta o propósito de escrever uma história da Revolução Francesa. Tendo despendido mais de cinco anos em uma ampla pesquisa nos arquivos da administração pública, nos cadernos de queixas escritos pelas três ordens em 1798, nos textos dos filósofos consagrados e até na leitura de inúmeras correspondências íntimas e confidenciais que estavam arquivadas no Ministério do Interior, seu propósito, afirma, é desvendar as causas pelas quais a revolução social e política contra o Antigo Regime – que estava em curso em toda Europa – eclodiu na França. Trata-se, portanto, de um texto que busca, por meio da narrativa e da análise dos acontecimentos, conhecer os sentimentos, os costumes, as ideias que prepararam a grande revolução.
Focando a capacidade de inovar do povo francês (de romper com seu passado de submissão para construir uma nova forma social e política baseada na igualdade e na liberdade entre os homens) nos primeiros anos da revolução, Tocqueville aponta cuidadosamente as circunstâncias, os erros e as decepções que fi zeram os revolucionários abandonarem seu objetivo inicial e esquecerem-se da liberdade. Ao comparar a sociedade do Antigo Regime com a sociedade democrática originada pela Revolução, argumenta que a perda da liberdade não decorre de um problema inerente aos homens deste tempo, nem de um problema característico do novo regime, mas do individualismo e da apatia política que já encontram suas raízes nas instituições políticas e na sociedade francesa do Antigo Regime.
As críticas precisas e vigorosas que Tocqueville dirige à nobreza não contêm excessos ou compromissos com os propósitos revolucionários. Ele mesmo, descendente da antiga aristocracia francesa, não adere à democracia espontaneamente, mas tão só porque reconhece que apenas sob este regime a liberdade (entendida como capacidade de cada um pensar e agir por si mesmo e, ao mesmo tempo, participar junto com cada um dos demais no exercício do poder) pode estender-se a todos os homens. Considerando-se independente, Tocqueville traz à luz o longo processo de esfacelamento dos corpos administrativos secundários e de centralização do poder nas mãos do rei. Ele denuncia, em primeiro lugar, que o exercício independente e participativo da liberdade, pouco a pouco, é substituído por privilégios privados que isolam os nobres e os afastam de seus deveres públicos. Em segundo lugar, destaca que a contrapartida dos privilégios de uns é a opressão e a exploração desmedida de quase todos os demais, o surgimento de ódios, rancores e rupturas no tecido social.
A análise tocquevilleana acerca das causas profundas que engendraram a Revolução permite-nos compreender que os desdobramentos despóticos da Revolução Francesa não se deram ao acaso, pelo calor do momento, mas se enraízam em uma longa cadeia de benefícios e violências que favoreceram o despotismo do rei e prepararam o despotismo democrático. Por mais que as palavras despotismo e democracia pareçam estar em campos opostos, Tocqueville – já em A Democracia na América – mostrou que instituições democráticas podem ser coniventes com formas opressivas do exercício do poder político, sempre que a busca por condições sociais igualitárias se sobrepuser à participação política.
O Antigo Regime e a Revolução, publicado vinte anos após A democracia na América, renova o esforço tocquevilleano de conhecer os problemas e buscar remédios adequados ao processo de democratização do estado francês. Se nessa obra ele destacou a grandeza do estado democrático constituído pelos anglo-americanos, foi também extremamente severo, criticando, de um lado, a desigualdade a que estavam sujeitados negros e índios, assim como todo aquele que divergia da maioria por qualquer razão; e, de outro lado, a opressão consentida que surgia do individualismo e da apatia política em vista da qual voluntariamente os homens abriam mãos de seus direitos políticos. É o mesmo espírito de investigação ampla e de crítica certeira que norteia a escrita de O Antigo Regime e a Revolução.
Reconhecendo semelhanças entre as formas despóticas que ocorreram na França e os germes de despotismo que viu nos Estados Unidos, Tocqueville contribui para uma concepção madura e crítica da democracia. Pois, se apenas sob este regime a igual liberdade pode estender-se a todos os cidadãos, suas análises evidenciam que liberdade e igualdade não estão garantidas por qualquer procedimento ou instituição. A sorte da democracia não está dada a priori, posto que a mesma condição social de igualdade entre os homens pode ter como consequência ou um estado político despótico, no qual pouco importa se o déspota é apenas um ou a maioria de um povo, ou um estado político de liberdade, no qual cada cidadão reconhece a si e aos demais como membro do poder soberano.
Ainda que a igualdade social e a liberdade política sejam inseparáveis como qualificativos do Estado democrático, Tocqueville incita-nos a pensar que as diferentes expressões políticas da forma social são consequências que derivam da vontade, da sabedoria e da ação dos homens. Assim, o esforço tocquevilleano para buscar as causas profundas da Revolução assemelha-se, como ele mesmo afirma, ao esforço dos médicos que buscam descobrir, nos órgãos de um corpo já morto, as leis da vida. Ainda acreditando no ideal que inspirou os revolucionários de 1798, por meio da análise dos fatos descritos em O Antigo Regime e a Revolução, Tocqueville busca, mais uma vez, instigar os homens a participarem do processo de construção de um estado social e político democrático, no qual liberdade e igualdade estendam-se a todos.
Esta obra, publicada em 1856, foi, no mesmo ano, traduzida e publicada na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha e, ainda antes da morte de Tocqueville, em 1859, alcançou sua quarta edição na França. Desde então, inúmeras são as publicações desse livro. No Brasil, duas edições anteriores encontram-se esgotadas há alguns anos. A edição da Martins Fontes valoriza o texto tocquevilleano, ao incluí-lo em sua coleção de clássicos, assim como pela tradução cuidada do texto. Lastimo apenas que não tenha incluído a totalidade das notas feitas pelo autor, que apresentam aos leitores situações particulares de países da Europa e discutem seus costumes.
Helena Esser dos Reis – Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO, Brasil. E-mail: helenaesser@uol.com.br
[DR]













 Marlon Salomão
Marlon Salomão

