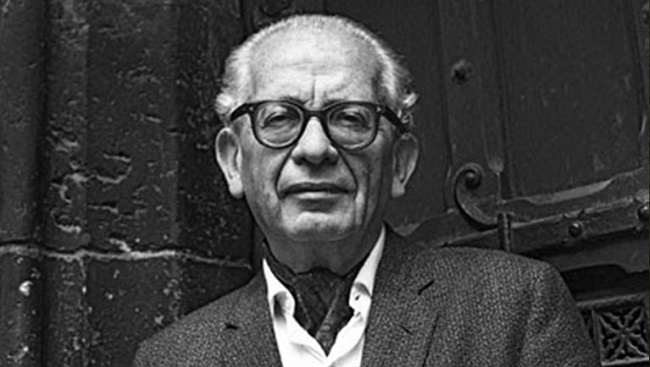A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830 | Aurelian Craitu
Em A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, lançado em capa dura em 2012 e impresso em brochura três anos depois, o cientista político e historiador Aurelian Craiutu, professor da Universidade de Indiana, Estados Unidos, oferece aos leitores um livro desafiador e paradoxal.
Autor de vários textos sobre o liberalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, dentre os quais se destaca seu livro de 2003 sobre os doutrinários franceses (Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires ), Craiutu é tradutor e organizador de outros trabalhos sobre importantes pensadores liberais, tendo apresentado e traduzido para o inglês duas obras fundamentais para a doutrina liberal do século XIX, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française , de Mme. De Stäel, e Histoire des origines du gouvernement représentatif, de François Guizot, além de ter ajudado a organizar dois livros sobre Tocqueville. O estudioso reuniu o vasto arsenal adquirido em mais de uma década e meia de estudos sobre a doutrina liberal para avançar a seguinte tese: a moderação é a quintessência da virtude política, um “arquipélago perdido” que historiadores e cientistas políticos ainda estão por descobrir (p. 1).
Dividido em duas partes – cada qual contendo três capítulos -, o livro oferece um estudo aprofundado de certos autores liberais francófonos que, exceção feita ao clássico e bastante conhecido Montesquieu, se destacaram no cenário público francês entre os momentos de crise do Antigo Regime e a Revolução de 1789, muito embora não tenham recebido a devida atenção da academia e do público em geral no passado como no presente. São eles, na ordem, os líderes monarchiens (monarquianos), designação pejorativa que os jacobinos atribuíram a um grupo heterogêneo de deputados da Assembleia Constituinte formado por Mounier, Malouet, Lally-Tollendal e Clermont-Tonnerre entre outros, e os quais se destacaram por defender o bicameralismo e o veto absoluto do monarca (capítulo 3); o banqueiro suíço Jacques Necker, o célebre ministro das Finanças de Luís XVI, cujas reflexões sobre a Revolução Francesa e a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes continuam largamente ignoradas até hoje (capítulo 4); Germaine Necker ou Mme. de Stäel, a filha de Necker e prolífica autora de artigos, panfletos e livros, além de importante ativista política nos quadros do Diretório e da Restauração (capítulo 5); o suíço Benjamin Constant (capítulo 6), parceiro afetivo, intelectual e político de Mme. de Stäel sobretudo nos períodos do Diretório e do Consulado e, como ela, autor igualmente prolífico – depois de Montesquieu, certamente o mais conhecido e estudado entre os elencados.
Além do prólogo, no qual expõe as justificativas e a metodologia da pesquisa, e do epílogo, no qual conclui com uma espécie de “decálogo” explicativo da moderação, o livro apresenta um esboço sobre o lugar ocupado pelo conceito de moderação no pensamento político ocidental, da antiguidade clássica e pensadores cristãos aos humanistas da época Moderna e filósofos franceses da Ilustração (capítulo 1), bem como um longo capítulo dedicado ao autor de O Espírito das Leis (1748), o barão de Montesquieu (segundo 2) – a meu ver o melhor do livro e, não por acaso, a pedra-angular da obra.
A escolha de Montesquieu como marco epistemológico inicial do estudo e da Revolução Francesa como tela de fundo do trabalho se justificam. O primeiro, pelo fato de haver delegado papel central à moderação política em sua grande obra, a qual teve o mérito de destacar os traços constitucionais, institucionais e legais da moderação para além das considerações de ordem ética sobre o caráter dos governantes ou dos legisladores. Ademais, as reflexões políticas de O Espírito das Leis e das produções dos demais autores ilustram os dois principais temas do livro de Craiutu: a moderação como conteúdo de uma agenda crítica e reformista do Antigo Regime; e as diversas tentativas de institucionalização da moderação política durante e após a Revolução de 1789, o eixo ou pano de fundo do livro. Inspirado no conceito de Sattelzeit (“tempo-sela”, tempo de aceleração histórica), cunhado por Reinhart Koselleck, e ecoando reflexões de François Furet acerca dos impactos da Revolução Francesa sobre a cultura política contemporânea, Craiutu justifica a centralidade daquele evento pelo fato de que “continuamos a viver num mundo democrático moldado e construído pelos ideais e princípios da Revolução Francesa” (p. 2).
É tendo por base as reflexões políticas de Montesquieu e de seus intérpretes envoltos no fenômeno revolucionário francês que Craiutu desdobra o que ele próprio designou como as quatro meta-narrativas do livro: I. a moderação abordada pelo aspecto político e institucional (e não como uma virtude pessoal ou individual), cujo propósito é salvaguardar não apenas a ordem, mas também a liberdade individual; II. a afinidade existente entre a moderação política e a complexidade institucional ou constitucional, conforme ilustraram Montesquieu por meio de seu conceito de “governo moderado”, os monarquianos com a defesa do bicameralismo e do veto absoluto, Necker mediante sua teoria da “soberania complexa” ou do “entrelaçamento dos poderes”, Mme. de Stäel com a sua busca de um “centro complexo” para consolidar a república termidoriana e Benjamin Constant em sua teoria do poder neutro; III. a moderação como a defesa sensata da liberdade, o que não se confunde com o conceito filosófico do juste milieu, pois a moderação pode se traduzir em atitudes tanto equilibradas como radicais de acordo com o contexto político; IV. por isso, a ação moderadora não pode ser analisada por meio do vocabulário político usual (direita ou esquerda), uma vez que possui conotações radicais ou conservadoras conforme o tempo e o espaço. Como bem destacou o autor no prólogo, há momentos em que as intenções moderadoras deixam de ser virtude e passam a significar fraqueza ou traição de princípios – poderíamos exemplificá-lo com o infame Pacto de Munique celebrado entre as potências europeias e a Alemanha nazista, que suscitou um célebre discurso de Churchill.
Na esteira do caráter elástico de seu tema, Craiutu optou por uma abordagem eclética na qual o contextualismo linguístico da Escola de Cambridge e a tradição historiográfica revisionista de Furet e seus discípulos (especialmente Lucien Jaume, destacado estudioso do liberalismo francês do século XIX) se articulam para dotar o livro de um caráter duplo. A Virtue for Courageous Mind pode ser lido ora como obra de filosofia política, ora como trabalho de história das ideias, dado o constante diálogo entre a análise textual e interpretação contextual.
Além das referências citadas acima, é possível identificar outras figuras importantes para o desenvolvimento da hipótese do autor, tais como Jonathan Israel, Judith Shklar, Norberto Bobbio e Isaiah Berlin. De acordo com Craiutu, cientistas sociais ignoram o conceito político da moderação por vários fatores, dentre os quais se destacam a persistência de uma tradição filosófica radical que associa a agenda moderada à defesa conservadora do status quo (de Marx a Israel); a tendência a enxergar na moderação um programa minimalista pautado pelo medo ou pela oposição aos extremos (provável alusão a Shklar e seu artigo ”Liberalism of fear”, de 1989); por fim, indo ao encontro de Bobbio e de Berlin, a visão dominante, não restrita à academia, que vincula a moderação à sagacidade de um determinado agente político, o qual, para conquistar seus objetivos, recorre a quaisquer tipos de compromissos ou manobras (o político encarado como um leão ou uma raposa).
Na contramão do insistente e vigoroso senso comum acerca do tema, Craiutu sustenta – inspirado numa citação do liberal-conservador Edmund Burke, de quem toma de empréstimo nada menos que o título do livro – que a moderação é “uma arrojada virtude para mentes corajosas” (p. 9). Ela não deve ser reduzida a mero meio-termo entre extremos nem tampouco representa sinônimo de pusilanimidade, hesitação ou cálculo cínico de realismo político. Com implicações institucionais e, segundo o autor, desempenhando um papel crucial na aquisição ou fortalecimento dos valores democráticos e liberais, a agenda moderada dos autores selecionados possui em comum pluralismo (de ideias, interesses e forças sociais), reformismo (reformas graduais em vez de rupturas revolucionárias) e tolerância (postura cética que reconhece limites humanos, especialmente para a ação política).
Antes de comentar o que, a meu ver, constitui o problema central do livro, a saber, a identidade das reflexões moderadas desses autores para a aquisição, manutenção e fortalecimento da democracia liberal (p. 9), gostaria de destacar alguns méritos da obra.
O primeiro ponto que saliento é, se não a originalidade, ao menos a correção no tratamento de um autor clássico como Montesquieu. Craiutu sugere que, mais do que propor um governo moderado fundado na separação dos poderes, equívoco reproduzido por incontáveis intérpretes, o que Montesquieu efetivamente sustentou foi uma teoria sobre a divisão dos poderes na qual o Executivo e o Legislativo exerciam controles recíprocos e moderavam as iniciativas de cada um – sua visão, no espírito da doutrina do equilíbrio de poder vigente na época e inspirada na constituição inglesa, pode ser traduzida na fórmula de que só um poder é capaz de controlar e regular outro poder, de modo que a estrita separação entre ambos daria margem a usurpações ou levaria à paralisia institucional. Nos quadros da Revolução Francesa, esse tópico da complexidade constitucional/institucional como condição sine qua non para a obtenção de um governo livre (moderado) se desenvolve nas obras dos monarquianos (bicameralismo e veto absoluto), de Necker (teoria do entrelaçamento dos poderes) e, sobretudo, de Benjamin Constant (teoria do poder neutro). Para demonstrá-lo, Craiutu procedeu a uma criteriosa pesquisa de fontes primárias (obras e discursos dos autores e de seus interlocutores, além de textos legais ou constitucionais) e secundárias (nas mais diversas línguas, do francês e inglês ao alemão), bem como a um erudito exercício de interpretação e reconstrução contextual. Do ponto de vista formal, os únicos senões correm por conta da omissão de um importante intérprete atual da obra de Benjamin Constant (Tzvetan Todorov), bem como da inusitada ausência de uma bibliografia no final do livro, o que dificulta a leitura de suas inúmeras e ilustrativas notas.
Craiutu foi feliz na escolha e no tratamento dos autores, na medida em que eles possuem um núcleo conceitual comum, a moderação vista sob o prisma da complexidade institucional, e defendem princípios filosóficos semelhantes: de Montesquieu a Constant, a mesma preocupação com a moderação das penas e com a absoluta liberdade de expressão; os benefícios do comércio; as garantias para a propriedade privada; o entendimento das desigualdades sociais como resultantes da fortuna ou do intelecto, numa visão otimista da meritocracia; o estabelecimento de pesos, contrapesos e divisões entre os poderes, o que é diferente da separação entre eles; a necessidade de um Judiciário independente do Legislativo e do Executivo; e a crítica às visões monistas ou absolutistas do poder que, da vontade geral de Rousseau às críticas de Paine ao governo misto da Inglaterra, redundaram na mera transferência do poder absoluto do monarca para o poder absoluto do Legislativo (como sabemos, trata-se de uma das principais teses de Furet sobre a Revolução Francesa).
Segundo Craiutu, o pensamento liberal, devido em grande medida à experiência da Revolução Francesa e do traumático período do Terror, teria passado por uma nítida evolução. Aos poucos seus autores teriam se preocupado menos com quem exerce a soberania (o monarca, uma maioria popular ou uma minoria abastada e ilustrada) e mais com a maneira em que a soberania é exercida, até concluírem que o que realmente importa é o estabelecimento de limites ao poder a fim de proteger os indivíduos da autoridade política – ainda que exercida em nome do povo, da nação, da vontade geral, ou sob a bandeira de ideais generosos e humanitários como a igualdade.
Exceção feita a Montesquieu, que não viveu a tempo de testemunhar a Revolução Francesa, os demais autores apresentaram diagnósticos lúcidos sobre as causas que conduziram à “derrapagem” daquele grande evento. Para além das já conhecidas interpretações liberais de Mme. de Stäel e Benjamin Constant para o período de 1789-1794 – as quais são de conhecimento dos iniciados na historiografia da Revolução Francesa -, Craiutu resgata as valiosas contribuições teóricas e balanços históricos dos monarquianos, especialmente Mounier (Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 1792), e de Necker, cujo panfleto De La Révolution Française, de 1796, não recebeu uma única edição sequer ao longo de mais de 200 anos!
A despeito de uma visão consolidada pelos próprios revolucionários franceses, dos jacobinos aos girondinos, que viam na retórica dos deputados monarquianos intenções aristocráticas ou conspiratórias a serviço da Corte, Craiutu reabilita esse grupo, sustentando, à guisa de Tocqueville, que os monarquianos eram dotados de um verdadeiro espírito revolucionário. Embora lutassem pelo estabelecimento de um governo moderado balizado por garantias constitucionais, eles seriam unânimes na oposição aos privilégios da nobreza. Craiutu sugere, após reconstruir as causas que levaram à derrota política dos monarquianos, que o Terror poderia ter sido evitado se as propostas de Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal & Cia. tivessem sido adotadas, observando que o projeto constitucional triunfante em 1814 e consolidado durante a Monarquia de Julho guardava estreitas afinidades com os diagnósticos políticos do grupo (p. 106).
Outro ponto alto do livro é o tratamento nada condescendente dispensado a figuras tão complexas quanto Mme. de Stäel e Benjamin Constant, as quais, sobretudo no período em que apoiaram o governo republicano do Diretório, sustentaram posições dificilmente classificáveis como moderadas ou liberais. Embora Craiutu tenha examinado bem os panfletos termidorianos da dupla e o crítico contexto de sua elaboração, ele poderia ter devotado um pouco mais de atenção à questão religiosa – como fez, por exemplo, Helena Rosenblatt em seu estudo sobre Constant, autora com a qual Craiutu dialoga frequentemente e concorda sobre a importância da religião para o pensamento político da dupla (p. 200).
Por fim, o autor conclui que as modernas democracias devem ser encaradas como formas mistas de governo representativo, não como simples expressões do “governo do povo”, e que a moderação política “pode promover ideais democráticos” (p. 248). Esta última afirmação nos coloca diante de um problema e de um paradoxo. Problema, porque apesar de os autores em destaque apoiarem a igualdade civil, todos defendiam uma ou mais cláusulas de exclusão (nível de renda, posses ou conhecimento formal) quando o assunto era a participação ativa dos cidadãos na política – o que, ademais, constituía a regra para os liberais da época, sendo Thomas Paine, referência bastante citada no livro, rara exceção no campo liberal do período. Diante dessa constatação, e levando-se em conta o meticuloso trabalho de reconstrução histórica de Craiutu, é uma pena que este importante detalhe tenha sido inexplorado. Por outro lado, e aqui adentramos o paradoxo, o autor acerta em cheio ao apontar a relevância dessa agenda moderada para os estudiosos dos regimes democráticos do presente, na medida em que estes, para além do sufrágio universal como fundamentação e método de funcionamento do sistema, baseiam-se no pluralismo, nos direitos individuais e nos direitos das minorias (vide Lucien Jaume, Le discours jacobin et la démocratie).
Antes de encerrar, caberia levantar uma questão: afinal de contas, o autor logra ou não convencer o leitor de que a moderação é a quintessência da virtude política? Com base no problema relatado acima, arrisco dizer que não. Por outro lado, concordo com Craiutu (e Burke) quando ele (s) afirma (m) que a moderação deve ser encarada como virtude para mentes corajosas. Ao contrário do que afirmou Nietzsche, e com base nas trágicas experiências do século XX, podemos concluir que coube justamente aos estadistas moderados reconstruir o mundo após o apocalipse de guerras e regimes tirânicos engendrados a partir da “mentalidade de rebanho”.
José Miguel Nanni Soares – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: miguelnanni@uol.com.br
CRAIUTU, Aurelian. A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830. Princeton: Princeton University Press, 2015. Resenha de: SOARES, José Miguel Nanni. Revisitando um arquipélago quase esquecido. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 314-320, set./dez., 2016.
Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890) – FARIAS (RBH)
FARIAS, Juliana Barreto. Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890). Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro/Arquivo Geral da Cidade, 2015. 295p. Resenha de: CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
Antes de defender sua tese em 2012, Juliana Barreto Farias já era uma pesquisadora reconhecida, autora de trabalhos sólidos, tanto individualmente como em coautoria com historiadores renomados. A tese então defendida era fruto de uma pesquisa densa e bem sedimentada. Agora, expurgados os ranços que caracterizam as teses – aqueles que tornam a leitura pesada, difícil – e com alguns acréscimos bem situados, foi finalmente publicado esse importante estudo, que promete influenciar a literatura sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro, particularmente sobre a presença de africanas minas no comércio a retalho.
A inspiração confessada da autora é uma fotografia de uma africana vendendo frutas e verduras numa bancada de mercado. É uma daquelas fotos de Marc Ferrez diante das quais os especialistas às vezes se lembram de que, talvez, já as tenham visto em algum lugar. Mas Juliana não se contentou com essa curiosidade, a estética vigorosa da “dama mercadora”, talvez Emília Soares do Patrocínio, a principal personagem do livro, uma africana liberta que deixou 30 contos de patrimônio inventariado e que alforriou outros 11 cativos. Dali em diante, fazendo uma ligação nominativa de fontes, percorrendo um rol considerável de documentos sobre o mercado, inventários, jornais, processos de divórcio e fontes paroquiais, a autora foi descobrindo outras pessoas, processos, histórias de vida, lendas urbanas, rumores e espaços, até que, finalmente, pôde apresentar aos leitores outro retrato, mais amplo, com mais profundidade e contextualização: o retrato do próprio mercado da Candelária, o “mercado do peixe”, na atual Praça XV de Novembro. Por intermédio desse trabalho denso e arguto entramos no cenário de muitas tramas que haviam caído em certo esquecimento da história urbana do Rio de Janeiro escravista. A foto daquela negra mina com uma urupema no colo inspirou a pesquisa, mas ela não é a única protagonista neste livro. O próprio mercado, que ganha vida, é o personagem principal deste importante estudo.
Inspirado no Les Halles de Paris, o mercado tinha absolutamente tudo de brasileiro, expressando os detalhes multiétnicos e as tensões que caracterizavam a vida social no Rio de Janeiro oitocentista. Nele percebe-se a dinâmica própria da escravidão na capital imperial, pois, a rigor, não se podia alugar banca de peixe a cativo, mas eles estavam lá o tempo todo, se não como vendedores independentes, com certeza, como prepostos. Em 1836, houve de fato uma queixa de que a posse de bancas havia sido concedida a escravos. Entre atritos, reclamações – até mesmo contra “pretos cativos atravessadores” – e rearranjos espaciais, a partir de 1844 só gente livre poderia ser locatária, embora seus cativos pudessem pernoitar no ambiente de trabalho. A autora crê, todavia, que os requerimentos iludiam à condição forra de muita gente, afinal de contas, salvo os “africanos livres”, não havia como essas pessoas com marcas de nação serem livres. Os minas eram os mais bem representados no mercado e, entre eles, havia uma distribuição entre os sexos bastante equitativa. As áreas internas, todavia, eram majoritariamente ocupadas por homens.
Apesar de muita confusão, greve até, em longo prazo houve uma razoável estabilidade entre os que se estabeleciam no mercado, pois a média de ocupação no mesmo local era de 15 a 20 anos. Era comum transferir a banca para gente da mesma família ou da mesma procedência, e, embora fosse possível ceder a posse e o uso do espaço, não se podia repassá-lo a terceiros por conta própria, sem interferência das autoridades competentes. Havia locatários ocupando mais de uma banca. José da Costa e Souza, ou José da Lenha, era tão onipresente nos negócios que, segundo um relatório de 1865, ficou também conhecido como “dono do mercado”. A trajetória de vida de alguns personagens, como Domingos José Sayão, um calabar forro, ilustra o tráfico de influência para se conseguir bancas. O fato de já estar lá trabalhando era importante para renovação, mas havia um jogo na Câmara Municipal envolvendo complexas relações patronais. E, nesse jogo burocrático e legal, as minas também eram protagonistas. Casavam-se, divorciavam-se, participavam de irmandades, querelavam e demandavam direitos nos termos da “lei do branco”.
Uma das partes mais ricas do livro é o estudo das posições relativas dos trabalhadores do mercado, desde os donos de banca até os cativos. À parte a condição servil, livre ou liberta de cada um, havia a cor da pele matizando as relações sociais. Entre os negros, os que não eram africanos aparentemente procuravam ressaltar esse dado nas petições. E eram muitos os africanos. A autora cita Holanda Cavalcanti, para quem bastava ir lá para vê-los ostentando suas marcas de nação. Os requerimentos, todavia, disfarçavam a condição dos requerentes forros, que não deviam ser poucos. Havia, entretanto, certa especialização naquela multidão. Os brasileiros dominavam a venda de pescados, os africanos concentravam-se na venda de legumes, verduras, aves e ovos. Os portugueses estavam em tudo, mas dominavam a venda de secos. Embora tenha encontrado até uma briga entre dezenas de ganhadores e 11 trabalhadores brancos do mercado, a autora não encontrou uma rivalidade permanente, inevitável entre portugueses e africanos, o que contraria o senso comum historiográfico. Os atritos eram muitos, mas cruzavam barreiras simplistas. A condição servil, livre ou liberta, a nacionalidade, a procedência e as relações patronais entrecruzavam-se marcando o cotidiano das relações de trabalho e convivência no mercado do peixe.
Empoderada pela riqueza que o comércio lhe proporcionou, Emília fez tudo o que poderia caber a uma africana liberta na capital imperial. Afirmou-se diante de outras mulheres e dos homens que cruzaram seu caminho. No comércio, liderava. Os homens que passaram por sua vida foram apenas coadjuvantes. Submersa numa sociedade que tentava conquistar, previsivelmente tornou-se senhora de escravos, e Juliana Barreto não encontrou evidências de que fosse melhor, mais generosa nas alforrias, do que as outras sinhás do seu tempo. Questões desse tipo – Como era ser escrava de uma africana liberta? Qual o significado do casamento cristão para as africanas cativas ou libertas? E o que significava ser uma “mina”, afinal de contas? – integram um rol de perguntas clássicas da historiografia brasileira para as quais este livro acrescenta novos elementos de discussão.
Embora com objeto bem delimitado, circunscrito no tempo e no espaço, este livro é também oportuno no momento presente, quando precisamos ampliar nossos horizontes de estudo, reabrir perspectivas comparadas. Nestes tempos de tantas e tantas teses a serem lidas, talvez já seja possível reavaliar tendências bem assentadas na historiografia. A escravidão no Rio de Janeiro das africanas retratadas neste importante livro precisa ser cotejada com aquela das africanas das Minas setecentistas, sobre as quais já existe sólida literatura, ou mesmo da Bahia e Pernambuco, revisitadas por estudos recentes. Aos poucos, os detalhes desse universo mais amplo da escravidão no Brasil oitocentista vão sendo desvelados por estudos densos, como este, que irão compor as futuras sínteses da vasta e rica historiografia brasileira sobre a escravidão.
Marcus Joaquim Maciel de Carvalho – Ph.D. em História, University of Illinois System (UILLINOIS). Professor Titular de História, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife, PE, Brasil. E-mail: marcus.carvalho.ufpe@hotmail.com
[IF]Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881) – MATA (RBH)
MATA, Iacy Maia. Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 303p. Resenha de: CHIRA, Adriana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O complicado relacionamento entre as pessoas de cor e os movimentos nacionalistas latino-americanos esteve no centro de um vasto conjunto de pesquisas historiográficas. Algumas das questões que os estudiosos enfrentaram foram estas: o que levou as pessoas de cor a participar nesses movimentos? Como os modelaram? E por que endossaram ideologias nacionalistas que celebravam a harmonia racial e que as elites brancas viriam a usar como meio para silenciar as reivindicações baseadas na raça? As pessoas de cor foram sendo cooptadas pelas elites brancas, ou conseguiram dar forma ao teor geral dos movimentos e das ideologias nacionalistas? Historiadores cubanos envolveram-se nessas discussões, muito embora Cuba tenha discrepado cronologicamente em comparação com outras colônias espanholas nas Américas, alcançando sua independência apenas em 1898. O paradoxo que faz de Cuba um tema particularmente interessante de pesquisa é por que o maior produtor de açúcar para o mercado global poderia abrigar um ideal nacionalista de fraternidade racial, no momento em que o racismo científico tornava-se o lastro ideológico para os segundos impérios europeus na Ásia e na África, e para as chamadas leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Realizando rica pesquisa em arquivos cubanos e espanhóis e tecendo uma bela narrativa que coloca na frente e no centro as vozes e as ações das próprias pessoas de cor, Iacy Maia Mata oferece, em sua monografia, novas abordagens sobre essas questões.
Estudos anteriores sobre fraternidade racial em Cuba centraram o foco sobretudo na experiência militar durante a prolongada Guerra de Independência contra a Espanha (1868-1898). Estudiosos e intelectuais já desde José Martí argumentaram que o esprit de corps militar que se desenvolveu entre os rebeldes pró-independência através das linhas de segregação oficiais serviu como catalisador de ideologias radicais de inclusão nacional e racial. Mata, porém, sustenta que há indícios nos arquivos de uma cultura política popular em Santiago que parece ter preexistido à campanha militar de 1868. Introduzindo um novo recorte cronológico para a emergência de ideologias de igualdade racial em Cuba, Iacy Mata não está apenas oferecendo o relato mais completo. Ela também está sugerindo que a população de cor de Santiago havia considerado a igualdade antes mesmo de as elites liberais de pequenos proprietários na província vizinha de Puerto Príncipe terem iniciado a guerra de independência.
O objetivo de Iacy Mata é traçar as origens da cultura política popular de Santiago e explicar como, entre meados dos anos 1860 e o início da década de 1880, a população de cor local superou as divisões de status e criou laços e solidariedades que alcançaram sua expressão completa na ideia de uma raza de color unificada. A autora argumenta que essa visão particular de uma comunidade política centrada na raça estava alinhada com a causa nacionalista de uma Cuba livre. Como ela coloca adequada e incisivamente, as pessoas de cor de Santiago passaram, no começo da década de 1860, da condição de la clase de color, um rótulo oficial nelas fixado pelas autoridades coloniais espanholas, para a de la raza de color, termo que intelectuais e líderes políticos e militares de cor começaram a usar para se autoidentificar no início da década de 1880.
Ao longo da maior parte de sua existência colonial, Santiago de Cuba, província situada na extremidade leste da ilha, foi uma zona de fronteira colonial, ator marginal na política imperial e local de pouco investimento da agricultura de plantation em larga escala. Os refugiados da Revolução Haitiana que migraram para essa região por volta de 1803 ali introduziram plantações de café, muitas das quais faliram no começo da década de 1840. Até o final dos anos 1850, as principais fontes de renda locais eram a criação de gado, a plantação de café e tabaco e a mineração de cobre (que as autoridades concederam a uma companhia inglesa). Como resultado da localização de Santiago nas margens do domínio açucareiro, a pequena propriedade permaneceu ali muito mais comum do que na parte centro-oeste de Cuba. Além do mais, Santiago também se destacou entre as demais províncias cubanas pelo peso demográfico relativamente maior da população de cor. No começo dos anos 1860, muitos deles eram pequenos proprietários e alguns possuíam um pequeno número de escravos. Era essa população que começou a se mobilizar politicamente no início daquela década, argumenta a autora, em resposta aos acontecimentos econômicos locais e aos movimentos internacionais antiescravagistas.
Nos primeiros anos da década de 1860, o açúcar começou a deitar raízes mais profundas em Santiago e a produção de café voltou a se expandir ali. Como consequência, as plantações começaram a invadir áreas onde os pequenos proprietários ou arrendatários cultivavam tabaco, deixando a população de cor insatisfeita. Ademais, em meados da década, teriam chegado a Santiago notícias e rumores sobre a emancipação dos escravos no sul dos Estados Unidos. A população local também teria consciência, havia bastante tempo, dos protestos britânicos contra a escravidão e o comércio de escravos para o Império Espanhol (em razão da proximidade da Jamaica), bem como da reputação do Haiti como república construída a partir de uma bem-sucedida revolução de escravos. Fazendo uma leitura cuidadosa de registros criminais e judiciais, Iacy Mata recupera como essas notícias impactaram a vida cotidiana entre os escravos e a população de cor livre e o que fizeram com elas. Quer fosse a exibição sutil e irônica de uma bandeira haitiana, trazendo inscrita a palavra Esperança, quer fosse o uso de um vocabulário pró-republicano, antiescravidão e antidiscriminação, sustenta a autora, as conversas de natureza política se espalharam pela cidade e pelas áreas rurais antes de 1868.
As conversas políticas locais culminaram em uma série de conspirações que transpirou entre 1864 e 1868 na província de Santiago e em áreas adjacentes. Iacy Mata interpreta a evidência dessas conspirações cuidadosamente, identificando os objetivos e as alianças dos participantes que emergiam entre escravos, população de cor livre e brancos. Os desiderata incluíam uma república independente, o fim da escravidão e a igualdade de direitos no que diz respeito ao status de raça. Nos dois capítulos finais, a autora coloca em discussão que essas metas políticas receberiam maior articulação durante a Guerra de Independência, quando as pessoas de cor tentariam radicalizar a agenda principal da liderança branca liberal para incluir a igualdade política e a abolição imediata.
A monografia baseia-se em extensa pesquisa nos arquivos imperiais espanhóis (Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Geral das Índias), bem como em fontes dos Arquivos Nacionais Cubanos e do Arquivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Esses diferentes repositórios forneceram a Iacy Mata fontes que lhe permitiram deslocar-se entre diferentes percepções dos mesmos eventos ou processos: elite/subalterno, centro imperial (Madri)/elite política centrada no açúcar (Havana)/zona de fronteira cubana (Santiago). Adicionalmente, o trabalho de Iacy Mata mostra como o estudo de uma área de fronteira do Caribe pode ser importante para se entender o radicalismo político na região. Por muito tempo, os historiadores permaneceram focando as áreas produtoras de açúcar como os principais espaços onde a mudança social se deu. Embora seu trabalho tenha nos munido de ferramentas e abordagens analíticas indispensáveis, Iacy Mata sugere que é importante olhar para além dessas áreas se quisermos compreender a cultura política local.
A monografia também abre importantes caminhos para novas pesquisas. A unidade discursiva do termo raza de color esconde as complexas políticas e as fraturas existentes entre as pessoas de cor em Santiago que sobreviveram nos anos 1880 e moldariam a política clientelista nos primórdios da Cuba republicana. Seria fundamental considerar que as origens e os desdobramentos posteriores dessas fraturas estariam em Santiago. Em segundo lugar, o estudo de Iacy Mata alude à presença de aliados brancos liberais em Santiago, que, ocasionalmente, ajudaram os combatentes pela liberdade ou participaram de conspirações antiescravidão. A historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga explorou a história do liberalismo na parte ocidental da ilha, revelando um vibrante campo de ideias liberais que se mostravam, às vezes, contraditórias ou contraditórias em si mesmas. Puerto Príncipe e Bayamo foram terrenos particularmente férteis para o pensamento liberal, mas Santiago não esteve alheia a ele antes da Guerra de Independência (ver, por exemplo, o governo de Manuel Lorenzo nos anos 1830). Algumas dessas ideologias liberais podem também ter escoado através de redes que alcançaram ex-colônias latino-americanas depois da década de 1820 e a República Dominicana durante a Guerra da Restauração nos anos 1860. Estudar os ideais políticos da população de cor de Santiago em relação a essas outras correntes políticas, tanto internas quanto externas à ilha, parece ser um terreno especialmente importante para futuras pesquisas.
O trabalho de Iacy Mata é uma bela ilustração de como as ferramentas da história social e política podem capturar a dinâmica dos movimentos políticos populares. Assim sendo, eu o recomendo vivamente para os estudiosos interessados em sociedades escravistas e pós-escravistas e nos papéis que as pessoas de cor desempenharam no interior delas.
Adriana Chira – Ph.D., University of Michigan. Assistant Professor of Atlantic World History, Emory College of Arts and Sciences (USA). Emory College of Arts and Sciences. Atlanta, GA, USA. E-mail: adriana.chira@emory.edu.
[IF]A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas – TRINDADE (RBH)
TRINDADE, Hélgio. A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2016. 837p. Resenha de: GONÇALVES, Leandro Pereira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
São 17 horas em Brasília. Com os olhos inchados, o rosto deformado pelos anos e após acordar de uma longa sesta, o antigo (e eterno, para os militantes) chefe dos integralistas concedeu uma entrevista ao então doutorando em Ciência Política da Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Hélgio Trindade, que teve um segundo encontro com o líder dos camisas-verdes em São Paulo. Na ocasião das pesquisas, foram realizadas entrevistas com Miguel Reale, Dario Bittencourt e Rui Arruda, dentre outros integralistas ou simpatizantes, como Alceu Amoroso Lima e Menotti Del Picchia.
O momento não era nada propício para o desenvolvimento de uma pesquisa dessa estirpe, pois estávamos vivendo os duros tempos da ditadura civil-militar e muitos dos integralistas dos anos 1930 eram figuras ativas no contexto do regime autoritário, como o general Olympio Mourão Filho, que recebeu de pijama e chinelos o então doutorando em seu apartamento, em Copacabana. Detalhes pitorescos e impensáveis que serão descobertos nas 837 páginas do livro A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas.
Não há estudioso que não tenha esbarrado com o nome de Hélgio Trindade. A tese de doutorado denominada L’Action intégraliste brésilienne: um mouvement de type fasciste au Brésil, traduzida e publicada no Brasil, em 1974, sob o título Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30 (Trindade, 1974), é cada vez mais viva na Ciência Política e nos trabalhos historiográficos. Esse estudo promoveu a entrada da temática no meio acadêmico, sendo também responsável por tornar conhecido o movimento e tê-lo interpretado. O pesquisador gaúcho foi o precursor dos estudos e é referência cada vez mais atuante para os que buscam compreender esse fenômeno político do século XX que arrastou multidões e mobilizou milhares de pessoas em torno de um grande nome: Plínio Salgado.
A nova produção de Hélgio Trindade é lançada em contexto acadêmico extremamente oposto ao do momento de divulgação da tese, em 1974, quando não havia amplos diálogos. A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas é uma espécie de “promessa” do professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1979, o ex-reitor da UFRGS e da Unila anunciou, na 2ª edição da tese, publicada pela Difel, que um volume seguinte teria como objeto de análise um conjunto de depoimentos gravados, inéditos, colhidos com dirigentes e militantes integralistas, mas, por implicações éticas, faria a divulgação após a morte de todos.
Há muitos anos os pesquisadores comentavam sobre as entrevistas, e muitos se questionavam onde elas estavam e se realmente existiam, visto que o material sempre foi objeto de desejo de todos os estudiosos do tema. Agora, finalmente, há a possibilidade de termos em mãos uma parte significativa dos depoimentos que foram concedidos a Hélgio Trindade. Vejo como um feito da publicação o trabalho que o autor teve em organizar as entrevistas de maneira temática, pois o livro não é apenas uma simples transcrição, há um árduo trabalho metodológico acompanhado por referências e contextualizações amplas sobre o período e o Movimento.
Em “Nota prévia” o autor defende o uso fascista para a caracterização do integralismo frente ao debate da década de 1970 e suas repercussões no contexto acadêmico contemporâneo, polêmica existente desde a defesa da tese. O prefácio da segunda edição (Trindade, 1979), reproduzido no novo livro e escrito pelo cientista político da Universidade de Yale, Juan J. Linz, falecido em 2013, destaca a importância da investigação no cenário acadêmico, principalmente por identificar um tipo fascista fora do contexto europeu, temática que segue a introdução escrita pelo autor, demonstrando em uma visão continental a particularidade do movimento integralista – “O fascismo na América Latina em debate”. Antes de nos brindar com as entrevistas, faz uma síntese da tese, expondo o universo ideológico do integralismo para que o leitor possa identificar elementos da estrutura da Ação Integralista Brasileira.
Plínio Salgado, o líder do movimento, mereceu um capítulo exclusivo: “Entrevistas com dirigentes e militantes da AIB”. Nele, o chefe supremo dos camisas-verdes aponta questões sobre o passado e sobre um presente utópico. São palavras que permitem ao historiador identificar elementos até então conhecidos no campo das hipóteses, nos aspectos político, cultural, internacional, religioso ou mesmo pessoal. Com as entrevistas, é possível contribuir com diversas investigações, como a força exercida pela intelectualidade portuguesa em Plínio Salgado, tanto na juventude, pela leitura de obras ligadas aos católicos lusitanos, como no contexto do pós-guerra, quando António de Oliveira Salazar estabeleceu papel preponderante na composição de um novo Plínio Salgado após o exílio (cf. Gonçalves, 2012).
Em “Imaginário da elite dirigente e Dirigentes e Militantes Locais” Trindade oferece entrevistas realizadas entre maio de 1969 e setembro de 1970 com representantes do movimento e líderes de destaque no cenário político: Frederico Carlos Allendi, Rui Arruda, Dario Bittencourt, Margarida Corbisier, Roland Corbisier, José Ferreira da Silva, Arnoldo Hasselmann Fairbanks, Antonio Guedes Hollanda, Américo Lacombe, José Ferreira Landin, Edgar Lisboa, José Loureiro Júnior, Jeovah Mota, Olympio Mourão Filho, Erico Muller, Zeferino Petrucci, Miguel Reale, João Resende Alves, Goffredo da Silva Telles, Ângelo Simões Arruda, Ponciano Stenzel, Antonio de Toledo Pizza e Aurora Wagner. Como as entrevistas estão no anonimato, uma relação foi inserida no fim do livro, mas no início de cada entrevista há uma pequena biografia do depoente que permite ao estudioso a identificação, mas isso não é tão simples para os demais leitores.
Em sequência, Trindade traz em “Olhares externos de intelectuais independentes” entrevistas de personalidades que viveram o período e que conviveram em algum momento com Plínio Salgado e outros membros do movimento: Alceu Amoroso Lima, Cruz Costa, Candido Morra Filho, Menotti Del Picchia e Antonio Candido, sendo este último o único depoente ainda vivo. Como não há relações políticas e comprometimentos em algumas passagens, os nomes desses são identificados nas entrevistas.
A obra, que marca o retorno do autor ao debate (apesar de nunca ter deixado de fazer parte da discussão),2 tem dois aspectos principais e de grande relevância: 1º) permite identificarmos o olhar do ator no contexto histórico; nas entrevistas é possível verificar passagens e trechos inimagináveis, pérolas recolhidas por Trindade; 2º) com tal produção, tem-se a possibilidade de revolucionar a historiografia, pois são documentos até então desconhecidos que, graças aos depoimentos, podem confirmar questões que se encontram no campo da hipótese ou verificar possibilidades investigativas. Além disso, o autor faz parte de um seleto rol de pesquisadores, pois, seja na história ou na ciência política, Hélgio Trindade é responsável pela construção de uma interpretação, um pensamento único e, portanto, estabelece uma composição central na esfera acadêmica.
Esta obra busca, além de identificar o imaginário dos militantes integralistas, contribuir para o entendimento de questões acaloradas da sociedade contemporânea, em que as forças políticas conservadoras estão cada vez mais atuantes e com tentações antidemocráticas, reflexões que são realizadas no epílogo: “Ainda a tentação fascista no Brasil?”.
O livro de Hélgio Trindade vem em momento oportuno, pois não pensemos que o pesadelo acabou, uma vez que a intolerância e o autoritarismo estão longe de ser página virada na história da humanidade, principalmente com a complexa crise política que culminou com as ações do dia 31 de agosto de 2016. O livro não poderia ter desfecho mais atual, pois ao citar Karl Marx, conclui: “a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa”.
Referências
GERTZ, René E.; GONÇALVES, Leandro P.; LIEBEL, Vinícius. Camisas Verdes, 45 anos depois – uma entrevista com Hélgio Trindade. Estudos Ibero-americanos, Porto Alegre, v.42, n.1, p.189-208, abr. 2016. [ Links ]
GONÇALVES, Leandro P. Entre Brasil e Portugal: trajetória e pensamento de Plínio Salgado e a influência do conservadorismo português. 2012. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2012. [ Links ]
TRINDADE, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. São Paulo: Difel, 1974. [ Links ]
_______. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. 2.ed. São Paulo: Difel; Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1979. [ Links ]
Nota
2 Em recente entrevista para a revista Estudos Ibero-Americanos, Hélgio Trindade aponta questões sobre sua trajetória e, principalmente, sobre o impacto da tese na academia brasileira (GERTZ; GONÇALVES; LIEBEL, 2016). Repercussões foram publicadas na edição seguinte e podem ser consultadas em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/iberoamericana/issue/view/1032/showToc.
Leandro Pereira Gonçalves – Professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Pesquisador e autor de diversos estudos sobre o integralismo, notadamente, a trajetória de Plínio Salgado, é doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com estágio no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e com pós-doutoramento pela Universidad Nacional de Córdoba (Centro de Estudios Avanzados), Argentina. Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: leandro.goncalves@pucrs.br.
[IF]
O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano – MAGRI (RBH)
MAGRI, Lucio. O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano. Boitempo, São Paulo: 2014. 415p. Resenha de: POMAR, Valter. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O alfaiate de Ulm é a última obra de Lucio Magri (1932-2011), intelectual comunista italiano e um dos responsáveis pela criação de Il Manifesto, periódico lançado em 1969 e que segue sendo publicado (http://ilmanifesto.info/).
O alfaiate de Ulm pode ser lido em várias claves: relato autobiográfico e testamento político, panorama do século XX, ensaio sobre a história e as perspectivas do movimento comunista italiano (especialmente o apêndice, um documento de 1987 intitulado “Uma nova identidade comunista”).
O movimento comunista da Itália tem gênese histórica distinta, onde confluem as características próprias daquele país, o impacto da revolução russa de 1917, a luta contra o fascismo e as batalhas da Guerra Fria.
Nesse contexto, o Partido Comunista não foi apenas uma organização política: foi também uma instituição cultural com imenso enraizamento na classe trabalhadora, na juventude e na intelectualidade, que teve na obra de Antonio Gramsci sua feição teórica mais conhecida e reconhecida.
Apesar disso tudo – ou por causa disso tudo, como fica claro da leitura de O alfaite de Ulm – o Partido Comunista Italiano cometeu suicídio em 1989.
Diferente das pequenas seitas militantes, que conseguem sobreviver em condições variadas e inóspitas, os partidos de massa parecem sobreviver apenas em determinadas condições. E como demonstra Lucio Magri, várias das condições que tornaram possível a existência de um forte comunismo reformista italiano e europeu desapareceram com a União Soviética e com a reestruturação capitalista simultânea à ofensiva neoliberal.
Dito de outra forma, a força das duas grandes famílias da esquerda europeia (o reformismo social-democrata e o reformismo comunista), assim como o brilho dos grupos de ultraesquerda que viviam à sombra daquele duplo reformismo, dependiam das condições “político-ecológicas” existentes na Europa enquanto durou a chamada bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos.
Quando esse conflito cessou, com a vitória dos Estados Unidos, a social-democracia experimentou uma deriva neoliberal, e o reformismo comunista, uma deriva social-democratizante.
Claro que esse não foi um processo uniforme. Uma das qualidades de O alfaiate de Ulm é apresentar uma interpretação do que teria ocorrido no caso italiano. Vale destacar esta palavra: interpretação. Há muitas outras interpretações, e sempre haverá o que estudar acerca das desventuras em série que atingiram o movimento comunista, o conjunto da esquerda e da classe trabalhadora, especialmente na Europa dos anos 1980 e 1990. A Itália constitui caso destacado, em boa medida pelo fato de lá estar baseado o tantas vezes denominado de maior partido comunista do Ocidente.
O alfaiate de Ulm pode ser lido com muito proveito por quem tem interesse em compreender os dilemas da classe trabalhadora, da esquerda brasileira e especialmente do Partido dos Trabalhadores.
Época e circunstâncias muito diferentes, obviamente. A começar pelo fato de que as variáveis internacionais que fortaleciam o reformismo social-democrata e comunista na Europa produziam efeitos muito distintos na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil.
Isso ajuda a entender por que, na mesma época em que o PCI cometia suicídio, abandonando suas tradições e até mesmo seu nome, o Partido dos Trabalhadores estava convertendo-se em força hegemônica na esquerda brasileira.
Guardadas essas diferenças, é impossível não enxergar certas semelhanças entre os dilemas vividos pelo Partido Comunista Italiano nos anos 1970 e 1980 e os impasses vividos mais de 20 anos depois pelo Partido dos Trabalhadores brasileiro.
Os dilemas do PCI são descritos detalhadamente em O alfaiate de Ulm. Segundo Lucio Magri, a “peculiaridade do PCI … era a de ser um ‘partido de massas’ que ‘fazia política’ e agia no país, mas também se instalava nas instituições e as usava para conseguir resultados e construir alianças” (p.333).
Magri demonstra que a atuação na institucionalidade não foi apenas uma estratégia. Mais do que isso, converteu o PCI em parte estrutural do Estado italiano, naquilo que Magri chama de um “elemento constitutivo de uma via democrática. Uma medalha que, no entanto, tinha um reverso” (p.333).
Esse “reverso”, que soa tão familiar aos que acompanham as vicissitudes atuais da esquerda brasileira, é assim apresentado por Lucio Magri:
Não me refiro apenas ou sobretudo às tentações do parlamentarismo, à obsessão de chegar a todo custo ao governo, mas a um processo mais lento. No decorrer das décadas, e em particular em uma fase de grande transformação social e cultural, um partido de massas é mais do que necessário, assim como sua capacidade de se colocar problemas de governo. Mas, por essa mesma transformação, ele é molecularmente modificado em sua própria composição material. (p.333)
Talvez esteja nisto a maior contribuição de O alfaiate de Ulm: essa abordagem profundamente histórica da vida de um partido político, ou seja, a compreensão de que a história de um partido só pode ser adequadamente compreendida como parte da história de uma sociedade, enquanto processo integrado entre as opções estritamente políticas, as tradições culturais e as relações sociais mais profundas, num ambiente nacional e internacional determinado.
A descrição que Lucio Magri faz do processo de seleção e promoção dos dirigentes partidários fala por si:
a formação de novas gerações, mesmo entre as classes subalternas, ocorria sobretudo na escola de massas e mais ainda por intermédio da indústria cultural; os estilos de vida e os consumos envolviam toda a sociedade, inclusive os que não tinham acesso a eles, mas alimentam a esperança de tê-lo; as “casamatas” do poder político cresciam em importância, mas descentralizavam-se e favoreciam aqueles que ocupavam as sedes; a classe política, mesmo quando permanecia na oposição e incorrupta, à medida que a histeria anticomunista diminuía, criava relações cotidianas de amizade, amálgama, hábitos e linguagem com a classe dirigente. (p.333)
Essa “mescla de costumes” da “classe política” com a “classe dirigente”, como sabemos, não é uma peculiaridade italiana. Tampouco seus efeitos organizativos, assim descritos por Magri:
as seções não estavam mais acostumadas a funcionar como sede de trabalho das massas, de formação cotidiana de quadros; eram extraordinariamente ativas apenas na organização das festas do Unità, e mais ainda nos períodos de eleição nacional e local; as células nos locais de trabalho eram poucas e delegavam quase tudo ao sindicato. Nos grupos dirigentes, a distribuição dos papéis havia mudado muito: o maior peso e a seleção dos melhores haviam se transferido das funções políticas para as funções administrativas (municípios, regiões e organizações paralelas, como as cooperativas). Portanto, mais competência e menos paixão política, mais pragmatismo e horizonte político mais limitado. Os intelectuais sentiam-se estimulados para o debate, mas sua participação na organização política havia declinado e o próprio debate entre eles era frequentemente eclético. A exceção era o setor feminino, em que um vínculo direto entre cúpula e base criava uma agitação fecunda. (p.334)
Noutras palavras, Lucio Magri descreve como as transformações “moleculares” causaram uma metamorfose no Partido Comunista: pouco a pouco foi deixando de ser um fator de subversão, transformando-se em peça importante na engrenagem do Estado e da política italiana. Uma peça diferente das outras, como demonstraria a Operação Mãos Limpas, a qual confirmaria que o PCI soubera resistir à corrupção sistêmica. Mas uma peça da engrenagem, como demonstra o fato de o PCI não ter sobrevivido ao colapso da estrutura política italiana.
Nesse sentido, a interpretação feita por Lucio Magri parece demonstrar que o Partido Comunista Italiano não foi vítima do fracasso, mas sim do sucesso da “estratégia” que alguns denominaram, na Itália e aqui no Brasil, de “melhorista”.
Essa estratégia não apenas melhorou a vida da classe trabalhadora italiana, como converteu o comunismo numa força influente e vista como ameaçadora pela classe dominante e pelos Estados Unidos, que atuaram tanto aberta quanto secretamente para evitar o êxito da aliança entre o PCI e a Democracia Cristã. Lucio Magri trata dessas operações, especialmente visíveis no caso Aldo Moro.
Bloqueado pela direita, o PCI tentou – sob a direção de Berlinguer – uma saída pela esquerda. Os capítulos que tratam dessa fase são talvez os mais interessantes de O alfaiate de Ulm, em parte por discutirem se a história poderia ter seguido um caminho diferente.
Como sabemos, entretanto, não foi isso o que ocorreu. Ao longo dos anos 1970 e 1980, alteraram-se profundamente os parâmetros dentro dos quais se movera a política no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália quanto no mundo. O PCI não conseguiria chegar ao poder nos marcos daqueles parâmetros em vias de desaparecimento. Não conseguiria tampouco defendê-los frente à ofensiva neoliberal e à crise do socialismo. Nem conseguiria sobreviver para atuar nas novas condições.
Lucio Magri descreve, num tom profundamente autocrítico e em certo momento impiedoso consigo mesmo, as opções feitas pela maioria dirigente do PCI, que levaram à mudança do nome e das tradições políticas e culturais do Partido. Mostra como havia energias vivas na base militante do comunismo italiano, energias que não foram suficientes para dar vida ao projeto da Refundação Comunista.
Enfim, pelo que descreve, pelas conclusões a que chega e pelas perguntas que deixa, O alfaiate de Ulm de Lucio Magri é leitura mais do que relevante para os que têm interesse em compreender os dilemas atuais do Partido dos Trabalhadores e do conjunto da esquerda e os rumos da política brasileira neste terceiro milênio.
Valter Pomar – Doutor em História Econômica, Universidade de São Paulo (USP). Professor de economia política internacional no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do ABC. São Bernardo do Campo, SP, Brasil. E-mail: pomar.valter@gmail.com.
[IF]
A memória coletiva | Maurice Halbwachs
Maurice Halbwachs nasceu na França em 1877 e foi morto em 1945 em um campo de concentração nazista na Alemanha. Consagrou-se como um importante sociólogo da escola durkheimiana. Antes de se interessar pela sociologia, estudou filosofia na École Normale Supérieure em Paris com Henry Bergson tendo sido influenciado por ele. Halbwachs é também responsável pela inauguração do campo de estudos sobre a memória na área das ciências sociais, pois até então, as áreas que se ocupavam dos estudos da memória, eram a psicologia e a filosofia.
Halbwachs criou a categoria de “memória coletiva”, por intermédio da qual postula que o fenômeno de recordação e localização das lembranças não pode ser efetivamente analisado se não for levado em consideração os contextos sociais que atuam como base para o trabalho de reconstrução da memória. É, portanto, mediante a categoria de “memória coletiva” de Halbwachs que a memória deixa de ter apenas a dimensão individual, tendo em vista que as memórias de um sujeito nunca são apenas suas ao passo que nenhuma lembrança pode coexistir isolada de um grupo social.
Essa categoria de análise trouxe contribuições valiosas para os trabalhos na área da sociologia, psicologia, história, entre outras, influenciando a produção de importantes trabalhos. Aqui no Brasil, por exemplo, podemos citar Memória e sociedade: lembranças de Velhos de Ecléa Bosi, cuja primeira publicação data de 1979 e que constitui uma referência para estudos da memória.
A obra aqui analisada A memória coletiva, é composta por quatro capítulos e foi publicada pela primeira vez em 1950, cinco anos após a morte do autor, em Buchenwald no campo de concentração nazista na Alemanha. Para tanto, a memória na concepção de Halbwachs é um processo de reconstrução, devendo ser analisada levando-se em consideração dois aspectos: o primeiro refere-se ao fato de que não se trata de uma repetição linear dos acontecimentos e vivências no contexto de interesses atuais; por outro lado, se diferencia dos acontecimentos e vivências que podem ser evocados e localizados em um determinado tempo e espaço envoltos num conjunto de relações sociais.
Para este, a lembrança necessita de uma comunidade afetiva, cuja construção se dá mediante o convívio social que os indivíduos estabelecem com outras pessoas ou grupos sociais, a lembrança individual é então baseada nas lembranças dos grupos nos quais esses indivíduos estiveram inseridos. Desse modo, a constituição da memória de um indivíduo resulta da combinação das memórias dos diferentes grupos dos quais está inserido e consequentemente é influenciado por eles, como por exemplo, a família, a escola, igreja, grupo de amigos ou no ambiente de trabalho. Nessa ótica, o indivíduo participa de dois tipos de memória, a individual e a coletiva.
Segundo Halbwachs o indivíduo que lembra está inserido na sociedade na qual sempre possui um ou mais grupo de referência, a memória é então sempre construída em grupo, sendo que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”, como se pode ver, o trabalho do sujeito no processo de rememoração não é descartado, visto que as “lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós” (HALBWACHS, 2013, p.30). Dessa maneira, a lembrança é resultado de um processo coletivo, estando inserida em um contexto social específico. As lembranças permanecem coletivas e são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente o sujeito se encontre envolvido. Isso acontece na medida em que o indivíduo está sempre inserido em um grupo social.
Ainda que apenas um indivíduo tenha a percepção de ter vivenciado certos eventos e contemplado objetos, acontecimentos e etc., nos quais apenas ele viu/presenciou, mesmo assim as lembranças acerca desses continuam sendo coletivas, podendo ainda ser evocadas por outros que não necessariamente vivenciaram e/ou presenciaram tais acontecimentos, visto que para “confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível” (HALBWACHS, 2013, p.31). Em outra passagem o sociólogo assinala a contribuição da memória coletiva no processo de rememoração:
Uma ou mais pessoas juntando suas lembranças conseguem descrever com muita exatidão fatos ou objetos que vimos ao mesmo tempo em que elas, e conseguem até reconstituir toda a sequência de nossos atos e nossas palavras em circunstâncias definidas, sem que nos lembremos de nada de tudo isso (HALBWACHS, 2013, p.31).
No entanto, é preciso assinalar que para recordar um evento passado, não é necessário apenas que ele seja evocado por outros para que o sujeito lembre-se dele. É preciso que o indivíduo traga consigo algum “resquício” da rememoração para que os conjuntos de testemunhos exteriores se constituam em lembranças. No processo de rememoração, é importante que a memória individual esteja em consonância com a memória de outros membros do grupo social. Para o autor, somente se pode falar em memória coletiva se evocarmos um evento que também fez parte da vida do grupo no qual fazemos parte. No processo de rememoração é necessário que os dados sejam comuns entre os membros do grupo.
Segundo Halbwachs para se recordar, é necessário que o nosso pensamento não deixe de concordar, em certo ponto, com os pensamentos dos outros membros do grupo. Desse modo, esquecer determinado período/fato/evento de nossa vida é perder também o contato com aqueles que compunham nosso grupo social. Para Maurice:
Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será possível se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo (HALBWACHS, 2013, p.39).
O autor assinala que é necessário que as lembranças sejam reconstruídas e reconhecidas pelos membros do grupo. A partir do momento que deixa de existir esse compartilhamento, os membros desse grupo social podem-se fazer os seguintes questionamentos:
Que importa que os outros estejam ainda dominados por um sentimento que outrora experimentei com eles e que já não tenho? Não posso mais despertá-lo em mim porque há muito tempo não há mais nada em comum entre mim e meus antigos companheiros. Não é culpa da minha memória nem da memória deles. Desapareceu uma memória coletiva mais ampla, que ao mesmo tempo compreendia a minha e a deles (HALBWACHS, 2013, p.39 – 40).
Halbwachs identifica que ao lado da memória coletiva, há também a chamada memória individual. Esta por sua vez, pode ser entendida como um ponto de vista sobre a memória coletiva, ponto de vista este, que pode sofrer alterações de acordo com o lugar que ocupamos em determinado grupo, assim como também está condicionado às relações que mantemos com outros ambientes. A assimilação das lembranças pode variar de membro para membro, visto que a quantidade de lembranças que são transportadas pela memória coletiva com maior ou menor intensidade, é realizada a partir do ponto de vista de cada sujeito.
A memória individual não está de todo isolada, ao passo que toma como referência sinais externos ao sujeito, isto é, a memória coletiva. Para o sociólogo, o funcionamento da memória individual não é “possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de seu ambiente” (HALBWACHS, 2013, p.72). Para tanto, é importante assinalar que as lembranças que se destacam em primeiro plano da memória de um grupo social, são aquelas que foram vivenciadas por uma maior quantidade de integrantes desse grupo. Existe então, uma estreita relação entre memória coletiva e memória individual. Para Halbwachs:
para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2013, p.39)
Os suportes em que a memória individual está assentada, dizem respeito as percepções produzidas pela memória do grupo, assim como pela memória histórica. A convivência em um grupo atua como base para formação de uma memória individual e que, portanto, carregará “marcas” da memória coletiva do grupo social no qual está inserido. O sociólogo apresenta a distinção de duas categorias de memórias, uma que denomina interna (autobiográfica) e outra social (histórica), sendo que a primeira recebe reflexos da segunda, visto que a memória individual faz parte da história geral, uma vez que a segunda é bem mais extensa que a primeira. Todavia, ela só representa para nós o passado de uma maneira um tanto resumida, por outro lado a memória de nossa vida nos apresenta um panorama mais longo e contínuo.
Outro ponto importante na obra de Maurice Halbwachs, é que segundo o mesmo, nossa memória se apega mais ao fato vivido do que aquele que entramos em contato através dos livros, por exemplo. Nesse sentido, a história não é tida como um elemento importante para o processo de preservação da memória. É lícito afirmar que por história, Halbwachs entende não uma sucessão cronológica de acontecimentos, “mas tudo o que faz com que um período se distinga dos outros, do qual os livros e as narrativas em geral nos apresentam apenas um quadro muito esquemático e incompleto” (HALBWACHS, 2013, p.79). No entanto, é mediante a memória histórica que um fato exterior à nossa vida deixa sua impressão em determinado momento e a partir dessa impressão é que é possível recordar esse momento.
O indivíduo isolado de um grupo social não seria capaz de construir qualquer tipo de experiência, assim como também não é possível que mantenha qualquer tipo de registro sobre o passado. Todo o contexto no qual o sujeito está envolto, contribui de alguma maneira para reconstruir os vestígios e impressões de um determinado momento. Nessa perspectiva, a lembrança é pensada como “uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores”, da qual “a imagem de outrora já saiu bastante alterada” (HALBWACHS, 2013, p.91).
As lembranças, sobretudo, são representações que se baseiam mesmo que em partes, em testemunhos e deduções, reconstrução, especialmente nos seguintes aspectos: de um lado porque não é mera repetição dos fatos/eventos/vivências que se estabeleceram no passado, mas acima de tudo, por ser responsável pelo resgaste desses acontecimentos, que se dão a partir de interesses e preocupações atuais, por outro lado, se diferencia da série de acontecimentos que podem ser facilmente localizados em um determinado tempo, definidos mediante um conjunto de relações sociais. Nesse processo, os grupos sociais, possuem um papel essencial para atualização e complementação das lembranças individuais mediante o confronto de testemunhos entre seus membros.
Halbwachs diverge de Bergson ao postular que a memória não permanece intacta em uma “galeria subterrânea”, mas sim na sociedade, desta sai todas as indicações necessárias para reconstruir partes do passado que, por sua vez se apresenta de maneira incompleta e que o indivíduo acredita que tenha saído inteiramente de sua memória.
A memória coletiva atrela as imagens de fatos passados a crenças e necessidades do presente. Nesta, o passado passa permanentemente por um processo de reconstrução, vivificação e consequentemente também de ressignificação. Possui como “característica” transformar fatos do passado em imagens e narrativas sem rupturas, isto é, tende sempre para uma relação de continuidade entre o passado e o presente, busca reestabelecer a unidade de todos os aspectos, que com o passar dos tempos representou dentro do grupo, a ruptura. Se caracteriza também pela corrente contínua de pensamento, uma continuidade que não se atém no campo da artificialidade, pois não guarda nada do passado, senão o que está vivo, ou que se encontra na memória do grupo que a contém.
Diante disso, Maurice lança então duas categorias, a memória coletiva e a histórica, cujas definições são divergentes. Ao passo que memória histórica na concepção do sociólogo, se constitui em uma categoria infundada, visto que associa termos que se apresentam significados opostos. Para ele, a história é a reunião dos fatos que ocupam “maior” lugar na memória da sociedade. Entretanto, os acontecimentos/eventos narrados passam por um processo de seleção, são “selecionados, classificados segundo necessidades ou regras que não se impunham aos círculos dos homens que por muito tempo foram repositório vivo” (HALBWACHS, 2013, p.100). A história nesse sentido inicia no instante em que termina a tradição, isto é, no momento em que ocorre o apagamento da memória social.
A memória histórica visa produzir imagens unitárias do processo histórico, diferentemente da memória coletiva, a memória histórica busca “respostas” para o presente, no passado. Uma das marcas da história é a descontinuidade, pois cada fato encontra-se “separado do que o precede ou o segue por um intervalo, em que se pode até acreditar que nada aconteceu” (HALBWACHS, 2013, p.109), este, segundo o sociólogo é um dos principais fatores que diferencia a memória coletiva da memória histórica.
Para tanto, a memória coletiva se distingue da história em pelo menos dois aspectos. O primeiro leva em consideração o fato de que a memória se constitui em uma corrente de pensamento contínuo, não ultrapassando os limites do grupo, ao passo que na história se tem a impressão de que tudo passa por um processo de renovação. O segundo ponto de diferenciação para Halbwachs é que existem muitas memórias coletivas, ao ponto que se “pode dizer que só existe uma história” (HALBWACHS, 2013, p.105).
Outra questão que Halbwachs levanta em sua obra, diz respeito a relação entre memória e espaço. Para ele, a partir do momento em que um grupo social se encontra inserido em um espaço, passa então a moldá-lo a sua imagem, isto é, a suas concepções, valores, ao passo que também se adapta a materialidade do lugar que resiste a sua “influência”. Para o autor “cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um sentido que só é inteligível para os membros do grupo, por que todas as partes do espaço que ele ocupou correspondem a outros tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida em sua sociedade” (HALBWACHS, 2013, p.160).
A memória coletiva é compreendida/defendida por Halbwachs como processo de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado grupo social. Desse modo, a obra deste sociólogo, oferece contribuições pertinentes para o trabalho com a memória, visto que sua categoria de memória coletiva permite compreender que o processo de rememoração não depende apenas do que o indivíduo lembra, mas que suas memórias são de certo modo, partes da memória do grupo a qual pertence. No entanto, o sociólogo não descarta a memória individual, que pode ser pensada como “memória ressignificada”, ou seja, a interferência da subjetividade do indivíduo no processo de rememoração. Não desconsiderando, então a atuação do sujeito.
Giuslane Francisca da Silva – Mestranda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: giuslanesilva@hotmail.com
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. 2ª ed. São Paulo: Centauro, 2013. Resenha de: SILVA, Giuslane Francisca da. Aedos. Porto Alegre, v.8, n.18, p.247-253, ago., 2016.Acessar publicação original [DR]
El Canon del Holocausto | Frederico Finchelstein
Um cânone corresponderia a uma verdade inabalável, uma regra que seria imposta, de forma que nenhuma outra interpretação sobre determinado assunto fosse possível.2 Por vezes, nos deparamos com este tipo de “verdade” no tempo presente, vindo a ser consolidada ao longo do tempo pela Historiografia, constituindo-se como uma palavra de respeito acerca do assunto. Durante anos, autores como Raul Hilberg, Saul Friedländer, Martin Broszat, ou Hannah Arendt, se dedicaram ao estudo do Shoah – nome dado pela Historiografia israelense, e seus adeptos, ao extermínio dos judeus europeus pelos nazistas – constituíram-se como verdadeiros cânones sobre o tema, opiniões que não poderiam ser contrariadas e formavam uma regra geral no que diz respeito à temática. Os estudos acerca do extermínio dos judeus europeus durante os anos da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos que correspondem à Solução Final – 1942-1945 – durante muito tempo, ficaram adormecidos, ao passo que estudar o Shoah, um trauma ainda recente no passado europeu, era demasiado incômodo devido à carga de sensibilidade gerada ao se discutir o tema.
Durante anos, uma das principais fontes para o estudo sobre o massacre permaneceu adormecida, não encontrando quem fosse capaz de revelá-la. Essa fonte se chama testemunho. Grande parte da historiografia do holocausto se debruçou diante do testemunho como sua principal fonte para compreender o que ocorreu no Lager durante os anos do extermínio. É através dos retratos de sobreviventes dos campos de concentração, que podemos chegar mais próximos de compreender o mal colocado em prática pelo aparelho genocida nazista contra os judeus. O testemunho de sobreviventes do Lager é, sem dúvida, a fonte que nos permite compreender, de forma mais efetiva, o que os carrascos foram capazes de fazer contra indivíduos semelhantes a si, dentro dos campos de concentração. Ou utilizando uma expressão própria da psicanálise, mais propriamente da psicanalista Elizabeth Roudinesco, a parte obscura de nós mesmos (ROUDINESCO, 2008).
O testemunho como fonte para os estudos do Shoah, no entanto, não estiveram sempre disponíveis para o público em geral, nem sequer para os historiadores dedicados ao tema. Os primeiros anos do pós-guerra presenciaram um vácuo no testemunho dos sobreviventes do extermínio. De fato, o trauma ainda estava demasiado recente na vivência de cada um dos sobreviventes, e naqueles anos que sucederam 1945 e a libertação dos prisioneiros dos campos de concentração e extermínio pelo Exército Vermelho, o que restou de Auschwitz – parafraseando Giorgio Agamben – foi o silêncio. O primeiro grande nome que veio a quebrar tal silêncio, sem dúvida, foi Primo Levi, quando escreveu É isto um homem?, livro que foi publicado pela primeira vez, numa pequena edição que não foi tão difundida, no ano de 1947. Talvez somente após a publicação de uma edição do livro ampliada e revisada, em 1958, é que um número maior de pessoas veio a conhecer essa nova forma de se narrar o Shoah, que foi o testemunho.
A dificuldade em entender as causas, o modo como decorreu, e as consequências de um evento de tamanha magnitude na história humana, é evidente. O que a historiografia e os teóricos alemães do século XIX e XX chamam por Erklärung und Verständins, explicação e compreensão, respectivamente, são palavras de demasiada utilização para quem trata de trabalhar com a História do Shoah. Para a teoria da História, no que se refere à Shoah, a Verständins está bem mais além da Erklärung (BAUER, 2013, p.30-31), o que enfatiza a dificuldade por parte dos estudiosos acerca do tema, de compreender um evento singular e sem precedentes. Um elemento fundamental para compreendermos melhor como ocorreu e o que, com mais precisão, ocorreu neste massacre é sem dúvida o testemunho. Giorgio Agamben, em seu livro intitulado “O Que Resta de Auschwitz”, diz que quando a última vítima da Shoah der seu último suspiro de vida, a memória se perderá e a dificuldade para a compreensão deste processo aumentará consideravelmente. Não há a possibilidade de aprofundar-se nos estudos e nos conhecimentos acerca da Shoah sem estudar o testemunho da vítima sobrevivente ao processo. Nesse sentido, o testemunho dos sobreviventes dos campos de concentração e extermínio, é uma peça chave no que foi citado anteriormente como Erklärung, como fator fundamental para o esclarecimento, parar trazer à luz este acontecimento.
Frederico Finchelstein, em seu livro El Canon del Holocausto, vem a citar algumas obras, autores e perspectivas historiográficas que se constituíram como cânones sobre o assunto durante certo tempo. Raul Hilberg, o autor que teve a primeira obra de grande repercussão referente ao Shoah, é apontado por Finchelstein como o primeiro “cânone” do holocausto, e abre as discussões presentes no livro. O autor de The Destruction of the European Jews foi responsável por inaugurar os grandes debates acerca da historiografia do Shoah com sua publicação no ano de 1961. O testemunho, em toda sua importância como fonte para o estudo do genocídio como foi explicado anteriormente, nesta obra se encontra ausente, ainda devido à grande proximidade temporal que os sobreviventes possuíam com a permanência no Lager, consequentemente, o trauma gerado pelo universo concentracionário ainda era muito forte para permitir que o testemunho fosse expresso. Também para Hilberg, o testemunho se constitui como um material secundário no estudo sobre o genocídio, apenas para efeito de verificação, não sendo assim, um provedor de sentido para a argumentação FINCHELSTEIN, 2010, p.69). Nesse sentido, o livro de Raul Hilberg se constitui como “um livro sobre as pessoas que exterminaram os judeus” (FINCHELSTEIN, 2010, p.28).
Hilberg se encontra dentro da escola funcionalista de historiadores do Shoah, que vem a defender a ideia de que o extermínio não estaria ligado somente ao Führer, sendo obra de todo um aparelho de Estado correspondente às diversas esferas sociais e burocráticas. É através da burocracia que Hilberg procura explicar o processo genocida, dando demasiada ênfase a esta, que é mostrada como tendo um papel mais importante que Hitler, Himmler, Goebbels, ou qualquer outro criador individual das políticas nazistas. Um enfoque weberiano, que no que concerne à burocracia, é dado a Raul Hilberg por outro importante intelectual encarregado dos estudos do Shoah, Saul Friedländer, devido à demasiada importância atribuída à organização burocrática, apontada mesmo como “mortal” (FINCHELSTEIN, 2010, p.28).
Finchelstein nos mostra que, na visão de Hilberg, o alto comando militar nazista se sentia gratificado mais devido ao grande aparelho burocrático, bem como com a sua poderosa máquina genocida, do que pelas atrocidades cometidas contra os judeus europeus. “Os perpetradores sentem fascinação pelos atos maquinais e não pela combinação desses atos com mitos ideológicos, estéticos e certos pressupostos éticos mundanos” (FINCHELSTEIN, 2010, p.29). Essa tese certamente veio a dar suporte para a construção da Banalidade do Mal de Hannah Arendt, após a sua observação do julgamento de Eichmann em Jerusalém no ano de 1961 (ARENT, 1999), cinco anos após a mesma fazer uma crítica negativa ao livro de Hilberg, chegando a apontar o livro de Hilberg como um “simples informe” (FINCHELSTEIN, 2010, p.42). Entretanto, as divergências entre Arendt e Hilberg eram muitas, o que gerou várias discussões entre ambos ao longo dos anos, com este último afirmando que “Hannah Arendt não foi capaz de compreender o seu livro” e que “a noção de banalidade dissolve a complexidade da interpretação do evento” (FINCHELSTEIN, 2010, p.44).
Como citado anteriormente, The destruction of the European Jews não é uma obra relativa aos judeus, senão um livro referente aos perpetradores. Em decorrência disso, para Hilberg não houve resistência da parte dos judeus durante o extermínio; o levante do gueto de Varsóvia, a fuga de Sobibór, ou a rebelião do Sonderkommando de Treblinka, constituem casos pontuais de resistência, e se faz adepto da ideia de historiadores sionistas de que os judeus morreram como ovelhas indo para o matadouro. Hilberg vem a compreender a resistência em termos de ação, e não como, por exemplo, Israel Gutman ou Martin Gilbert compreende, afirmando que mesmo a passividade e a dignidade na hora da morte eram formas de resistência. Para Raul Hilberg, esse tipo de interpretação vem a diminuir moralmente os verdadeiros atos de resistência, aqueles e que houve confronto entre vítimas e perpetradores.
O processo do extermínio dos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente durante o espaço de tempo que vai de 1942 a 1945, período em que foi colocada em prática a Endlösung, a Solução Final para o problema judaico no velho continente, se constitui como um fenômeno sem precedentes na História. Observamos o que Enzo Traverso vem a chamar de radicalização progressiva, no seu livro “La Historia como campo de Batalla”(TRAVERSO, 2012). A violência exercida contra os judeus durante o Terceiro Reich, foi sendo elevada ao longo do tempo, começando por boicotes aos estabelecimentos pertencentes aos judeus na Alemanha, em abril de 1933, até culminar no extermínio físico, colocado em prática de forma sistemática após a Conferência de Wannsee em janeiro de 1942, onde ficaram definidos os termos da Solução Final para o povo judeu.
O fenômeno da radicalização progressiva presente no indivíduo durante o nazismo, pode ser bem observado no estudo de caso realizado por Christopher Browning no livro Ordinary Men: Police reserve battallion 101 and the Final Solution. Browning realiza o estudo de apenas um batalhão de policiais de reserva para traçar o perfil dos homens comuns, que durante o Terceiro Reich, estiveram empregados no processo de extermínio. No livro, podemos acompanhar a trajetória de alguns comandantes do batalhão, que chegam até mesmo a se acostumarem com o assassinato em massa, tornando aquilo parte da sua rotina, ou como os alemães Sönke Neitzel e Harald Welzer chamam, o assassinato se tornou parte do marco referencial do nazismo. Estes últimos dois autores descrevem no livro “Soldados: Sobre lutar, matar e morrer”, a trajetória de soldados da Wehrmacht – as forças armadas da Alemanha nazista – que estiveram envolvidos no extermínio dos judeus. No livro, também podemos observar como soldados fizeram do assassinato em massa contra judeus parte de sua rotina, transformando tal prática num ato corriqueiro. Soldados esses, que em certos casos nunca mataram um inimigo, ou nem sequer ainda tinham ido para o campo de batalha
Tal brutalização dos indivíduos, que poderia ser impensada para algumas pessoas, ganha um suporte por historiadores que criaram uma linha de pensamento bastante polêmica e controversa nos anos 1980, o Sonderweg alemão, ou o caminho especial que a nação alemã trilhou de alguns séculos atrás e que culminou com o Shoah. A teoria do Sonderweg baseia-se numa inversão de valores democráticos que foi vivenciada na Alemanha, desde os séculos XVIII e XIX, numa experiência que consistia em minar os valores da democracia liberal vivenciada em países como os Estados Unidos, França ou Inglaterra. O Sonderweg, nesse sentido, é uma teoria comparativa, que sempre está a comparar a Alemanha com outras nações do ocidente, que tinham como modelo de governo a democracia liberal. Tal teoria, tem como principal nome o historiador representante da nova história social da Universidade de Bielefeld, Jürgen Kocka (SILVA, 2015).
O debate sobre o Sonderweg ganha um tom de absurdo com a publicação do livro Os Carrascos Voluntários de Hitler, de Daniel Goldhagen, no ano de 1996. Goldhagen é alvo de inúmeras críticas no que se refere à historiografia do Shoah, e também é incluído nas discussões realizadas por Frederico Finchelstein. Aqui, nos é mostrado como Goldhagen enxerga o antissemitismo alemão como sendo originário da Idade Média, e, indo além de teóricos do Sonderweg que apontam a origem deste caminho especial alemão na Reforma Protestante, Goldhagen afirma que a perseguição dos judeus durante o medievo já era uma característica desse caminho que conduziria ao extermínio pelos nazistas.
Além de descartar a famosa Historikerstreit, o debate entre os historiadores funcionalistas e intencionalistas, Goldhagen aponta o Shoah como sendo o fim predeterminado de séculos em que o antissemitismo estava presente na sociedade alemã. A construção desse caminho único para Auschwitz, partindo do medievo, faz com que o extermínio dos judeus europeus se constitua como um “super pogrom” (TRAVERSO, 2012, p.105). Nesse sentido, a solução final já estaria predestinada desde, pelo menos, 100 anos, e se aceitarmos tal afirmação, também estaríamos afirmando que o povo judeu foi demasiado inocente para não perceber o seu destino. É claro que não podemos aceitar tal tese, e que Goldhagen encontra-se, neste ponto, equivocado. Está também equivocado quando afirma que todos os alemães concordavam com o extermínio físico dos judeus, e quando trata de forma restrita o conceito de homens comuns de Christopher Browning, aplicando-o somente para o povo alemão, sendo assim alemães comuns.
Mas, afinal, poderemos compreender o Shoah? Essa é uma das perguntas que encerram o livro, quando são colocadas em pauta algumas ideias de Jorge Luis Borges. Essa é uma problemática que talvez nunca saibamos resolver. Alguns filósofos, dentre eles Giorgio Agamben, afirmam que nunca poderemos compreender o universo concentracionário por que não estivermos no interior deste, e que o indivíduo que realmente conheceu todo este universo, já não está mais presente: ele morreu na câmara de gás. Em contrapartida, não podemos deixar de buscar compreender este processo. Os testemunhos e diários que estão disponíveis hoje, mesmo que, muitas vezes tenha sido escrito por um indivíduo que não morreu na câmara de gás, nos permite compreender – Verstehen – a parte obscura de nós mesmos.
Notas
1 Graduando do curso de Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco – UPE. Pesquisador do GEHSCAL – Grupo de Estudos Histórico Socioculturais da América Latina, pela linha de pesquisa História do Tempo Presente – HTP/UPE. Foi bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, com o projeto de pesquisa Grécia no Tempo Presente: Crise financeira e ascensão da extrema direita, orientado pelo Prof. Dr. Karl Schurster (Universidade de Pernambuco). Contato: borbademiranda@gmail.com.
2 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=c%E2non. Acesso em: 29/09/15.
Referências
ROUDINESCO, Elizabeth. A Parte obscura de nós mesmos: Uma História dos perversos. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2008.
BAUER, Yehuda. Reflexiones sobre el Holocausto. Nativ Ediciones; Jerusalém, 2013. P. 30 – 31.
FINCHELSTEIN, Frederico. El Canon del Holocausto. Buenos Aires: Prometeo, 2010. P. 69.
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a banalidade do Mal. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.
TRAVERSO, Enzo. La Historia como Campo de Batalla. Ciudad de Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2012.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; et al. Enciclopédia de Guerras e Revoluções: volume II 1919-1945. Rio de Janeiro: Ed. Campus Elsevier, 2015.
Lucas Borba – Graduando do curso de Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco – UPE. Pesquisador do GEHSCAL – Grupo de Estudos Histórico Socioculturais da América Latina, pela linha de pesquisa História do Tempo Presente – HTP/UPE. Foi bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, com o projeto de pesquisa Grécia no Tempo Presente: Crise financeira e ascensão da extrema direita, orientado pelo Prof. Dr. Karl Schurster (Universidade de Pernambuco). Contato: borbademiranda@gmail.com
FINCHELSTEIN, Frederico. El Canon del Holocausto. Buenos Aires: Prometeo, 2010. Resenha de: BORBA, Lucas. Verstehen und Erklärung: Como explicar e compreender o Holocausto. Aedos. Porto Alegre, v.8, n.18, p.254-259, ago., 2016.Acessar publicação original [DR]
Estratos do tempo: estudos sobre história – KOSELLECK (HP)
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2014. 352 p. Resenha de: HRUBY, Hugo. A complexidade do tempo histórico. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 29, n. 54, 2 ago. 2016.
Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT; HÉBRARD (RETHH)
SCOTT, Rebecca J. & HÉBRARD, Jean M. Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Tradução: Vera Joscelyne. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014. Resenha de: GESSER, Ana Carolina. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia, n. 2 – AGOSTO-DEZEMBRO de 2016.
A obra Provas de Liberdade: uma odisséia atlântica na era da emancipação, publicado em 2014 pela editora Unicamp, é o livro mais recente de Rebecca J. Scott, na qual divide a coautoria com Jean M. Hébrard. Através de 295 páginas, este livro compõe-se de um mapa de rotas atlânticas, uma genealogia esquemática da família Vincent/Tinchant, prólogo, nove capítulos, epílogo e um caderno de imagens.
Rebecca Scott é professora de História de Direito na Universidade de Michigan, na qual leciona o curso de direitos civis e fronteiras da cidadania sob uma perspectiva histórica. Suas discussões pautam-se em discutir a legislação diante da escravidão e da liberdade. Jean M. Hébrard é professor visitante na Universidade de Michigan, cujas aulas e seminários estão relacionadas a história social e cultural das sociedades escravistas e pós escravistas do mundo atlântico.
Os autores iniciam o prólogo de Provas de Liberdade, citando uma carta enviada por Edouard Tinchant, um comerciante de charutos de Antuérpia, no ano de 1899, ao general Gómez.
No conteúdo da carta, Edouard pedia ao general que o autorizasse a utilizar o nome de Gomez para a marca de seus artigos. A citação da carta foi proposital, pois esta fonte permitiu que os autores pudessem chamar a atenção para aspectos reveladores da política e da identidade de Tinchant: a alusão das origens haitianas de Edouard para convencer o general, ao estabelecimento de seus pais na Louisiana e a justificativa dos motivos pelos quais seus pais decidiram se mudar para a França, e a insinuação acerca de “leis abomináveis” e “preconceito ignorante” como motivadores dessa migração.
É inegável o especial interesse dos pesquisadores por esta carta, pois, ela retratava um mundo atlântico em que várias lutas sobre raça e direitos estavam entrelaçadas, e no quais idéias e conceitos eram intercambiados (SCOTT, HÉBRARD, 2014). Tantas ligações os levaram a questionar sobre a própria abrangência dela. O que poderia este documento apresentar em termos de uma coesão, como a personificação de uma conexão entre as três maiores lutas antirracistas do século XIX: a Revolução Haitiana, a Guerra Civil, a Reconstrução dos Estados Unidos e a Guerra Cubana pela independência? Para responder essa questão ambiciosa, os autores seguiram os rastros do itinerário da família de Edouard Tinchant, através de registros mantidos por padres tabeliães, oficiais e recenseadores oficiais de diversos lugares. A prática investigativa levou então, os pesquisadores a todos os lugares pela qual essa família passou: começou na Senegâmbia (Senegal), foi para Saint Domingue (Haiti) no final do século XVIII, continuou até Santiago de Cuba (Cuba), Nova Orleans (Estados Unidos), Porto Príncipe (Haiti), Pau (França), Paris (França), Antuérpia (Bélgica), Veracruz (México) e Mobile (Alabama, Estados Unidos).
A odisséia dessa família despertou um interesse especial nos autores. No cerne de sua pesquisa esteve a preocupação em perceber como a exigência por dignidade e respeito esteve atrelada a importância da produção de documentos e dos movimentos políticos gerados tanto pelas grandes revoluções da época quanto por embates locais de reivindicação de direitos. Ao optar pelo encalce da trajetória dos membros dessa família, Scott e Hébrard especificam sua orientação metodológica, caracterizando seu estudo como o de micro-história posta em movimento. Esse tipo de estudo, segundo os mesmos, se apoia na convicção de que os estudos de um local ou evento cuidadosamente escolhido, examinado bem de perto, pode revelar dinâmicas não visíveis através das lentes mais familiares de região e nação.
O essencial de suas análises é, portanto, a percepção de como as experiências pessoais nos diversos espaços do chamado mundo Atlântico do século XIX, esses movimentos contínuos de pessoas e de papéis através do Caribe e da travessia do oceano permitem interconectar eventos que desvelam problemas como o da liberdade, dos fenômenos de raça e antirracismo com movimentos políticos e revolucionários.
A busca pela trajetória de homens livres de cor revela o lugar social da qual provém esses historiadores quando se observa como se apropriam de grandes elementos basilares da historiografia a partir da segunda metade do século XX: a História Cultural e a Nova Esquerda Inglesa, a micro-história e a História Atlântica. Embora hoje a ênfase na história de homens livres de cor não constitua nenhuma novidade, movimentos historiográficos como a Nova Esquerda Inglesa foram essenciais para a emergência estudos que explorassem as experiências históricas de homens e mulheres que até então tiveram a existência ignorada ou abordada de forma passiva, e ao trazer novos sujeitos para a história – a chamada história vista de baixo -, trouxe também o problema das fontes (BURKE, 1992, p. 40).
O acesso à documentação de pessoas “comuns”, portanto, também trouxe consigo problemas de método, uma vez que o acesso ao testemunho direto a essas pessoas era muito escasso. Entretanto, a vasta documentação, dentre registros de batismo, carta de alforria, correspondências, certidões, de que se munem Scott e Hérbrard, permitem – através da metodologia da micro-história – que a prática de redução de escala de observação, análise microscópica e um estudo intensivo do material documental revele indícios de sujeitos até então marginalizados.
Por meio do prólogo, também podemos observar que o lugar social de qual falam Scott e Hérbrard está profundamente ligado a um movimento de historiadores que vem desde pelo menos a segunda metade do século XX, colocando uma perspectiva atlântica em suas análises. Não por acaso, o contexto da Guerra Fria, a emergência do terceiro Mundo e a procura por um legado cultural na América do Norte levou este grupo de pesquisadores da história colonial, imperial e da escravidão, a questionarem e romperem com as fronteiras regionais, nacionais e imperiais, uma vez que estas, ao delimitarem os horizontes de pesquisa e abordarem uma perspectiva eurocêntrica, colocavam a histórias como da África e da América Latina à margem. Dessa forma, a pretensão por uma história que estabeleça conexões, comparações, observando recorrências coerências em marcos globais e interimperiais estruturados tem ganhado atenção dos historiadores, que ao focar em questões de gênero, sexualidade, raça e etnicidade têm encontrado no Atlântico um terreno fértil. O reconhecimento da História Atlântica enquanto disciplina iniciou-se com o movimento de historiadores norte-americanos dispostos a abraçar os projetos Atlânticos, e a Universidade de Michigan, onde Scott leciona, é uma das instituições onde os estudantes podem especializar-se nesse tipo de História145.
No primeiro capítulo, Rosalie, mulher negra de nação Poulard, a carta remetida por Edouard ao capitão Máximo Gómez ganha atenção para análise dos autores. Ao reportar sua própria ascendência aos haitianos, intitulando a si mesmo como um “filho da África”, Eduard conectou sua história com a dos seus pais, que tinham sofrido com embate da Revolução Americana, Francesa e Haitiana, carregando consigo o estatuto de escravos. A partir disso, chegou-se à documentação de batismo e de cartas da mãe de Edouard, e também à origem de Rosalie, sua avó, identificada como de nação Poulard.
Neste capítulo, são abordados vários aspectos da provável vida de Rosalie: o significado político de pertencer à nação Poulard, seus costumes e políticas peculiares, as condições das viagens e dos navios em que eram trazidos os cativos da costa do Senegal para Saint-Domingue (Haiti).
Embora os autores não tenham informações precisas sobre a viagem de Rosalie, o resgate de peculiaridades do seu provável itinerário atlântico forneceu-os certos elementos característicos acerca dos conhecimentos que pessoas de nação Poulard trouxeram consigo e foram difundidos durante o tempo em que permaneceram sob o cativeiro no Caribe. Uma destas características era a familiaridade com a importância da escrita: sabendo ou não ler, pessoas como Rosalie tinham a consciência que o papel poderia mudar sua condição.
O segundo capítulo, Rosalie…minha escrava, relata o processo de escravização de Rosalie em Saint-Domingue (Haiti) e os fatores – como as revoltas, repressões e a Revolução Haitiana – que levaram-na a deixar a ilha e se mudar para Jérémie (Haiti). Ao situar a paulatina importância econômica que assumiu Jérémie (Haiti) depois que Rosalie se mudou, os autores reconstituem a história de pessoas de sua rede de relações. Dentre elas, Marthe Guillaume, a negra livre que constituiu fortuna com o comércio de compra e venda de escravos. Mostram como prosperou Marthe, a importância da sua rede de conexões e apadrinhamento e de onde provinha sua renda: do trabalho de escravos, na qual Rosalie era uma. Também expõem fatores que levaram a região a atrair outras pessoas, como Michel Vincent, cujas aventuras anteriores de colono não deram certo.
O capitulo continua tecendo relações entre o contexto em que vivia Rosalie com as condições da Revolução Francesa, conectando as pressões que homens livres de cor da colônia exerciam para tentar fazer cumprir as garantias de direitos iguais e a extensão da cidadania às pessoas deste estatuto. Dessa forma, observa como discussões mais amplas, como a questão da cidadania aos homens de cor, concedia no ano de 1792 pela Assembléia Legislativa Francesa, influenciou nos interesses locais, onde os homens brancos conservadores, ao verem seu poder ameaçado, entraram em confronto com poderes coloniais acabando por induzir Guillaume, a senhora de Rosalie, a vender esta última a um vizinho, um açougueiro que era livre e mulato.
Partindo novamente para um contexto macro, os autores abordam as tensões que envolviam homens livres de cor e brancos, as repressões sofridas pelos primeiros e as implicações negativas para os escravos com as alianças estabelecidas entre os brancos do poder local com a Grã- Bretanha. Da mesma forma, salientam as alianças estabelecidas entre homens livres e escravos, e as expectativas destes em face da possibilidade de alforria. Neste meio tempo, Rosalie havia voltado ao poder de sua antiga senhora. Com este acontecimento, os pesquisadores postulam sobre a relação entre Rosalie e Michel Vincent, que em 1795 tinham dois filhos registrados, embora não possuíssem um registro de união. Marthe Guillaume, nesse mesmo ano, expressou o desejo de conceder liberdade a Rosalie, mas as circunstâncias políticas estavam dificultando a concessão de qualquer alforria. Nesse tempo, sugerem os autores, é possível que Rosalie vivesse como uma pessoa livre, e com relativa comodidade com Michel Vincent, considerando que Guillaume não se propôs a fazer qualquer reivindicação legal sobre ela.
A questão que se coloca é que, embora Rosalie provavelmente vivesse como uma mulher livre, o seu estatuto era de uma pessoa “sem documentos”, pois não possuía qualquer titulo que estabelecesse a legitimidade de seu estatuto civil. O capítulo passa a versar então sobre como o status de Rosalie, agora grávida do terceiro filho, dificultaria a situação do casal que, diante da invasão das tropas de Napoleão e a possibilidade de reescravização em Jérémie (Haiti), viu na viagem para a França uma alternativa. O capítulo termina abordando as estratégias utilizadas por aqueles que estavam na mesma situação de Rosalie e sobre como os conhecimentos de tabelionato de Michel Vincent levaram-no a forjar uma carta de alforria aos moldes do Antigo Regime, uma forma mais segura que poderia definir o destino da agora, “liberta”.
O terceiro capítulo, intitulado A cidadã Rosalie inicia caracterizando as diferenças político-jurídicas entre Haiti e Cuba, um baluarte da escravidão e de colonização espanhola. Versa sobre quais estratégias as pessoas livres de cor refugiadas do Haiti utilizaram para não voltarem a serem reescravizadas em Cuba e sobre como, a partir da morte de Michel Vincent, Rosalie, que já havia homologado o testamento deste, tornou-se sua herdeira e conseguiu com que as autoridades de Santiago assinassem o documento de alforria forjado ainda em Jérémie. Porém, novamente os planos de Rosalie são mudados pela conjuntura política das relações conturbadas entre a França napoleônica e Espanha, e diante dessas circunstâncias, os autores expõem as peculiaridades que faziam da Lousiana o território vizinho mais atraente em uma época difícil para a população francesa que vivia em território espanhol. Por fim, o capitulo termina discorrendo sobre as possibilidades e aprendizados de Rosalie, como a importância dos documentos dentro de uma sociedade escravista, as implicações da sujeição à mudança de jurisdição e a relevância do estabelecimento de uma boa rede de conexões, pois, ao enviar sua terceira filha, Élisabeth com sua madrinha para New Orleans, viu a indispensabilidade de estar integrada a uma família diante das condições adversas em que se encontrava.
A travessia no Golfo é o título do quarto capítulo, que desloca o foco narrativo para as experiências de Élisabeth, filha de Rosalie, em Nova Orleans (Estados Unidos). Os autores atentam para os percalços pelos quais passaram os refugiados, como Élisabeth, ao entrar no território da Louisina (Estados Unidos), e sobre como o rótulo de homem livre de cor a eles atribuído gerou problemáticas mais amplas acerca da questão do estatuto, pois, definia direitos, posição social e sobrevivência.
Passando de considerações mais gerais sobre a condição dos refugiados nas novas terras, este capítulo passa a abordar as boas condições nas quais Élisabeth estabeleceu com seus padrinhos, e sua relação com Jacques Tinchant, com quem se casou em 1822. Observa-se então o que os autores chamaram de uma união emblemática de novas famílias americanas, pois Jacques e Élisabeth haviam crescido em casas atravessadas por uma linha de cor: seus pais não puderam contrair união civil por serem casais “inter-raciais”. A mudança do sobrenome de Elisabeth, que agregou o sobrenome do seu pai, Vincent, na certidão de batismo dos seus filhos, foi ressaltada como um fator que a distanciava de sua ascendência escrava, além de suas boas relações com o tabelião facilitarem essa mudança.
A despeito das boas condições materiais que pessoas livres de cor como a família de Jacques Tinchant gozava, eram as restrições impostas pelas leis que geravam um descontentamento na população de cor livre. Dessa forma, a principal questão deste capítulo é a de que a prosperidade econômica, a estabilidade material de pessoas de cor e suas boas relações sociais não eram suficientes para mitigar as limitações impostas a elas, pois não podiam contar com direitos pra si e nem para a educação de seus filhos. Os autores terminam então, discorrendo sobre como Jacques deixou seus negócios aos cuidados de seu meio-irmão e os motivos prováveis da decisão de viajar com sua família para a França, onde sua mãe adoecida o aguardava.
O quinto capítulo, com um título bastante sugestivo, A terra dos direitos dos homens mostra como as motivações pessoais de migração de Jacques estavam atreladas à promulgação do Código Civil Francês e a Carta Constitucional de 1814. Ao estabelecerem a igualdade legal a todos os cidadãos, estendendo a todos o gozo de direitos civis e políticos por homens de cor livres, essa mudança na legislação atraiu a família de Jacques e Elisabeth pela perspectiva de educação e respeito para os meninos e de direitos para eles próprios, assim como a possibilidade de se tornarem proprietários de terras.
O acesso a um bom acesso educacional permitidos pela França, na qual os filhos de Jacques foram inclusos, juntamente com a boa fase dos negócios do mesmo, ocupam as páginas deste capítulo, que relaciona a prosperidade política desta nação com o gozo dos direitos civis experimentados no liceu pelos filhos de Jacques e Élisabeth. O filho mais velho do casal, Joseph, ganha a atenção no final deste capitulo, pois seus interesses particulares pelas aulas sobre direito e filosofia desvelam, além das idéias e conteúdos que faziam parte da educação formal de alunos como ele, o que o legado da Revolução Francesa deixou para a formação das concepções que professores das universidades tinham acerca de raça, cor, direitos civis e políticos e os militantes das causas abolicionistas. Porém, este capítulo também termina mostrando como a volta da situação política conturbada na França, juntamente com as adversidades econômicas enfrentadas por seu pai levaram Joseph a manter a tradição familiar dos Vincent-Tinchant em considerar atravessar o atlântico para, ao lado de seu irmão mais velho Louis, que havia ficado em New Orleans (Estados Unidos) quando seus pais resolveram viajar para a França, trilhar novos rumos.
Diante da viagem de Joseph para New Orleans (Estados Unidos), o capítulo seis, Joseph e seus irmãos, inicia expondo as possibilidades e limitações que ali encontravam homens livres de cor, chamando novamente a atenção para a fronteira entre escravidão e liberdade. Joseph e Louis, diferentemente de seu pai, não possuíam o mesmo conhecimento de produção rural, mas encontraram na produção e comércio de charutos – uma prática comum entre homens livres de cor – uma saída para obter lucros. A herança deixada pela madrinha de Élisabeth, composta em parte pela propriedade de escravos, permitiu a investida neste novo negócio.
Recursos financeiros de Jacques advindos da venda de parte das terras que possuía na Lousiana (Estados Unidos) forneceram o capital para a expansão dos negócios e, depois de Scott e Hébrard ocuparem as páginas deste capítulo para contextualizar o comércio de tabaco entre os vários pontos do Atlântico, concluíram que a Bélgica pareceu ser a melhor opção para as investidas além-mar de Joseph, que passou a morar em Antuérpia (Bélgica) com o resto da família, enquanto Louis cuidava da parte de produção na Louisiana (Estados Unidos).
Porém, novamente mudam-se os planos dos Tinchant, e agora era o contexto propiciado pela guerra da Secessão – culminando com a separação da Lousiana da União em 1861 – que levou os irmãos Tinchant a migrarem novamente para os Estados Unidos diante da má situação dos negócios. Além dos problemas que Joseph teria que lidar nos negócios, seus pais resolveram enviar Édouard, seu irmão mais novo, para New Orleans, após este manchar a reputação da família em Antuérpia (Bélgica).
A narrativa dos autores chega, assim, a Édouard. Buscar entender como a vida anterior em Antuérpia (Bélgica), que permitira que tivesse acesso a níveis educacionais, acabou influenciando as opções políticas abolicionistas de Édouard foi o objetivo deste capítulo. Além da militância pela causa na imprensa, ele acabou envolvendo-se na luta com as tropas da União, mas sua posição em não lutar novamente e a decisão em permanecer na Louisiana (Estados Unidos) quando seus irmãos estavam migrando para o México foi a chave para entender os intempéries daqueles que como Édouard, lutavam pela igualdade de direitos e pelo fim da escravidão: o alto comando da União era cúmplice dos preconceitos de uma sociedade escravista.
O sétimo capítulo, que tem como título É preciso fazer com que o termo direitos públicos signifique alguma coisa, descola o foco de análise para a atuação política de Édouard na Louisiana (Estados Unidos). Para compreender o entendimento do que Édouard tinha acerca do conceito de cidadania, os autores retomam a bagagem intelectual trazida da França, que explica a definição do que ele entendia por direitos públicos, ao mesmo tempo em que observam a cautela que teve ao utilizar o termo igualdade de direitos nos Estados Unidos, dadas as particularidades segregacionistas deste país.
A posição ideológica de Édouard, atrelada ao seu apoio político à União é destrinchada ao longo do capítulo, que mostra principalmente como Édouard ganhou suporte político e participou ativamente da promulgação da Constituição da Louisiana. O reconhecimento à cidadania, independente de cor, foi uma conquista prevista nesta Constituição, que juntamente com outros debates visando direitos à população de cor levaram os pesquisadores a conjecturarem em que medida as limitações sociais impostas aos antepassados destes sujeitos podem ter colaborado para a intenção de debater esses ideais.
Embora nem todas as idéias de Édouard fossem acatadas no texto final, os autores versam sobre os direitos públicos que essa Carta permitiu as pessoas de cor, e sobre seus reflexos na arena legal, como a permissão para que pessoas provenientes de famílias humildes pudessem, por exemplo, entrar na justiça caso fossem barradas em lugares de comércio.
A despeito dessas conquistas, este capítulo mostra como os direitos às pessoas de cor previstos nessa Constituição, ao conflitar com os interesses da Suprema Corte, fizeram com que os artigos referentes a direitos públicos fossem removidos e com que Édouard e seus companheiros perdessem poder e consequentemente, o emprego com o aumento do segregacionismo, principalmente nas escolas. Edouard lecionava, e essa situação forçou-o, juntamente com a família que formou, a migrar. Por fim, o capítulo termina discutindo os motivos para Édouard escolher Mobile (Estados Unidos) como o lugar que teria que reconstruir sua vida.
Horizontes de comércio, o oitavo capítulo, desloca o foco para a história dos outros filhos de Jacques Tinchant e Elisabeth Vincent: Jules, Pierre e Joseph, para mostrar o que teria acontecido com eles após a abertura do comércio de charutos, quando cada um cuidou de uma parte do comércio. Resgatam as intempéries que Jules e Pierre passaram quando trabalham com o comércio no México sob a influência e ocupação francesa para mostrar como as guerras atrapalharam seus negócios e dos motivos da migração de Joseph para o México.
A forma como os quatro irmãos mais velhos da família Tinchant se estabeleceram com a produção e comércio de charutos é mostrada através dos vários percalços e intrigas que os acompanhavam. O grande acúmulo de dívidas foi apontando como a principal causa da migração de Joseph, que em busca de novos mercados, mudou com a família para Havana, onde fez boas relações e novamente a viagem para a Antuérpia (Bélgica), finalmente obtendo sucesso com a criação de uma companhia de charutos com o nome de Tinchant y Gonzales. Os autores observam então, como a conexão entre este nome com a América Latina, juntamente com a cidadania mexicana conseguida anteriormente por Joseph, reforçaram aos seus charutos um ar de qualidade, distanciando-o da identidade da ascendência de escravos que foram trazidos para a América. A invenção desta “tradição”, portanto, criou um status que permitiu o sucesso na produção e venda de charutos.
Passa-se então à analise da sina de Édouard. Estabelecendo a sua companhia de charutos em Mobile (Estados Unidos), dedicou-se aos afazeres de um homem de negócios e as responsabilidades de pai de família, principalmente porque era um mau momento para se envolver com política em Mobile, visto que o Alabama era um estado extremamente racista. Quando estava começando a se estabelecer, ele e sua família desaparecem de Mobile e se mudam repentinamente para Antuérpia (Bélgica). Os autores atribuem essa mudança a motivações por política, negócios e família, uma vez que Édouard fora trabalhar com Louis e chamou a nova política republicana na presidência de “leis abomináveis” e “preconceitos ignorantes”.
Enquanto Édouard nunca fez questão de relacionar seus charutos à Havana ou a Europa, e sempre relacionando o nascimento de seus pais as lugares que lembravam deles, Joseph e seus descendentes faziam referências a origens aristocratas espanholas e francesas que achavam estarem entre seus antepassados e, nessas atitudes, residem as diferenças entre os irmãos: a exclusão da menção de exílio, a luta pelo republicanismo e por igualdade de direitos foram excluídas dessa narrativa sobre a ascendência familiar por parte daqueles que obtiveram sucesso comercial cosmopolita, que não queriam ser associados a preconceitos de cor.
Após o capítulo anterior focar no sucesso econômico dos irmãos Tinchant, o nono e último capítulo, intitulado Cidadãos para o bem da nação, mostra como a questão da cidadania alcançada a nível nacional devido às múltiplas viagens atlânticas de Joseph e seus irmãos interferiram por um lado, na tentativa dos irmãos Joseph e Ernest, no ano de 1892, em buscar a grande naturalisation, que conferia direitos políticos e civis a um cidadão belga e por outro de Édouard de buscar a nacionalidade francesa.
Chama-se atenção aqui para as restrições da lei e o preconceito racial, embates que Rosalie e seus descendentes tiveram que lidar, desenvolvendo táticas engenhosas: ora fugiam de guerras, ora participavam, ora expressavam-se politicamente, ora calavam-se. A reivindicação da cidadania e de nacionalidade nos diversos lugares que estiveram, juntamente com todas as ações mobilizadas ao longo desta narrativa, permitiram perceber a magnitude de forças que foram necessárias para o alcance de seus direitos.
“Por um motivo racial” foi o título escolhido pelos autores para narrar a odisséia de Marie-José Tinchant. O relato da ousadia da neta de Joseph Tinchant na imprensa, nos tribunais e sua participação política na guerra como militante presa permitiram aos autores perceber como as questões raciais interferiram na construção de uma memória política sobre a mesma, pois, quando os descendentes de Marie-José entraram na justiça, alegando serem beneficiários de uma prisioneira política, a justiça belga atribuiu à razão de sua prisão pelos nazistas como sendo um motivo racial.
Quando a filha de Marie-José, em 2010 finalmente conseguiu, por parte das autoridades de Bruxelas, o reconhecimento da prisão de sua mãe como prisioneira política, já havia migrado para o México em busca de suas raízes familiares naquele país.
A partir da observação da escrita dos capítulos, percebemos como os autores de Provas de Liberdade evocam a trajetória de alguns indivíduos do passado através da sequência dos acontecimentos e das interações conscientes destes com um contexto maior, trabalhando sempre com um “jogo de escalas” para explicar como uma conjuntura de guerra, ou de luta política, por exemplo, influiu em suas atitudes. Assim, Scott e Hérbrard, ao tentar compreender as ações destes indivíduos, reproduzem no interior deste discurso desdobrado, a relação entre um lugar do saber e sua exterioridade. É essa distorção que nos permite então, perceber ocultos no texto, sobre o lugar de onde falam seus autores.
Concomitantemente, ao colocar em cena a trajetória destes sujeitos, a construção narrativa dos autores permite que a sociedade se situe em relação a um passado e abre espaço para o presente. Como observou Certeau, a escrita “faz mortos para que os vivos existam. Mais exatamente, ela recebe os mortos, feitos por uma mudança social, a fim de que seja marcado o espaço aberto por este passado e para que, no entanto, permaneça possível articular o que surge com o que desaparece.” (CERTEAU, 1982, p. 107). A família Tinchant e os indivíduos estão mortos e os percalços, intempéries, forças que eles tiveram que lidar morreram com eles, naquela sociedade que é diferente da nossa, como o livro de Scott permite observar. Ao mesmo tempo em os descendentes dos Tinchant se afastavam dos estigmas e estereótipos atribuídos à ascendência africana, não tendo que lidar com as mesmas situações que seus antepassados, constituíam uma memória familiar, e é essa memória que revela permanências e conecta o mundo dos vivos àquele “enterrado” pela escrita da história.
Referências
BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992.
CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Trad. Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1982.
GAMES, Alison. Atlantic history: definitions, challenges, and opportunities. In: The American Historical Review, vol. 111, nº 3, 2006.
SCOTT, Rebecca J. & HÉBRARD, Jean M. Provas de Liberdade: uma odisséia na era da emancipação. Tradução: Vera Joscelyne. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014.
Ana Carolina Gesser – Mestranda em História pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Bosista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. E-mail: anacarolinagesser@gmail.com.
Aculturaciones. El vacío de la cultura o el delirio de la identidad | Miguel Alvarado Borgoño
Según plantea Miguel Alvarado en Aculturaciones. El vacío de la cultura o el delirio de la identidad, el concepto de cultura esconde una indeterminación que lejos de ser una invitación a la multiplicación de los significantes, resulta en un espacio vacío y, por lo tanto, estéril.
Según esta premisa, Alvarado desarrolla una serie de ensayos que recapitula en Aculturaciones, un texto que se presenta en el prólogo como otra pieza de un libro interminable. Son los temas de la cultura, la memoria, los discursos de la identidad chilena y latinoamericana, las ciencias humanas y sus mutaciones discursivas, y ante todo, la antropología literaria, los que se manifiestan en este texto que, junto a los que le anteceden, como Antropología Literaria. Aportes para la generación de un lenguaje intercultural (Santiago, Chile: Cuarto Propio, 2011) y El espejo rápido. Interculturalidad y prevariaciones discursivas (Valparaíso, Chile: Editorial Puntángeles, Universidad de Playa Ancha, 2006), forman parte del “libro interminable” que constituye el discurso intelectual de Alvarado. Un discurso que se ha construido a partir de su carácter cuestionados rupturista, un tanto solitario (como él mismo manifiesta) y ante todo innovador en su afán de comprender la cultura y su proyección en los discursos interdisciplinarios que se han desarrollado en Chile y Latinoamérica entre las ciencias sociales, antropología principalmente, y la literatura. Leia Mais
Haji. The suicidal State in Somalia: the rise and fall of the Siad Barre Regime, 1969-1991 | Mohamed Ingiriis
A obra apresentada por Mohamed Ingiriis, pesquisador somali que atualmente está finalizando seu doutorado em Estudos Africanos pela Universidade de Oxford, é resultado de uma minuciosa pesquisa sobre o governo de Siad Barre. O trabalho reflete muito da trajetória acadêmica do autor, que tem seu campo de pesquisa concentrado nos estudos políticos sobre a Somália, apresentando uma abordagem focada na história da formação do Estado somali, perpassando a sociedade e cultura local. Sua pesquisa está ligada ao Centro de Liderança Africana (CLA) da Universidade de Oxford. O historiador somali é chefe de um projeto de pesquisa de construção da paz, dirigido pelo CLA, além ser também um especialista em Somália/Somalilândia nos temas relacionados à democracia, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Gotemburgo, Suécia. Ademais, Ingiriis tem uma série de trabalhos publicados que versam os temas já abordados e que questionam a sociedade patriarcal na Somália, a relevância da mulher nesta sociedade, seu papel e a relação com os clãs.
Para expor sua proposta de análise do sistema político da Somália, no período em que Siad Barre governou (1969-1991), Ingiriis aponta que a base de sua pesquisa foram documentos do Estado, notícias de jornais, sobretudo, africanos, mas também telefonemas para indivíduos que estiveram ligados ao governo de Barre. As fontes que compõe a obra são vastas e retratam uma minuciosa pesquisa, que traz muitos elementos ainda pouco abordados sobre este período no país africano. Neste sentido, o autor afirma que seu objetivo neste trabalho é mapear e discutir como Siad Barre chegou ao poder, como ele construiu seu regime, apontando quem foram os agentes envolvidos nesta escalada ao poder e, essencialmente, qual o tamanho do legado do ex-líder somali e sua contribuição para as guerras clânicas que a Somália enfrenta ainda nos dias atuais. A obra esta dividida em cinco partes com onze capítulos, em uma narrativa que constrói uma sequência histórica dos eventos que permearam o país durante o regime militar e se encerra com uma conclusão que sumariza os argumentos e observações da obra. Ao longo dos capítulos o autor procura associar a narrativa histórica à série de fontes presentes no livro, buscando assim lançar as bases para a compreensão deste período aliando uma perspectiva crítica a historiografia sobre o tema.
A época observada compõe vinte e dois anos da história do país do chifre da África, e para Ingiriis modelou os conflitos que a Somália enfrenta ainda hoje. Valendo-se de modelos heurísticos de análise dos pesquisadores africanos Achille Mbembe [2] e Mahamood Mamdani [3] , o autor constrói uma narrativa histórica linear, que percorre a queda do governo civil em 1969, com um golpe de Estado dado pelo General Siad Barre, chegando até a fuga do líder em janeiro de 1991 da capital Mogadíscio. Focando, sobretudo, nos aspectos políticos da história da Somália, o pesquisador somali discute como este governo ditatorial configurou uma política baseada no clânismo e nas negociações com a URSS e com os Estados Unidos. Segundo o historiador somali, a União Soviética tem protagonismo na formação da Somália como uma República Democrática que se declarava socialista e era governada por um partido comunista liderado por Barre. No entanto, ao longo da obra ficam claras as contradições deste novo sistema político – tendo em vista que a Somália até 1969 adotava um sistema de eleições diretas para o parlamento e para os cargos de Primeiro Ministro e Presidente – ele assume, como frisa Ingiriis, uma posição comunista, baseada nos textos de Marx, mas também leva os escritos do Corão em consideração, respeitando uma série de costumes islâmicos que entram em contradição com o marxismo. Neste ponto, se expõem as problemáticas entorno da adesão dos pressupostos do comunismo soviético, em oposição aos costumes e práticas ligadas às tradições somalis (a forma de organização clânica [4]), sobretudo, a religião islâmica, que é maioria no país e rege muitas práticas sociais e até políticas na Somália.
Problematizar os desenhos do regime de Siad Barre é o ponto central do texto que apresenta uma quebra com uma série de trabalhos elaborados por historiadores sobre a Somália, particularmente, o período do regime do General Barre. Há muitas dissonâncias entre as pesquisas produzidas, alguns trabalhos como de Alice Hashim (HASHIM, 1997) exprimem a ideia de que o governo iniciado com o golpe de 1969 se tornou, gradualmente, fascista, pelas medidas que implementou e com o progresso do sufocamento da liberdade. Ahmed Samatar (SAMATAR, 1995), notório pesquisador do tema, declarou, em seus trabalhos, que o regime tinha poucas ideias socialistas e uma fraca ideologia. Conclusão que não foge à argumentação do historiador somali, que apresenta incongruências do regime quanto a sua posição ideológica. Entretanto, Ioan Lewis (LEWIS, 2008) reconhecido por suas pesquisas no chifre da África, especialmente, na Somália, argumenta em suas obras que o governo do ex-líder somali foi um período conturbado, porém que não é a raiz dos conflitos clãnicos enfrentados na região desde 1991. Desta forma, o antropólogo inglês vai à contramão da tese que Ingiriis apresenta, considerando que para ele é no governo de Barre que se perpetuam os privilégios que os grupos clânicos ligados ao governo vão desfrutar. Esta prática, de permitir que os clãs ligados à família do General Barre obtivessem uma série de regalias econômicas e políticas e ainda, desfrutassem de uma certa imunidade política, é a chave para, o historiador somali, de como compreender de que maneira, após a queda do regime, o país fragmentou-se em regiões lideradas pelos chefes de clãs.
Com efeito, Ingiriis traz à tona uma discussão ainda pouco elaborada no meio acadêmico, sobre as causas do “colapso” do Estado da Somália em 1991. Tendo em vista, que poucos trabalhos foram publicados após o fim do regime, muitas pesquisas foram elaboradas ainda na época que Barre governava o país, fato que tem relevância na análise, pois muitas fontes sobre o período só se tornaram acessíveis recentemente. É neste ponto, que o livro The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre Regime afirma sua relevância, pois aponta muitos elementos significativos e desconhecidos, porque expõe como membros do governo viram ou, ao menos, afirmaram ver as medidas impostas e as consequências que determinadas atitudes do ex-líder somali teve para o país.
O autor evoca ainda, algumas discussões e comparações com outros líderes africanos, como: Mobuto Sese Seko ex-ditador do antigo Zaire e Idi Amin ex-ditador de Uganda, apontando a similaridade de determinados comportamentos e alianças, destes dirigentes com Siad Barre, que inclusive teve relações próximas com ambos. De forma relevante, Ingiriis tenta demonstrar como o comportamento destes líderes militares configura um núcleo de estudos importantes para compreender as ditaduras na África e os legados que estas deixaram. Como já afirmado, o historiador somali vai destacar a relevância que as relações com Estados Unidos e URSS, tiveram tanto na Somália como nos países dos líderes citados, apresentando uma análise comparativa do comportamento das duas potências mundiais e como elas, se valendo de novas alianças modificaram o cenário de algumas regiões da África, principalmente, na década de 70 e 80.
O trabalho permeia toda a vida política da Somália nos vinte e dois anos de administração do General Siad Barre, não obstante, o autor constrói a história da Somália tendo como pilar central a história do Estado. É nesse sentido, que questionamos a centralidade deste Estado como formador de um determinado tipo de história. Esta discussão, em torno de uma história centrada no Estado tem sua relevância, sobretudo, na escrita da história do continente africano, porque carrega consigo uma série de “valores” da escrita da história ocidental e na forma de organização política predominante no ocidente. Sendo assim, quando questionamos a posição do autor em escrever um texto focado na história política do país, estamos questionando a validade da formação de um Estado na Somália. Pensando no ponto levantado por Jean François Bayart (BAYART, 2009), de que os processos políticos africanos não necessariamente, independente das influências externas, deveriam terminar na conformação do Estado, argumentamos que focar a pesquisa apenas nas estruturas políticas do regime pode possibilitar que questões culturais e sociais estejam à margem das análises sobre a história da Somália. Relegando, desta forma, um papel primordial ao Estado e justificando a necessidade de uma organização política nos moldes de Estado europeu, herdado do período de colonização.
Revelando uma observação acurada dos eventos políticos que permeiam a Somália de Siad Barre The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre Regime, compõe o panorama de trabalhos que problematizam a instituição e a permanência de uma determinada elite política, especialmente, no que tange a inserção dos militares na liderança de governos africanos. Focando na figura de um líder que se constrói enquanto protetor, carismático e onipresente, Ingiriiis levanta questões de grande pertinência, já que ainda hoje a Somália sofre as consequências de um governo que primou pela permanência através de privilégios e violências institucionais.
Notas
2. A análise oferecida por Achille Mbmebe na obra On the postcolony, é largamente utilizada por Mohamed Ingiriis no sentindo de apontar que um poder de inspiração colonial estava presente em muitos ambientes da África póscolonial. O filósofo camaronês assinala o conceito de commandent utilizado pelo autor somali para abordar a ideia de que Siad Barre havia sido um militar treinado pelo colonialismo que após assumir o governo continuou a perpetuar práticas colonialistas. Cf. MBEMBE, Achille. On the postcolony. California: University of California Press, 2001.
3. Mahmood Mamdani oferece uma modelo de análise que foca no Estado na África, o autor ugandense aponta para a ideia de que os Estados pós-coloniais africanos não são nada mais que uma extensão do controle colonial. É neste sentido que Ingiriis se vale do seu modelo heurístico para problematizar a conformação e consolidação do Estado na Somália independente. Cf. MAMDANI, Mahamood. Darle sentido histórico a la violencia política en el África poscolonial. In: ISTOR, Año IV, Nº 14, 2003, pp. 48-68.
4. A designação de grupo clânico, esta ligada a tradicional divisão somali, na qual indivíduos com ancestrais em comum ligam-se uns aos outros pelos laços familiares. A Somália atualmente possui seis grandes famílias clânicas, estas tem subdivisões internas, que dão origem a sub-clãs. LEWIS, Ioan. Understanding Somalia and Somaliland: Culture. History, Society. New York: Columbia University Press, 2008. 275p.
Referências
BAYART, Jean-François. The State in Africa: the politics of the Belly. Cambridge Press, 2009, pp. 1-40.
HASHIM, Alice Bettis. The fallen state: Dissonance, dictatorship and death in Somalia. London: University Press of America, 1997. 168 p.
LEWIS, Ioan. Understanding Somalia and Somaliland: Culture. History, Society. New York: Columbia University Press, 2008. 275p.
SAMATAR, Ahmed; LYONS, Terrence. Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction. New York: Brookings Institution Press, 1995. 112p.
Mariana Rupprecht Zablonsky – Graduanda do 8º período de História – Licenciatura e Bacharelado na UFPR. Bolsista PIBID e orientanda do Prof. Dr. Hector Hernandez Guerra. Link do Lattes http://lattes.cnpq.br/5021751592431335 .
INGIRIIS, Mohamed. Haji. The suicidal State in Somalia: the rise and fall of the Siad Barre Regime, 1969- 1991. London: University Press of America, 2016. Resenha de: ZABLONSKY, Mariana Rupprecht. Cadernos de Clio. Curitiba, v.7, n.2, p.129-136, 2016. Acessar publicação original [DR]
Santa Felicidade, o bairro italiano de Curitiba: um estudo sobre restaurantes, rituais, e (re)construção da identidade étnica | Maria F. C. Maranhão
A presente resenha é referente ao livro Santa Felicidade, o bairro italiano de Curitiba: Um estudo sobre restaurantes, rituais e (re)construção de identidade étnica, da autora Maria Fernanda Campelo Maranhão. A obra é uma dissertação de Antropologia social defendida na UFPR no ano de 1996 e publicada como livro em 2014, integrando a Coleção de Teses do Museu Paranaense. A autora possui graduação em Arqueologia pela Universidade Estácio de Sá (1986), no Rio de Janeiro e mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná (1996). É funcionária pública do Estado do Paraná desde novembro de 1987, estando locada no Museu Paranaense, e atualmente é responsável pelo Setor de Antropologia da instituição, onde atua na gestão, pesquisa, catalogação, e cadastramento de acervos Etnográficos e Imagéticos em banco de dados digital. Possui experiência em Etnologia Indígena, Acervos Etnográficos e História da Antropologia.
A obra é estruturada em cinco capítulos. Eles tratam, respectivamente, de descrever brevemente a imigração italiana no Paraná no âmbito do projeto nacional de formação de um campesinato; explorar a identidade italiana e realizar uma etnografia do bairro; apresentar o bairro como centro gastronômico; discutir sobre o estudo da comida na antropologia, evidenciando o caráter simbólico e de construção de identidade; e apresentar de que forma as políticas públicas interferiram na formação de identidade no bairro italiano.
Em sua introdução, Maranhão afirma que pretende se utilizar da comida típica e dos restaurantes de Santa Felicidade como recorte para discutir questões de etnicidade, relações interétnicas e transnacionalidade, sendo o foco principal de sua análise a comida italiana e seus restaurantes enquanto símbolos de etnicidade. Desta maneira, ela aborda também a influência das políticas públicas locais e transnacionais na (re)construção da identidade italiana no bairro, no âmbito das comemorações do aniversário de 300 anos de Curitiba, quando houve uma valorização das etnias europeias. Ainda na introdução, a autora explica sua metodologia, na qual trabalhou com entrevistas tanto com moradores quanto com turistas, além de fazer uso de matérias documentais de pesquisa histórica, como jornais e revistas.
No primeiro capítulo, Do Vêneto a Colônia de Santa Felicidade, a autora trata da formação histórica do bairro. Assim, ela aborda a questão do incentivo à imigração para o Brasil no século XIX, responsável por um grande fluxo imigratório. A partir da década de 1850, com a imigração a cargo das províncias que agiam por intermédio das companhias de imigração, ela comenta que, no caso do Sul do Brasil, se pretendia estabelecer um campesinato, baseado na pequena propriedade e no trabalho familiar. No Paraná, núcleos coloniais foram instalados próximos aos centros urbanos, para abastecer um mercado que não era autossuficiente.
Os imigrantes que se dirigiram para Santa Felicidade eram, no entanto, originalmente da região italiana do Vêneto, e haviam sido instalados na colônia Nova Itália, no litoral do estado, mas esse assentamento não progrediu, pois os colonos não conseguiram se adaptar, devido à falta de mercado consumidor para seus produtos, e também pela ausência de orientação sobre as doenças tropicais, assim como sobre o cultivo apropriado e sobre as pragas da lavoura. Dessa forma, as famílias decidiram se mudar para o planalto, seguindo as informações recebidas pelos tropeiros que passavam pela região. Quinze dessas famílias que deixaram a colônia Nova Itália adquiriram, no planalto, terras da portuguesa Felicidade Borges, e estabeleceram sua colônia, que passou a se chamar Santa Felicidade e a atrair mais colonos italianos. Estabelecidos, passaram a vender seus produtos no centro de Curitiba.
No capítulo Identidade italiana e etnografia do bairro, Maranhão fornece algumas informações acerca da transformação da colônia em bairro de Curitiba, fruto do crescimento da cidade. Também devido à legislação, a autora afirma que não é permitida a construção de edifícios com mais de dois andares no local, o que fez com que o bairro mantivesse algumas características da arquitetura inspirada no Vêneto. Ela comenta também a diferença entre o centro – próximo à Avenida Manoel Ribas – e a periferia do bairro – mais distante, e aborda o comércio, destacando o artesanato, o vime, o vinho, e dá ênfase para os restaurantes, que são um cartão postal da cidade.
Neste capítulo, Maranhão procura fazer uma diferenciação entre o que chama de italianos de Santa Felicidade, colocando-os em oposição aos outros italianos e aos curitibanos. Ela embasa essa ideia no conceito de grupo étnico de Barth, onde mais do que uma cultura comum, é necessária a autoatribuição e a atribuição pelos outros para que se reconheça esse grupo, baseando-se também no conceito de identidade contrastiva, no qual o indivíduo constrói a sua identidade afirmando-se como diferente diante de outros grupos, ou seja, identidade que surge por uma oposição. Neste tópico, a autora considera uma identidade de italianos de Santa Felicidade que se constrói em oposição tanto aos não italianos quanto aos italianos de imigração mais recente, que não passaram pela experiência do campo. Ela ressalta que nos dois casos a Igreja Católica teria apresentado um papel fundamental nessa construção de identidade. Para a autora, a configuração atual do bairro segue os moldes dos primeiros imigrantes, visto que muitas das famílias ainda vivem em lotes originais, só que agora divididos entre os membros herdeiros, configurando o que Maranhão chama de contradas. E a rede de parentesco, que é em maneira recorrente definida como endogâmica, faz com que muitos italianos de Santa Felicidade ainda se vejam como parentes. Ela também comenta sobre a chegada, em anos mais recentes, de outras famílias italianas ou de descendentes, que acabaram por se tornar donos de restaurantes de sucesso, mas que não fizeram parte da construção inicial do bairro. Maranhão diferencia ainda o bairro dos turistas daquele dos italianos, onde convivem os descendentes das famílias.
Um Bairro Gastronômico é como se intitula o terceiro capítulo da obra, no qual a autora discute a origem dos restaurantes. O primeiro deles teria sido o restaurante Iguaçu, estabelecido com o intuito de vender um prato feito para os caminhoneiros que por ali passavam, nos anos 1940. Constituíram-se outros estabelecimentos na sequência, e o bairro foi se tornando famoso pela gastronomia. Esses restaurantes são considerados empreendimentos familiares. Outra característica comentada pela autora é a de que além de servir refeições, estes lugares são palcos para eventos. Os restaurantes típicos são diferenciados dos demais estabelecimentos de Curitiba por serem informais, ambientes familiares, destaca Maranhão.
Tratando a maneira pela qual as famílias típicas se relacionam com os restaurantes, a autora comenta que são poucas as que os frequentam, pois muitas mantém a tradição culinária em casa. Porém, desde o sucesso dos anos 1970, recorrem a eles em ocasiões festivas. Como afirma Maranhão, o bairro é relacionado com o lazer dominical dos curitibanos, e a cidade é identificada e se identifica com o bairro turístico e gastronômico.
No quarto capítulo, A boa comida de Santa Felicidade, ela comenta que o interesse dos antropólogos no estudo da alimentação existe desde o surgimento dessa ciência, mas que o alimento analisado em relações simbólicas é algo feito por pesquisadores contemporâneos. A autora cita os estudos de Roberto Da Matta, pioneiro destas discussões no Brasil, fazendo uma distinção clara entre alimento – aquilo de que o corpo precisa para sobreviver – e comida – o que se consome com prazer. Outra questão apontada é de que se deve contextualizar a refeição, identificando o que se come em dias de semana ou finais de semana, no cotidiano ou em celebrações, além de se fazer a distinção entre comida de casa e da rua. Quanto à comida nos restaurantes, Maranhão afirma que ela é composta pelo frango a passarinho, polenta frita e risoto de miúdos. Esses pratos, ainda que alterados para o consumo local, legitimam uma culinária tradicional do Vêneto, que contribui para a reinvenção da identidade italiana e do bairro de Santa Felicidade enquanto reduto gastronômico. Essa reinvenção de tradição estabelece uma continuidade com o passado histórico da colônia. Esses restaurantes levaram a comida local ao gosto dos curitibanos, que até então, tinham reservas em relação a alguns deles, como a polenta.
A comida aparece também nas festas do bairro, sendo elas 4 Giorni in Italia, e as festas da Uva e do Vinho – a primeira, realizada em outubro, para dar visibilidade aos restaurantes, a segunda em fevereiro, em comemoração da colheita da uva, e a terceira em julho para celebrar a safra anual do vinho. Nelas, os italianos de Santa Felicidade reafirmam sua identidade, em detrimento dos outros italianos e dos curitibanos. Maranhão detém sua análise nas duas últimas. A organização dessas festas é de responsabilidade quase total dos descendentes de italianos, onde eles reforçam a sua identidade étnica, baseada nos valores de família, trabalho e religião. A abertura da festa é o momento onde se dá o encontro cultural entre os donos do evento – os italianos de Santa Felicidade – e os curitibanos – para quem ele é destinado. O consumo da polenta na festa é o que a autora chama de agregação, momento no qual todos comem juntos, italianos e visitantes. Ainda é relevante comentarmos que, de acordo com Maranhão, uma vez que a Festa da Uva teve início em moldes diferentes do que se estabeleceu depois, e que somente à medida que crescia e recebia mais pessoas ela se italianizou, não há continuidade histórica dela com práticas trazidas da Itália, mas se configura numa tradição inventada.
O quinto capítulo é Um bairro “italiano” na Curitiba dos 300 anos, onde a autora explora a relação entre Santa Felicidade e Curitiba, e o papel das políticas públicas na (re)construção da etinicidade do bairro. Para ela, a relação entre Santa Felicidade e Curitiba foi bastante clara em dois momentos distintos: o centenário de fundação da colônia, em 1978, e os trezentos anos da Capital, entre 1990 e 1993. Essa (re)construção de identidade intensificada desde os anos 1970 deve ser pensada em um contexto mais amplo, o de desaparecimento da identidade italiana, como no exemplo da repressão contra italianos, alemães e japoneses realizada pela política de nacionalização do Estado Novo, de Getúlio Vargas, nos anos 1930. Com essa repressão, grande parte das atividades culturais existentes em Santa Felicidade antes da guerra desapareceu. O renascimento cultural do bairro viria apenas no final dos anos 1970. Essa divulgação de imagem italiana se deu, para a autora, em dois momentos: em 1978, no ano do centenário, o bairro já era um atrativo turístico e gastronômico, quando recebeu investimento na divulgação de sua imagem italiana pela Prefeitura de Curitiba, além do investimento em transformações que pretendiam deixar o bairro com cara de cidade italiana. Outro momento de investimento deste tipo foi nos anos 1990, com o aniversário dos 300 anos de Curitiba. Desta data, dentre outas construções, se destaca o portal italiano. Ela ressalta que estes últimos investimentos estavam de acordo com um plano de estabelecer Curitiba como cidade de primeiro mundo, cosmopolita e multiétnica.
Em sua Conclusão, ela comenta que o bairro de Santa Felicidade constrói sua imagem de duas maneiras: na perspectiva externa, olhando as pessoas de fora do bairro como os outros, curitibanos e turistas, e a perspectiva interna, se reconhecendo como italianos, sendo a imagem externa unificadora, conferindo à Santa Felicidade o status de bairro italiano de Curitiba, com destaque para o apelo gastronômico. Já para os moradores italianos, o bairro ainda é uma colônia vêneta, e eles formam, segundo Maranhão, um grupo étnico em torno de um território comum, de fronteiras simbólicas, “de temporalidade e especificidades culturais singulares: ancestralidade comum, intensa sociabilidade, laços de vizinhança, uma complexa rede de parentesco e uma ativa participação nos rituais realizados no interior do grupo” (MARANHÃO, 2014, p. 212). Por fim, a autora reafirma o fato de como a comida italiana e a politização do grupo étnico nas celebrações dos 300 anos de Curitiba têm um papel fundamental na (re)construção dessa imagem italiana, da cidade que se quer afirmar como cosmopolita.
Há alguns pontos que podemos destacar acerca da obra de Maranhão. O fato de a autora lançar um olhar antropológico sobre os moradores nos parece bastante relevante, pois, ela traz novas ferramentas para a pesquisa, como as entrevistas com moradores e turistas que, embora já tenham sido incorporadas pela historiografia como história oral, são consideradas características também da Antropologia. Ainda na questão das fontes, é interessante percebermos que a utilização da arquitetura e da geografia do bairro enriquece o seu trabalho.
Outro ponto relevante para analisarmos é a estruturação da obra. Maranhão explica desde o princípio o propósito de sua pesquisa, e constrói uma base sólida para essa análise ao longo do texto, tratando de como o bairro se constitui antes de fazer a sua análise crítica. Desta forma, o livro se torna uma leitura bastante clara e objetiva, que pode ser considerada como uma boa referência para quem pretende estudar o contexto da imigração italiana no Brasil.
Podemos comentar, por fim, a importância dos conceitos nos quais Maranhão se embasa para sua pesquisa. Citando Barth e Hobsbawm, ela deixa claro que sua análise se pauta em conceitos já bastante estabelecidos na Antropologia e na Historiografia. Trabalhando com as duas áreas de conhecimento, ela faz uma análise antropológica que acaba bastante enriquecida pela utilização conjunta de outras ciências, como a História.
Bruno Ercole – Graduando em História Licenciatura e Bacharelado pela UFPR.
MARANHÃO, Maria Fernanda Campelo. Santa Felicidade, o bairro italiano de Curitiba: um estudo sobre restaurantes, rituais, e (re)construção da identidade étnica. Curitiba: SAMP, 2014. Resenha de: ERCOLE, Bruno. Cadernos de Clio. Curitiba, v.7, n.2, p.145-153, 2016. Acessar publicação original [DR]
O Brasil inventado pelo Visconde de Porto Seguro. Francisco Adolfo de Varnhagen, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a construção da ideia de Brasil-Colônia no Brasil-Império (1838-1860) | Renilson Rocha Ribeiro
Lo storico Renilson Rosa Ribeiro è attualmente professore dell’Universidade Federal do Mato Grosso, dove svolge i suoi incarichi accademici di docenza e ricerca nel campo della didattica della storia e della storia del Brasile ottocentesco. Anche se radicato con anima e cuore a Cuiabá, la formazione di Renilson R. Ribeiro è avvenuta a São Paulo, stato di nascita dell’autore, presso l’Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). L’opera intitolata O Brasil inventado pelo Visconde de Porto Seguro, pubblicata nel 2015, è il risultato della sua tesi di dottorato in storia culturale.
Il libro rappresenta prima di tutto un’opportunità di prendere contatto con il lavoro di questo promettente ricercatore, ma si tratta di una pietra miliare nella storiografia brasiliana sul periodo ottocentesco, soprattutto per ciò che riguarda gli studi sulla costruzione di una storia nazionale del XIX secolo coerente, in grado di conferire un significato storico leggittimatore a quello che era il neonato Stato nazionale monarchico brasiliano. L’opera tratta delle tappe fondanti della storiografia nazionale – fissate intorno alla figura di Francisco Adolfo de Varnhagen (São João de Ipanema 1816 – Viena 1878) e della sua opera História Geral do Brasil1–, del ruolo esercitato in questo processo dall’IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) e del ruolo centrale che lo sviluppo di una narrazione storica del Brasile coloniale esercitò nella creazione del Brasile monarchico del Secondo Impero.
Il libro è diviso in tre capitoli, ciascuno contenente una propria tesi, che concorrono nella parte conclusiva ad un solo esito: l’invenzione storica del Brasile Colonia è parte di un progetto politico di costruzione dello Stato nazionale improntata sul modello del Secondo Regno. Il sottotitolo del libro Francisco Adolfo Varnhagen, o IHGB e a construção da ideia de Brasil-Colônia no Brasil-Império (1838-1860) anticipa la struttura del testo proposta dall’autore.
Il primo capitolo, Invenções dos outros: as biografias de Varnhagen e a escrita da história do Brasil (1878-1978) presenta il processo di invenzione biografica di Varnhagen quale patrono della storia del Brasile e storico simbolo del progetto storiografico dell’IHGB, elaborato a partire dagli scritti biobibliografici realizzati tra il 1878, anno della morte di Varnhagen, e il 1978. Attira l’attenzione la strategia teorica e metodologica scelta dall’autore per affrontare la questione della biografia di Varnhagen: coerentemente con i suoi convincimenti teorici, Renilson R. Ribeiro non si propone di realizzare una nuova biografia di Varnhagen o di ricostruire il percorso storico del visconte di Porto Seguro, ma si lancia in qualcosa di più audace. Ispirato da Dominick LaCapra e dalla sua Nuova storia intellettuale2, l’autore analizza Varnhagen come un testo, ossia, mettendo in evidenza il modo in cui le biografie hanno costruito un Varnhagen-IHGB, al servizio di un progetto istituzionale volto a trasformare l’IHGB nella “Casa della Memoria Nazionale”.
In questa modo l’autore fugge dalla tentazione biografica di dare un’unica e coerente interpretazione della vita di colui di cui viene scritta la biografia; rifugge anche da una prospettiva storicistica che condurrebbe a un’esternalità al testo. La sua concezione del contesto si rifà in misura maggiore ad un’intertestualità articolata piuttosto che all’intento oggettivista di tracciare un panorama dei fatti al di fuori del testo, caratteristica che lo metterebbe in rotta di collisione con i suoi convincimenti teorici.
I documenti analizzati in questa prima sezione sono le biografie, i necrologi, gli encomi, le memorie e le prefazioni che miravano a esaltare Varnhagen e che fiorirono dopo la sua morte, nel 1878, all’interno della stessa rivista dell’IHGB. Renilson R. Ribeiro analizza come l’IHGB si appropriò della figura di Varnhagen per costruire una tradizione storiografica brasiliana. Realizzando reiteratamente biografie su Varnhagem e concedendogli il titolo di patrono della storia del Brasile, l’IHGB si poneva come istituzione autorevole e significativa nel processo di produzione della storia del Brasile. Fare di Varnhagen un eroe del pantheon degli artefici della storia del Brasile significava glorificare anche l’IHGB.
Nel primo capitolo, Varnhagen assurge al ruolo di oggetto costruito dai discorsi prodotti dall’IHGB e dagli intellettuali vicini a questa istituzione. Nel secondo capitolo, Varnhagen abbandona la condizione di oggetto delle rappresentazioni discorsive e diviene soggetto della sua storicità.
In Invenções de si: as cartas de Varnhagen e a escrita da história do Brasil, l’autore analizza le rappresentazioni che Varnhagen diede di sé, dell’IHGB, del ruolo dello storico, delle tensioni e delle dispute interne all’IHGB e dei testi storici. Renilson R. Ribeiro mostra un Varnhagen che rappresenta se stesso come un intellettuale di Stato e che vede nel processo di scrittura e pubblicazione della História geral do Brasil un incarico politico in favore dello Stato brasiliano e della monarchia.
L’autore mostra i retroscena delle scelte documentali, tematiche e cronologiche dell’opera di Varnhagen, così come la sua frustrazione di fronte alla ricezione silenziosa dell’opera da parte dei colleghi dell’IHGB. La strategia del testo permane evidenziando, per mezzo delle lettere, un Varnhagen in cerca di un riconoscimento che non ottenne in vita, ma solamente dopo la sua morte.
Qui sarebbe interessante rilevare che, mentre Varnhagen cercava di acquisire un controllo sulla costruzione di sé – o meglio, sulla base di come desiderava essere rappresentato – la sua memoria cominciò a essere utile all’IHGB per i propri interessi solamente nel momento in cui lui non ebbe più modo di controllare e influire su questo processo. A prescindere dal risentimento in vita per l’assenza di riconoscimento da parte dei suoi colleghi, l’eredità di Varnhagen si rafforzò in tal misura da rendere l’IHGB dipendente dalla sua memoria per legittimarsi come istituzione-autorità nell’edificazione della storia del Brasile. Per via del suo costante dialogo con la storiografia tradizionale sempre in cerca di tematiche, Varnahgen non è visto solo come un compilatore di documenti, ma come un intellettuale protagonista nel processo di scrittura della storia del Brasile. Per Renilson R. Ribeiro, il processo di ricerca e organizzazione dei documenti, di cui Varnhagen fu un uomo chiave, era zeppo di questioni storiografiche molto sentite nel Brasile del XIX secolo: «la scelta di cosa raccogliere, sistematizzare, archiviare e pubblicare ha dischiuso i sentieri che la narrazione storica desiderava tracciare»3.
Nel terzo capitolo del libro, Renilson R. Ribeiro analizza il processo di costruzione dell’intreccio cronologico e tematico dell’opera di Varnhagen alla luce del progetto di sapere-potere che l’opera si propone, cioè di costruire una narrazione in grado di stabilire un’identità essenzializzata e coerente della nazione con l’intento di delimitarla come un’entità univoca, omogenea e imprescindibile. In Inventando a Colônia “Coroada”: os enredos cronológicos e temáticos da Historia geral do Brazil (1854/1857) e o tempo Saquarema (1839-1860) Renilson R. Ribeiro, a partire dall’analisi dettagliata della prima edizione dell’opera História geral do Brasil, porta il lettore a stravolgere il passato coloniale brasiliano per accogliere la costruzione discorsiva elaborata da Varnhagen in funzione del progetto di fabbricazione della nazione come verità storiografica.
È tutto qui: un manuale su come inventare la nazione, fissare la sua identità, a partire dalla costruzione di una narrazione storica. Si tratta delle origini della nazione, dei suoi miti fondativi, della formazione del popolo, degli episodi simbolici, della scelta degli eroi rappresentativi – tra tanti altri elementi costituenti di questa narrazione – che fissano l’idea fondante del Brasile coloniale: una specie di infanzia della nazione, la cui inesorabile maturità, nella prospettiva varnhageniana, sarebbe stata lo Stato monarchico del Secondo Impero.
Renilson R. Ribeiro si propone di «fare la storia dell’emergere di un oggetto, di un sapere, di un tempo e di uno spazio di potere: il passato coloniale brasiliano»4. In questa triade, il passato stabilisce il campo d’azione del sapere in questione, la storia; il termine coloniale marca il periodo definito e, infine, l’aggettivo brasiliano punta alla progettazione di un territorio. All’interno di questa triade, il popolo è il soggetto e le sue azioni rappresentano gli episodi attraverso cui costruire una storia marcata dalla linearità e dalla continuità fino al processo di consolidamento come Stato indipendente.
L’origine della nazione fu così fissata nell’episodio della scoperta del Brasile, la formazione del popolo nel processo di descrizione delle tre razze (indios, neri e portoghesi), nel mito fondatore (l’invasione olandese) e, successivamente, nelle relazioni mai interrotte fino al conseguimento della maturità della nazione (indipendenza del Brasile).
La definizione della storia coloniale brasiliana a partire da questa trama narrativa fissata da Varnhagen si impose come modello e finì per essere riprodotta. Secondo Renilson R. Ribeiro, nei manuali scolastici e nei libri didattici di storia del Brasile elaborati fin dal secolo XIX e nel corso del XX secolo – nonostante presentino differenze teoriche, metodologiche e ideologiche – è possibile identificare la griglia cronologica e tematica stabilita da Varnhagen, a partire dalla narrazione della scoperta del Brasile da parte dei portoghesi, passando per il tema della formazione etnico-razziale del popolo brasiliano, il processo di conquista e il dominio coloniale, le invasioni olandesi e il processo che culmina con l’indipendenza del Brasile: «in larga misura digerirono l’idea della Colonia come culla del Brasile indipendente, o meglio, della storia come “biografia della nazione”»5.
Dunque, O Brasil inventado pelo Visconde de Porto Seguro è un libro che pone nuovamente una questione importante per coloro che lavorano per la produzione della conoscenza: da chi o da cosa è prodotta la conoscenza? A chi serve il mestiere di storico? Che tipo di relazioni gerarchiche di autorità legittima? A che tipo di relazioni di potere è indissolubilmente legato? Tra le diverse questioni affrontate da Renilson R. Ribeiro questa sembra essere fondamentale. Varnhagen era cosciente che il suo progetto di scrivere una storia del Brasile serviva una causa politica, ossia, aveva una chiara finalità: aiutare a impilare i mattoni dello Stato monarchico brasiliano fornendogli una storia dotata di costumi e di un’identità coerente. Il progetto di Varnhagen chiarisce le relazioni di sapere e potere che attraversano la produzione storiografica e getta luce anche sulla ricerca storica odierna e le sue conseguenze politiche per il tempo presente.
La varietà attuale dei temi di ricerca e degli approcci teorici che sono presenti nei corsi di laurea e negli istituti di ricerca, non fa della produzione storica e storiografica qualcosa di neutro rispetto ai progetti politici, siano essi istituzionali, partitici, associativi o personali. Urge più che mai una necessaria presa di posizione, una chiarezza intellettuale riguardo alle conseguenze della scrittura della storia.
Parafrasando una categoria gramsciana, ogni intellettuale è organicamente legato a un progetto di potere, ogni storia è compromessa nel servire come fonte di legittimità e autorità alle gerarchie che costituiscono relazioni di potere. Renilson R. Ribeiro ci mostra che Varnhagen scrisse la sua storia consapevole del progetto di potere che difendeva; questo ci porta a domandarci: i nostri attuali ricercatori, dottorandi e storici sanno quali cause stanno servendo le loro storie?
Notas
1 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de, História geral do Brasil. Antes da sua separacao e independencia de Portugal, 3 voll., Belo Horizonte-São Paulo, Itiatia – Editora de Universidade, 1981.
2 Cfr. LACAPRA, Dominick, Rethinking intellectual history. Texts, contexts, language, Ithaca- London, Cornell University Press, 1983.
3 RIBEIRO, Renilson Rosa, O Brasil inventado pelo Visconde de Porto Seguro: Francisco Adolfo de Varnhagen, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a construção da ideia de Brasil-Colônia no Brasil-Império (1838-1860), Cuiabá, Entrelinhas, 2015, p. 231.
4 Ibidem, p. 46. 5 Ibidem, p. 416.
Mairon Escorsi Valério si è addottorato in Storia culturale presso l’UNICAMP ed è professore associato dell’Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Erechim/RS. I suoi studi vertono sulla storia contemporanea dell’America Latina e sulla didattica della storia. È autore del libro Entre a cruz e a foice: D. Pedro Casaldáliga e a significação religiosa do Araguaia (Jundiaí, Paco Editorial, 2012).
RIBEIRO, Renilson Rosa. O Brasil inventado pelo Visconde de Porto Seguro. Francisco Adolfo de Varnhagen, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a construção da ideia de Brasil-Colônia no Brasil-Império (1838-1860). [?]:Entrelinhas, 2015, 448 pp. Resenha de: VALÉRIO, Escorsi. Diacronie – Studi di Storia Contemporanea, n. 27, v. 3 2016.
Em busca do tempo sagrado: Tiago de Varazze e a Lenda dourada | Jacques Le Goff
O livro A la recherche du temps sacré ou, na edição brasileira, Em busca do tempo sagrado: Tiago de Varazze e a Lenda dourada foi uma das últimas obras produzidas pelo historiador Jacques Le Goff a ser traduzida para o português. Lançada originalmente em francês no ano de 2011, a produção foi mais uma contribuição do autor para os estudos medievais. O texto foi traduzido e publicado no Brasil apenas em 2014, pela editora Civilização Brasileira.
Jacques Le Goff é considerado pela comunidade acadêmica como um dos principais historiadores do século XX. Foi diretor da École des Hautes Études en Sciences Sociales – sucedendo Fernand Braudel – e, ao lado de nomes como Georges Duby, Pierre Chaunu, Le Roy Ladurie, entre outros, esteve à frente da chamada terceira geração da Escola dos Annales. No campo bibliográfico, Le Goff desenvolveu uma vasta produção – entre artigos, capítulos, livros, etc. – dentre a qual podemos mencionar, apenas para citar alguns títulos já traduzidos para o português: Os Intelectuais na Idade Média; O nascimento do purgatório; São Francisco de Assis; Homens e mulheres na Idade Média; A Civilização do Ocidente Medieval. Como reconhecimento de sua atuação, recebeu, em 2004, o prêmio Dr. A. H. Heineken de História, atribuído pela Academia Real das Artes e Ciências dos Países Baixos. Leia Mais
Para uma outra Idade Média: tempo, trabalho e cultura no Ocidente | Jacques Le Goff
Jacques Le Goff, um dos historiadores mais influentes do século XX, trouxe com seus mais de 40 livros, novos olhares sobre a Idade Média, não só no meio acadêmico mas entre aqueles interessados em outras perspectivas sobre o Medievo, além de tratar da religiosidade e das tendências econômicas, usou a Antropologia Histórica no Ocidente Medieval, além da Sociologia e Psicanálise, buscou a cultura e a mentalidade do homem do Medievo, visitando o imaginário não somente das grandes personalidades, mas também daqueles que faziam parte do cotidiano desse período.
Vemos, em sua trajetória nessa seara de possibilidades, a análise do Medievo em várias frentes, desde a econômica em sua primeira obra de 1956, Mercadores e Banqueiros na Idade Média, e A Bolsa e a Vida, de 1997, à religiosidade em O Nascimento do Purgatório, de 1981 e São Francisco de Assis, de 2001, passando pelo imaginário na obra O Imaginário Medieval, de 1985, chegando a aspectos como trabalho, cultura e o tempo. Leia Mais
A História deve ser dividida em pedaços? | Jacques Le Goff
Em um dos seus últimos trabalhos, Jacques Le Goff discute a propriedade ou não de se dividir a História em períodos ou, como consta do título, em pedaços. O livro encontrase distribuído em doze itens: Preâmbulo (pp.7-9); Prelúdio (pp.11-14); Antigas Periodizações (pp.15-23); Aparecimento Tardio da Idade Média (pp.25-32); História, ensino, períodos (pp.33-43); Nascimento do Renascimento (pp.45-58); O Renascimento atualmente (pp.59-73); A Idade Média se torna “os tempos obscuros” (pp.75-95); Uma Longa Idade Média (pp.97-129); Periodização e Mundialização (pp.131-134); Agradecimentos (pp.135-136) e Referências Bibliográficas (pp.137-149).
Nesse trabalho, Le Goff postula claramente a favor da ideia de uma Longa Idade Média e/ou, se desejarmos, uma Idade Média Tardia, que seria encerrada com as chamadas “revoluções” Industrial e Francesa no século XVIII. Em contrapartida, contesta a ideia de um Renascimento que teria rompido com o período medieval nos séculos XV e XVI. Leia Mais
Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII | Ronald Raminelli
Em Nobrezas do Novo Mundo, Ronald Raminelli apresenta os resultados de relevante pesquisa sobre as formas e critérios de nobilitação nas Américas portuguesa e espanhola no decorrer dos séculos XVII e XVIII, e de como estas práticas faziam parte das estratégias de ascensão social dos vassalos de além-mar. O autor aborda a temática demonstrando um extenso conhecimento da produção historiográfica recente e da documentação coeva, sobretudo a que se relaciona aos súditos do reino português radicados na América.
Neste sentido, destaca-se que a obra possui seis capítulos, divididos em duas partes. Os três primeiros capítulos, “Nobreza sem linhagem”, “Nobreza e governo local” e “Riqueza e mérito” compõem a primeira parte, denominada “Variações da nobreza”, na qual o autor estudou as formas de ingresso na nobreza ou de manutenção de privilégios de diversos agentes históricos na Península Ibérica e na Ibero-América. Já os três últimos capítulos, “Malogros da nobreza indígena”, “Militares pretos na Inquisição” e “Cores, raças e qualidades”, estão inseridos na última parte do livro, “Índios, negros e mulatos em ascensão”, em que Raminelli foca sua análise nos atores sociais da América Portuguesa que fracassaram nas suas tentativas nobilitação. Leia Mais
Padres de Plaza de Mayo: Memorias de una lucha silenciosa | Eva Eisenstaedt
Nos primeiros anos que sucederam os períodos ditatoriais em diferentes países da América Latina, foi possível observar uma ampla produção acadêmica direcionada às questões macroestruturais destes regimes. Nas mais diversas áreas das ciências humanas, buscava-se compreender as estruturas políticas, econômicas, repressivas e ideológicas que permeavam estes modelos autoritários e seus funcionamentos. Embora tenham sido extremamente relevantes e importantes para entender melhor o contexto em questão, com o passar dos anos foi notória a necessidade de se ampliar a pesquisa histórica, seus objetos de estudo e análise. Diante desta perspectiva, produções centradas em assuntos que até então não haviam sido problematizados começaram a surgir e enriquecer o entendimento acerca do tema, evidenciando os indivíduos desta história. Neste contexto, está situado o livro “Padres de Plaza de Mayo: Memorias de una lucha silenciosa” (2014) da autora Eva Eisenstaedt.
Eva Eisenstaedt natural de Buenos Aires é formada em Ciencias de La Educación pela Universidade de Buenos Aires – UBA, e na “Primera Escuela de Psicología Social” de Buenos Aires. A autora ficou conhecida com o livro “Sobrevivir dos veces. De Auschwitz a Madre de Plaza de Mayo” (2007) no qual conta a história de Sara Rus.[1] Leia Mais
La nueva educación: Los retos y desafíos de un maestro de hoy – BONA (I-DCSGH)
BONA, C. La nueva educación: Los retos y desafíos de un maestro de hoy. Barcelona: Plaza & Janés, 2015. Resenha de: GARCÍA ANDRÉS, Joaquín. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.84, p.83-84, jul., 2016.
Esta estimulante autobiografía profesional del maestro aragonés César Bona (Ainzón, 1971) resume sus últimos seis años como docente en la escuela pública que, recogidos inicialmente en un vídeo, le permitieron optar al premio Global Teacher Prize, lo que le supuso ser seleccionado entre los cincuenta mejores docentes del mundo el pasado año.
Como desde un primer momento el autor explica con un lenguaje claro, fl uido, directo y ameno, en estas páginas sólo encontraremos «ideas sencillas y básicas que a veces se nos olvidan» y que, en consecuencia, no necesariamente han de resultar novedosas pero sí renovadoras. Por eso mismo gozan de un valor muy singular, en la medida en que devuelven al primer plano de las necesidades educativas ideas «viejas» para esa escuela «nueva» a la que se aspira. De hecho las páginas están salpicadas de aforismos y extractos del propio texto que resumen en pocas palabras su forma de entender la enseñanza, al tiempo que facilitan una rápida lectura. Ya sólo los títulos de cada uno de sus breves capítulos delatan de un modo didáctico sus ideas esenciales respecto a la educación, como por ejemplo: «Salir de uno mismo y hacerse preguntas», «De los libros a la acción», «Deberes y a dormir» o «Somos emociones». Puede decirse que el elenco de frases memorables es ciertamente amplio, tanto como orientador.
Partiendo de una concepción funcional de la escuela, orientada a facilitar la vida y no la mera consecución de unos objetivos de evaluación, su premisa esencial radica en confi ar en el poder de los alumnos, en su imaginación, creatividad y curiosidad. Unas características que, a su vez, Bona asume como condiciones básicas que deberían compartir los docentes, a quienes exhorta a transformarse en personas curiosas, con deseos de aprender de todo lo que nos rodea. De ahí que una de las motivaciones que, aprovechando su proyección mediática, le han llevado a desvelar públicamente sus pensamientos, concepciones y convicciones sea, precisamente, la de invitar al lector a redescubrir que la esencia de la profesión docente no radica tanto en tener vocación y conocimientos como en saberlos compartir. Ideas sobre el sentido de las tareas, el fomento de la lectura, el trabajo en escuelas unitarias, el papel de las familias, la formación docente o la educación emocional, son algunos ejemplos de sus inquietudes y preocupaciones.
Pero también las hay sobre la organización y la gestión del aula, la convivencia, la disciplina o la participación activa. A lo largo de este personal periplo y a través de algunas de sus experiencias más singulares y llamativas, podremos conocer de primera mano –y aprender con ello– proyectos y actividades innovadoras, algunas ciertamente evocadoras, como sus llamadas «historias surrealistas», desde la considerable valoración que el propio Bona otorga a esta dimensión de la imaginación humana. Pese a la singularidad de cada una de ellas, en todas es posible advertir el fermento común que las alimenta: la actitud, muy particularmente la del respeto, pero también la de la autoexigencia y la autocrítica, tanto de los estudiantes como, sobre todo, de sus profesores.
Sin lugar a dudas la palabra actitud es una de las que más se repite, siempre en clave positiva y en torno al esfuerzo, la tolerancia y la pasión por lo que se hace, a ser posible de una forma contagiosa.
Porque, según sus propias palabras, «nuestra actitud, la forma de ver las cosas y cómo las conduzcamos a la hora de sentir y vivir toda experiencia en nuestra compañía les marcará para siempre» (p. 65).
No en vano, de nuestra profesión salen todas las demás y, en tal sentido, considera que los docentes somos unos privilegiados que tenemos al alcance la posibilidad de convivir con la imaginación, la ilusión y la inspiración, la que nos proporciona nuestro alumnado, y de las que podemos obtener nuevas e inspiradoras ideas. Un privilegio del que nace una responsabilidad recíproca: la de estimular la creatividad y la curiosidad.
En connivencia con la actitud, otros dos pilares esenciales en torno a los cuales este maestro hace pivotar su práctica escolar son la sensibilidad y la empatía, invitando al lector a meterse en la piel de los aprendices y hacer que se sientan importantes; porque lo son. Así lo evidencian experiencias como la realización de un cortometraje mudo que logró reconciliar a dos familias enfrentadas del pueblo en el que ejercía, o la creación de una sociedad protectora de animales para evitar la actuación de animales vivos en el circo, que ha sido amadrinada por la primatóloga Jane Goodall, entre muchas otras.
Siguiendo su consejo, «cualquier cosa puede inspirarte, una canción, una línea mal dibujada, una frase, un dibujo: en eso radica la maravilla, en mirar todo a nuestro alrededor como una oportunidad para crear» (p. 163). Espero que estas últimas palabras sirvan de aliento para provocar el interés por este libro, cuya lectura es tan fácil, tan provechosa e inspiradora como recomendable. En definitiva, un libro como su autor: sobresaliente.
Joaquín García Andrés – E-mail: jgandres@ubu.es
[IF]Crímenes ejemplares – Max Aub
Max Aub. https://mubi.com/pt/cast/max-aub.
 AUB, Max. Crímenes ejemplares. Ilustrado por Liniers. [Sn.]: Libros del zorro rojo, 2015. 96p. Resenha de: CARRERAS, Jesica; MURAT, Facundo Petid. La Zaranda de Ideas – Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, Buenos Aires, v.14, n.1, jul., 2016.
AUB, Max. Crímenes ejemplares. Ilustrado por Liniers. [Sn.]: Libros del zorro rojo, 2015. 96p. Resenha de: CARRERAS, Jesica; MURAT, Facundo Petid. La Zaranda de Ideas – Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, Buenos Aires, v.14, n.1, jul., 2016.
Solamente cuando uno encara una relación profesional íntima con otros antropólogos y arqueólogos se percata de que no se está aislado en ese impulso irrefrenable de, en momentos de trances y danzas mentales, filosofar acerca de si existe algún hecho universal que atraviese a todas las sociedades humanas de todos los tiempos. Entonces comienzan esos momentos en los que la autopercepción nos halla en carreras sinceras de búsqueda de generalidades y excepciones, a sabiendas de que eso de “la excepción confirma la regla” no es más que un aliciente contra la frustración. En esas horas en las que se puede aprender a chiflar o resolver un trabalenguas que olvidaremos con los años, las conclusiones suelen derivar en que lo único universal son las funciones que nos atan a lo más mundano de la naturaleza, siendo la aplicación empírica en cada microrregión aquello que resulta variable.
Cruzarse con un compendio de las características de Crímenes Ejemplares puede devolvernos sin aviso a estas andanzas intelectuales. Sin pretenderlo, Max Aub encuentra el vínculo entre la antropología y la muerte sufrida por el accionar criminal de un otro que nos aborrece por circunstancias vinculadas a lo social y ancladas en individuos letales. En relatos sin consecución que van del renglón hasta la media carilla como máximo, el autor, utilizando la imaginación poética, se posiciona en primera persona del criminal y brinda explicaciones.
Razones. Se defiende pero nunca niega su accionar. Cuenta los por qué y los cómo.
A pesar de no ser un libro de antropología ni de arqueología, genera la potencialidad de pensar los fundamentos universales a través de los cuales un ser mataría a un semejante. Lleva a la acción muchas de aquellas motivaciones que se desarrollan en el plano de la fantasía cuando algún ser humano se demora de más ante nuestras impaciencias en el cajero automático, da muestras insobornables de su pedantería, o simplemente estaba muy sobre la línea amarilla en el subte.
Recogidos en diferentes instancias de sus exilios, Max Aub logra recabar historias de Francia, España y México. De allí su sesgo occidentalista de brindarle el status de crimen a quien se implosiona en nombre de su Dios, teniendo toda una sección dedicada también a suicidios. No obstante, invita a pensar, al igual que Malinowski (1985) en Crimen y costumbre en la sociedad primitiva, cuánto nos habla de los órdenes sociales de una cultura la mayor privacidad o publicidad de la muerte autoinfringida.
Sin embargo, habiendo sido publicado en 1957 y republicado en 1968, sus relatos gozan de una atemporalidad observable en los crímenes motivados por el amor, tanto como en el momento donde una mujer reivindica a todo su género tras ser acosada en el colectivo. Criminales que aniquilan al otro porque asumen una identidad estacionaria incompatible con la rivalidad de su desconocido y criminales que atestiguan no soportar más los vicios insoportables y constantes de sus parejas. Crímenes ideológicos contra crímenes banales. El autor logra abarcar muchas, si no todas, de las vicisitudes que pueden llevar a amplificar el egocentrismo a un punto tal en que se encuentra justificado el exterminio. Se mata por respeto a la tradición personal.
58 años después de su primera publicación, la editorial “Libros del Zorro Rojo” compromete a Liniers a caracterizar visualmente muchos de estos relatos, brindando cualidades específicas a relatos globales. De allí que esta edición específica proponga al ilustrador en calidad de co-autor, visible en la inclusión de su nombre en la tapa, lomo y solapas. A partir de una selección de crímenes (en general uno por página), logra interpretar la violencia y disponerla desde diversos ángulos, los cuales exceden el relato en sí. Todas las ilustraciones aportan las imágenes de las víctimas, seres que el propio Aub sólo menciona desde la voz de los asesinos, en un racconto posterior al suceso criminal. Así, esa tranquilidad que se percibe en la lectura de personas que cuentan su visión de los hechos, cómodamente asentadas en banquillos de acusados o quién sabe dónde, Liniers la trastoca volviendo palpable a la mente la imagen del crimen ejemplar. Y hay algo más. Mirados con detenimiento, se puede llegar a ver los dibujos como si el propio asesino viera la escena desde una posición externa, como observador de su propia práctica, generalmente deformado o transformado en una sombra de sí mismo que excede a su control humano. Frente a las víctimas, cuyas expresiones transmiten desconcierto e incluso desconocimiento ante lo que sobrevendrá, los asesinos de Liniers transmiten y producen violencia.
Para ello, el dibujante unifica los colores rojo, blanco y negro, colores con connotaciones simbólicas ambiguas y extendidas, como bien explica Victor Turner (1980). Así, lleva al alcance de la imaginación la violencia que implica la muerte sin premeditaciones, cuando las fibras más nerviosas de nuestras extremidades se desligan de la conciencia para hacer aquello que la culpa motorizada por la hegemonía religiosa y estatal nos inhibe.
Referências
1. Malinowski, B. 1985. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje.Planeta Agostini, Barcelona. [ Links]
2. Turner, V. 1980. La selva de los símbolos: aspectos del ritual ndembu.Siglo XXI, Madrid. [ Links]
Jesica Carreras – Es egresada de la carrera de Ciencias Antropológicas (orientación arqueológica) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla análisis arqueofaunísticos en la Puna de Jujuy. Dirección de contacto: jesicacarreras@gmail.com
Facundo Petit de Murat – Es egresado de la carrera de Ciencias Antropológicas (orientación sociocultural) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario doctoral de CONICET, analizando el paisaje sonoro de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección de contacto: facundo_petit@ hotmail.com
[IF]
De Olinda a Holanda: o gabinete de curiosidades de Nassau
Registros concretos da interseção dos homens no mundo, a cultura material reivindica para além da sua aparência física um sem fim de conexões com os tempos, os espaços e os grupos nos quais se insere. Matéria híbrida e maleável, é passível de ser deslocada redefinindo nesta própria transição novos significados. Atenta às qualidades históricas da cultura material, Mariana de Campos Françozo faz dela sua base para explorar o capital simbólico dos objetos em seu livro De Olinda a Holanda: o gabinete de curiosidades de Nassau.
Fruto da sua tese de doutorado, as reflexões pontuadas neste livro dão sequência às pesquisas realizadas por Françozo em sua dissertação de mestrado na qual já pontua o papel dos objetos no êxito das relações entre os indígenas e os colonizadores europeus no contexto do Brasil colonial. Destacando o processo e as mudanças decorrentes deste convívio ao longo da dissertação que tem como mote a influência da literatura etnológica alemã na obra de Sérgio Buarque, Françozo balanceia o tema da mobilidade a partir dos contatos, mas também das distâncias imanentes a ele. Assim, aponta em dado momento uma fala do autor sobre sua ida à Berlim onde afirma que afastar-se de seu país era a medida da lente para enxergá-lo por completo. Aproximando a assertiva da fórmula antropológica, infere a autora que a chave estava em “tornar estranho o que é familiar, e familiar o que é estranho.”2. Leia Mais
Atas da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia (1869 a 1879) e da Irmandade Nossa Senhora do Rosario, São Benedicto e Sant’Anna (1933) | Alícia Duhá Lose e Vanilda Salignac Mazzoni || Manuscritos do antigo Recolhimento dos Humildes: documentos de uma história |Alícia Duhá Lose e Vanilda Salignac Mazzoni
O escritor malês Amadou Hampâté Bâ enfatiza, em uma frase já conhecida, o aspecto efêmero da cultura oral e a importância de sua conservação: “cada vez que um ancião morre na África, uma biblioteca é incendiada”. Entretanto, também o registro escrito possui suas dificuldades. Crer que ele, por si só, pode perpetuar conhecimentos e informações é uma falácia; quando registrado em texto escrito, o conhecimento existe em estado latente. Na era da informação, em que o acesso e o armazenamento digital se tornaram lugar comum, talvez não se calcule a importância do exercício da Filologia para o resgate da história social brasileira. Tal lacuna é preenchida por trabalhos como os dois volumes aqui apresentados, pertencentes à série Uma história escrita à mão.
A própria relevância dos documentos fornecidos, cujos pormenores serão abordados nas páginas seguintes, e as pesquisas realizadas sobre o contexto no qual se inserem justificam a leitura, pois são registros de valor inestimável que retratam a história social da Bahia e que podem servir a pesquisadores de áreas tão variadas como a Teologia, a História e a Sociologia. Contudo, as autoras não se limitam a fornecer as edições, pois os volumes possuem capítulos introdutórios que narram os percalços de um amplo e meticuloso trabalho filológico, mostrando as diversas áreas que tiveram de ser desbravadas para disponibilizar os documentos ao grande público. Consequentemente, a publicação realça a importância e a urgência do trabalho filológico para a preservação e disseminação de documentos, bem como sua vocação multidisciplinar. Leia Mais
Currículo de História: Reflexões Sobre a Problemática da Mudança a partir da Lei 10.639/2003 – TORRES (RL)
TORRES, Marcele Xavier. Márcia Serra Ferreira. “Currículo de História: Reflexões Sobre a Problemática da Mudança a partir da Lei 10.639/2003”. In: MONTEIRO, Ana Maria (et al.). Pesquisa em ensino de História: entre desafios epistemológicos e apostas políticas. Rio de Janeiro: Muad/Faperj, 2014. Resenha de: ROSA, Tatiane Mendes. Revista do LHISTE, Porto Alegre, v.3, n.5, p.99-104, jul./dez, 2016.
O propósito aqui é fazer uma resenha reflexiva a partir do texto: “Currículo de História: Reflexões Sobre a Problemática da Mudança a partir da Lei 10.639/2003” (MAUD x FAPERJ, 2014) das Professoras Marcele Xavier Torres e Márcia Serra Ferreira, a obra traz uma análise sobre a obrigatoriedade de inserção da História da África e dos africanos no ensino de História no Brasil a partir da Lei 10.639/2003.
A inovação da introdução curricular em relação à História da África nos estudos da História do Brasil a partir da lei 10.639/03 é um tema que gradativamente vem sendo debatido e levado a publicações de pesquisas, artigos, ensaios, etc. A publicação da pesquisa organizada por Marcele X. Torres e Márcia S. Ferreira, reforça a importância desta lei no desenvolvimento histórico educacional em nosso país.
As autoras atuam com pesquisas nas áreas de História e Educação, contribuindo no aprimoramento da formação de professores, educadores e pesquisadores. Um dos resultados destas pesquisas pode ser verificado no livro “Pesquisa em Ensino de História: entre desafios epistemológicos e apostas políticas (2014)” caracterizada por uma coletânea de textos acadêmicos elaborados por pesquisadores que atuam no campo educacional. O texto escolhido traz a reflexão da pesquisa dividida em duas partes, distribuída em 12 páginas, proporcionando ao leitor uma compreensão do tema, possibilitando uma busca maior de detalhes e informações na bibliografia e livros indicados. A obra também proporciona uma análise sobre o que vem sendo desenvolvido nos centros acadêmicos sobre a lei 10.693/03 e aplicado nos currículos escolares.
A apresentação das ideias das autoras se faz presente no desenvolver da pesquisa apresentada onde fica nítida ao leitor a compreensão do conteúdo pesquisado, visto que, na elaboração do texto publicado se faz uma trajetória de conceitos permitindo a objetividade da proposta. Elas trabalham com a compreensão de que o homem é o protagonista de sua própria história e agente formador de suas mudanças em um futuro desconhecido. É possível identificar a transformação do novo e/ou novidade no trecho que nos fala: “[…] o ‘novo’ não é apenas o que resulta de uma mudança estrutural, tampouco esta em transformação radi cal promovida por uma instituição. […]” (TORRES; FERREIRA, 2014: p. 84), o novo para acontecer necessita de um lugar (ambiente) e condições de equilíbrio para se constituir. Para o escritor Ferretti (1995), segundo as autoras:
[…] a mudança como resultado das iniciativas de alterações que são incorporadas a diferentes objetos, com vistas a atender a determinados objetivos que se configuram tomando como ponto de partida os problemas identificados na realidade que se pretende mudar. (TORRES; FERREIRA, 2014: p. 84).Os conceitos desenvolvidos servem de base para chegarmos ao ponto de estudo do Currículo Escolar onde há a necessidade de mudança e inovação para atender a inserção de novos conteúdos que tratem de temas não abordados antigamente com tamanha eficiência, mas que na atualidade esses temas devem ser mais trabalhados para atender a realidade e compreensão dos alunos.
As professoras Marcele e Márcia utilizam outras referências teóricas para debater a mudança curricular, para isso consideram o autor Popkewitz que contribui com seus escritos na questão da transição da mudança onde se faz necessário ter um paralelo entre o que se foi praticado no tempo transcorrido em associação a atualidade, gerando assim um deslocamento que estabelece rompimentos e seguimentos, como fica evidenciado em: “[…] pensar a partir da relação entre o passado e o presente significa ‘identificar interrupções, descontinuidades e rupturas da vida institucional’ (Popkewitz, 1997, p. 22).” (TORRES; FERREIRA, 2014: p.86). Este autor também considera importante o estudo regional na pluralidade da sociedade abrangendo fatos locais mais peculiares dentro das relações de poder existente e acredita que as alterações podem ser feitas através de uma reforma educacional a partir do uso de termos pertencentes ao aprendizado escolar. Em relação a esta alteração de significados as autoras nos trazem o escritor Silva que em seus escritos nos mostra que “no contexto da história do Currículo é preciso desconfiar particularmente da tentação de atribuir significado e conteúdo fixos a disciplinas escolares que podem ter em comum apenas o nome.” (SILVA, 1995: p. 8 apud TORRES; FERREIRA, 2014: p.87). Seguindo nesta linha de mudança curricular o temos o comentário das autoras sobre Goodson onde:
“[…] as mudanças devem ser compreendidas como o resultado de um conflito entre assuntos internos e relações externas, pois ‘quando o interno e o externo estão em conflito (ou dessincronizados) a mudança tende a ser gradual ou efêmera” (GOODSON, 1997: p. 56 apud TORRES; FERREIRA, 2014: p.87).
Nesta primeira parte do texto as autoras fazem a reflexão que o Currículo atua como formador de entendimento da consciência social, local competitivo rodeado de ambição e de relações desiguais de empoderamento. Ambas as autoras deste artigo reafirmam que a mudança curricular seja na universidade, seja na escola “[…] não é um processo fácil tratando-se de um movimento no qual se ‘inventam tradições’[…]” (TORRES; FERREIRA: 2014 p.88)”. O estudo da História da África e da cultura afro-brasileira e africana no ensino de História se encaixa no contexto acima abordado por se tratar de uma nova interpretação no contexto tradicional curricular.
A segunda parte do texto nos trás a mudança no ensino de História a partir da Lei 10.639/2003 que refere à obrigatoriedade de revisão curricular na Educação Fundamental do ensino de História da África e da cultura afro-brasileira e africana no Brasil. O teor desse tema é justificado pelas autoras por conter fundamentos de alterações importantes no ensino da disciplina de História, por que é uma ciência que possui a pratica curricular de mostrar a soberania do homem branco em relação ao homem não branco, especificamente o africano, nas relações de convivência em nossa sociedade, ou seja, as autoras não buscam uma nova disciplina escolar com essa temática e sim, procuram aflorar as inquietudes da História Nacional oficial ensinada para outro viés histórico não relacionado com a conjuntura social presente.
A História como disciplina escolar, assim como o a educação no Brasil é baseada no sistema educacional europeu (séc.XX), sendo contada a partir do olhar do estrangeiro. Nestas circunstâncias a História sempre foi vista pelo heroísmo e bravura do seu ator principal o homem branco, onde é representado por figuras ilustres, um ser humano independente e com capacidade de “civilizar” o mundo. Com o passar do tempo e dos acontecimentos a disciplina de História teve mudanças baseada nas produções acadêmicas européias e pelos diferentes cenários políticos sociais surgidos no passar dos anos, mas sem perder o eurocentrismo. Com a extensão do sistema educacional brasileiro no final do século XX foi possível que outros grupos não elitizados freqüentassem as escolas, esse fato ocasionou uma alteração na homogeneização do perfil social dos alunos que freqüentavam o educandário, destinado antes aos filhos da elite política brasileira. Sendo assim, “[…] seja pela transformação do perfil do alunado, seja pelo crescimento dos movimentos sociais voltados para a inclusão de grupos historicamente marginalizados, os currículos foram sendo crescentemente contestados.” (TORRES; FERREIRA, 2014: p.90). Ao longo do tempo os conteúdos desenvolvidos em História sofreram indagações por não retratar a História da África e dos afro-brasileiros no Brasil gerando uma revisão disciplinar. O final do século XX em nosso país é caracterizado por uma História marxista que retrata a disputa de classes sociais e as relações de produções. Com base nisso, tivemos algumas alterações nos currículos escolares, onde ficou evidenciado “hegemonicamente pela inclusão da luta dos africanos, tanto na África quanto no Brasil, em uma perspectiva estrutural mais ampla, envolvendo dominantes e dominados. […]” (TORRES; FERREIRA, 2014: p.90). As autoras nos remetem a contextualização que a partir do final do processo da Ditadura Militar no Brasil as discussões sobre igualdade e democracia conquistaram maior visibilidade na luta pela inclusão das minorias e dos grupos marginalizados pela História Oficial. Coube ao ensino de História motivar o aluno a indagar seu eixo histórico e analisar seu papel de ator social.
No ensino de História do Brasil a contar do inicio do século XXI tivemos o estabelecimento da Lei 10.639/2003 que consiste no ensino de História da África e cultura afro-brasileira como já citado anteriormente. Esta lei busca readquirir as ações afirmativas dos negros na formação da sociedade brasileira impulsionando a população negra ao seu reconhecimento social. A lei foi decretada em 2003, mas a luta por esse reconhecimento legitimado vem de muito tempo que pode ser verificado, por exemplo, no Movimento Negro que sempre lutou pela integração da História e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Mesmo sendo uma lei, a mesma não garantiu até o momento que essa mudança nos currículos escolares seja eficaz em relação aos contextos anteriormente desenvolvidos nas escolas através da visão do outro, no caso do olhar eurocêntrico. Após 13 anos de implantação a lei 10.639/03 ainda não rompeu com o “costume” de se retratar o negro africano e o afro-brasileiro somente como escravizado e submisso ao opressor europeu. A alteração é gradual e necessita de orientação de como deve ser aplicada, pois toda mudança curricular envolve fatores externos que vão além do ambiente escolar, envolvidos em uma cultura intrínseca. A modificação do currículo escolar faz parte do processo de transição do conteúdo histórico a ser desenvolvido com o alunado, mas para que essa transformação ocorra é preciso também que se faça um preparatório do corpo docente para trabalhar essa temática em aula, pois a lei é de 2003, mas há professores que começaram a atuar antes deste período e para os que atuam após esta data também se faz necessária uma formação para que haja preparo e referencial teórico que embase as aulas ministradas sobre a cultura africana no Brasil e a formação da nossa identidade no elo Brasil Africano e África Brasileira. A responsabilidade dessa alteração de paradigmas históricos se faz presente no embate político social onde uma nova retratação entraria em conflito com uma “tradição” secular no contexto social brasileiro.
Após a leitura do texto referido para este trabalho fico com algumas indagações: quais os motivos para a lei 10.639/03 não ser aplicada? Há interesse da parte governamental para que não haja uma nova historiografia em relação aos negros africanos e aos afro-brasileiros? Os professores recebem orientações didáticas em suas formações para desenvolverem em aula o referido tema? Os currículos escolares no âmbito nacional já estão atuando na proposta da lei? Atualmente, há algum tipo de verificação nos diários escolares para averiguar o que esta sendo desenvolvido? As ações afirmativas e a valorização do povo negro onde estão? Os professores estão recebendo ou receberam material didático para embasarem as aulas? Há formações de professores que abordam essa questão? Cabe somente aos professores de História trabalhar com a proposta da lei 10.639/03? Existe racismo nas escolas do Brasil? Alguma pesquisa já foi feita com os alunos de matriz africana para verificar se os mesmos já se sentiram descriminados, injustiçados ou envergonhados nas aulas que tratam sobre a formação do nosso país? As perguntas são inúmeras e não pararam por aqui. Será preciso fazer mais pesquisas sobre o tema abordado para elucidar essas questões. Com base no texto resenhado e nas perguntas acima, trago questões pertinente quando se trata da negritude brasileira e da formação afro descendente do Brasil, o racismo, o preconceito e a discriminação na escola. Para esta analise utilizei o livro “Superando o Racismo na Escola”, organizado por Krabengele Munanga, Brasil, 2005. Em minha carreira como Professora de História já sofri perguntas dos alunos tais como “bah, mas a senhora não tem cara de Professora!”, “Sora, a senhora fala de religião de matriz africana só porque a senhora é preta?”, “Sora, porque a senhora usa esse “troço” (turbante) na cabeça, tá com piolho?’’, “a senhora acredita em saravá?” foram perguntas que fizeram refletir sobre o convívio escolar de uma pessoa afro-brasileira. Como nos diz Sant’ana (2005): “[…] não dá para fugir da curiosidade dos alunos e nem é aconselhável camuflar as respostas. O jeito é enfrentar a questão de frente. […]” (SANT’ANA, 2005: p.40). E para enfrentarmos essas questões é necessário contextualizar a história do negro no Brasil e a nossa relação de identidade com o continente africano. Acredito que a maioria dos alunos ainda tenha a visão estigmatizada do negro escravizado, sofredor, pacífico e submisso ao branco europeu, como também percebo que as informações referentes à cultura africana merecem maior elucidação, pois ainda é vista como algo pejorativo onde usar turbante, usar elementos da religião de matriz africana ou falar sobre a Mama África no ambiente escolar assim como em toda nossa sociedade parece algo que causa estranheza ou afronta a cultura nacional. A figura do Professor é primordial para elucidar essas questões de racismo, preconceito e discriminação, pois o aluno inicia na escola em idade de formação da sua personalidade e é na escola que temos o nosso maior convívio social com as diferenças.
Referências
SANT’ANA, Antônio Olimpio. “História e Conceitos básicos sobre o Racismo e seus derivados” IN MUNANGA, Kabengele (organizador). Superando o Racismo na Escola. 2ª Ed. Revisada. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
TORRES, Marcele Xavier. Márcia Serra Ferreira. “Currículo de História: Reflexões Sobre a Problemática da Mudança a partir da Lei 10.639/2003” IN MONTEIRO, Ana Maria (et al.). Pesquisa em ensino de História: entre desafios epistemológicos e apostas políticas. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Muad x Faperj, 2014.
Tatiane Mendes Rosa – 1 Professora de História Rede Pública. E-mail: prof.tatianehistoria@yahoo.com.br
[IF]
Un pago rural de la jurisdicción de Montevideo: Sauce 1740-1810 | Isabel BArreto, Adrian Dávila, Marisol López, Alejandro Poloni e Rodrigo Rampoldi
La presente obra colectiva es el resultado de una investigación realizada por el grupo de becarios del Centro Cultural y Museo Casa de Artigas, localizado en la ciudad de Sauce, Departamento de Canelones. Como señala la coordinadora del proyecto, la antropóloga Isabel Barreto, la intención fue dar cuenta de su proceso poblamiento sin caer en la centralidad del prócer nacional José Artigas (vinculado a la población por razones familiares). El libro se divide en cinco capítulos que están atravesados por el marco cronológico 1740-1810, o sea,el inicio de dicho proceso. Asimismo, es importante el esfuerzo de hacer visible al lector el modo de trabajo, describiendo las fuentes utilizadas, señalando sus límites y los recaudos necesarios para su abordaje.
En el primer capítulo, llamado “El partido o pago de Sauce en el período colonial”, Adriana Dávila Cuevas intenta rastrear las diferentes referencias al arroyo de Sauce y su área vecina, a través de una variada gama de fuentes que incluyen padrones, cartografía, planos de mensura, entre otras. En su contraste la autora da cuenta de las diferencias entre los límites señalados en los Isabel Barreto (coord.): Un pago rural en testimonios y en el ejercicio real de la autoridad en dicho espacio. Dávila contextualiza el proceso teniendo en cuenta que la zona integraba la jurisdicción de la ciudad de Montevideo, la cual a su vez se situaba en territorio fronterizo,disputado entre las coronas española y portuguesa y con presencia de diversos grupos de amerindios, lo cual incidió en la forma en que se pobló la región. Leia Mais
Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato, empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889-1921 | Laura Caruso
El libro de Laura Caruso, Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato, empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889- 1921, viene a llenar un vacío importante en la historia obrera argentina. Resultado de la tesis doctoral de la autora, el texto recoge la historia de los trabajadores marítimos, uno de los sectores más importantes del mundo del trabajo a comienzos del siglo XX.
La historia que presenta es la de “los trabajadores embarcados del puerto porteño, la de su labor cotidiana, sus organizaciones, luchas e itinerarios políticos”. No es un estudio solo de sus organizaciones gremiales y luchas sindicales sino que busca recoger varios aspectos de su experiencia histórica: su mundo laboral, sus vivencias cotidianas, sus posturas políticas, las maneras en que se vincularon entre ellos, con otros trabajadores, con las empresas y con el Estado argentino. Leia Mais
El sistema federal argentino. Debates y coyunturas (1860-1910) | Paula Alonso e Beatriz Bragoni
Paula Alonso y Beatriz Bragoni editan este libro dedicado a revisitar la temática del federalismo argentino entre la caída del régimen rosista y el centenario de la revolución de mayo. Para ello, nos proponen una revisión sensible del relato historiográfico prevaleciente en el país hasta hace unos pocos años, caracterizado en general por otorgar a la construcción del Estado nacional la capacidad de erosionar las autonomías provinciales y los arreglos federales de mediados del siglo XIX. De ese modo, los trabajos reunidos en El sistema federal argentino ofrecen una mirada atenta a la heterogeneidad de los contextos simbólicos, materiales y temporales en que se desenvolvieron los actores políticos y restituyen protagonismo a los espacios provinciales en los años formativos del Estado argentino.
La obra está compuesta por una introducción a cargo de las editoras, nueve capítulos, un epílogo elaborado por Natalio Botana y un apéndice documental. Es necesario señalar que tanto la apertura como el epílogo resultan extremadamente valiosos, estableciendo claves analíticas desde las cuales abordar los trabajos compilados y reconocer la manera en que dialogan con los conocimientos previos sobre el tema. Leia Mais
La revolución del orden. Discursos y prácticas política, 1897- 1929 | Laura Herrera Reali
El libro de Laura Reali, traducción al español de parte de la tesis doctoral que defendió diez años atrás en París, constituye una obra muy esperada en la historiografía uruguaya. La espera valió la pena porque se trata del enorme y minucioso trabajo de investigación que la autora realizó sobre la figura de Luis Alberto de Herrera. El análisis de Reali se sirve de herramientas provenientes de la historia intelectual, de historia de los intelectuales y de la historia política. Con ello consigue reconstruir a la vez el pensamiento político de Herrera y su producción historiográfica, pero también los complejos vínculos entre ambos. Gracias a esta investigación podemos percibir de cerca las prácticas y procesos intelectuales en los que se vio involucrado Herrera (traducción, y edición de libros, recepción de ideas, bibliotecas mentales, uso de citas, envío de cartas. etc.), pero a la vez también se puede saber algo más sobre las prácticas políticas del líder blanco en el primer tercio del siglo XX, en particular la construcción de vínculos político-electorales en ámbitos rurales y urbanos. Leia Mais
Uruguay. Historia Contemporánea | Gerardo Caetano
En el marco de un proyecto editorial de dimensión internacional sobre América Latina en la Historia Contemporánea, la Fundación MAPFRE publicó una serie de tres tomos dedicados al Uruguay bajo la dirección de Gerardo Caetano. Una obra de largo alcance temporal y amplia gama de representaciones que transita desde 1808 hasta 2010 por los senderos paralelos y complementarios de la política, la economía, las relaciones del Uruguay con el mundo, las cuestiones socio-demográficas y la producción artístico-cultural.
La propuesta global divide la obra en tres volúmenes/períodos coordinados por diferentes investigadores. Cada uno de estos libros ofrece cinco capítulos de autorías también distintas centrándose en las siguientes dimensiones: la vida política; el Uruguay y el mundo; la realidad económica; población y sociedad; la cultura y sus tendencias. Un total de quince textos que promedian las sesenta páginas cada uno, acompañados de una cronología final en cada volumen. Configurando un conjunto sistemático y para nada monótono en cuanto al nivel organizativo de los temas, que da por resultado una presentación actualizada de la historia uruguaya en diferentes campos complementarios de las narrativas históricas. Leia Mais
The European Union in Africa: Incoherent policies/ asymmetrical partnership/declining relevance? | Murizio Carbone
African and European affairs are intimately and historically entwined. The twentieth first century, however, has been characterized by the ascension of a relatively new player: the European Union (EU). It was not until the 1990s, with the advent of a Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP), which were added together with more traditional external policies, such as trade and development, that the EU acquired a “proper” foreign policy dimension.
With these characteristics in mind, “The European Union in Africa”, originally released in 2013 and re-released in paperback in 2016, is a collection of papers written by different experts on the field of European studies. It is edited by Maurizio Carbone1 and endeavours to evaluate the EU’s foreign policy in Africa in the twenty-first century. The volume aims to challenge traditional views enclosed in the subtitle: “incoherent policies, asymmetrical partnership, declining relevance?”. Leia Mais
Trabalhadores exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985) – CHOTIL (HO)
CHOTIL, Mazé Torquato. Trabalhadores exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985). Curitiba: Prismas, 2016. 346 p. Resenha de: ROSALEN, Eloisa. A história dos/as trabalhadores/as exilados/as durante a ditadura. História Oral, v. 19, n. 2, p. 207-211, jul./dez. 2016.
Muito já foi falado a respeito do exílio de brasileiros durante a ditadura (1964-1979), como se pode ver nas pesquisas realizadas por Denise Rollemberg publicadas no livro Exílio: entre raízes e radares, em que a autora busca contar o exílio a partir dos ângulos político, histórico, pessoal e emocional percorrendo os mais variados temas, como as vivências, as lutas, os conflitos, o trabalho, os estudos etc. (Rollemberg, 1999). Do mesmo modo, o livro Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino-americanos no século XX, organizado por Samantha V. Quadrat, apresenta discussões importantes a respeito das categorias e aspectos gerais dos/as exilados/as das ditaduras latino-americanas (Quadrat, 2011). Há também as pesquisas que se preocuparam em explicitar o contato das mulheres exiladas com o feminismo, os ambientes de debates feministas (círculos) que emergiram no exterior e a reformulação da esquerda (Abreu, 2010; Back; 2013; Pedro; Wolff, 2007).
Mas uma questão que merecia uma adequada atenção e ainda se encontrava um tanto escondida era a partida, a inserção e o retorno de exilados/as das camadas populares. Como pode ser visto nas obras supracitadas, a grande maioria dos/as exilados/as políticos/as da ditadura eram provenientes das camadas médias que viviam em grandes centros urbanos do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. No entanto, ao se concentrar somente nos sujeitos das camadas médias, a escrita da história exilar sempre negligenciou as experiências daqueles que não tinham tais condições.
Mazé Torquato Chotil, ao realizar a sua pesquisa de pós-doutorado e publicar a sua produção, com o título Trabalhadores exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985), tirou da invisibilidade as situações dos sujeitos trabalhadores provenientes das camadas populares que deixaram o Brasil durante o período, muitas vezes em condições muito mais precárias do que os sujeitos estudados até o momento dessa publicação. A autora esclarece que, entre os/as exilados/as, os/as trabalhadores/as estavam em muito menor número que intelectuais e estudantes de classe média; no entanto, mesmo se tratando de uma pequena parte, a análise das trajetórias e o levantamento das vivências dos/as exilados/as trabalhadores/as são de suma importância para uma escrita da história dos sujeitos com esse perfil e dos movimentos sindicais aos quais estavam vinculados.
Ao longo dos três capítulos, Trabalhadores exilados apresenta as várias facetas (com seus aspectos negativos e positivos) vivenciadas por aqueles sujeitos que não possuíam certo capital cultural e econômico. Para a análise, a autora utilizou-se de um vasto levantamento de fontes; entre as principais, entrevistas, livros de memórias (como aqueles do projeto Memórias do exílio1) e listas de banidos. Com esse inventário, foi possível verificar o perfil desses indivíduos, os tipos de exílio que tiveram e as principais características de suas experiências.
Juntamente com a obra resenhada aqui, as pesquisas citadas no início deste texto são devedoras de uma explosão de memórias, escritas no período de exílio ou ao longo dos anos 1980 e 1990. Autobiografias, livros de memórias e entrevistas construídas com base nas teorias e metodologias da história oral se tornaram as principais fontes para as pesquisas acerca do exílio, sobretudo porque possibilitaram perceber como as pessoas que o viveram registraram seu cotidiano, exteriorizaram suas experiências sobre o período e inventaram/construíram a si mesmas.
A partir dessas fontes, Mazé T. Chotil leva em consideração, para a estrutura de sua análise, o antes, o durante e o depois do exílio. Assim, ela pensou de maneira completa o fenômeno social do exílio e as trajetórias dos sujeitos. Dessa forma, no primeiro capítulo a autora caracteriza o perfil dos grupos de exilados/as antes da partida. No segundo capítulo, apresenta o exílio, com os lugares de destino, as inserções, as militâncias, as formações (linguísticas e universitárias), as experiências afetivas etc. O último capítulo se dedica ao retorno e à reintegração desses sujeitos no Brasil, bem como às suas contribuições aos movimentos sindicais.
Ao realizar a sua pesquisa, Mazé T. Chotil produziu um quadro comparativo entre a condição socioeconômica que cada exilado/a tinha ao deixar o Brasil e a que alcançou ao se estabelecer no país de acolhida. Essa dimensão, muito bem levantada pela autora, foi relacionada às dificuldades da viagem, aos lugares de destino, ao trabalho (antes, durante e depois do exílio), à militância política no exterior, ao aprendizado e à formação acadêmica, entre outras questões. Além disso, com o livro é possível visualizar a importância do capital cultural, principalmente no que diz respeito ao conhecimento de uma língua estrangeira, de que os setores médios dispunham e as camadas populares não. Esse último aspecto foi muito relevante para a inserção inicial desses sujeitos nos lugares de destino.
No entanto, o grande mérito do livro encontra-se na análise da articulação e da influência que os exilados tiveram no convívio com organizações sindicais no exterior. Ao levantar essa questão, a autora apresenta o importante papel que teve, para a história do sindicalismo brasileiro, a circulação de ideias e o contato com organizações sindicais de outros países. Ela também aborda a militância que vários desses sujeitos exerceram e suas articulações com as organizações brasileiras desempenhadas durante no exílio. Por isso, além de tirar da invisibilidade os trabalhadores exilados, a autora amplia as discussões sobre o exílio, dando uma nova (e importante) dimensão às experiências vividas no período.
O único demérito que pode ser encontrado nessa pesquisa está ligado a algumas ausências: a primeira delas é a de uma lista completa – como anexo, talvez – dos nomes dos sujeitos que pertenciam ao grupo dos/as exilados/as.
A segunda está relacionada a informações mais detalhadas acerca das fontes das quais foram retiradas certas informações. Muitas vezes, a autora acaba não citando suas fontes, o que deixa lacunas ao/à leitor/a especializado/a que busque extrair de sua pesquisa as informações necessárias para uma investigação futura. Uma dessas situações se dá já no início da obra, quando deixa de explicitar as fontes relacionadas ao projeto Memórias do exílio às quais teve acesso.
Uma ausência pertinente também diz respeito às análises ligadas ao gênero. No segundo capítulo, ao desenhar o perfil dos/as exilados/as, Mazé T. Chotil apresenta uma importante referência: 23% dos “seus” analisados eram mulheres. No entanto, nos capítulos restantes, nos quais analisa principalmente as inserções e as militâncias, a autora esquece-se de relacionar de maneira interseccional o gênero, as camadas populares e as distintas inserções.
Certamente, ser mulher, militante de esquerda e banida era muito diferente de ser homem, militante de esquerda e banido, o que resultou, obviamente, em processos de inserção diferentes. Um exemplo se encontra na omissão de análise sobre a ausência de mulheres narrando suas experiências ligadas ao movimento sindical.
Embora tenham sido sentidas algumas ausências, de um modo geral Mazé T. Chotil realizou um excelente trabalho, abrindo caminho para inúmeras outras pesquisas e questões que ainda precisam ser respondidas a respeito do exílio de trabalhadores/as durante a ditadura brasileira (1964-1985).
Nesse sentido, além de dar visibilidade aos/às trabalhadores/as e de narrar as experiências desses sujeitos, a autora deixa um amplo corpo bibliográfico e documental para os futuros questionamentos que ainda devem emergir sobre a temática.
Referências
ABREU, Maira L. G. de. Feminismo no exílio: o Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris e o Grupo Latino-Americano de Mulheres em Paris. 2010. 245 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Unicamp, Campinas, SP, 2010.
BACK, Lilian. A Seção Feminina do PCB no exílio: debates entre o comunismo e o feminismo (1974-1979). 214 p. Dissertação (Mestrado em História) – UFSC, Florianópolis, SC, 2013.
PEDRO, Joana Maria; WOLFF, Cristina Scheibe. Nosotras e o Círculo de Mulheres Brasileiras: feminismo tropical em Paris. ArtCultura, Uberlândia, v. 9, n. 14, p. 55-69, jun. 2007.
QUADRAT, Samantha V. (Org.). Caminhos cruzados: história e memória dos exílios latino- -americanos no século XX. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
ROLLEMBERG, Denise. Exílio: entre raízes e radares. Niterói: Record, 1999.
ROSALEN, Eloisa. Das muitas memórias dos exílios: uma leitura analítica dos livros Memórias do Exílio e Memórias das Mulheres do Exílio. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 28, 2015, Florianópolis. Anais eletrônicos… p. 1-15. Disponível em: <http:// www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1438608862_ARQUIVO_AnpuhNacional EloisaRosalen.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2016.
1 O projeto Memórias do exílio resultou nos livros Memórias do exílio e Memórias das mulheres do exílio, que buscavam publicar memórias de sujeitos exilados durante a ditadura brasileira. Trata-se de uma das primeiras coletâneas a trazer memórias dos/as exilados/as. Na primeira obra, de 1978, muitas memórias de homens foram publicadas, o que criou uma insatisfação entre as mulheres exiladas. Nesse sentido, no ano de 1980 (com memórias recolhidas ainda antes da Anistia, em 1979), foi lançado um segundo volume, dedicado somente às mulheres (para dar visibilidade às experiências exilares delas). Além da característica geral de divulgar memórias do exílio, a segunda obra foi organizada pelo Grupo de Mulheres Brasileiras de Lisboa, que tinha conotações feministas (Rosalen, 2015).
Eloisa Rosalen – Mestra em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: eloisa rosalen@hotmail.com.
História oral e arte – SANTHIAGO (HO)
SANTHIAGO, Ricardo (Org.). História oral e arte: narração e criatividade. São Paulo: Letra e Voz, 2016. 186 p. Resenha de: LIMA, Gabriel Amato Bruno de. Por uma história da arte e dos artistas com a história oral. História Oral, v. 19, n. 2, p. 213-216, jul./dez. 2016.
Certa vez, ao debater num curso de história oral a questão do retorno aos entrevistados, a colega com quem eu dividia a regência das aulas admitiu um impasse. Por entrevistar artistas, em especial “homens de teatro”, ela disse ter dificuldades em pensar formas de retornar aos entrevistados os resultados de suas pesquisas. Os textos acadêmicos, com suas exigências de linguagem e formato, pareciam a ela insuficientes, pois dramaturgos ou atrizes estão habituados a se relacionar com o mundo de forma inventiva. Restava a dúvida: como dizer aos entrevistados sobre a importância de suas contribuições? Pesquisando mais sobre as investigações que elegem a arte como tema e as entrevistas como método, descobri que há ao menos mais um pormenor no campo – desta vez, teórico. Ao resenhar livros sobre o tema, Elisabeth Stevens identificou um paradoxo das “entrevistas com e sobre artistas”.
Segundo a autora, elas “requerem que pessoas que escolheram meios não verbais para se expressar ainda assim expliquem a si mesmas, ou sejam explicadas, com palavras” (Stevens, 1990, p. 111, tradução livre). A própria decisão de entrevistar artistas já traria questões de fundo para o pesquisador: como não se limitar à busca por traduzir arte em narrativas de história oral? Como evitar o discurso pronto daqueles que criam narrativas públicas sobre si? Essas breves considerações sugerem a importância da coletânea História oral e arte: narração e criatividade, editada em 2016 pela Letra e Voz.
Pelo título, o leitor familiarizado com os debates da metodologia poderia intuir se tratar de novo capítulo da discussão acerca do estatuto epistemológico da história oral – se técnica, metodologia, disciplina ou arte. Mas não é nem à reivindicação da história oral como “arte multivocal” (Portelli, 2010), nem ao tratamento literário das entrevistas – a “transcriação” (Meihy, 2005, p. 195-203) – que o livro dedica sua atenção. Os textos de História oral e arte direcionam seus esforços para a afirmação de uma agenda de pesquisas em torno da produção, circulação e recepção dos trabalhos de músicos, artistas cênicos, pintores, escultores, arquitetos, literatos e cineastas (isso para nos limitarmos à enumeração das sete artes).
Organizado por Ricardo Santhiago, o livro é parte da coleção História Oral e Dimensões do Público, dirigida por Juniele Rabêlo de Almeida. Sua proposta editorial é uma relativização do diagnóstico elaborado pelo organizador três anos antes, segundo o qual “se não faltam profissionais que empregam o método da entrevista […] na abordagem das artes, poucos são os que engatam nesses estudos todo o lastro teórico e conceitual” da história oral (Santhiago, 2013, p. 166). Como indicam os oito artigos do livro, “só faltava abrir o jarro, parece, para que perspectivas instigantes sobre a relação entre história oral e as artes tivessem sua dimensão evidenciada” (p. 8). E, de fato, a leitura de História oral e arte ajuda a compor uma problematização dos usos possíveis dessa metodologia em pesquisas sobre o mundo artístico.
Um primeiro conjunto de estudos do livro se dedica à reflexão sobre o sujeito. Em Inovação e criatividade: a história de Dona Isabel Mendes, das panelas de barro às bonecas de cerâmica, Karen Worcman analisa a narrativa de uma ceramista cujo ofício foi reconhecido como arte pelo mercado. Segundo Worcman, a entrevista com Isabel evidencia como “um indivíduo alia seus desejos pessoais à tradição, destacando-se em sua criatividade e empreendedorismo ao ser estimulado por seu próprio contexto” (p. 22). Seu argumento indica um movimento de deslocamento de análise em história oral: das memórias coletivas às formas como sujeitos elaboram processos de recordação.
Em sentido análogo, está Tudo que o tempo deixou: as continuidades e rupturas da história bossanovista através da memória de Alaíde Costa, de Daniel Lopes Saraiva. O autor argumenta que a história oficial da bossa nova silencia os conflitos (inclusive de memória) entre os bossanovistas. Ela também invisibiliza a atuação de Alaíde Costa, uma “cantora negra, vinda do subúrbio carioca, que já era profissional à época quando a bossa nova surgiu” (p. 58). Sua memória, portanto, adiciona importantes nuances às narrativas sobre o movimento.
O enfoque nos sujeitos-artistas está presente também em O menino João das Neves: reminiscências de um amante da arte, de Miriam Hermeto e Natália Batista. Explorando a articulação entre experiência e expectativa na entrevista com o dramaturgo, as autoras identificam na memória de João das Neves os “múltiplos meninos-João, que se configuram temporalmente e constituem uma personalidade singular do velho-João” (p. 134). Outra característica instigante do trabalho são as considerações sobre a relação que se estabeleceu com João ao longo das entrevistas, que nos ajudam a localizar as subjetividades em jogo na produção de uma “história de vida”.
Um segundo grupo de textos questiona as coletividades e a construção de identidades. Em Circuitos operacionais das artes: memórias em torno da profissionalização dos artistas plásticos em Pernambuco nos anos 1960, José Bezerra de Brito Neto trata de uma entidade de artistas, concatenando memórias que formam um quadro de lembranças sobre identidades profissionais. O objetivo do autor é “analisar as fábricas políticas e culturais do status profissional no campo das artes plásticas de Pernambuco, na década de 1960” (p. 37), ainda que a especificidade da política cultural sob um Estado autoritário seja apenas apontada no trabalho. Também Haroldo Rezende, em Kukukaya: um grito de amor, um grito de dor, lida com questões identitárias ao analisar o circuito de apropriações de uma canção de Cátia de França. O autor observa que uma geração de músicos nordestinos dos anos 1970 criou uma rede de significados da memória, que é “refundada a cada execução, a cada gravação, a cada interpretação” da canção (p. 98).
Dayse Perelmutter, em A história oral como laboratório de sensibilização estética: memórias e marcas de artistas brasileiros de ascendência judaica, também se questiona sobre a identidade de artistas. A autora analisa “a maneira como o legado judaico foi transmitido e inscrito e a intensidade de sua reverberação na sensibilidade contemporânea de cada um” dos seus entrevistados (p. 107). Apesar do predomínio de debates teóricos, o texto é concluído com uma análise de depoimentos de artistas que articulam o par identidade/diferença em suas narrativas de história oral.
Por fim, dois textos trazem reflexões teóricas a partir da percepção da história oral como “prática reflexiva” (p. 9). Em História oral e história da arte: aproximações, Eduardo Veras analisa a produção de entrevistas com artistas e a fecundidade de questões próprias da história oral. Problematizar a “condição a posteriori das entrevistas” e “questionar a absolutização dos demais documentos de processo” criativo são, para o autor, contribuições da metodologia, em especial quando se considera “as entrevistas no contexto maior da longa tradição de convívio entre textos e obras de arte” (p. 146- 147). Ricardo Santhiago encerra a coletânea com A pergunta que não se faz: algumas ideias sobre história oral e canção. O ensaio levanta a possibilidade de se tratar canções como história oral, concluindo que “é o casamento entre ambas que pode promover uma compreensão mais profunda de determinado fenômeno, aliando a subjetividade narrativa e a subjetividade artística” (p. 168).
Em seu conjunto, os artigos de História oral e arte indicam possibilidades para pensarmos a história oral e o campo artístico a partir das ambiguidades dos sujeitos, das identidades profissionais e da análise dos produtos culturais e das narrativas sobre eles. Problemáticas peculiares costumam aparecer quando lidamos com grupos sociais diferentes em história oral – e não é diferente com os artistas. Evidenciá-las em pesquisas temáticas enriquece os debates, permitindo revisões de nossa prática e o alargamento de nosso repertório teórico – tarefa que o livro cumpre com êxito.
Referências
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de história oral. São Paulo: Loyola, 2005.
PORTELLI, Alessandro. Ensaios de história oral. São Paulo: Letra e Voz, 2010.
SANTHIAGO, Ricardo. História oral e as artes: percursos, possibilidades e desafios. História Oral, v. 16, n. 1, p. 155-187, jan./jun. 2013. Disponível em: <http://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=article&op=view&path%5B%5D=278&path%5B %5D=309>. Acesso em: 3 set. 2016.
STEVENS, Elisabeth. Art, artists, and oral history. Oral History Review, v. 18, n. 1, p. 111- 115, primavera 1990.
Gabriel Amato Bruno de Lima –Mestre em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador do Núcleo de História Oral da mesma universidade. E-mail: amatolgabriel@gmail.com.
O homem que amava os cachorros | Leonardo Padura
O livro de Leonardo Padura é uma daquelas obras de ficção que tem o poder de apequenar o historiador/leitor, pela sua narrativa de tirar o fôlego. Só mesmo uma obra despretensiosa quanto à História ciência poderia navegar tão livremente pelos personagens e contextos históricos. A narrativa, todavia, prende o leitor justamente pelo que traz de história e pelo respeito à história acontecimento, a história dos personagens entrelaçada no contexto em que se encontravam.
O respeito à história é garantido no que para o historiador é algo fundamental: no trato com as fontes bibliográficas e documentais, algo que consumiu do autor mais de cinco anos de trabalho, a colaboração de diversas pessoas em Cuba, no México, na Espanha, na Rússia, na França, na Dinamarca, no Canadá e na Inglaterra. Isso garantiu – conforme Padura em nota de agradecimento ao final do livro – a “fidelidade possível (…) aos episódios e à cronologia da vida de Leon Trotski” e uma “presença esmagadora da história em cada uma de suas páginas” (p.587), mesmo tratando-se de um romance. Leia Mais
Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII | Ronald RAminelli
A obra de Ronald Raminelli ajuda a entender um pouco mais o universo da América portuguesa e espanhola. Tecendo seu livro em duas partes, Raminellli apresenta discussões acerca da heterogeneidade das nobrezas do Antigo Regime, ou seja, o estamento nobre da sociedade em que, de acordo com o autor, exibe distinções e aproximações entre Metrópole e Colônia. Isto se dá, especialmente quando Raminelli analisa o envolvimento de chefes indígenas e negros frente às Ordenanças Militares, comparando, entre outros pontos, a percepção nobiliárquica de enobrecidos hispânicos coloniais e enobrecidos portugueses da Colônia.
Raminelli nessa obra apresenta um balanço historiográfico da pesquisa dos enobrecidos das possessões americanas, e em suas considerações reflete acerca de crioulos e mazombos, os quais almejam ingressar no estamento nobiliárquico da sociedade hispânica, em especial na hierarquia nobre do Vice-reino de Peru e Vice-reino da Nova Espanha. Quanto à América portuguesa, o autor intenta estudar os índios e mulatos e suas tentativas de obter, por meio de algumas guerras entre Portugal e Holanda no litoral colonial, algumas ascensões sociais e possíveis privilégios das ordenações. Leia Mais
A reprodução do racismo: fazendeiros/negros/ e imigrantes no oeste paulista/ 1880-1914 | Karl Monsma
Com A reprodução do racismo, o professor Karl Monsma (Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul) oferece uma abordagem inovadora das relações cotidianas entre imigrantes, negros e fazendeiros no período da abolição até a primeira década do século XX. No erudito livro, Monsma busca entender os processos humanos que não só produzem, mas reproduzem o racismo, apesar de grandes mudanças institucionais e/ou sociais ao longo do tempo. Ele usa o duplo contexto de abolição e imigração para mostrar um habitus racial em mudança e como os diferentes negociaram essa nova realidade, procurando as melhores condições e resultados possíveis, tanto para o indivíduo quanto para os grupos. Apesar do enfoque geográfico no oeste paulista – principalmente no município de São Carlos – a contribuição tanto historiográfica quanto metodológica do livro vai muito além desse contexto.
O livro se divide em duas partes principais. Monsma começa com uma análise teórica e hemisférica do racismo como fenômeno histórico. Primeiramente, ele navega em uma vasta literatura sociológica, antropológica e histórica para teorizar os conceitos “raça,” “racialização,” e “racismo.” Para Monsma, abordagens do conceito bourdieusiano habitus, que tomam em conta as contradições e inconsistências presentes no próprio habitus, parecem as mais produtivas, abrindo novos caminhos para combinar o conceito abstrato com observações históricas do cotidiano. Mudanças sociais ou estruturais desestabilizam o habitus racial numa sociedade—mas por que a persistência da dominação racial? Para Monsma, o racismo se reproduz em tais contextos dada a intersecionalidade do habitus racial com outros contextos humanos: redes socais, instituições, ideologias, etc. Desconsiderando o resto do livro, esse capítulo teórico já seria de leitura importante para qualquer estudante ou pesquisador interessado em tais aspectos da sociedade. Leia Mais
Corpos de ordenanças e chefias militares em Minas Colonial: Vila Rica (1735 – 1777) | Ana Paula Pereira Costa
Os trabalhos que tem como objeto de pesquisa os “militares” ou as “instituições militares” tem ganhado cada vez mais espaço no meio historiográfico brasileiro das últimas décadas, consolidando-se como um importante campo de estudos. Contudo, as análises sobre essa temática ainda sofre certa resistência por parte da comunidade acadêmica nacional. Alguns dos motivos que levam os pesquisadores a não enveredar por essa área estão relacionados com a intervenção e a participação dos membros dessas instituições na organização política do Estado brasileira ao longo de sua história republicana (como, por exemplo, o golpe de Estado que pôs fim ao regime monárquico imperial e proclamou a República em 1889; o período ditatorial varguista, também apoiado por setores das forças armadas, conhecido como “Estado Novo” e a recente experiência da Ditadura Civil-Militar de 1964-1985).
Também pode se relacionar a escassez de análises sobre esse objeto específico à compreensão que alguns historiadores ainda possuem em relação à chamada “História/Historiografia Militar”, cuja descrição é comumente associada a uma história factual, sem problemáticas, limitando-se apenas a descrever e narrar determinadas batalhas bem como a vida dos “grandes chefes militares”. Em suma, uma história que estaria relacionada com a chamada História Política praticada, sobretudo, ao longo do século XIX até meados do século XX. Leia Mais
On Inequality – FRANKFURT (M)
FRANKFURT, Harry G. On Inequality. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015. 102p. Resenha de: FAGGION, Andrea Luisa Bucchile. Manuscrito, Campinas, v.39 n.3 July/Sept. 2016.
Frankfurt begins by making a familiar point against the imposition of strict economic equality: “Inequality of incomes might be decisively eliminated […] just by arranging that all incomes be equally below the poverty line” (p. 3). We should not infer from this, however, that Frankfurt reduces egalitarianism to economic egalitarianism, a trend of thought that argues for a brand of equality according to which everybody enjoys the same wealth.
Moreover, Frankfurt’s refusal to grant moral relevance to equality as such does not entail that he does not regard poverty as a moral problem. This is why he replaces egalitarianism with a doctrine of sufficiency – “the doctrine that what is morally important with regard to money is that everyone should have enough” (p. 7) – which also proscribes “economic gluttony” (p. 3). According to Frankfurt, egalitarianism misconstrues the real challenge of reducing “poverty and excessive affluence” (p. 4). Indeed, Frankfurt suggests that most people agree with him on this; what we really find repugnant when we express disapproval of inequality is another feature of the situation: the fact that some people have too little (p. 40).
However we determine the concept of sufficiency, it is not a comparative concept. In other words, according to Frankfurt, the amount of money available to others is not directly relevant to determining what is needed for a certain kind of life (p. 10). Thus, instead of focusing on alleged conflicts between the pursuit of equality and freedom, Frankfurt emphasizes what he considers a form of moral disorientation caused by the pursuit of equality. The pursuit of equality as a good in itself distracts us from what is truly significant (p. 13).
Frankfurt is willing to admit that the concept of having enough is hardly precise: “[I]t is far from self-evident precisely what the doctrine of sufficiency means, and what applying it entails” (p. 15). When he returns to the question “What does it mean for a person to have enough?” he notes that the assertion that a person has enough entails only that a requirement has been met, not that a limit has been reached. In other words, it’s not bad to have more than enough (p. 47).
Certainly, the main problem is how to specify the content of such a requirement, especially if one keeps in mind that this content entails claims of justice to be addressed by public policies. What counts in this specification? Is it the attitudes people actually have about the issue, or the attitudes it would be reasonable for them to have (p. 99, n. 15)? If the latter, what criterion of reasonableness would be useful here?
Frankfurt rejects the possibility that sufficiency is related to having enough to avoid misery (p. 49), which would be the only easy way to determine a pattern of sufficiency. The above questions are thus as difficult as they are important. They are also questions, however, that go beyond the limits of Frankfurt’s essay. In this work, Frankfurt merely warns against hastily adopting an inadequate alternative in the face of the difficulties associated with the doctrine of sufficiency (p. 15).
Frankfurt emphasizes that his interest is analytical rather than political (p. 65). In the end, however, it will seem obvious to some that Frankfurt’s doctrine of sufficiency risks ultimately being much less economically feasible than egalitarianism if developed as a theory of justice – even if Frankfurt is right about the fact that this does not count as a reason to adopt egalitarianism. Indeed, this does not even count against the claim that what lurks behind our disapproval of inequality is really the ideal of sufficiency.
With this noted, what really matters here is whether Frankfurt is right about its being unreasonable for someone to be unsatisfied about her life only because her standard of living is bellow that of others (p. 73). In other words, is equality an important component of sufficiency itself? Would it be unreasonable to be unsatisfied with your life if everyone else were at least ten times wealthier than you? Some will understandably doubt Frankfurt’s take on this issue.
Still on the topic of economic equality, Frankfurt considers arguments based on marginal utility, according to which economic equality would maximize the aggregate satisfaction of members of society. The idea is that the marginal utility of money necessarily diminishes for the wealthy, and thus that the redistribution of income and wealth provides money to those for whom it has more marginal utility. An argument along these lines is presented by Abba Lerner, who is quoted by Frankfurt as follows:
The principle of diminishing marginal utility of income can be derived from the assumption that consumers spend their income in the way that maximizes the satisfaction they can derive from the good obtained. With a given income, all the things bought give a greater satisfaction for the money spent on them than any of the other things that could have been bought in their place but were not bought for this very reason. From this it follows that if income were greater the additional things that would be bought with the increment of income would be things that are rejected when income is smaller because they give less satisfaction; and if income were greater still, even less satisfactory things could be bought. The greater the income, the less satisfactory are the additional things that can be bought with equal increases of income. That is all that is meant by the principle of the diminishing marginal utility of income. (qtd. on p. 28)
Frankfurt’s first reply to this kind of argument is grounded in his concept of a “threshold effect”. The satisfaction obtained via the purchase of the last item in a series may be greater than the satisfaction obtained by purchasing the other items because the last item represents the crossing of a threshold. The experience of collectors illustrates this point. Frankfurt’s second reply involves the refusal to accept Lerner’s assumption that if a consumer refrains from obtaining a certain good until his income increases, this necessarily means that he rejects it when his income is lower (p. 32). According to Frankfurt, even where a consumer does not save money to purchase a certain good, this doesn’t necessarily mean that he rejects that good and prefers the good he actually purchases. The consumer may regard saving for a particular purchase as pointless because he believes that he will not be able to save enough money within an acceptable period of time (p. 97, n. 10).
Thus Frankfurt claims that it is not the case that economic egalitarianism maximizes aggregate utility in society. Indeed, Frankfurt believes that an egalitarian distribution may minimize aggregate utility in certain circumstances: “[W]hen resources are scarce, so that it is impossible for everyone to have enough, an egalitarian distribution may lead to disaster” (p. 36). Frankfurt’s example is a situation in which there is enough medicine and food to enable some members of a population to survive but where an equal distribution of these resources would result in nobody’s receiving enough, and thus in everybody’s death (p. 34). This line of thought is reminiscent of theories of justice according to which justice is meaningless in contexts of extreme scarcity and abundance (see, for instance, Hume, 2006, p. 93-94). Frankfurt is thus open to the objection that it is not only egalitarianism but indeed any conception of justice that would be inapplicable in such circumstances.
With the above noted, the ideal of equal respect and concern is much more relevant to contemporary theories of justice than strict economic equality. The most important part of Frankfurt’s book is therefore his analytical attempt to illustrate what he takes to be a conceptual confusion at the root of this ideal:
Enjoying the rights that it is appropriate for a person to enjoy, and being treated with appropriate consideration and concern, have nothing essentially to do with the consideration and concern that other people are shown or with the respect or rights that other people happen to enjoy. Every person should be accorded the rights, the respect, the consideration, and the concern to which he is entitled by virtue of what he is and what he has done. The extent of his entitlement to them does not depend on whether or not other people are entitled to them as well. (p. 75)
Frankfurt’s point – perhaps echoing Aristotle – is that philosophers like Dworkin (see, for instance, 1985 and 2011) have mistaken the moral requirement to be impartial or avoid arbitrariness for the moral requirement to treat people with equal respect and concern: “To avoid arbitrariness, we must treat likes alike and unlikes differently. This is no more an egalitarian principle than it is an inegalitarian one” (p. 101, n. 3).
Importantly, Frankfurt is not denying that there are rights that belong to every human being by virtue of their humanity. Where this is the case, however, your having the right in question is not grounded in a principle of equal treatment. Your right is explained by your having a characteristic that others also have. In other words, impartiality requires us to treat equals as equals, but it doesn’t require of us that we view everybody as equal.
According to standard contemporary conceptions of justice, equality is not to be embraced no matter what the circumstances. On the standard egalitarian view, equality is more like an original position, for which justifications are unnecessary and from which divergences must be justified. Nonetheless, if Frankfurt is right, equality is not this species of moral position by default, or a constitutive moral principle. It is necessary to argue for the requirement of equal treatment (by showing that there are no relevant differences between two persons, for instance) (p. 77-78).
To sustain his thesis, Frankfurt challenges a scenario made famous by Berlin. It’s worth reproducing the passage quoted by Frankfurt in full:
The assumption is that equality needs no reason, only inequality does so… If I have a cake and there are ten persons among whom I wish to divide it, then if I give exactly one tenth to each, this will not, at any rate automatically, call for justification; whereas if I depart from this principle of equal division I am expected to produce a special reason. (qtd. on p. 80)
Frankfurt claims that it is not the moral priority of equality that explains why we should divide Berlin’s cake into equal shares. In Frankfurt’s view, the key feature of the situation is the lack of relevant information. If a distributor has no information at all about those among whom she is to distribute something, this amounts to a situation in which each person is identical to the others. This is why the cake should be divided into equal shares:
It is the moral importance of respect, and hence of impartiality, rather than of any supposedly prior or preemptive moral importance of equality, that constrains us to treat people the same when we know nothing that provides us with a special reason for treating them differently. (p. 81)
It is true that Frankfurt’s point here looks like a dispute about words, since both Frankfurt and the egalitarian agree that Berlin’s cake should ultimately be divided into equal shares. Yet the implications of Frankfurt’s point are highly relevant. If equality on its own cannot justify, say, a rights claim, then the discussion is really about entitlement. The concept of entitlement is generally neglected in contemporary philosophical debates about social justice. It’s as if the resources discussed in these debates appeared from nowhere, such that the only relevant issue is whether there is justification for departing from a policy of equal distribution – such as differences between conceptions of the good, as in (Dworkin, 1985), or the fact that the “cake” diminishes when divided into equal shares, as in (Rawls, 1999). Against this background, Frankfurt’s essay is a breath of fresh air for contemporary philosophy.
References
DWORKIN, RONALD. A Matter of Principle. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 1985. [ Links ]
______. Justice for Hedgehogs. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2011. [ Links ]
HUME, DAVID. Moral Philosophy. Ed. Geoffrey Sayre-McCord. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006. [ Links ]
RAWLS, JOHN. A Theory of Justice: Revised edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999. [ Links ]
Andrea Luisa Bucchile Faggion – Universidade Estadual de Londrina – Filosofia Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445 Km 380 | Campus Universitário Cx. Postal 10.011 | CEP 86.057-970 | Londrina – PR, Londrina 86057-970 Brazil. E-mail: andreafaggion@gmail.com
Realizing Reason: A Narrative of Truth and Knowing – MACBETH (M)
MACBETH, Danielle. Realizing Reason: A Narrative of Truth and Knowing. Oxford: Oxford University Press, 2014. 494 p. Resenha de: VALENTE, Matheus; DAL MAGRO, Tamires. Manuscrito, Campinas, v.39 n.3 July/Sept. 2016.
Danielle Macbeth’s Realizing Reason is a tour de force about the history of mathematical knowledge from ancient Euclidean geometry to the late 19th century and early 20th century developments on mathematical logic. It is an ambitious work dealing with a vast array of subjects and philosophical themes while still being able to consistently display a high standard of erudition and originality in areas as diverse as the Philosophy of Mathematics, Language, Science and Mind.
The narrative of the book is complex and multifaceted, but its main thread is two-fold. On one hand, Macbeth aims to develop a novel account of “our being in the world” which gives room for the existence of normative facts in a world which is fully explained by mechanistic causal laws – a profound philosophical dilemma that stands at the center of many authors’ works such as Kant, and, more recently, Macbeth’s former Pittsburgh colleague, John (McDowell, 1994). On the other hand, Macbeth argues for a reparation on the perspective with which philosophers should see the practice of mathematics and the mode through which it attains knowledge. The author’s objective is primarily to show how the practice of mathematics, in each of its historical stages from the Greeks to the present, by means of its characteristic linguistic notations, enabled thinkers to literally amplify their knowledge, as opposed to merely making explicit what was already implicit in the information one had begun with. Furthermore, Macbeth aims to prove that this much is true even of mathematics as it is currently conceived, i.e. “the practice of reasoning deductively from concepts” (p. 5). One of the author’s main challenges is to show how there can be such a thing as an “ampliative deduction”, and in order to achieve this feat, Macbeth must break through Kant’s conceptual distinctions to open the way for the idea that the knowledge attained by some deductions, which is, per definition, analytic, can, at the same time, be synthetic.
Both issues dealt with in the book – the apparent incompatibility of reasons in a world of causes and the notion of ampliative mathematical knowledge – are foundational questions in Philosophy and each can be traced to the early beginnings of philosophical practice itself. It is noteworthy that Macbeth sets out to tackle both at the same time while also showing how the resolution of one question is tied to the resolution of the other (and vice-versa).
The book is divided into three main sections, each composed by three chapters, which chronologically tell the story of reason’s development and unfolding from the Ancient Greek’s mathematical practice to the present. The first section is entitled Perception, alluding to Macbeth’s claim that in the early stages of our intellectual development we have our “primary mode of intentional directedness in perception” (p. 17). This corresponds to a time before the Cartesian turn in the sixteenth century, where “pure intellection”, as opposed to the perception of an object, “becomes the paradigmatic mode of intentional directedness and the model even for perception” (p. 18). This intellectual revolution, which led us from bare perception to pure intellection, is the main theme weaving together the three first chapters.
In Chapter 1, Macbeth presents a story detailing how perceptually aware beings, like ourselves, have managed to progress from our ancestors’ rudimentary capacities of imitation and of synthesizing procedural knowledge to sophisticated self-consciousness and rationality. Crucial to Macbeth’s story is a profound anti-Cartesian stance, according to which we should not make a division between the merely physically describable stuff that is “outside” and the normatively significant, meaningful experiences that are “inside” (p. 20). In explicit opposition to Robert (Brandom, 1994), Macbeth suggests jettisoning altogether the idea that a world described by means of causes stands in contrast to a world described by means of reasons, as if these concepts were not applicable to things of the same nature. Just as nature acquires biological significance as animals evolve in their environments, e.g. a bunch of leaves becomes food, so does nature become socially and culturally significant as intelligent beings begin cooperating, sharing goals and engaging in practices and games among themselves. The last step in that progression is the transformation of social beings into “properly rational beings capable of distinguishing in principle between how things seem and how things are” (p. 56); that is, the acquisition of the capacity to step back from our natural inclinations and to realize that “anything we think can be called into question, and improved upon” (p. 49). This final stage of intellectual development, Macbeth claims, depends fundamentally on the coming into being of a natural language, which is, albeit contingent and historical, not an obstacle to objectivity, but constitutive of our access to it.
Notwithstanding their importance, natural languages are intrinsically grounded on our perceptual means of access to the world, and, for that reason, do not reach far enough so as to provide us with knowledge of all there is to be known about in the world. In chapter 2, Macbeth delves deeply into Ancient Greek mathematics – exemplified by Euclidean diagrammatical practice, a methodology that would be the unchallenged orthodoxy in Western mathematical thought for centuries until the Renaissance – in order to make clear how the unfolding of reason takes us ever more far from our immediate empirical reality. Macbeth’s central claim in this chapter is that, in Euclidean diagrammatical practice, we do not reason on diagrams, but in them; in other words, Macbeth claims that an Euclidean diagram does not merely describe a certain course of mathematical reasoning (as, for example, we could describe a mathematical demonstration on natural language), it “formulates the contents of concepts” in a mathematically tractable way and, for that reason, constitute – as opposed to merely picturing or describing – the reasoning itself. As Macbeth fleshes out that important distinction, it becomes ever clearer how demonstrations in Euclidean geometry managed to amplify our knowledge, often giving rise to discoveries that were not even implicit in what the demonstration had begun with. Differently from an Euler or Venn diagram (or any other types of “picture proofs”), in an Euclidean diagram “what is displayed are the contents of concepts the parts of which can be recombined with parts of other concepts”. So, for example, a certain mark in a diagram may be seen as either the side of a triangle or the radius of a circle, depending on the perspective that the reasoner impinges on the drawing. The possibility of this “gestalt-shift” (absent in, e.g. Euler and Venn diagrams) is what explains how figures often pop-up in an Euclidean proof – such as when an equilateral triangle appears as if from nowhere in the proof I.1 of the Elements – and thus, how “something new can emerge that was not there even implicitly”.
Chapter 3 leads us to the radical departure from Ancient thought that happens during the Renaissance with the rise of Modern philosophy, physics and mathematics. Macbeth is particularly concerned with Descartes’ influence in the emergence of a new mathematical practice by means of the introduction of the language of elementary algebra. The algebraic method adds a new degree of abstraction to the activity of reasoning, Macbeth argues, since its intentionality is not object-oriented, but directed to the merely potential relations which arbitrary objects may instantiate (p. 132). For example, one begins to interpret geometrical objects in a computationally tractable way, as the arithmetical relationship of some lengths (e.g. a square is some quantity multiplied by itself). By abstracting away from objects, and, thus, from any subject matter in particular, Descartes’ language allows “pure intellection to become (at least in intention) an actuality” (p. 149). Similarly to the language of Euclidean geometry, Descartes’ algebraic method is not to be conceived as merely a tool through which a course of reasoning can be described or pictured; instead, these symbolic languages present content in a mathematically tractable way, and, because of that, are the matter by means of which reasoning itself is constituted, or, to use Macbeth’s terminology, reasoning comes into existence in those symbolic languages, as opposed to being merely described on them.
The next triad of chapters is entitled “Understanding”, referencing the fact that Kant’s legacy to Philosophy entails that “pure reason is not and cannot be a power of knowing as Descartes had thought. Not reason but only understanding is a power of judgement, of knowing” (p. 151). This is precisely what chapter 4 is concerned about, more particularly, Kant’s Copernican revolution, by means of which our epistemic access to reality is turned upside-down, requiring “the philosopher […] to focus not unthinkingly on the object of knowing but self-consciously on the power of knowing, on what reason requires of objects as objects of knowledge” (p. 199). Macbeth’s argues that, as groundbreaking as Kant was, his thought was still pretty much restrained by the scientific, and, most importantly, the mathematical practice of his day, which, absent the revolution that would come in the nineteenth-century, could not ground a proper account of mathematical truth and knowledge – that is, an account of mathematical truth and knowledge answerable to things as they are in themselves, as opposed to things as they merely appear to us.
Chapters 5 and 6 present the new form that mathematics has come to be clothed in by means of the collective effort of intellectuals throughout the nineteenth-century. By means of the work of mathematicians such as Bolzano, Galois and Riemann, Macbeth tells us the story of how mathematics, after twenty-five centuries of development, finally becomes a self-standing discipline, “the work of pure reason wholly unfettered by the contingencies of our form of sensibility” (p. 244). However, not all is well with that sudden reshaping of mathematical practice, since, if mathematics answers to nothing outside of its own activity, as it came to be seen, it starts to look as if mathematics is nothing more than a linguistic game, completely disconnected of any struggle for objectivity.
Indeed, for much of the twentieth-century, Macbeth will go on to argue, a cluster of theses based on (i) the distinction of logical form and semantical content, (ii) a truth-theoretical account of meaning and (iii) a primacy of mathematical logic as the ruler of all formal disciplines will go on to become the orthodoxy in the understanding of mathematics and of its practice. This is, according to Macbeth, a very unfortunate event, since it seems force on us a picture of logic and mathematics as being merely formal disciplines, and, for that reason, completely deprived of intentional properties. Even worse, and this is one of the central points of the book, this is the picture that intellectuals born during the twentieth-century (even the best of them), have accepted without subjecting it to scrutiny, i.e. a picture of reasoning as being purely mechanistic, “nothing more than the rule-governed manipulation of signs with no regard for meaning” (p. 293).
In the last group of three chapters, aptly entitled “Reason”, Macbeth purports to analyze the philosophical problems that are engendered by the last great revolution in mathematics, i.e. when it came to be seen as “a practice of deductive reasoning on the basis of defined concepts” in nineteenth-century Germany. Most pressing to the author’s concerns is showing that this new conception of the mathematical practice is not purely formal in the sense that it came to be seen by philosophers, but, on the contrary, that it is intrinsically meaningful and often enables us to attain knowledge in the strongest sense of that concept, that is, objective knowledge about things in themselves.
In chapter 7, Macbeth takes the reader to a confrontation, for the first time, with Gottlob Frege’s Begriffsschrift, a mathematical notation that “was explicitly designed as a notation within which to reason deductively from concepts in mathematics”. This long chapter goes at great lengths to explain Frege’s concept-script because, as Macbeth defends, one must understand the notation in order to be able to see the mode of reasoning embodied within it. The pinnacle of the chapter, however, is Frege’s proof of theorem 133 in Part III of the Begriffsschrift, which Macbeth presents as being a real example of a deduction that establishes a real extension of one’s knowledge. The particularity of that proof is the book’s central concern until its very end, namely, the fact that it joins content from two definitions, as opposed to merely joining content from two axioms. That operation of bridging the content from two previously unconnected definitions is precisely what enables that mathematical practice to amplify one’s knowledge. Just as figures often pop up in a Euclidean diagram, “as if from nowhere”, some deductive proofs link concepts that were independently introduced and which, absent that proof, would display no immediate connection among themselves.
That much gets clearer throughout chapter 8, where Macbeth argues that definitions, although they are, by nature, stipulative, are not epistemically vacuous, since they serve to articulate the inferential content of particular concepts, and that is something one might – objectively – succeed in doing correctly or not. Definitions, however, do not amplify one’s knowledge by themselves; it is only in the context of a proof that they are able to forge new links within one’s conceptual repertoire:
proofs without definitions are empty, merely the aimless manipulation of signs according to rules; and definitions without proofs are, if not blind, then dumb. Only a proof can actualize the potential of definitions to speak to one another, to pool their resources so as to realize something new. (p. 387)
The conception of reasoning that we reach by the end of the book is, contrary to the Early Modern simulacrum that we have unreflectively inherited, is neither reductive nor mechanistic. It does not purport to reduce the content of concepts to primitive notions, instead, those contents are displayed in a mathematically tractable way. It is also not mechanistic, Macbeth claims, since the knowledge attained by a deductive proof may be, at the same time, both analytic and synthetic – a fact that makes Kant’s dichotomies stand in need of a radical revision.
The book’s narrative comes full-circle by the end of chapter 8 and throughout chapter 9, where Macbeth studies the case of physics, about which she draws a parallel between the nineteenth-century revolutions in mathematics and the twentieth-century revolutions in theoretical physics. The underlying theme is that mathematics and physics have both recently undergone profound revolutions, while philosophy “has, until now, remained merely Kantian” (p. 453). The final blow on the Cartesian view that we have inherited from the early moderns involves disentangling the Sinn/Bedeutung distinction from that of concept and object (a disentanglement that was out of reach for Kant). Only by clarifying those distinctions, we can understand “how a radically mind-independent reality and an unconditioned spontaneity are not only compatible but in the end made for each other” (p. 451).
Realizing Reason suffers from a flaw that is an almost inevitable consequence of its virtues. Macbeth’s overambition, i.e. her attempt to leave no stone unturned, leads to her book having a certain bric-à-brac quality, since the thread that unites her narrative throughout highly distinct subject matters is usually, but not always, evident. Regardless of that, this book presents innovative theses in a multitude of areas, of special interest being its analysis of Frege’s work, which sees his accomplishments from a whole new perspective and as giving rise to a heterodox conception of ampliative deductive knowledge. All in all, Realizing Reason is a recommended read for anyone with interests in the broad set of areas encompassing the philosophy of mathematics, mathematical practice, history of mathematics and logic, and who is interested in seeing how the issues on those areas communicate with issues in the philosophy of mind, language and the history of philosophy.
References
BRANDOM, R. B. Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment. Harvard University Press. Link no philpapers: http://philpapers.org/rec/BRAMIE, 1994. [ Links ]
MCDOWELL, J. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press. Link no philpapers: http://philpapers.org/rec/MCDMAW, 1994. [ Links ]
Matheus Valente – 1Universidade Estadual de Campinas 57 Monroe St, Campinas 13083-872, Brazil, matheusvalenteleite@gmail.com
Tamires Dal Magro – Universidade Estadual de Campinas Rua Cora Coralina, 100, Campinas 13083-872, Brazil, tamiresdma@gmail.com
Depois da fotografia: uma literatura fora de si | Natalia Brizuela
Depois da fotografia: uma literatura fora de si, livro escrito na forma de ensaio, busca analisar e problematizar a questão das fronteiras entre as diferentes linguagens, notadamente a literatura e a fotografia. Natalia Brizuela, professora da Universidade da Califórnia, em Berkeley, já é conhecida no Brasil por sua publicação Fotografia e Império: paisagens para um Brasil Moderno (Cia das Letras, 2012), em que aborda questões atinentes à produção e circulação de fotografias no Brasil do século XIX.
Em Depois da fotografia, temos a proposta de pensar as fronteiras entre a literatura e as outras artes, fazendo-nos perceber como os limites entre elas, atualmente, podem ser entendidos como uma zona porosa, que permite diversas contaminações. A proposta de Brizuela leva-nos a conhecer o trabalho de diversos escritores latino-americanos (Mario Bellatin, Diamela Eltit, Nuno Ramos e Juan Rulfo) e como, em suas obras, a fotografia aparece em meio à escrita. Leia Mais
Tratado de ateologia | Michel Onfray
O fenômeno é cotidiano. Acontece conosco, com cada um de nós, acontece com todos os que estão à nossa volta. Na medida em que a realidade se torna insuportável demais, nos refugiamos em fantasias diversas que nos apaziguem ou pelo menos dotem de sentido o nosso sofrimento. Mas não condenamos sumariamente ao suplício, ao ostracismo ou à morte aqueles que não compartilham com os nossos próprios mecanismos psicológicos de fuga. Como, então, surgem e se estabelecem as religiões monoteístas, que fazem exatamente esse mesmo movimento, elevar à alucinação universal e obrigatória aquilo que foi um dia delírio de um só ou de um pequeno grupo? Quais são as consequências devastadoras desse modelo de pensamento, desse civilizacional procedimento agressivo, “evangelizador”? São essas justamente as questões abordadas em Traité d’athéologie pelo filósofo francês Michel Onfray,1 autor de diversos outros livros de sucesso tanto no cenário filosófico atual quanto fora dele, em função, certamente, tanto da maneira eloquente e contemporânea de expressão escrita quanto da temática prevalente de seus escritos, que abordam questões filosóficas atuais mantendo tanto a rigorosidade conceitual quanto a pertinência temática. Seus mais de cinquenta textos, que versam sobre uma grande gama de temas diversos, embora o leitor atento possa perceber uma ligação simpática entre eles, passando por assuntos como materialismo hedonista, afetividade e erotismo, subjetivação, tragicidade da existência, gastronomia filosófica, estão sempre retomando a necessidade da filosofia de se fazer presente na existência cotidiana dos seres humanos em vez de constituir uma linguagem técnica acessível exclusivamente a iniciados e eruditos. Com leituras e interpretações de Nietzsche, conserva desse a combatividade filosófica e a beleza de estilo. Por vezes seu desenvolvimento argumentativo leva a conclusões que podem escandalizar aos mais sensíveis, pois esta é a tarefa da (sua?) filosofia. Com seu Tratado de ateologia, com sua defesa de um ateísmo radical e sem concessões, não será diferente. Leia Mais
O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira – MALATIAN (FH)
MALATIAN, Teresa. O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira. São Paulo: Alameda, 2015. Resenha de: NACHTIGALL, Lucas Suzigan. Faces da História, Assis, v.3, n.2, p.261-264, jul./dez., 2016.
A seguinte resenha visa analisar o livro O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira, da historiadora Teresa Malatian, cujo objetivo central é abordar a participação de Arlindo Veiga dos Santos na Frente Negra Brasileira, desde sua fundação em 1931 até sua dissolução com o estabelecimento do Estado Novo em 1937. Ademais, o livro, lançado no ano passado, aborda também a formação do intelectual e sua atuação em movimentos sociais pelo fim da segregação e pela inclusão do negro na sociedade brasileira.
Sua constituição de pouco mais de trezentas páginas é dividida em vários pequenos capítulos, nos quais são dissertados aspectos da vida e da obra de Arlindo Veiga dos Santos e, consequentemente, das lutas, jornais e associações negras do final da década de 20 e 30.
Após um breve, porém pertinente, prefácio da professora Maria de Lourdes Monaco Janotti2, o livro segue trabalhando a história de Arlindo Veiga dos Santos, ferrenho militante negro, católico e monarquista, que atuou vivamente no Estado de São Paulo durante as décadas de 20 e 30, militando a favor da inserção do negro e pela instauração, no Brasil, de uma monarquia corporativista católica ultraconservadora, distinta dos monarquistas tradicionais, reformistas e liberais.
O livro inicia com a narração dos primeiros anos da formação de Arlindo Veiga dos Santos e seu irmão, Isaltino Veiga dos Santos, ressaltando sua origem de uma família humilde, cujos pais eram cozinheiros, mas que, apesar de terem poucos recursos financeiros, faziam questão de que seus filhos homens estudassem e tivessem uma boa educação.
Posteriormente à conclusão de seus estudos no Colégio São Luiz, de ensino caracteristicamente jesuíta, Arlindo Veiga dos Santos conseguiu, junto de seu irmão, estudar na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo (hoje parte da PUC-SP), onde concluíram seus estudos.
Durante a faculdade, bem como no colégio que estudara anteriormente, Arlindo Veiga dos Santos recebeu uma formação em filosofia e em oratória, que foi de grande relevância para sua carreira. Foi também neste período que entrou em contato com o neotomismo, vertente filosófica construída a partir do pensamento de Tomás de Aquino e que, politicamente, advogava por uma visão de mundo medieval, notadamente antiliberal, antidemocrática, antiparlamentar, e que se colocava como alternativa ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo e à democracia liberal. Essa vertente filosófica marcaria, então, o cerne de suas obras e militância, e o intelectual se inspiraria também em movimentos políticos autoritários, como o fascismo italiano, para formular seu modelo de regime monárquico católico e corporativista e sua defesa da inclusão social do negro.
O livro segue contextualizando Arlindo Veiga dos Santos diante da intelectualidade negra nos anos 20, abordando as relações sociais dos negros no período e suas redes de sociabilidade construídas em torno de um associativismo cultivado a partir e em torno da recreação e de eventos como bailes e festividades.
Nesse contexto, teve início a ação panfletária de Arlindo Veiga dos Santos, fomentando o surgimento e o crescimento de diversos movimentos negros, como o Centro Cívico Palmares, que funcionava como uma escola, uma biblioteca, assim como, um centro comunitário e um espaço doutrinário de sociabilidade dos negros. Ali também eram confeccionados jornais escritos para a população negra, onde os “irmãos Santos” eram assíduos colaboradores, panfletando pela integração do negro na sociedade dentro de sua perspectiva católica.
Pouco depois da malsucedida tentativa de se estabelecer o Congresso da Mocidade Negra, um núcleo que centralizaria a militância negra, Arlindo Veiga dos Santos participara da formação da Frente Negra Brasileira (FNB), onde atuaria ativamente até sua extinção em 1937. Malatian discorre, então, sobre a constituição dessa frente, dos embates ideológicos internos ao grupo, especialmente entre Arlindo Veiga dos Santos, monarquista de direita, e Correia Leite, ligado a grupos socialistas e comunistas, onde Arlindo Veiga dos Santos assume, impondo sua liderança ao grupo.
Com a vitória de Arlindo Veiga dos Santos, a Frente Negra cresce, estendendo seu alcance muito além dos negros da classe média e congregando muitos populares, tanto na capital como pelo interior, onde diversas sedes foram abertas. Com isso, foi possível promover campanhas pela educação dos negros, bem como outras, como as que defendiam a necessidade de sair do aluguel e adquirir a casa própria e a admissibilidade de negros na Guarda Civil de São Paulo.
Simultaneamente, o livro também trabalha a face política da Frente Negra, desde a participação de negros na Revolução de 32, enquanto o movimento se mantinha neutro, denunciando o caráter oligárquico das elites revolucionárias, as aproximações de Arlindo Veiga dos Santos e, com ele, a FNB, com o integralismo de Plínio Salgado, que estreitaram muito as relações em vários momentos durante a década de 30.
Essa face política culminou com a candidatura de Arlindo Veiga dos Santos para a Constituinte de 1933 e, após o fracasso da candidatura, o lento afastamento do intelectual da presidência da Frente Negra Brasileira, onde ele permaneceria como membro atuante até 1937, quando suas atividades foram encerradas pelo Estado Novo.
O livro, como é possível notar, possui seu conteúdo centralizado na ação de Arlindo Veiga dos Santos e sua militância negra, monarquista e autoritária, com especial enfoque em sua participação na Frente Negra Brasileira e jornais negros subjacentes, como o Voz da Raça e o Clarim da Alvorada, onde participou junto de seu irmão Isaltino.
Sua postura e governos autoritários são diversas vezes apresentados e ressaltados pela autora, bem como os elementos de inspiração medieval que, aliados à aproximação de ideologias e movimentos autoritários, tornaram ímpar sua atuação no movimento negro das décadas de 20 e 30. Sua campanha pela educação, como mostra a autora, obteve profundos resultados.
O autor pregava a realização de uma “nova abolição”, para combater a “escravidão moral”, que assolava o Brasil após a abolição formal da escravidão, e que a educação traria a redenção para o negro, e divulgava assiduamente a necessidade de escolarizar os filhos. Com esforço conseguiram criar uma escola seriada, com alguns professores, e lutar contra o analfabetismo em crianças e adultos, profissionalizá-los e capacitá-los a combater a desigualdade e o preconceito que os negros enfrentavam.
A visão de Arlindo Veiga dos Santos, como nos mostra Malatian, era maniqueísta, centrada no combate entre o bem (católicos, nacionalistas) e o mal (comunistas, socialistas, anarquistas, liberais, entre outros). Nesse embate, os negros deviam lutar pela integração plena na sociedade brasileira, combatendo pela Pátria contra seus inimigos, como o preconceito e doutrinas perniciosas (socialismo, comunismo, liberalismo) para o progresso da Nação.
O estilo de escrita do livro é bastante característico da autora Teresa Malatian. Como seu livro anterior a respeito do Patrianovismo, Império e Missão: Um novo monarquismo em brasileiro (Editora Nacional, 2001), Malatian aborda a década de 30, com seus movimentos religiosos, sociais e políticos, com bastante familiaridade. Os capítulos, curtos, são apresentados de forma breve e temática, mas sucessiva e bem entrelaçada. Sua redação, que lhe é particular, é muito fluída e agradável, o que facilita a leitura e absorção da quantidade de informação que a autora traz à obra.
São apresentados, nos capítulos, uma quantidade relevante de trechos de artigos jornais, poemas e cartas, o que divulga e disponibiliza o acesso a essa documentação. Ao final de muitos desses capítulos, diversas fotografias relacionadas às temáticas são apresentadas, ilustrando os argumentos da autora (o que tem relevância quando se tratam de escolas, bandeiras, uniformes). Porém, infelizmente, a diagramação delas, na fase da edição, acabou fazendo com que algumas delas, como as imagens 05 e 06 (pág. 48 e 49, respectivamente), ficassem estranhas e demasiadamente pequenas, utilizando uma página inteira em uma foto minúscula. Outras, por conta da impressão, ficaram tão escuras que dificultou a definição do que estava representado, ou distinguir as pessoas. Como são problemas de simples resolução, é possível que seja solucionado em alguma eventual reedição.
Apesar desses detalhes, o livro permanece como uma boa escolha de leitura clara e fluída, acompanhada de uma história consideravelmente rica de conteúdo e informações. Esse conteúdo não trata profundamente acerca da atuação de Arlindo Veiga dos Santos na Ação Imperial Patrianovista Brasileira – tema abordado no livro supracitado da autora, e também no seu mestrado e doutorado – mas contextualiza a ação do intelectual e seu monarquismo católico e autoritário dentro do movimento negro da época, o que carecia de trabalhos dedicados.
Certamente, a obra oferece uma leitura útil para aqueles interessados tanto no movimento negro quanto nos movimentos católicos e de inspiração política autoritária da época, principalmente por contextualizar muito bem Arlindo Veiga dos Santos, seus embates e ideias, no movimento negro, e oferecer um panorama bem abrangente de sua ação como militante negro, católico, monarquista e nacionalista.
A autora do livro, doutora Teresa Malatian, é docente titular do curso de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – campus de Franca. Possui titulação de Mestre em História, pela PUC/SP, com a dissertação A Ação Imperial Patrianovista Brasileira (1978) e de Doutora em História, pela FFLCH – USP, com a tese Os Cruzados do Império (1988). Atualmente, desenvolve principalmente pesquisas sobre os movimentos monarquistas no Brasil República, História do Brasil e historiografia.
Notas
2 Maria de Lourdes Monaco Janotti é professora da Universidade de São Paulo (USP), autora do livro “Os subversivos da República” (1986), que abordou os monarquistas e sua militância nos anos iniciais do regime republicano no Brasil.
Referências
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Os Subversivos da República. São Paulo: Brasiliense, 1986.
MALATIAN, Teresa. A Ação Imperial Patrianovista Brasileira. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1978.
MALATIAN, Teresa. Os Cruzados do Império (1988). Tese (Doutorado em História).
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.
MALATIAN, Teresa. Os Cruzados do Império. São Paulo: Contexto, 1990.
MALATIAN, Teresa. Império e missão: um novo monarquismo brasileiro. 1.a. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001.
MALATIAN, Teresa. O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira. São Paulo: Alameda, 2015.
Lucas Suzigan Nachtigall – 1. Mestre em História pela UNESP/Assis. E-mail: lucassuzigan@gmail.com.
[IF]Guerrilha e Revolução: A luta armada contra a Ditadura Militar no Brasil | Jean Rodrigues Sales
Nesta obra, Jean Rodrigues Sales organiza doze textos acerca da história da esquerda armada, na ditadura civil-militar no Brasil, ressaltando a trajetória política de diversas organizações guerrilheiras, como o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), e a ALN (Ação Libertadora Nacional).
O livro destaca que a luta armada se desenvolveu de duas formas: uma menos usual, que foi a tentativa de implantar a guerrilha rural, e a outra, mais comum no período, as ações urbanas, como assaltos a bancos para arrecadação de recursos, e expropriação de armamentos. Leia Mais
El mito de la Argentina laica: catolicismo, política y Estado – MALLIMACI (AN)
MALLIMACI, Fortunado. El mito de la Argentina laica: catolicismo, política y Estado. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2015. Resenha de: QUADROS, Eduardo Gusmão de. O estado da fé: catolicismo e governo na história Argentina Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 43, p. 491-496, jul. 2016.
Conhecer a história dos argentinos contribui para alargar a visão geralmente difundida da história do Brasil. Existe, afinal, uma série de processos políticos e econômicos que apresentam traços semelhantes, o que poderia ser ampliado, obviamente, para a história latino-americana como um todo. Isso é especialmente válido se o foco estiver em uma instituição internacional, como é o caso da Igreja Católica Romana.
Qualquer estudo sobre a história do catolicismo necessita articular esses dois aspectos: o global, gestado a partir do Vaticano, e o nacional ou local, onde a ação religiosa deve intervir respeitando os elementos condicionantes mantidos pelos atores sociais. No primeiro nível, a Igreja Católica apresenta-se como salvadora da humanidade, já que representa a ação do Deus criador dos céus e da terra; no segundo nível, é uma instituição política que atua como uma “nação” dentre outras, com o interesse de fortalecer seu domínio.
Ao enfrentar a questão do “mito da laicidade” na história da Argentina, Fortunato Mallimaci tem isso claro. Portanto, por toda a obra, sua análise percorre as vias de mão dupla entre a Europa e a América Latina, sem esquecer o modo como as camadas populares reagem às estratégias implantadas pelas elites, sejam elas políticas ou religiosas. O fundamento teórico-metodológico para integrar tais aspectos é de inspiração bourdieusiana, apesar de o autor indicar diversas vezes as reflexões de Ernst Troeltsch como suporte relevante.
O livro estrutura-se em seis capítulos. Eles podem ser lidos como hipótese de periodização, mas também podem ser formas de relação que a instituição eclesiástica católica estabelece com as demais esferas sociais. Assim, não é meta do autor realizar uma abordagem propriamente contextual, e o texto rompe com a confortável linearidade cronológica, uma decorrência da postura de considerar “,[…] el catolicismo como un lugar social donde se confrontan discursos competitivos y desiguales” (p. 66), preferindo intercambiar os marcos históricos com processos contemporâneos. Os limites entre o que estaria “fora” ou “dentro” da igreja são altamente questionáveis quando se quer entender seu papel na governamentabilidade: Un análisis sociológico sobre el catolicismo no puede abordar su sujeto de estudio si lo encierra en un universo puramente religioso. El fenómeno debe estar ligado a la sociedad que lo involucra y si esta se encuentra dividida, conflictuada, enfrentada, se pueden encontrar esos conflictos, con formas proprias, dentro del espacio de lo religioso, especialmente si se trata de un movimiento dominante y extensivo como es el catolicismo. Si esos conflictos se agudizn se puede ver cómo se generan estructuras intermedias y paralelas que un estudio de ese tipo no puede ignorar. Por esto, creemos necesario mostrar los procesos que relacionen estructuras, agentes y personas en el largo plazo (p. 66).
Nessa perspectiva, o capítulo inicial trata da mescla dos valores e símbolos católicos com as manifestações nacionais argentinas. O ideário de edificar uma religião civil perpassa o discurso das elites sócio-religiosas.
Mesmo que tenha sido declarada a laicidade estatal desde meados do século XIX, bem como da educação, o autor afirma que “[…] sin símbolos y sin sagrados no se consolidan las nuevas naciones” (p. 20).
A igreja católica não era tão forte, na época, para interferir diretamente nesse projeto, contudo havia uma crença difusa, sem demasiada fidelidade doutrinária ou ética, que unificava boa parte da população. O conflito com as ideias do positivismo foi tênue e já nos primórdios do século XX a igreja-mãe estava casada com o estado-pai (p. 33).
Nas décadas de vinte e trinta do mesmo século, as tendências integristas, totalizadoras, inspiradas na imagem do Cristo Rei, tornaram- se consolidadas. Os cristãos, nessa visão, precisavam lutar para estabelecer o domínio divino, e consequentemente da instituição que o representa, sobre todas as coisas. A oportunidade de atuação eficaz adveio de um fator extrarreligioso: a crise global do liberalismo ao final dos anos vinte. Dessa forma, o discurso católico passou a se colocar como uma terceira via entre o temido comunismo e os problemas da democracia burguesa. As duas fontes secularizadas de esperança perderam, naquele momento, boa parte de sua credibilidade social.
Cada vez mais a igreja assumiu a posição de ser o cimento que sustentava a sociedade argentina. O processo de diocesização, incrementado rapidamente nessas primeiras décadas do século, possibilitou a capilaridade necessária à expansão da “geografia católica” pelo território nacional. Há, entretanto, uma diferença sensível em relação ao catolicismo brasileiro nesse caso, pois a maioria do clero, inclusive o episcopado, era natural do próprio país (p. 94).
O capítulo terceiro demonstra a importância da Ação Católica para todo o período que se segue. Sua espiritualidade, de forte aspecto militar e integral, contribuiu efetivamente para incorporar ao seio da igreja católica setores sociais ainda desprezados, a exemplo dos jovens e das camadas empobrecidas. O autor ressalta que a recente ruptura teórico- metodológica, relativizando as dicotomias entre sagrado e profano ou oficial e popular, são importantes para que surjam novos estudos acerca desses sujeitos, geralmente invisibilizados na documentação. Esses estudos deveriam enfocar mais suas lógicas internas, os motivos de adesão e as estratégias simbólicas de legitimação constituídas (p. 109).
O grupo de militantes da Ação Católica partia do pressuposto de que existiria um déficit de catolicidade na configuração social e até entre os membros da igreja. Encampavam, então, a tarefa de cristianizar todas as instituições sociais, gerando um novo tipo de patriotismo católico em um contexto de fortes conflitos ideológicos. A comprovação dessa habilidade de produzir um novo consenso nacionalista foi o apoio dado ao vitorioso movimento golpista de 1943, com a posterior incorporação de muitos membros do laicato católico no aparato estatal.
Decorrente desse modelo de inserção social, o foco do autor nos três últimos capítulos da obra parte da análise do mundo do trabalho.
A afirmação deste na configuração política e religiosa ocorreu através da mescla de valores religiosos com o insurgente peronismo. Existem afinidades evidentes entre a forma de governo estabelecida por Perón e o catolicismo social moldado pela Ação Católica, mesmo que houvesse grupos discordantes que acusavam as ações ditatoriais do regime. Nesse momento de intensa politização do cristianismo, ou de sacralização do político, Jesus passou a encarnar “el primer justicialista” (p. 137).
Apesar de Perón ser militar de carreira, a militarização do catolicismo, com a consequente simbiose entre a igreja romana e as forças armadas, manifestou-se com maior intensidade na ditadura dos anos setenta. Mallimaci faz questão de denunciar o regime instaurado após o golpe de 1976 como um terrorismo de Estado com fundamento cívico-religioso-militar (p. 168). Verdade que o quinto capítulo busca demonstrar um período mais duradouro, que perpassa todos os golpes militares, e este provém do catolicismo de matiz integral propalado pelos militantes católicos. Tal herança nunca fora unívoca, é bom ressaltar, e o movimento antiperonista nutriu-se igualmente do imaginário cristão-militarizado para excomungar e expulsar Perón da Argentina.
O catolicismo integral e o peronismo serão objetos de disputa social no esforço coletivo de construir uma Argentina verdadeiramente católica. Dois movimentos são exemplares desse conflito de tradições.
De um lado, está o movimento Sacerdotes para o Terceiro Mundo, a experiência de messianismo utópico e popular mais importante do final da década de sessenta. Conforme o autor: La critica social y politica del Movimiento a la ditadura del momento fue respondida desde lo politico, lo social y lo cultural.
También hubo otra, teológica, política y religiosa, pronunciada por los sacerdotes católicos que formaban parte de ese gobierno militar. […] (Pero) En el Movimiento de Sacerdotes para el tercer Mundo se disociaba la memoria católica de la función legitimadora de las relaciones sociales hegemónicas y se las trasladaba a las clases subalternas primero y luego al movimiento político mayoritario en sectores populares (p. 192).
Do lado oposto, partindo da crítica teológica, política e religiosa, nessa ordem, estavam os capelães militares. Esse grupo, em texto divulgado na grande imprensa, denunciava seus companheiros de batina, como é demonstrado pelo autor quando este cita um documento gerado pelo Comando de Operações Navais, assinado pelo capelão Duilio Barbieri. Afirma-se nesse texto que: […] hay fundadas razones para creer que entre estos sacerdotes (para el tercer mundo) hay algunos que son activistas comunistas expresamente infiltrados ya desde el seminario, y que con esos sacerdotes estamos en el cero absoluto del espíritu (BARIBIERI, 1970 apud p. 193).
A tensão sócio-religiosa perdurou até a ditadura civil-militar implantada em 1976. A repressão violenta, utilizando inclusive grupos paramilitares, foi legitimada pela Conferência Episcopal Argentina.
Mallimaci chega a afirmar peremptoriamente que “[…] los golpes militares nunca recibieron la reprobación del cuerpo epsicopal, tanto en Argentina como en el resto de América Latina” (p. 194).
O leitor pode estar curioso para saber como o padre Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, se portou nessa conjuntura. A obra apresenta denúncias de que ele, enquanto superior dos Jesuítas, desprestigiou tanto sacerdotes quanto leigos ligados à Companhia de Jesus durante a perseguição governamental e eclesiástica. Estes eram aqueles que estavam inseridos exatamente nas lutas dos pobres. Ainda como provincial da Universidade do Salvador, vinculada à Companhia inaciana, padre Bergoglio participou da condecoração, concedida em 1977, ao almirante Emílio Massera, conhecido já na época por sequestrar, torturar e “fazer desaparecer” muitos membros do catolicismo (p. 200).
Esse tema do papa argentino retorna ao final do livro, quando este trata das reconfigurações recentes no campo religioso argentino.
O catolicismo integral ficou fragmentado com o impacto das redefinições democráticas no espaço público, bem como com o crescente pluralismo religioso. Ter um papa peronista (cf. p. 239) fortalece a relação simbiótica entre nação e fé católica. Assim, a laicidade permanecerá apenas no nível jurídico, como um mito social vigoroso nesse enviesado processo de reconhecimento da liberdade.
A obra aponta, destarte, para desafios fulcrais da democratização ainda recente na América Latina. Talvez o autor tenha, no intuito de demonstrar sua tese, ressaltado demasiadamente a continuidade da relação instituída entre catolicismo e governo, ou desprezado momentos em que a religião se distanciou do campo político, que é um princípio afirmado teoricamente (p. 149). Todavia, como se buscou indicar nesta resenha, o livro de Mallimaci está prenhe de intuições analíticas e metodológicas capazes de revigorar os estudos acerca dos atores religiosos, suas representações sociais, lógicas identitárias, pretensões legitimadoras e, sobretudo, crenças.
Imaginar o futuro em um mundo globalizante: paisagens transnacionais dos discursos do modernismo e das políticas da memória.
Eduardo Gusmão de Quadros – Docente do PPG em História e em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Doutor em Historia pela Universidade de Brasília – UnB. E-mail: eduardo.hgs@hotmail.com.
Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988 | Daniel Aarão Reis Filho
Daniel Aarão Reis é professor titular de História Contemporânea na UFF. Suas principais pesquisas são sobre a ditadura no Brasil e as experiências das esquerdas no Brasil e no mundo [1]. Além disso, foi ativo na resistência à ditadura civil-militar brasileira, especificamente no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um dos grupos que organizou a captura do embaixador do EUA Charles Burke Elbrick em 1969.
Ditadura e Democracia no Brasil se insere em uma série de obras lançadas em 2014 que, no marco dos 50 anos do golpe de 1964 procuram apresentar novos olhares sobre o período. O livro em questão é constituído por sete capítulos e um posfácio.
O primeiro capítulo serve de introdução ao livro e são as páginas nas quais Reis apresenta alguns dos princípios através do quais ele pretende diferenciar sua obra da historiografia anterior sobre o tema, especialmente aquela produzida nos primeiros anos de redemocratização. Segundo o autor, construiu-se uma memória de que os valores democráticos sempre teriam feito parte da consciência nacional. Assim, o país teria sido
subjugado e reprimido por um regime ditatorial denunciado agora como uma espécie de força estranha e externa […] Assim, em vez de abrir amplo debate sobre as bases sociais da ditadura, escolheu-se um outro caminho, mais tranquilo e seguro, avaliado politicamente mais eficaz, o de valorizar versões memoriais apaziguadoras onde todos possam encontrar um lugar [2].
Essa visão procuraria uma conciliação nacional após a ditadura, como se esta não houvesse contado com apoio de setores civis da sociedade:
Entretanto, essas versões, saturadas de memória, não explicam nem conseguem compreender as raízes, as bases e os fundamentos históricos da ditadura, as complexas relações que se estabeleceram entre ela e a sociedade e, em contraponto, o papel desempenhado pelas esquerdas no período. Também não explicam, nem conseguem compreender, a ditadura no contexto das relações internacionais e na história mais ampla deste país – as tradições em que se apoiou e o legado de seus feitos e realizações que perdura até hoje [3].
Nesse sentido, Reis se insere numa perspectiva que vem ganhando espaço na produção historiográfica, de procurar compreender o regime autoritário observando também as bases sociais que o constituíam. A título de exemplo, a coletânea organizada por Denise Rollemberg e Samantha Quadrat, A construção social dos regimes autoritários [4], é outra obra que procura analisar os mecanismos de legitimação social desses regimes. É nessa direção que também argumenta a defesa de que se chame o período de ditadura civil-militar, e não somente militar.
Nos capítulos seguintes, Reis procura elucidar o desenrolar dos acontecimentos do período. Ele destaca que o período 1945-64 foi de democracia limitada. O autoritarismo se manifestava em muitos aspectos que remontam à primeira república e principalmente à ditadura varguista. É nesta que ele localiza um importante elemento para compreender a ditadura que se seguiu: o nacional-estatismo, caracterizado por um Estado forte tanto no que diz respeito ao desenvolvimento econômico (ainda que não necessariamente na distribuição de renda) como no controle social. Apesar de ter perdido fôlego na década de 1950 o nacional-estatismo ainda tinha adeptos tanto à esquerda como à direita.
Ao assumir o poder, João Goulart “poderia […] numa frente popular que se esboçara na resistência ao golpe [do parlamentarismo], dispor de condições para retomar o nacional-estatismo popular já entrevisto no último governo Vargas” [5]. As greves e movimentações populares que haviam crescido na campanha legalista (movimento para assegurar o direito de Goulart assumir a presidência) incorporavam ao nacional-estatismo uma até então inédita participação popular – o que também radicalizou o discurso, exigindo reformas mais profundas e deixando mais de lado o tom conciliatório varguista.
Reis descreve, contudo, que Jango estava nos primeiros meses de governo apegado à tradição conciliatória, mantendo a desconfiança da direita e ao mesmo tempo decepcionando a esquerda. “Depois de longos meses de hesitação, armadilhando no impasse de uma correlação de forças equilibrada, Jango [em março de 64] resolveu aceitar os conselhos de partir para a ofensiva” [6], em meio ao aumento da pressão pelas reformas de base. A resposta conservadora não tardou com as marchas da Família com Deus pela liberdade e finalmente com o golpe de Estado.
O autor então lança uma ideia polêmica, contestando a tese da inevitabilidade da resistência ao golpe. Segundo ele, Jango era bastante popular e as forças de que dispunham as esquerdas, nas instituições, sindicatos, movimentos populares e nas próprias Forças Armadas não eram desprezíveis. Para ele, a esquerda que apoiava Jango se rendeu por não saber o que fazer quando a tática conciliatória não funcionou mais. No capítulo seguinte, o autor inclusive aponta que essa paralisia poderia ser motivada por até parte das lideranças reformistas estarem contaminadas pelo medo de uma revolução. Por isso também que Reis observa que ainda que de fato tenha havido apoio dos EUA ao golpe, não se deve superestimar sua participação sob risco de minimizar a importância das forças golpistas internas. A influência externa se dava, de acordo com o autor, mais no sentido de um medo por parte das forças golpistas de que os recentes movimentos socialistas e nacionalistas na África, Ásia e principalmente em Cuba pudessem inspirar ações mais radicais dentro do Brasil.
Dando prosseguimento, Reis descreve como nos primeiros anos da ditadura procurou-se romper com o nacional-estatismo, estratégia que fracassou, indicando que este elemento da cultura política perpassava todo o espectro político.
No campo da oposição começaram a se formar três grandes correntes: a moderada, formada pelo MDB, apoiada pelo PCB clandestino e setores golpistas agora insatisfeitos, defendendo uma transição pacífica à democracia nos moldes pré-64; movimento estudantil, mais radical, queria o fim imediato da ditadura, mas sem maiores definições; organizações revolucionárias clandestinas, se entrelaçavam com os estudantes, viam a luta armada como a única saída e não queriam só a derrubada da ditadura, mas do capitalismo.
Porém, Reis destaca que se houve de fato resistência, também houve muita indiferença ou até apoio ao regime, de modo que a oposição não era, para ele, de fato tão poderosa. Ainda assim, para evitar que se organizassem, o governo emitiu em 1968 o AI-5.
Assim, chega-se ao quarto capítulo. Com a repressão a níveis extremos, a esquerda revolucionária considerou que se concretizava o que Reis denominou “utopia do impasse”, chegando a hora de radicalizar a luta. De acordo com essa lógica, o impasse se refere à uma situação na qual políticas conciliatórias não seriam mais uma opção viável, restando às esquerdas somente a revolução – por isso, segundo o autor, muitos desses grupos revolucionários viam até com certo otimismo a conjuntura, pois teria eliminado a via conciliatória. Reis, contudo, apesar de ter sido em sua juventude parte dessas organizações, as critica por estarem distantes da população e se mostrarem incapazes de fazer uma leitura mais precisa da sociedade. Esta “assistiu a todo esse processo como se fosse uma plateia de jogo de futebol” [7]. Podiam até torcer para um ou para outro lado, mas não eram participantes. Efetivamente, o crescimento econômico do que viria a ser o chamado “milagre econômico” aliado a propaganda, fazia do governo muito popular junto a população, especialmente no interior. Por isso ele destaca que, se de fato a primeira metade da década de 1970 pode ser descrita como os “anos de chumbo”, foi para muitos também os “anos de ouro” [8]. Ainda que o crescimento tenha sido desigual, ele agradava a setores médios influentes suficientes para amortecer uma possível insatisfação popular. A maioria da população parecia disposta a ignorar a tortura, desde que que ela atingisse somente àqueles que considerassem marginais e ocorresse longe da vista da sociedade.
Nem todos, certamente, apreciavam a ditadura e seus métodos truculentos, considerados “excessivos”, e muitos deles tomariam parte, em momentos seguintes, da onda oposicionista que varreria as metrópoles. Mas é provável que considerassem uma exigência alta demais arriscar suas posições num enfrentamento de vida ou morte com o regime, como queriam as esquerdas radicais [9].
O quinto capítulo do livro analisa o governo Geisel (1974-79). No plano econômico, apesar da crise do petróleo, não seria ainda o momento do abandono do nacional-estatismo. “Já no plano político, haveria afinidades com os propósitos do primeiro governo castelista, materializadas na perspectiva de restabelecer um estado de direito autoritário. Tratava-se de institucionalizar e superar o estado de exceção, o regime ditatorial vigente”[10], ação tomada também em função da pressão internacional, ainda que “no interior do bloco que sustentava a ditadura, forças conservadoras e sua expressão mais radical, os aparelhos de segurança, não viam com bons olhos a distensão e se prepararam para combatê-la”[11].
Como resultado, foi um período marcado por ambiguidades. A gradual abertura, (a qual culminaria na revogação do AI-5 na passagem de 1978 para 1979) conviveu com uma brutal repressão ao PCB e PC do B e o emblemático assassinato de Vladmir Herzog.
A segunda metade da década de 1970 também marcou o início da rearticulação dos movimentos sociais, ainda que de início tentassem passar a imagem de reivindicações apolíticas. Essa rearticulação também se deve ao fato da economia já não apresentar resultados tão satisfatórios, com inflação e desvalorização salarial.
Ao final deste capítulo, Reis indica outra ideia controversa. Para ele, com o fim do AI-5 estava revogado o estado de exceção, não constituindo-se mais uma ditadura; “conformara-se um estado de direito autoritário”[12]. Assim, para Reis a ditadura iniciada em 1964 termina em 1979, havendo então um período de transição para um regime democrático que se inaugura com a constituição de 1988. Ele explica melhor os motivos para essa escolha no capítulo seguinte, dedicado à essa transição:
formou-se ampla coligação de interesses e vontades a favor da ideia de que a ditadura teria se encerrado em 1985. Na base dessa verdadeira frente social, política e acadêmica, estava uma ideia – força de modo nenhum respaldada pelas evidências – a de que a ditadura fora obra apenas dos militares [13].
Esse marco, 1985, o momento em que um civil assume a presidência, esconderia, portanto, as bases sociais civis da ditadura. Para Reis, a construção dessa memória que procura esconder o caráter civil da ditadura se deu justamente nesse período.
Aparentemente, a transição lenta e sem rupturas levada pela própria ditadura surtiu o efeito por ela desejada. Nas primeiras eleições diretas para governadores, o PDS (originada da ARENA) venceu em mais estados e teve mais deputados eleitos também, seguido do PMDB, que era a oposição consentida pela ditadura. “Depois de longos anos de ditadura, o país tornara-se mais conservador ainda do que antes. Um banho da água fria na fervura dos que imaginavam possível a existência de hipóteses de ruptura revolucionária. Pelo menos a curto prazo elas não se realizariam”[14]. Talvez nada ilustre melhor o caráter conservador da transição e a construção de uma memória que isente as bases civis do que a chegada a presidência de José Sarney (até pouco antes importante quadro do PDS) concorrendo, ainda que como vice, como opositor ao antigo partido da ditadura.
No sétimo capítulo, Reis descreve sucintamente as discussões em torno da constituição de 1988, destacando como, apesar da pressão contrárias de forças liberais-conservadoras, mesmo nela persistiriam muitas características do nacional-estatismo.
Finalmente, no posfácio, Reis retoma uma de suas teses centrais já apresentadas no início do livro: sem minimizar as diferenças que houveram entre os regimes, há no nacional-estatismo, seja de tendência esquerdista ou direitista, um aspecto de continuidade.
Criaram-se na primeira [estado novo] e se consolidaram na segunda [civil-militar]: o Estado hipertrofiado, a cultura política nacional-estatista, o corporativismo estatal, as concepções produtivistas, a tortura como política de Estado. Quanto à tutela das Forças Armadas, vem de antes, desde a gênese da República, mas as ditaduras, sem dúvida, confirmaram e reforçaram.
O livro de Daniel Aarão Reis procura apresentar um novo olhar sobre a ditadura civil-militar brasileira. Cada capítulo da obra poderia ser expandido ele próprio em um livro. De fato, o livro não entra em muitos detalhes. Tampouco se utiliza de muitas fontes primárias como fundamentação, tratando-se mais de uma obra de síntese. Ainda assim, é de grande valia por apresentar ao menos duas ideias centrais que o diferenciam de ao menos parte da historiografia, e certamente da memória socialmente construída para fora da academia. A primeira, por apontar no nacional-estatismo um elemento de continuidade surgido antes do golpe de 1964 e perdurando durante e para além da ditadura. Isso não significa negar que tenha se tratado de um estado de exceção, mas apontar que a ditadura civil-militar infelizmente não foi um desvio num curso “natural” e “positivo” da história do Brasil, mas se insere perfeitamente em aspectos que transcendem esse período específico. A outra ideia é a de observar a importância das bases sociais civis da ditadura. Desde o golpe, o regime autoritário somente pôde sobreviver por que contou com apoio principalmente de setores empresariais, mas também suporte, consentimento ou no mínimo indiferença de amplos setores sociais. Enfrentar a memória construída da natureza democrática da sociedade brasileira é um desafio difícil e que pode soar inconveniente, mas é importantíssimo para poder lidar com as continuidades autoritárias que ainda persistem hoje.
Conforme já salientado, o livro aqui resenhado se trata de uma obra de síntese. Mas talvez justamente por isso tenha um duplo valor, podendo ser utilizado como material introdutório para historiadores ao mesmo tempo em que também se mostra acessível ao grande público.
Notas
1. Entre suas principais obras se encontram A revolução faltou ao encontro – Os comunistas no Brasil; A Aventura Socialista no Século XX; e Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade.
2. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 7-8.
3. Ibid., p. 14
4. ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha (orgs). A Construção Social dos Regimes autoritários: Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
5. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 32.
6. Ibid., p. 39.
7. Ibid., p.77.
8. Ibid., p.91.
9. Ibid., p.88.
10. Ibid., p.98.
11. Ibid., p.101.
12. Ibid., p.123.
13. Ibid., p.127.
14. Ibid., p.140.
Michel Ehrlich – Graduando em História pela UFPR, bolsista do PET-História. E-mail: michelehrlich@gmail.com
REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e Democracia no Brasil: do Golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. Resenha de: EHRLICH, Michel. Ditadura e democracia no Brasil. Cantareira. Niterói, n.25, p. 230 – 234, jul./dez., 2016. Acessar publicação original [DR]
Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser – NASSER (CN)
NASSER, Eduardo. Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser. São Paulo: Edições Loyola, 2015. Resenha de: SALANSKIS, Emmanuel. Cadernos Nietzsche, São Paulo, v.37 n.2 jul./set. 2016
Eduardo Nasser publicou recentemente um livro particularmente estimulante e ambicioso intitulado Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser. Fruto de uma tese de doutorado defendida em 2013 (sob o título Epistemologia e ontologia em Nietzsche à luz do problema do tempo), esse trabalho procura retraçar o caminho intelectual que levou Nietzsche a desenvolver uma filosofia do vir-a-ser. Para tanto, o autor recorre ao estudo de fontes, que permite ler as propostas filosóficas de Nietzsche “como respostas para problemas produzidos no contexto intelectual particular de sua época” (p. 25). Mas o livro se esforça para nunca cair numa mera erudição, nem tratar a obra nietzschiana como um mosaico de plágios (p. 26). Eduardo Nasser oferece, antes, uma contextualização impressionante das reflexões de Nietzsche sobre o tempo e o viraser. Destaque especial deve ser dado à análise da refutação da idealidade do tempo na esteira do filósofo russo Afrikan Spir (p. 58-70), bem como à apresentação da teoria dos átomos de tempo, com seus dois “lados” epistemológico e físico (p. 151-153 e p. 173-188, ver abaixo). O título do livro, saliente-se, se justifica por uma tese mais geral que vai além dessas análises específicas. O autor interpreta a filosofia nietzschiana do viraser como uma ontologia, na medida em que “Nietzsche busca no realismo do viraser não somente uma supressão do ser, mas também uma nova forma de recolocar a pergunta pelo ser” (p. 27). À luz dessa “irrupção do ser”, Nietzsche é colocado em perspectiva como um precursor das ontologias antiessencialistas do século XX, especialmente no contexto das chamadas “filosofias do processo” (p. 242-248). Embora eu não compartilhe inteiramente essa leitura ontológica, considero Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser como uma contribuição extremamente original e desafiadora para os estudos nietzschianos contemporâneos. Gostaria de resumir algumas passagens essenciais do livro antes de discutir brevemente sua perspectiva geral.
***
A primeira análise importante, desenvolvida no capítulo 1, diz respeito à “virada realista” que Eduardo Nasser identifica no pensamento do jovem Nietzsche a partir de 1873. Inicialmente, Nietzsche certamente não se definia como um realista. Sabese que ele defendia um idealismo cultural ligado a pretensões educativas e a uma “metafísica do artista” (p. 30-37). O ponto de partida de Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser consiste em mostrar que essa posição era “epistemologicamente [amparada]” pelas leituras neokantianas do jovem Nietzsche: Liebmann, Fischer, Ueberweg, Haym e, sobretudo, FriedrichAlbert Lange (p. 32). Herdeiro dessa tradição transcendental, Nietzsche julgava o conhecimento da “coisa em si” inacessível; enxergava o próprio conceito de coisa em si como “uma categoria oculta“; e concluía, com Lange, que a metafísica não é nada senão uma “intuição poética” (p. 34-35).
Contudo, Eduardo Nasser sustenta que uma “mudança de rumo” advém quando Nietzsche descobre o opus magnum do filosofo russo Afrikan Spir, Denken und Wirklichkeit. O jovem Nietzsche é então exposto à objeção capital de Spir contra a teoria kantiana da idealidade do tempo: contrariamente ao espaço, o tempo não pode ser uma ilusão nem possuir uma realidade simplesmente subjetiva, pois a mera representação de uma sucessão não seria sucessiva e não poderia dar origem à temporalidade de uma sucessão de representações (p. 67). As p. 62-64 fornecem uma excelente contextualização do argumento de Spir na história do kantismo. Depois, o autor bem mostra os sinais de uma incorporação nietzschiana desse argumento. É o raciocínio mobilizado no capítulo XV de A filosofia na idade trágica dos gregos para refutar o eleatismo: ou seja, a postulação por Parmênides, no segundo período de seu pensamento, de um Ser único e imutável, acessível à pura razão, que supostamente tornaria ilusória a nossa experiência sensível de um mundo em viraser (p. 51). Tal ilusão pode ser refutada como autocontraditória. Com efeito, o permanente precisaria ser mutável para suscitar uma aparência de mudança. Nas palavras de Nietzsche: “não se pode negar a realidade da mudança. Se ela for expulsa pela janela afora, volta a entrar pelo buraco da fechadura” (p. 61). Assim, segundo Eduardo Nasser, chega-se a pensar o tempo como “a única propriedade atribuída ao real que sobrevive à inspeção crítica” (p. 240). O que também implica um abandono do idealismo transcendental, enquanto “disfarce usado pelo eleatismo para iludir seus opositores” (p. 70).
Iniciada em 1873, a problematização realista de Nietzsche se manifestaria na obra publicada a partir de Humano, demasiado humano. Estaria subjacente a uma “filosofia histórica” que faz do viraser seu objeto primordial (p. 88-89). Aqui, Eduardo Nasser apresenta uma segunda análise importante. Ele explica que o realismo nietzschiano “requer uma nova perspectiva epistêmica” (p. 95), podendo essa ser caracterizada como um sensualismo (p. 99). O capítulo 2 procura esclarecer o sentido, o interesse e os limites desse sensualismo, sem esquecer de dialogar com comentadores que já abordaram o assunto (como Maudemarie Clark, Mattia Riccardi ou Pietro Gori). Uma distinção elucidativa é feita entre sensualismo e materialismo. Se o primeiro aceita o testemunho dos sentidos enquanto mostram a realidade do vir-a-ser (p. 116), isso não pressupõe “um mundo de coisas, substâncias e átomos”, ao invés do segundo, que vive “à sombra da metafísica” (p. 100). Sendo assim, o sensualismo tem a seu favor “uma consciência filosófica mais apurada” (p. 99). Seria a posição que Nietzsche adotaria enquanto “hipótese regulativa” ou “princípio heurístico” no § 15 de Para além de bem e mal, o que justificaria uma aproximação parcial com o fenomenalismo de Ernst Mach (p. 109-111). Aliás, Eduardo Nasser oferece uma pequena crônica (muito bem-vinda) da aproximação Nietzsche-Mach desde Hans Kleinpeter, discípulo de Mach e admirador de Nietzsche. É verdade que a diferenciação com o materialismo não resolve todos os problemas, o que o autor não dissimula. Por um lado, Nietzsche nem sempre usa a palavra Sensualismus num sentido positivo. O § 14 de Para além de bem e mal fala, por exemplo, do “sensualismo eternamente popular”, que acredita apenas no que “pode ser visto e tocado”, uma atitude fundamentalmente plebeia segundo a axiologia nietzschiana (p. 100). Por outro lado, Eduardo Nasser sugere que Nietzsche não renuncia a buscar causas para as sensações. Ora, isso ultrapassa o âmbito de um “sensualismo monístico”, que excluiria, em princípio, um “conhecimento não sensorial das sensações” (p. 112).
Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser desenvolve uma argumentação interessante a favor de uma interpretação sensualista. Parece-me que essa chave de leitura permanece discutível, notadamente por uma razão que o próprio autor indica: o fato de Nietzsche adotar “um tipo de epistemologia evolucionista” (p. 124). A meu ver, num quadro de reflexão evolucionista, a sensação é menos um dado epistemológico primeiro do que uma interpretação herdada do passado orgânico, que tem uma função vital. Isso quer dizer que a sensação pode ser criticada enquanto interpretação. É justamente o que mostra a excelente nota 61 da p. 104, que enumera três fragmentos póstumos de Nietzsche tratando da falsificação visual do mundo efetivo: o nosso olho é “um poeta inconsciente e um lógico” (Nachlass/FP 15 [9] do outono de 1881, KSA 9.637), que não apenas “simplifica o fenômeno” (Nachlass/FP 26 [448] do verão/outono de 1884, KSA 11.269), mas também constrói a coisidade, ao despertar “a diferença entre um agir e um agente” (Nachlass/FP 2 [158] do outono de 1885/outono de 1886, KSA 12.143). Sabemos que essa distinção Thäter/Thun será colocada em questão pela Genealogia da moral. Todavia, será que tem uma sensação por trás da sensação, ou um “mundo fenomenal profundo” do viraser sob o mundo fenomenal superficial da coisidade (p. 125)? Concordo com Eduardo Nasser quando ele evoca o refinamento dos sentidos ao qual Nietzsche nos convida. Também subscrevo a ideia de que tal aperfeiçoamento tem limites necessários (p. 122-134). Eu simplesmente não tenho certeza de que algo “afeta os sentidos originariamente” (p. 133), na medida em que esse “algo” só poderia existir do ponto de vista de uma interpretaçãoapropriação que o põe (ver abaixo).
Uma terceira análise, talvez a mais notável de Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser, concerne à teoria dos átomos de tempo do jovem Nietzsche (cap. 2-3). Trata-se de uma teorização “em grande medida concentrada num fragmento de 1873” (p. 151), a famosa nota 26 [12] ilustrada por dois esquemas. O autor decompõe esse questionamento em um “lado epistemológico” (p. 151-153) e um “lado físico” (p. 173-188). Em ambos os casos, estamos em presença da postulação de “unidades mínimas de tempo” (p. 151), mas tal suposição pode ser entendida como a de um mínimo sensorial ou de um mínimo físico, sem que exista necessariamente uma discrepância entre as duas acepções: Eduardo Nasser rejeita as “falsas polêmicas geradas em torno do valor objetivo ou subjetivo” do atomismo temporal (p. 173).
Um primeiro lado desse atomismo é sensorial. A esse respeito, o final do capítulo 2 remete à leitura nietzschiana de Karl Ernst von Baer (p. 144-150). O célebre fisiologista russoalemão acredita identificar uma “medida fundamental do tempo”, o batimento cardíaco (p. 146). Pois observa que a velocidade das pulsações condiciona a percepção do tempo, de modo que um coelho, com sua pulsação “quatro vezes mais veloz que a de um bovino”, “possui uma vida mais veloz” (p. 147). Situada entre essas duas temporalidades, a nossa existência poderia ser radicalmente alterada por uma simples aceleração ou desaceleração cardíaca: o mundo poderia nos parecer quase imutável ou, pelo contrário, profundamente efêmero (p. 147-148). Isso permite conceber a pulsação como uma espécie de átomo temporal, o que leva o jovem Nietzsche a dizer que o atomismo temporal coincide com uma teoria da sensação (p. 153). Contudo, Eduardo Nasser sublinha que o “ponto de sensação” não é exatamente um instante: ele já envolve o vir-a-ser, é mesmo “originariamente equivalente ao vir-a-ser” (p. 152). Assim, von Baer aparece a Nietzsche como um aliado do heraclitismo, leitura idiossincrática que transparece no curso sobre Os filósofos pré-platônicos (p. 146).
Mas o atomismo temporal do jovem Nietzsche também possui uma física, esboçada pelo elíptico fragmento 26 [12]. Para esclarecer esse segundo aspecto, Eduardo Nasser remete a uma outra referência científica do jovem Nietzsche, a física dinamista de Roger Boscovich: “é a partir do dinamismo de Boscovich que Nietzsche chega ao seu conceito de força e, consequentemente, à sua visão de mundo” (p. 168). O interesse de Nietzsche pela física boscovichiana dos pontos dinâmicos é muito bem documentado pelo capítulo 3. Mais uma vez, a interpretação nietzschiana se mostra criativa e radical. Pois Eduardo Nasser mostra que Nietzsche abole toda forma de permanência substancial, contrariamente a Boscovich, que ainda admitia pontos materiais imutáveis na sua Teoria da filosofia natural (p. 181-183). Mas a mais espetacular deformação nietzschiana parece ser uma tradução temporal de Boscovich: “os pontos nietzschianos são temporais, diferenças puras” (p. 181), que acolhem “forças absolutamente mutáveis” (p. 182). Daí o estranho saltacionismo temporal do jovem Nietzsche, ilustrado no segundo diagrama do fragmento 26 [12]: tudo se passa como se ocorresse uma ação à distância entre pontos temporais separados, uma sugestão tanto fascinante quanto enigmática (p. 186).
Poder-se-ia ver essas reflexões como ideias en passant, que Nietzsche nunca desenvolveu seriamente na sua obra posterior. No entanto, Eduardo Nasser atribui grande importância a esse momento teórico precoce: “na teoria dos átomos de tempo encontramos o essencial do que pode ser chamado de a visão de mundo hipotética de Nietzsche” (p. 188). Nietzsche teria permanecido fiel ao núcleo dessa física inicial: a busca de uma esquematização temporal da realidade, baseada na convicção de que “somente a mudança pode explicar a mudança” (p. 183). Novos desdobramentos teriam sido incluídos nessa visão de mundo dinâmica, tais como um princípio de continuidade (p. 188-197) e a própria hipótese da vontade de potência (p. 197-202). Seguindo essa linha interpretativa, Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser propõe uma interpretação iconoclasta da vontade de potência como “uma forma de tornar o discurso dinamista […] mais palatável a um público não especializado” (p. 202). Sem dúvida, essa proposta suscitará discussões no contexto da Nietzsche-Forschung.
***
Volto agora à noção paradoxal de “ontologia do vir-a-ser”, que dá sua perspectiva geral ao livro. Gostaria de indicar sucintamente em que sentido Eduardo Nasser reabilita uma problemática ontológica, para depois levantar duas dificuldades, num espírito de amizade nietzschiana.
O autor está bem ciente de que Nietzsche rejeita as ontologias tradicionais, aquelas que podem ser chamadas de “essencialistas” (p. 208). A palavra técnica Ontologia é rara no corpus nietzschiano, mas uma de suas ocorrências corresponde a uma crítica implacável de Parmênides (p. 209). É evidente, portanto, que Nietzsche considera o Ser do eleatismo como ilusório: ele dá razão a Heráclito tal como o entende, desde A filosofia na idade trágica dos gregos até Ecce homo (p. 217). Mas outra questão é saber se Nietzsche não teria também uma concepção ontológica positiva, em virtude de uma espécie de “homonímia do ser” (p. 217-227). De fato, é o que Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser defende: “O ser enquanto essência, enquanto ousia, não é o verdadeiro ser” (p. 219). Assim entendido, Nietzsche prefiguraria em certa medida o questionamento heideggeriano, pace Heidegger em seu curso sobre Nietzsche. Conhece-se a famosa “diferença ontológica”: Heidegger interpreta a história das metafísicas do ente como a do esquecimento de uma pergunta mais fundamental pelo Ser. Nessa direção pósheideggeriana, Jean Granier é citado como um dos intérpretes que reconheceram a “plausibilidade do problema ontológico em Nietzsche”, em seu livro clássico sobre Le Problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche (p. 19-22).
É certo que Nietzsche pronuncia frases do tipo: “o único tipo de ser é – ” (p. 224). Mas será que isso permite atribuir uma ontologia Nietzsche? Vejo dois problemas. O primeiro é mencionado pelo autor no final do capítulo 4: a dessencialização nietzschiana da ontologia “é também a destruição de toda ontologia”, pelo menos enquanto discurso científico (p. 227). O ser não tem mais um conteúdo essencial suscetível de ser caracterizado por um logos, a não ser que Nietzsche não mantenha seu antiessencialismo de modo coerente (a pergunta poderia ser feita à luz de certas formulações sobre a vontade de potência, como a do fragmento 14 [80] de 1888 citada na p. 227: “a essência mais íntima do ser é vontade de potência”; o eterno retorno também levanta interrogações, como mostra o excurso crítico das p. 227-237). Mas talvez Nietzsche tenha uma segunda objeção ainda mais radical contra o discurso ontológico. No âmbito do seu perspectivismo, ele afirma a nãoexterioridade da aparência em relação ao ser. Não tem o ser de um lado e suas manifestações do outro, o que “é” é sempre visto desde uma outra coisa. Assim, não se pode dizer absolutamente falando que A é B, nem mesmo que A existe em si. Eduardo Nasser cita pelo menos dois textos que vão nesse sentido, os fragmentos 2 [149] de 1885/1886 e 7 [1] de 1886/1887 (p. 219 e p. 224). No fragmento 7 [1], Nietzsche coloca aspas na palavra “fenomenal” [Phänomenale], que se deve distinguir do vocabulário propriamente nietzschiano da aparência [Schein]. De fato, não “tem” em Nietzsche um mundo fenomenal objetivo a ser descrito. Parece-me, nesse sentido, que o desafio filosófico não seria mais procurar um ser, mesmo fenomenal, mas sim elaborar critérios para orientar-se metodologicamente nas aparências.
***
Essas observações visavam apenas a prosseguir o diálogo com Eduardo Nasser e a agradecer a ele por este belo livro, que vem enriquecer a coleção Sendas & Veredas do GEN. Produto de um trabalho bibliográfico considerável, Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser defende uma interpretação ousada com uma argumentação precisa. Essa obra é uma mina intertextual, que, seguramente, interessará a todos os especialistas de Nietzsche em língua portuguesa.
Emmanuel Salanskis – Doutor em filosofia pela Universidade de Reims, pesquisador no laboratório SPHERE do CNRS e diretor de programa no Collège International de Philosophie, França. Correio eletrônico: emmanuel.salanskis@noos.fr
Os sentidos do impresso | Simone Antoniaci Tuzzo
Os sentidos do impresso são explorados de modo minucioso e atual neste livro, que apresenta um ângulo analítico dos jornais impressos, tensionando-os com a realidade dos meios digitais. A obra é uma evolução investigativa sobre opinião pública calçada nas lógicas do jornal impresso dentro do panorama contemporâneo, executado pela professora Dra. Simone Antoniaci Tuzzo. Trata-se ainda do quinto volume da coleção Rupturas metodológicas para uma leitura crítica da mídia, desenvolvido pelos Programas de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás – UFG e Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
Dentro desse projeto, uma série de investigações foi executada no Laboratório de Leitura Crítica da Mídia, aglutinando reflexões em trabalhos apresentados e publicados, na experiência de sala de aula e no próprio intercâmbio da autora, que se mudou para Portugal durante uma etapa da pesquisa para agregar mais propriedade ao olhar subjetivo desenvolvido. A elaboração das reflexões foi, assim, fruto de quatro anos de trabalho intensivo e dedicação às etapas sugeridas pelas próprias inquietações, desencadeadas ao longo do processo metodológico. A autora esclarece, logo na apresentação, que foi a partir desse processo cumulativo e gradativo de conhecimento e das próprias assimilações adquiridas em cada etapa que as questões foram se delineando e formando a rota do trabalho que compõe o livro. Leia Mais
A Alma do MST? A prática da mística e a luta pela terra | Fabiano Celho
Ao pensar na problemática da luta pela terra no Brasil, bem como no surgimento dos movimentos sociais na segunda metade do século XX, evocamos uma serie de discussões acerca da construção do sujeito Sem Terra, a mística e o símbolos utilizados nos momentos de luta pelo pedaço de chão. Essas discussões podem ser notadas no livro “A Alma do MST? A prática da mística e a luta pela terra”, resultado da Dissertação de Mestrado do professor Fabiano Coelho, defendida no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal da Grande Dourados (PPGH/UFGD).
O livro dividido em cinco capítulos traz discussões pertinentes sobre identidade sem terra, origem do MST, a participação da igreja na luta pela terra, e a importância da mística na construção de memórias e identidades de trabalhadores rurais que se encontravam na condição de acampados ou assentados. Leia Mais
Colonialismo, território e territorialidade: a luta pela terra dos Guarani e Kaiowa em Mato Grosso do Sul | Thiago Leandro Cavalcante
Sem deixar de dialogar com outros campos do saber, Thiago Leandro Vieira Cavalcante construiu sua formação acadêmica essencialmente dentro da disciplina de História. Paranaense radicado em Dourados (MS) desde o início de seu mestrado em 2006, seus estudos abarcam as áreas de História e Antropologia, com ênfase em História Indígena e Etnologia Indígena. Atualmente é professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e pesquisador da Cátedra UNESCO “Diversidade Cultural” na mesma instituição.
Cavalcante faz parte de um rol de novos pesquisadores que, com o auxílio da perspectiva metodológica da etno-história, têm produzido trabalhos que se somam na composição da historiografia Guarani e Kaiowa2 de Mato Grosso do Sul. O seu engajamento fica visível em seu texto. Contudo, os argumentos que apresenta estão fundamentados em uma vasta documentação e na pesquisa etnográfica, o que permite perceber que engajamento e a pesquisa acadêmica não são excludentes per si. Algo particularmente importante no contexto sul-mato-grossense, estado onde as tensões entre as populações guarani e kaiowa e os grupos ligados ao agronegócio tem se intensificado nos últimos anos. Leia Mais
Ensino (d)e História Indígena – WITTMANN (HE)
WITTMANN, Luisa Tombini (Org.). Ensino (d)e História Indígena. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. Resenha de: BIGELI, Maria Cristina Floriano. Ensino (d)e história indígena: um livro necessário. História & Ensino, Londrina, v. 22, n. 2, p. 297-304, jul./dez. 2016.
Iniciar a introdução do livro Ensino (d)e História Indígena com a indagação “O que você sabe sobre os índios?”, já nos põe em estado de reflexão antes mesmo de passarmos os olhos pelas primeiras frases contidas nessa seção. Afinal, o que a maioria de nós, professores ou não, porém, antes de tudo, brasileiros e brasileiras, sabe sobre os povos que outrora já habitavam essas terras? Além daqueles que possuem acesso a bibliografias especializadas, a população brasileira, majoritariamente, tem conhecimentos parcos e aquém do necessário. Para Wittmann, organizadora e autora de um dos capítulos do livro, a escassez de saberes a respeito dos povos indígenas brasileiros “[…] revela o desconhecimento de nossa sociedade sobre a própria história” (WITTMANN, 2015, p. 9). Contudo, há diversos motivos para tal insciência, sendo o principal deles a ausência ou a insuficiente abordagem de histórias e culturas indígenas em instituições educacionais.
Por décadas, os indígenas foram apartados da escrita da História do Brasil, portanto, pouco abordados nos currículos escolares. Quando apareciam nos livros e materiais didáticos, eram enfocados no passado, vistos como coadjuvantes e jamais como sujeitos históricos. Além disso, até meados de 1990, não havia menção aos indígenas em tempos anteriores à colonização espanhola e a portuguesa na América Latina na maioria dos livros didáticos brasileiros. Esses povos passavam a existir na História somente com a chegada dos estrangeiros e, consequentemente, a partir de seus olhares. No que se concerne à vinda dos povos indígenas ao continente americano, quase nenhuma informação era encontrada (GRUPIONI, 1996).
Dando mais um passo para trás, a exiguidade de estudos sobre indígenas na área de História pode estar relacionada ao imaginário construído com a chegada dos colonizadores, eternizado na famosa frase de Varnhagen, presente em História Geral do Brasil, livro de 1854: “de tais povos na infância não há história: há só etnografia” (VARNHAGEN, [1854] 1953, p. 31). Bittencourt (2013, p. 111-112) infere que, a partir dessa frase e dessa obra, “[…] poucos foram os historiadores que se ocuparam dos povos indígenas, assim como vários autores de livros didáticos se limitaram a reproduzir essa escassa produção sobre esses ‘povos sem história’, que tornaram-se, quase que exclusivamente, objeto de estudo de etnólogos”. Corroborando, assim, com nosso atual desconhecimento acerca de histórias e culturas dos povos indígenas brasileiros.
Desde a metade final dos anos 1990, com a instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), teve início uma reformulação do ensino brasileiro, bem como uma renovação nos ensinos fundamental e médio. A partir de então, passou-se a aceitar o termo “diversidade” como princípio norteador dos PCN para o ensino de História e, do mesmo modo, o termo “pluralidade” aparece em evidência. A temática indígena também é mencionada em diversos pontos, tanto nos PCN para as disciplinas de História e Geografia destinados aos primeiros ciclos do ensino fundamental (de 1ª a 4ª série, atualmente denominados de 1º ao 5º ano), como nos PCN destinados à História dos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª série, atuais 6º ao 9º ano).
A partir de tais parâmetros, diversos livros didáticos brasileiros incluíram conteúdos sobre indígenas em contextos anteriores à colonização europeia, passando a versar sobre o continente americano em temáticas relacionadas à Pré-história. Dessa forma, “a antiga tradição de começar nossa História com a chegada dos portugueses foi superada. Mantém-se, contudo, o predomínio da apresentação dos índios a partir do passado, mas isso se explica, em grande parte, por se tratar de livros de História” (FUNARI; PIÑÓN, 2011, p. 100).
Anos após a publicação dos PCN, a lei 11.645/2008 torna obrigatório o estudo da história e cultura1 indígena nas escolas públicas e particulares. Assim, em colaboração com essa lei, o livro Ensino (d)e História Indígena tem o objetivo de compartilhar e gerar conhecimentos a respeito da temática indígena, sendo uma obra destinada a professores e professoras da educação básica, principalmente para o ensino médio. Contudo, acreditamos que as diversas abordagens sobre povos indígenas, divididas em cinco capítulos, nos trás uma multiplicidade de informações sobre a pluralidade de histórias indígenas de nosso país e colaboram com aulas de todos os níveis escolares – inclusive com aulas universitárias.
Na introdução, Wittmann nos mostra o que está por vir a partir da discussão de uma nova área de estudos da temática: a Nova História Indígena. Essa área tem consolidado espaço nos estudos históricos por abordar ações e interpretações de sujeitos e povos indígenas diante de múltiplas realidades, além de buscar desconstruir afirmações até então bastante difundidas, tais como: “populações indígenas estão em vias de desaparecimento”, “povos indígenas já fazem parte do passado”, “extermínio indígena” ou mesmo visões “conservadoras”, a saber, as que não consideram indígenas aqueles que deixaram de residir em suas terras e/ou comunidade de origem; aqueles que têm contato com objetos não indígenas que fazem parte da sociedade capitalista, como aparelhos eletrônicos (celulares, televisão, rádio, computador etc.), vestimentas (calça jeans, roupas íntimas, calçados, bonés etc.), automóveis, acesso a internet, entre outros. Ou seja, essas visões “conservadoras” não consideram indígenas aqueles que não mantiveram suas culturas estáticas (como se isso fosse possível!) e se apropriaram de objetos de outras culturas.
De fato, o livro cumpre o que propõe em seus cinco capítulos de autoria de pesquisadores e pesquisadoras com formação acadêmica em História. Nesses, as histórias e culturas indígenas são grafadas a partir de diversos olhares e abordam variadas regiões brasileiras, desconstruindo, de prontidão, as ideias de uma única história indígena ou de apenas uma cultura indígena. Além disso, percebe-se o cuidado com a diagramação da obra, pois os capítulos são constituídos de figuras coloridas e quadros informativos. Esses quadros são destacados do texto em caixas quadradas de cor púrpura e trazem informações, complementações e explicações essenciais para a compreensão dos assuntos abordados nos capítulos, ampliando, dessa forma, os conhecimentos dos leitores e tornando o assunto ainda mais dinâmico e compreensível.
Vamos às análises desses trabalhos. Giovani José da Silva, autor do primeiro capítulo, intitulado “Ensino de História Indígena”, após versar sobre as dificuldades em se reconhecer, no Brasil, a diversidade pluricultural e multiétnica, enfatiza a sua experiência em uma escola indígena localizada no Mato Grosso do Sul. Silva foi professor de ensino fundamental e médio da escola fixada na aldeia Bodoquena, dos indígenas Kadiwéu, na qual realizou uma experiência didático-pedagógica em História e a narra em seu capítulo. Entretanto, antes da experiência contada, o autor descreve suas dificuldades em se aprender o idioma falado pelos Kadiwéu – filiado à família Guaikuru – e também pela experiência que vivenciou ao acompanhar a instalação das escolas indígenas na região do Pantanal.
Com linguagem fácil para leigos, já que o livro não é destinado a acadêmicos e sim para docentes de escola básica, Silva explana algumas trocas de conhecimentos e experiências ocorridas durante sua permanência de sete anos nessa região do Mato Grosso do Sul. Ao final, assim como há nos capítulos seguintes, o autor propõe sugestões de atividades visando auxiliar os docentes na preparação das aulas escolares. Cada atividade possui um “texto de apoio para o(a) professor(a)”, que complementa o assunto abordado. Silva propõe atividades que vão além do assunto central de seu capítulo, ampliando a gama de possibilidades de se abordar História Indígena dentro da sala de aula. O autor sugere trabalhar, por meio de vídeo, a presença indígena na sociedade brasileira atual; refletir sobre as representações acerca dos indígenas presentes em canções; compreender os porquês das datas comemorativas, entre essas, o dia 19 de abril como “Dia do Índio”; realização de pesquisa a respeito da inserção da temática indígena nas aulas; e discussão de memórias construídas sobre a participação dos indígenas na Guerra do Paraguai. Enfim, há diversas propostas que os docentes podem se apropriar, se inspirar ou utilizar como norte para as aulas escolares.
Saindo do Centro-oeste e caminhando para região Norte do país, “Índios cristãos na Amazônia colonial”, de autoria de Almir Diniz de Carvalho Júnior, aborda as relações ocorridas entre indígenas que habitavam a região amazônica e os europeus através das “missões católicas” – utilizadas como mais uma forma de colaborar com a conquista do território recém-“descoberto”. Dentro dessas “missões” – núcleos de pequenos povoados instalados nas proximidades dos primeiros centros coloniais – havia uma maior concentração de indígenas do que de brancos (esses eram soldados, padres, missionários e alguns colonos), mas, obviamente, as impressões sobre tal período, registradas em documentos oficiais, vêm dos olhares dessas “minorias” brancas.
Deslocando o foco do olhar do europeu para o indígena, o autor do segundo capítulo descreve as relações e o dia a dia dentro desses lugares de “missões”, como: as diversas funções cumpridas; os espaços de controle; a administração; as novas formas de conceber e administrar o tempo; o uso de panos de algodão para cobrir os corpos; a imposição de uma ética de trabalho que não condizia com os significados que os povos indígenas atribuíam a essas atividades laborais; as estratégias criadas para se livrarem dos serviços; ou seja, a imposição e a adaptação dos indígenas a essa lógica religiosa e cultural cristã. Portanto, os personagens, como diz o autor, obscurecidos na historiografia brasileira, são trazidos nesse capítulo para que compreendamos as transformações dos povos indígenas da região amazônica brasileira.
O terceiro capítulo, “Identidades indígenas no Nordeste”, de Mariana Albuquerque Dantas, aborda as transformações nas identidades e culturas dos povos indígenas habitantes da localidade compreendida hoje como Nordeste, precisamente da região de Pernambuco, a partir da formação dos aldeamentos ocorrida no século XIX. Esse capítulo nos põe em estado de reflexão para entendermos as origens dos discursos que são disseminados, até a atualidade, a respeito da “pureza” dos indígenas. A autora também aborda o surgimento dos “caboclos” (remanescente de indígenas, na concepção daqueles que compreendem que a identidade é algo estático e imutável), as relações dos povos indígenas com o surgimento de aldeamentos, além do processo de extinção das aldeias articuladas pelos discursos acerca da mestiçagem.
Dantas constrói o texto de maneira didática, com figuras, mapas e documentos históricos, o que facilita tanto o processo de entendimento do professor como o do leitor que tenha interesse na temática. Além disso, a autora traz problematizações envolvendo os discursos dominantes das autoridades que ocupavam cargos administrativos e a falta de produções documentais a partir da fala dos indígenas, elucidando que, para se analisar fontes do século XIX a respeito da participação indígena na construção da História, é necessário que o leitor/pesquisador tenha um posicionamento crítico. Nas sugestões de atividades há a utilização de vídeos e da Literatura para se comparar imagens construídas acerca dos indígenas (como a imagem idealizada presente em “O Guarani”, de José de Alencar, e a representação do povo mestiçado, considerado indolente e sem terra, contida no livro “O Caboclo”, de Estêvão Pinto), além de textos de apoio para os docentes.
Luisa Tombini Wittmann, organizadora do livro, é a autora do quarto capítulo “Relações interétnicas ao Sul”, que aborda histórias indígenas da região do Vale do Itajaí, localizado no estado de Santa Catarina. De escrita mais literária, o que possibilita uma leitura deveras agradável, a autora narra os “(des)encontros de dois mundos” – assim como a própria escreve – ocorridos entre o mundo dos indígenas Xokleng e o dos imigrantes europeus, majoritariamente alemães, que chegaram em Santa Catarina no século XIX. Além de informações sobre a criação de grupos denominados de “bugreiros”, destinados à caça de indígenas, o que mais chama atenção, no capítulo, é a reconstrução das histórias de crianças indígenas retiradas de seus núcleos de nascimento para viverem nas cidades com outras famílias não indígenas com o intuito de serem “civilizadas”. As histórias das irmãs Ana e Korikrã, duas indígenas Xokleng que foram retiradas do grupo para serem educadas com não indígenas (Ana recebeu o sobrenome alemão de Waldheim e foi viver junto às freiras no Colégio Sagrada Família e Korikrã foi adotada pela família Gensch) além de provocarem emoção no leitor, vêm a colaborar com a demonstração de como é incoerente ainda se dizer, no Brasil, que há “uma história indígena” (no singular), pois, as diversas etnias, os diversos povos, as diversas regiões brasileiras têm suas particularidades e suas diferentes histórias.
O último capítulo, escrito por Clovis Antonio Brighenti, “Movimento indígena no Brasil”, aborda, além do assunto já explícito no título, os desafios para a consecução dos movimentos indígenas – como as demarcações de terras; a legislação indigenista no Brasil; a criação de órgãos como o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI); as assembleias organizadas por Chefes Indígenas; as repressões e os apoios; e as diversidades dos movimentos indígenas devido às variedades de povos indígenas no Brasil. Um dos pontos importantes do texto é a desmistificação, já no início, da ideia do “bom selvagem”, imbuída pelo pensamento europeu da época dos descobrimentos intramarinos (século XVI), demonstrando que os movimentos de resistências indígenas têm início no mesmo século, logo após a chegada dos portugueses.
O livro ainda possui, como anexo, uma série de “Materiais comentados sobre a temática indígena”, no qual a organizadora visa auxiliar professores e estudantes para as reflexões acerca dos indígenas no ambiente escolar. Os materiais são divididos em: sites, músicas, mapas e filmes – com links daqueles que estão disponíveis para o domínio público em sites de internet.
Como já assinalado no início desta resenha, além de cumprir o objetivo de compartilhar e gerar conhecimentos sobre a temática indígena, o livro vai mais à frente. Colabora com a desconstrução de clichês como “o bom selvagem”, mostrando as resistências e organizações indígenas surgidas a partir das próprias populações originárias; também favorece a desedificação de ideias que generalizam os povos indígenas, como se fossem todos iguais, evidenciando as diversas histórias e culturas presentes em várias regiões brasileiras; e põe em cheque a velha máxima de que esses povos estão desaparecendo, trazendo a tona reflexões acerca das identidades indígenas e das elaborações das mesmas.
A partir dos olhares de cinco pesquisadores, cada qual partindo da área de História, porém com diversas trajetórias acadêmicas e diferentes objetos de pesquisas, temos, neste livro, saberes que são essenciais para colaborar com a desconstrução de estereotipias sobre os indígenas e demonstrar algumas das produções da área de pesquisa intitulada Nova História Indígena. Compreendemos que, de tais povos, não há “história” no singular. Mas, há “histórias” no plural, há singularidades, há transformações, há lutas, há protagonismos, há presenças, há memórias, há sujeitos, há participantes da construção da História do Brasil, da constituição do povo brasileiro e da composição das diversas culturas que fazem parte de nosso país. Portanto, Ensino (d)e História Indígena é um livro necessário para brasileiros e brasileiras, sejam professores ou não.
Referências
BITTENCOURT, C. F. História das populações indígenas na escola: memórias e esquecimentos. In PEREIRA, A. A.; MONTEIRO, A. M. (Org.). Ensino de história e cultura afro-brasileiras e indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.
BRASIL. Lei nº 11.645. “Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm> Acesso em: 13 de abril de 2014
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF, 10 volumes, 1997.
FUNARI, P. P.; PIÑÓN, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para os professores. São Paulo: Contexto. 2011.
GRUPIONI, L. D. B. Imagens Contraditórias e Fragmentadas: sobre o lugar dos índios nos livros didáticos. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.77, n. l86, p. 409-437, maio/ago. 1996.
VARNHAGEN, F. A. de. História Geral do Brasil. Tomo 1. 5 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1953.
WITTMANN, L. T. (Org.). Ensino (d)e História Indígena. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
Nota
1 Na lei é denominado “história” e “cultura” no singular. Nós optamos por sempre referenciar a “histórias” e “culturas” indígenas por partirmos da concepção de que os povos indígenas são diversos e plurais, sendo inadequado generalizar e considerar que todos os povos são iguais e possuem apenas uma história e uma cultura.
Maria Cristina Floriano Bigeli – 1 Doutoranda UNESP – Assis. Professora UNESP – Marília.
Algumas reflexões Wittgensteintianas a partir do “Heidegger Urgente: introdução a um novo pensar”
GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. Algumas reflexões Wittgensteintianas a partir do “Heidegger Urgente: introdução a um novo pensar”. Editora Três Estrelas, 2013. Resenha de: SILVA, Marcos. Argumentos – Revista de Filosofia, Fortaleza, n.16, jul./dez. 2016.
O livro do Prof. Giacoia representa uma competente introdução à filosofia de Heidegger com a elucidação de conceitos-chave de sua filosofia como Dasein, Auseinadersetzung, Zuhandensein, Vorhandensein, Weltlichkeit, Erschlossenheit, Mitsei, dentre outros. A obra também explora, como se deveria esperar, as fases do pensamento Heiddegeriano, nomeadamente o assim chamado primeiro Heidegger e o Heidegger depois de sua Kehre.
Há também uma boa introdução a sua trajetória biográfica, inserindo momentos- chave em seu contexto filosófico e apontando a influência de outros autores centrais (como, Dilthey e Husserl) no desenvolvimento de alguns conceitos.
As confrontações com Nietzsche são particularmente pertinentes no horizonte da urgência de um novo pensar, ao se trabalhar conceitos com a vontade de poder, perspectivismo, eterno retorno e a associação da técnica com o niilismo.
A parte que se pretende original do livro me parece ser o confronto com temas contemporâneos, sobretudo com o desenvolvimento tecnológico enredado em “uma escalada compulsiva, em uma espiral infinita” (p. 10). Estas características de nossos dias atuais motiva grandemente, por um lado, um “delírio contemporâneo de onipotência (essencialmente moderno)” (p. 11) e, por outro lado, parece justificar a introdução de uma nova forma de pensar (p. 44 e p. 10 e 13).
Como ser filósofo e não refletir o seu tempo? Neste sentido, filosofia é sempre contemporânea de si mesma e dos problemas de sua época. Devemos, como bons contemporâneos de nós mesmos, pensar, auscultar nossa época, uma vez que não há fora de nossa contemporaneidade. Neste sentido, o livro do prof. Giacoia cumpre o papel de estimular discussões fascinantes e urgentes.
Não há nada de particularmente novo na seção “como ler Heidegger”. Se trata basicamente de instruções genéricas, que a meu ver, poderiam ser aplicadas também na leitura de outros grandes filósofos originais, a saber, método, zelo, paciência e empenho.
Em sua conclusão, o prof. Giacoia, em busca de um pensamento por vir, se remete mais uma vez ao porquê é urgente pensar com e a partir de Heidegger.
No que se segue, gostaria de apresentar algumas reflexões sobre normatividade que poderiam motivar um diálogo também urgente entre Heidegger e Wittgenstein em nossa contemporaneidade. Em relação a Wittgenstein e Heidegger pouco se escreve e pouco se pensa. Isto deveria ser revertido, inclusive no Brasil, com a promoção de um diálogo mais rico entre estes dois autores e entre a divisão entre Continentais e Analíticos. A aproximação de Davidson dos hermeneutas, de Sellars a Kant, de Brandom a Hegel, mostra que o diálogo pode ser muito seminal.
Um ponto de comunidade filosoficamente relevante nas obras de Heidegger e Wittgenstein é o movimento de apontar erros da tradição. Algo que era auto- -evidente em determinadas escolas é abalado por suas críticas. Heidegger e Wittgenstein não estão só desenvolvendo novas críticas; eles estão solapando pressupostos de escolas que fundam nossa maneira de pensar e agir. Neste horizonte, a discussão de um fetichismo de nossa época em relação ao sucesso de ciências naturais motiva a crítica a teses positivistas de que a filosofia deveria ser uma ciência ou alguma atividade teórica contígua ao fazer científico. Giacoia trata desta questão, embora restrita a Heidegger, apontando o seu quietismo teórico e a postura de silêncio existencial como características centrais da resposta ao sentido da filosofia e à inserção do homem no mundo (p. 19, 68). Giacoia também associa de maneira muito forte, porque aparentemente exclusivista, a filosofia oriental com Heidegger (p.45). Ora, tanto o quietismo quanto a referência a escolas do oriente são pontos que marcam o pensamento de Wittgenstein também.
Wittgenstein, em seus debates com alguns membros do Círculo de Viena, no começo da década de 30, trouxe textos de poetas místicos indianos para a discussão para rejeitar alguns mau-entendimentos de sua obra de juventude.
Alguns membros do círculo de Viena a associam com um forte positivismo motivado pelo espírito cientificista. Com efeito, no Tractatus, o que não pode ser dito não é absurdo e descartado. É, pois, justamente o que tem mais valor e está para fora da linguagem e de um mundo radicalmente contingente, sem sentido e sem finalidade. Por outro lado, o ataque que Carnap faz a Heidegger me parece injusto e irresponsável, porque educou gerações de filósofos preocupados neste tipo de contenda ideológica entre analíticos e continentais e na mútua desqualificação de escolas aparentemente rivais. Heidegger e Wittgenstein, eles mesmos, parecem nunca ter demandado muito esforço para se inserirem neste tipo de discussão de bastidores da filosofia. Acredito que os dois são filósofos que se inserem na tradição da morte de Deus, anunciada por Nietsche: defendendo a recusa de qualquer elemento transcendente ou metafísico na base do mundo e de nossas atividades.
Interessantemente os dois filósofos nasceram na mesma época, tiveram grandes orientadores (Husserl e Russell), e devotaram suas primeiras obras na década de 20 a desenvolver alguns problemas a partir da metodologia de seus Doktorvaeter (consolidando a escola da fenomenologia, de um lado, e a da análise lógica, de outro lado). Além disso, ambos passam por uma Kehre no final da mesma década. Ambos desafiam a tradição metafísica explicitando o que nós já sabemos e sempre soubemos no uso de nossa linguagem ordinária e no tipo de acesso não problemático e corriqueiro que temos aos objetos que nos circundam. O mote filosófico do programa fenomenológico husserliano auf die Sachen selbst zuruckzuA gehen (p. 35) pode claramente ser visto no desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein também. A centralidade da linguagem e seus limites e a similitude entre os conceitos entre Lebenswelt e Lebensform também podem ser explorados.
Há uma característica filosoficamente relevante que perpassa boa parte da obra destes dois filósofos radicais, ao recusarmos maiores detalhamentos de estilo e método que fariam a aproximação impossível. Ambos os filósofos parecem defender, de maneiras diferentes, que o fundamento das coisas não tem fundamento.
Todo fundamento é situado, contextual e radicalmente humano. A partir da compreensão profunda de nossa finitude, tudo em nossa volta, nossas práticas, nosso conhecimento, nosso mundo, deveria refletir isto.
Aqui poderíamos defender que há um ataque direto ao fundamentalismo filosófico que marca tantas escolas filosóficas ao longo da história e da nossa cultura.
Nós não podemos argumentar do que é e do como pensar, em suas essências últimas e racionais, porque o raciocínio já pressupõe certas respostas a estas perguntas e conceitos que organizam nosso discurso e experiência. De toda forma, acredito que ambos os filósofos não acreditam que esta falta de razão última ou justificação definitiva para a linguagem e o mundo não tira do pensar a sua validade ou legitimidade, mas ao contrário: a falta de fundamento último mostra como alguns fatores centrais em nossas atividades devem ser tomados como fundamentos sem fundamentos.
A discussão sobre a possibilidade do não ser, a temporalidade, a facticidade, a contingência, a finitude, e a falta de fundamento podem ser aproximadas entre os dois autores. Além disso, até mesmo a idéia de abertura e o ser como abertura e vazio poderia ser seminalmente usada em pesquisas filosóficas acerca da obra de Wittgenstein, porque linguagem para ele parece necessariamente residir sobre não-racionalidade e, no limite, em fatores que são injustificados e injustificáveis como a nossa socialização e nossa particular suscetibilidade a socialização. Nos lembremos que as Investigações Filosóficas, por exemplo, são abertas por uma crítica contundente de Wittgenstein a imagem de aprendizado de nomes como descrita por Agostinho que aponta acordos tácitos complicados na base de nossas referências triviais a coisas no mundo. Além disso, tomemos a importância do contexto pedagógico no Sobre a certeza (SC) que apresenta a assim chamada epistemologia de Wittgenstein. Com frequência, a discussão se remete à pergunta de como uma criança aprende coisas que permanecem (e devem permanecer) intocáveis ou indubitáveis. (SC §144, 233, 374) Wittgenstein sugere que uma criança deve primeiro poder confiar, antes de duvidar (SC §160, 480). Aprende-se com a linguagem o que permanece imune à investigação e ao que pode ser investigado (SC §472). Se crianças em seu processo de inserção em práticas duvidarem imediatamente do que está sendo ensinado, elas não serão capazes de aprender alguns jogos de linguagem (SC §283).
Talvez pudéssemos usar jargão Heideggeriano aqui. A criança deve estar aberta para ser inserida ou introduzida em uma prática. Depois da inserção, a relação entre uma imagem de mundo e aprendizado infantil parece ficar evidente (SC §167). Neste sentido, tentar fundar a certeza do conhecimento, como faz Moore em alguns de seus trabalhos (1974, 1974a), com o emprego do operador epistêmico “eu sei” prefixando várias proposições, segundo ele indubitáveis, seria ilegítimo. O contexto de educação parece ser paradigmático e decisivo para Wittgenstein, funcionando até mesmo como metodologia filosófica ao sugerir para nos perguntarmos em casos de certeza indubitável como uma criança as aprende. (SC §581). Curiosamente a ausência de dúvida em algum ponto é fundamental para o entendimento de nossa lógica e aritmética. Nestas práticas não precisamos de acordo com o mundo, mas com outros indivíduos de nossa comunidade, ou com a humanidade (SC §156, 281).
Analogamente, Heidegger acusa a metafísica tradicional de focar exclusivamente nos objetos a mão, ou seja, em algumas entidades que não se mudam e não são afetadas em seus contornos. Fundar características invariantes em nossas praticas e acordos e não em elementos transcendentes, é dar um fundo objetivo e estável, mas sem fundamento definitivo, a práticas cognitivas do homem, como ciências, lógica e matemática.
É claro que a crise dos fundamentos das ciências, incluindo fundamentos da matemática e da lógica que motivam a emergência de lógicas não-clássicas e abordagens variadas de anti-realismo no século XX, representa uma crise da racionalidade.
Isto motiva grandemente a defesa de uma nova noção de razão mais apropriada para nossa finitude. Para tanto, deveríamos enfatizar o fator humano, social e histórico no próprio desenvolvimentos de nossas atividades científicas.
A partir daqui eu gostaria de me concentrar no papel que a noção de Maßstab, em especial, poderia desempenhar na aproximação da filosofia dos dois filósofos em um novo pensar urgente.
Vale destacar que a polissemia da palavra em alemão é grande. Ela é discutida em diferentes contextos e tem diferentes usos, tais quais, instrumento (régua), metragem, sistema de coordenadas, escalas, critério (“Hast du einen Maßstab dafür?”), um cânon, um paradigma, um padrão ou Vorbild (“Bach ist der Maßstab der Musik!”), objeto de comparação ou protótipo (“Wir setzen Maßstäbe!”), regras e normas (“Welche sind die Maßstäbe für die Behandlung von Tiere hier?”), dentre outras acepções.
Inspirado por reflexões de Heidegger e Wittgenstein, gostaria de destacar o papel humano e normativo de Maßstaebe em nossas práticas na fundação desta nova racionalidade da finitude. Elas são objetos pelos quais nós avaliamos a qualidade de alguns procedimentos e descrições. O objeto de comparação não pode, ele mesmo, ser verdadeiro ou falso, mas ele determina como avaliamos coisas como verdadeiras ou falsas. Desvios e/ou contraexemplos não são falsos, são confusos e/ou absurdos (Unsinn).
Algumas teses podem ser elencadas no desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein a partir de 1930 que se conformam grandemente à filosofia Heideggeriana. Acredito que originalmente Wittgenstein percebe que não existe uma Maßstab natural. Um sistema de coordenadas, uma escala, ou um sistema de medida não é algo psicológico e nem físico e tampouco fundado em um espaço lógico eterno compartilhado entre linguagem e mundo. A alternativa para este dilema é justamente a natureza social, impessoal e histórica da introdução destes sistemas para que possamos avaliar a qualidade das nossas descrições do mundo e de nossas atividades. Não há critério subjetivo, mas também não há critério absoluto.
Este elemento normativo, qual seja, da possibilidade de correção de práticas e atos a partir de Maßstaebe pode ser o fio condutor para se restaurar a correlação entre racionalidade, lógica e ética nesta racionalidade da finitude, uma vez que todas são fundamentalmente constituídas em relação com elementos deontológicos como obrigação, comprometimento e dever, ou seja, são compostas a partir do reconhecimento de normas. Normas e regras são objetivas e gerais, embora não absolutas ou universais. São estáveis, mas não definitivas. Escalas devem ser estipuladas, introduzidas, estabelecidas. Não há medidas no mundo independente de nossas práticas.
Uma forma radical de convencionalismo não é consequência desta abordagem: não se trata aqui que poderia haver quaisquer regras postuladas, porque regras devem apresentar um sucesso pragmático para uma determinada finalidade inserida em uma Lebensform. Elas não são convencionais, porque são frutos de uma assembléia, mas porque poderiam ser outras e dependem da estabilidade de certos acordos tácitos em nossas práticas. Não é que tudo valha, se tudo for humano demasiado humano. Devemos entender que a importância e liberdade do indivíduo decresce na medida em que aumenta o número de praticantes. A aceitabilidade de Maßstaebe pressupõe regularidades sociais em uma comunidade.
Isto claramente também está relacionada com a emergência de figuras de autoridade pública, política e de seus efeitos perlocutórios em uma comunidade, seja na figura de pais em núcleos familiares, do educador de jovens em ambientes pedagógicos, de um líder em práticas políticas mais sofisticadas ou de um cientista (ou mago) com grande prestígio em sua comunidade.
Em todos estes casos de aprendizado, introdução e aplicação de escalas é essencial destacarmos o papel normativo envolvido. A aplicação tem que poder ser controlada, regulada e corrigida. O problema aqui não é a possibilidade do falso como na tradição plantonista e realista, mas a possibilidade da correção. A possibilidade de eliminar erros é central. Deve haver, então, um deslocamento da linguagem pensada como composta de entidades objetivas que identificam condições de verdade para os atos e compreensões práticas da aplicação de regras constitutivas de significados linguísticos.
Em um sentido filosoficamente relevante, estas escalas que constituem nossos sistemas linguísticos, lógicos e matemáticos não descrevem nada, mas são usadas para avaliarmos nossas descrições, ou seja, elas não podem ser nem verdadeiras e nem falsas. Elas são o critério pelo qual nos avaliamos a verdade ou falsidade de determinadas descrições. Um critério é usado para avaliar uma descrição; mas ele mesmo não é uma descrição. Para avaliarmos este critério não podemos usá-lo, mas temos que evocar um outro critério. E para avaliar este outro critério, um outro e assim por diante. Nenhum deles precisa representar nada, nem uma gramática profunda e nem um domínio independente de entidades supranaturais.
Divergências radicais de nossos critérios e paradigmas de avaliação não são falsas; são incompreensíveis ou plenos erros. No limite, serão consideradas devaneios.
Podemos avançar mais um pouco nossas especulações normativas, com as seguintes questões: Se adotarmos, para fim de argumento, a teoria da verdade por correspondência, teremos uma descrição correspondente à realidade, se for ver dadeira. Contudo, como a descrição ou proposição corresponde à realidade? Como se testa uma descrição? Com quais critérios nós verificamos a verdade de um juízo ou este concordar com a realidade? O que vai ditar a prioridade de um critério em relação a outro? Em caso de conflito de evidência, como determinamos qual evidencia é mais relevante? O que vai determinar qual é o critério ou escala mais relevante? Adequação com os dados, a simplicidade, a consistência, o poder unificador da explicação, a recusa de elementos ad hoc, computabilidade, eficiência, efetividade, necessidade social de uma época? Aqui um aspecto existencial e pragmaticamente importante toma lugar, a saber, a decisão tomada por indivíduos engajados em determinadas práticas públicas.
É importante notar que em um ambiente de conflito temos que fornecer instruções para se testar nossas afirmações (SC § 641). Nestes casos, como em muitos ambientes teóricos, precisamos mais de acordo com outras pessoas, nossos Mitmenschen, que com fatos.
Nós não estabelecemos fatos, nós estabelecemos os critérios pelos quais descrições dos fatos são avaliadas. Nesta visão revisitada da racionalidade, marcada pela finitude e pela normatividade, nós somos ligados pelas nossas normas e pelos compromissos de nosso discurso e nossos atos. Nós somos racionalmente integrados pelos nossos compromissos disciplinados por normas e pelos atos pelos quais somos responsáveis. Aqui o papel que o uso, o costume e as instituições desempenham nesta concepção normativa da racionalidade é evidente.
Relevantemente, precisamos de um ambiente de instrução, de estar com o outro. Onde uns confiam em outros e onde haja autoridades reconhecidas. Em práticas sociais, um indivíduo tem que ser reconhecido pelos que ele reconhece.
Em outras palavras, deve haver um reconhecimento recíproco na base desta racionalidade normativa. Neste horizonte, é fascinante também nos perguntarmos como autoridades são constituídas? São autoridades porque elas sempre acertam? Ou porque elas definem o que é um acerto? Elas parecem ser tornar objetos de referência, porque influenciam as práticas onde critérios são estabelecidos. Elas são autoridades, porque instituem critérios novos ou instituem critérios novos porque são autoridades? Com esta curta resenha ao intrigante livro do Prof. Giacoia espero ter mostrado como se pode promover a aproximação entre Heidegger e Wittgenstein nesta rearticulação da razão pela finitude do ser humano, na precariedade de nossas práticas, fundando a objetividade nas normas publicas estáveis, mas não definitivas, de comunidades.
Pensar os dois filósofos, Heidegger e Wittgenstein, em conjunto e não isoladamente é urgente para a introdução de um novo pensar.
Referências
MOORE, G. E. Uma Defesa do Senso Comum. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Coleção os Pensadores).
______. Prova de um mundo Exterior. São Paulo: Abril Cultural, 1974a. (Coleção os Pensadores).
WITTGENSTEIN, Ludwig. TractatusLogico-philosophicus. Tagebücher 1914-16. Philosophische Untersuchungen.Werkausgabe Band 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
______. Some Remarks on Logical Form. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, v. 9, Knowledge, Experience and Realism, p. 162-171 Published by: Blackwell Publishing on behalf of The Aristotelian Society, 1929.
______. Philosophical Investigations. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1953.
______. On Certainty. Edição bilíngue. G. H. von Wright & G. E. Anscombe (Orgs.). Londres: Basil Blackwell, 1969.
______. Wittgenstein und der Wiener Kreis (1929-1932). Werkausgabe Band 3. Frankfurt amMain: Suhrkamp, 1984.
Marcos Silva – Pós-doutorando em Filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC)/CAPES-PNPD. E-mail: marcossilva@gmail.com
Pierre Clastres y las sociedades antiguas | Marcelo Campagno
Es poco sabido en el ámbito de la Historia que el antropólogo francés Pierre Clastres (1934-1977) personificó a uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, dejando un importante legado literario y científico. Tanto por la belleza de la escritura como por la fuerza de las ideas antropológicas, su singular obra –compuesta principalmente por sus etnografías de las sociedades del ámbito amazónico y por las teorías que desarrolló acerca de los pueblos “salvajes” fuera y en contra de los Estados– ha marcado decisivamente buena parte de la producción antropológica de las últimas décadas. En efecto, a pesar de que su temprana muerte a los 43 años significó irremediablemente el fin de una de esas grandilocuentes mentes de la que sin duda habrían emergido otros aportes de gran valor para la teoría social en Sudamérica, resulta igualmente innegable que las diversas interpretaciones antropológicas producidas por Clastres hasta el año 1977 pueden ser, además, empleadas como herramientas conceptuales válidas por otros cientistas sociales para el estudio de los múltiples modos de vida que forjan las sociedades y sus culturas. Y si resulta factible que, durante algún tiempo, su valiosa producción intelectual no haya recibido la atención que merecía, tal vez por efecto de la oposición de Clastres a las posturas hegemónicas dentro del establishment académico de su época, un hecho irrebatible en la actualidad es el significativo vuelco hacia los planteos de este renombrado antropólogo francés que han sabido practicar los más diversos campos de análisis, desde diversas corrientes filosóficas y el pensamiento anarquista, pasando por las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas, los estudios de la sociología, la teoría política y el psicoanálisis, hasta el análisis de situaciones sociales y políticas contemporáneas. Leia Mais
O escravo na formação social do Piauí: perspectiva histórica do século XVIII | Tânya Maria Pires Brandão
Trabalho originalmente proposto como dissertação de mestrado, trata-se de um dos mais importantes estudos sobre a formação social do Piauí, tomando como cerne a questão do trabalho escravo na Capitania do Piauí.
A autora estuda a economia e a demografia escrava no Piauí durante o século XVIII. Mostrando como a atividade criatória permitiu a consolidação do regime de trabalho escravo, com perfil socioeconômico semelhante ao restante do Brasil. Ela baseou-se num rico leque de fontes documentais, como, por exemplo, inventários e correspondências. O trabalho de dissertação de mestrado da autora foi defendido na UFPE em 1984 sob orientação do Prof. Armando Souto Maior.
A notável pesquisadora pode ser tida como uma apaixonada pelos problemas da história notadamente da história do Piauí, nesse trabalho mergulha numa tentativa de desvendar a formação de uma sociedade em constituição de um Piauí distante e remoto do século XVII, a presença do escravo e a sua participação na construção desse universo, Professora e pesquisadora de longa experiência leva o leitor a refletir com rigor sobre a história do Piauí colonial.
Nos capítulos que integram a obra, a professora Tânya Brandão trava um debate claro sobre a questão do escravo na formação social do Piauí colonial. Tânya Brandão mostra que a escravidão foi uma instituição presente no sertão do Piauí até o século XIX como uma instituição perfeitamente consolidada. Portanto o trabalho escravo no Piauí desde o século XVII ao XVIII foi voltado para atividades de agricultura de subsistência, a fabricação de instrumentos, os cuidados com serviços domésticos e em essência relacionados ao manuseio com o gado.
A Autora debate, intencionalmente, sempre na mesma tecla – uma variação sobre o mesmo tema: a compreensão da construção social de um Piauí colonial e a inserção do escravo nessa sociedade.
Como credencial a Professora Doutora Tânya Maria Pires Brandão possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Piauí (1974), especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal do Ceará (1975), mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (1984) e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (1993). É Professora Adjunta da Universidade Federal de Pernambuco. Como historiadora, desenvolve pesquisas com ênfase em História do Brasil. Atuando principalmente nos seguintes temas: Oligarquia, Colônia, Piauí.
No século XVII, a colonização do Piauí tomou um novo rumo com direcionamento tomado pela política colonial portuguesa, pois o avanço na busca de vias terrestres permitiria assegurar o domínio da região e efetivar o domínio econômico da Metrópole portuguesa. Na ocasião não se apresentaram muitas opções à valorização do território piauiense.
O modelo extrativista vegetal e mineral não se consolidou, bem como se inviabilizou o cultivo da cana para fabricação do açúcar. Logo, a escolha da pecuária como atividade principal talvez tenha resultado da observação aos aspectos regionais.
Nesse ponto a perspectiva apontada por Tânya Brandão começa a desvelar a intencionalidade da proposta portuguesa para a região, pois de acordo com a mesma (1999, p.27) “A formação social do Piauí enquadrou-se em caráter escravista. Desde os primórdios da colonização do território, os pecuaristas, a exemplo de Domingos Afonso, utilizavam-se do trabalho escravo”.
Assim, de acordo com o que foi afirmado pela autora, o escravo africano também começava a fazer parte da colonização do Piauí, mesmo que a atividade econômica desenvolvida não exigisse grande concentração dos mesmos, por outro lado a opção dos fazendeiros no Piauí pelo trabalho escravo do negro deu-se ainda no início da implantação da pecuária, pois o sistema escravocrata já estava consolidado em toda zona colonial portuguesa.
Para Tânya Brandão (1995), o “emprego do escravo no criatório piauiense ocorreu desde a implantação dos primeiros currais”, cuja função destinava-se à construção e manutenção da infraestrutura das moradias, a lida no campo e o cultivo das roças.
Ainda segundo Tânya Brandão, durante o século XVIII, no Piauí se consolidou também o latifúndio, “tipo de propriedade rural pertencente a um senhor, tendo por base a pecuária e com boa parcela da área sem cultivo”. (1999, p. 54)
Ou seja, a atividade pecuarista não deixava muito espaço para o desenvolvimento de outras práticas produtivas que, no entanto, existiam em menor escala, como a própria agricultura de subsistência.
A pecuária extensiva e a produção de gêneros agrícolas foram às principais atividades econômicas desenvolvidas no Piauí, tais atividades possibilitaram a existência de várias categorias de trabalhadores, a proposta de Tânya Brandão parte do princípio de tentar compreender qual o lugar do escravo nesse emaranhado das relações sócias do Piauí colonial.
No Piauí a sociedade colonial foi marcada pela presença de elementos distintos em decorrência das funções que desempenhavam e da posição social que ocupavam.
Neste caso desde sesmeiros, passando por posseiros, arrendatários, vaqueiros, senhores, agregados e os escravos, teremos os principais elementos constituidores desta sociedade. (ARAÚJO, CABRAL, 2012).
A tendência da historiografia piauiense anterior a renovação teórico metodológica implantada nas pesquisas atuais, tendeu sempre a negar ou relativizar a participação do elemento negro escravizado na sociedade piauiense do período colonial.
Numa análise mais aprofundada a servidão negra no Piauí na perspectiva da historiadora Tânya Brandão (1999) é apresentada como secundária nas fazendas de gado. Esta característica deveu-se a vida rústica do sertão, onde os trabalhos desenvolvidos pelos negros não estavam diretamente ligados ao processo produtivo principal no caso a pecuária, mas a tarefas secundárias como fabricação de telhas, tijolos, artesanatos, trabalhos domésticos, alugueis de seus serviços pelos seus senhores, na agricultura e construção civil. (LIMA, SOARES, 2011).
Nas fazendas, o cuidado do gado nos campos e currais seria realizado, predominantemente, por vaqueiros livres. Assim, ficaria para os trabalhadores escravizados as duras e pesadas tarefas da lida nas fazendas.
Considerando a existência de uma dualidade na utilização da mão de obra e de formas de tratamentos, Tânya Brandão defende que a presença do escravo nesta região se deu com características distintas que no resto do país, sendo absorvida muito mais como uma demonstração de status social do que como força de trabalho atuante, apesar de, do ponto de vista da relação social, não fugir a regra do sistema escravista impregnado no Brasil. (LIMA, SOARES, 2011)
Apesar da referência sobre os mecanismos repressores para o controle e domínio dos escravizados, a existência de dois cativeiros no Piauí, o privado e o público, levaram a autora a apontar que os trabalhadores das fazendas públicas gozavam de maiores privilégios e regalias que nas fazendas privadas.
Nas propriedades privadas a violência, principal mecanismo de atuação do sistema escravocrata, se apresentava mais frequente, pois o senhor se mantinha presente e atento aos movimentos de seus trabalhadores. O comportamento violento dos proprietários contrasta com o vivenciado pelos escravizados públicos. (LIMA, SOARES, 2011).
Nesse meandro para Tânya Brandão (1995), o Piauí firmou-se como zona produtora de gado durante a estrutura econômica colonial, constituindo, assim, duas frentes econômicas. A primeira tinha como função ajudar os setores agrário exportador de outras regiões coloniais, fornecendo carne para consumo, a força matriz dos cavalos e bois para mover os engenhos e assegurar os transportes nas duas regiões; a segunda se relacionava à necessidade e capacidade de suprir a colônia com produtos comerciais junto à metrópole.
No entanto, a importância da economia piauiense para o sistema colonial não incidia num grande apoio para balança comercial, mas na articulação que mantinha com os demais setores produtivos da colônia.
Tomando o modelo escravista em vigor no século XVIII, outra perspectiva da sociedade Piauiense colonial era o uso da violência traço também observado por Tânya Brandão, pois segundo a mesma:
De acordo com as fontes históricas, durante os séculos XVII e XVIII, distinguiu-se a sociedade por seu aspecto violento. É evidente que a agressividade da população resultou do processo colonizador. Na primeira fase, quando se iniciou o povoamento da região, foi exigido dos conquistadores, não apenas espírito aventureiro, mas a coragem e a audácia suficientes para dominar a natureza hostil, afugentar o índio bravio, relutante e acostumar a gadaria aos novos pastos. A própria luta pela sobrevivência e garantia de terra conquistada teve caráter violento (BRANDÂO,1999:89)
A violência no cotidiano piauiense tornou-se característica na conquista do território. Tais práticas violentas voltaram-se, sobretudo ao elemento nativo e ao processo de escravização desta população que resistia ao processo de ocupação das terras e a submissão ao trabalho escravo. (LIMA, SOARES, 2011)
Mas para além da violência, podemos destacar outros elementos, na povoação piauiense, pessoas livres que procuravam atingir a condição de fazendeiro, enfim, vários sujeitos com seus traços culturais, suas tradições, que mais tarde configuraram-se em colonizador da terra dando origem à sociedade colonial piauiense, nesse esquema o escravo estava bem alocado.
No entanto, Tânya Brandão defende a ideia de diferenciação de condições de trabalho e vida entre cativeiro público e privado. Demonstra que as fazendas particulares, sobretudo as maiores, utilizavam o trabalho escravo de forma dominante apenas nas tarefas consideradas mais pesadas, como criação e manutenção da infraestrutura requerida pela pecuária, serviços domésticos e agricultura de subsistência. No manejo do gado nos campos e currais predominava o trabalho livre, “por ser mais próprio ao homem livre”. (BRANDÃO Apud, LIMA, 2002)
A autora ao fazer sua dissertação de mestrado sobre a escravidão no Piauí se debruça sobre uma tese clássica, que tem como foco principal o pastoreio, nesse ponto a dissocia o trabalho de escravo como fonte de riqueza, e o retrata como símbolo de status, tal como nos mostra na seguinte afirmação.
Isto significa a dizer que não havia uma relação direta com o interesse de acumulação de bens, mas uma relação muito mais social na posse do escravo, não apenas no alivio de trabalho braçal, mas uma ostentação de posição social (BRANDÃO p 154)
Tânya Brandão relaciona a escravidão no Piauí como instrumento de classe social, no entanto se desfaz da linha da violência branda da escravidão no Piauí como autores anteriores defendiam e passam a defender a violência física e moral que os escravos sofreram.
Nessa perspectiva o trabalho mostra um avanço significativo à produção textual sobre a questão escravista no Piauí, revelando e desnudando novas possibilidades de compreensão de um Piauí que muito precisa ser estudado, um Piauí colonial, sua sociedade e a escravidão.
Referências
ARAUJO, Johny Santana de, CABRAL, Ivana Campelo, Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 4
BRANDÃO, Tânya Maria Pires. O Escravo da Formação Social do Piauí: Perspectiva Histórica do Século XVIII. Teresina: Ed. UFPI. 1999.
LIMA, Solimar Oliveira, SOARES, Débora Laianny Cardoso. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 4
LIMA, Solimar Oliveira. Condenados ao trabalho trabalhadores escravizados nas fazendas públicas do piauí: 1822-1871. Disponível em: www.coreconpi.org.br/papers/…/Monografia_2002Profissional.pdf . Acessado em: 25/05/2012
Johny Santana de Araújo – Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI.
BRANDÃO, Tânya Maria Pires. O escravo na formação social do Piauí: perspectiva histórica do século XVIII. Teresina: Editora da UFPI, 1999. Resenha de: ARAÚJO, Johny Santana de. Um olhar sobre o Piauí escravista e setecentista segundo Tânya Brandão. Contraponto. Teresina, v.5, n.2, p.153-158, jul./dez. 2016. Acessar publicação original [DR]
Los pueblos amerindios más allá del Estado | Federico Navarrete e Berenice Alcántara
En las últimas décadas ha comenzado a aflorar de la mano de antropólogos, historiadores y arqueólogos, una imagen distinta de las sociedades no estatales americanas que reconoce la variedad de sus formas de organización social, ubicando su protagonismo en la historia junto al de las sociedades estatales con las que han coexistido durante milenios y buscando comprender las interacciones entre ellas. Y lo cierto es que una de las contribuciones más recientes en esta reorientación historiográfica y antropológica de los estudios americanistas ha sido el libro Los pueblos amerindios más allá del Estado, coordinado por Berenice Alcántara Rojas y Federico Navarrete Linares. Se trata de una compilación que se sumerge de lleno en la problemática de la existencia de incontables pueblos indígenas que se sustrajeron con éxito al dominio de los Estados precolombinos, coloniales y republicanos, ese capítulo de la historia del continente americano que ha sido tradicionalmente ignorado tanto por la historiografía como por la antropología. En líneas generales, el libro surge como corolario de un proyecto grupal de investigación coordinado por los editores de esta obra colectiva, pero más específicamente emerge como concreción editorial de las discusiones del coloquio internacional organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México llevado a cabo en la ciudad de México D. F. a comienzos de noviembre de 2008, en el que debatieron especialistas de México, Brasil y Estados Unidos. De esta manera, los siete trabajos compilados en este volumen hacen alusión a regiones muy diversas de América e inclusive van más allá, ofreciendo una perspectiva comparativa sin precedentes de los ambientes ecológicos y las prácticas socioculturales que posibilitaron a ciertas sociedades amazónicas, andinas, mesoamericanas, aridamericanas y melanesias escapar de la dominación estatal. Combinan las herramientas disciplinarias de la historia, la arqueología y la antropología para procurar identificar las complejas dinámicas de estas sociedades y sus contradictorias relaciones con los Estados que han intentado sujetarlos a lo largo de los siglos. En conjunto, presentan una perspectiva novedosa que amplifica la visión de las sorprendentes historias y las interesantes culturas de aquellos pueblos que tradicionalmente han sido considerados primitivos o “sin historia”. Leia Mais
Clase. El despertar de la multitud | Andrea Cavalletti
Aunque no circule profusamente, a lo largo de los parágrafos que contiene Clase. El despertar de la multitud, de Andrea Cavalletti, la figura de Walter Benjamin resulta sin duda crucial. El pensamiento benjaminiano, en efecto, y específicamente una nota al pie, otorga al libro una suerte de pivote que permite al autor posicionarse en las dos principales genealogías conceptuales del estudio, a saber, la teoría de las clases sociales y las reflexiones sobre la masa y la muchedumbre. Dicha matriz teórica, como veremos, sirve a Cavalletti para retomar el concepto de clase (devaluado tras la diagnosis –ya fetichizada– de la complejización postfordista de las relaciones sociales en el siglo XX) y tantear su posible reactivación en el terreno socio-político contemporáneo. Aunque sean muchos los nombres que conjugue en su despliegue (esenciales son también la Massenwahntheorie de Broch o Masse und Macht de Canetti), los 55 parágrafos del libro de Cavalletti gravitan sobre los múltiples estratos de la nota de Benjamin, al punto de legitimar su caracterización como un estudio benjaminiano, aunque no verse sobre él, y más aun considerando, retroactivamente, su cierre con una “Apostilla benjaminiana”.
La requisitoria que surge entonces es si, por una parte, y desde una perspectiva, digamos, interna, algunos de los estratos de lectura que contiene el fragmento de Benjamin no son exhaustivamente analizados. En segundo lugar, y ya más directamente sobre el quid del estudio, conviene determinar los alcances que la reactivación de la noción de clase puede poseer y qué campo de relaciones teórico-políticas permite delimitar. En este sentido, y sólo a guisa de ejemplo, resulta altamente llamativo que gran parte de los conceptos que forman parte de la actual cartografía de la filosofía política (la teoría hegemómica posmarxista laclausiana la impolítica de Espósito o la teoría sobre la democracia de Rancière, entre otras) sean totalmente omitidos del estudio. Nos referiremos a estas dos perspectivas de interpretación sobre el libro, luego de abordar sucintamente los aspectos más relevantes del mismo. Leia Mais
Spinoza and Medieval Jewish Philosophy – NADLER (CE)
NADLER, Steven (Ed.). Spinoza and Medieval Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Resenha de: DAVID, Antônio. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.35, Jul./Dez., 2016.
Vem em boa hora a coletânea de artigos editada pelo renomado historiador da filosofia Steven Nadler e publicada pela Cambridge University Press . Não porque se trate de empreendimento novo – e aqui convém reconhecer o mérito da historiografia da filosofia de língua inglesa, que tem se dedicado ao assunto com grande afinco. O próprio organizador, especialista em filósofos da chamada primeira época moderna, é autor de outros títulos dedicados à relação entre a filosofia judaica e Espinosa.
É exatamente o estatuto dessa relação que precisa ser examinado, razão pela qual Spinoza and Medieval Jewish Philosophy merece ser lido. Ainda que as respostas oferecidas no livro sejam questionáveis, é meritório o esforço em pensar sobre uma relação que, sob todos os ângulos, é tensa.
Espinosa pode ser considerado um “filósofo judeu”? Nadler é taxativo:
Não se pode negar que textos, história e pensamento judaicos continuam a cumprir um papel importante no pensamento de Espinosa – de tal forma que Espinosa pode com justiça ser considerado um filósofo judeu, seja porque suas ideias revelam um forte compromisso com a filosofia judaica que o precedeu, seja porque em suas principais obras ele filosofou sobre judaísmo (Nadler, 2014, p. 3-4).
Não obstante as duas razões oferecidas por Nadler procedam, elas não parecem ser suficientes para encerrar a questão. Aliás, a questão pouco nos interessa. Mais interessante e profícuo do que perguntar sobre a identidade judaica da filosofia de Espinosa – questão que nunca cessará de gerar polêmica, uma vez que envolve a identidade judaica do próprio Espinosa –, é perguntar sobre a maneira específica pela qual a filosofia deste autor lida com conceitos e ideias próprios da ou assimilados pela filosofia judaica e, consequentemente, do judaísmo, para forjar sua própria filosofia.
Nesse sentido, a coletânea traz uma grande contribuição. Ela ajuda a ampliar o escopo de interpretação da obra de um dos mais importantes nomes da filosofia, interpretação essa que tem sido bastante exitosa em estabelecer os laços que unem Espinosa à modernidade (são inúmeros os trabalhos que comparam Espinosa com Maquiavel, Hobbes, Descartes e Leibniz) e que já deu passos importantes no estabelecimento da crítica de Espinosa às tradições antigas e cristãs, tanto medievais como modernas1
Que Espinosa tenha debruçado-se sobre o judaísmo, não é novidade. Estabelecida no Tratado teológico-político, essa leitura contém teses e argumentos que lhe renderam severas acusações, em particular talvez a tese de que a natureza dos hebreus amparava-se pela piedade para com a própria pátria e no ódio para com outras nações (Spinosa, 1997, p. 371) . Poliakov, por exemplo, dirá que a obra de Espinosa expressaria um “anti- semitismo virulento” (Poliakov, 1996, p. 23) .
Em contrapartida, o forte compromisso para com a filosofia judaica é menos evidente à primeira vista, inclusive por estar como que disseminado na obra, presente não só naquelas passagens em que Espinosa examina práticas e história judaicas. É notório e belo o exemplo de uma das últimas proposições que fecham sua mais importante obra, e também a mais conhecida: “Disso inteligimos claramente em que coisa consiste nossa salvação ou felicidade ou Liberdade: no Amor constante e eterno a Deus, ou seja, no Amor de Deus aos homens. E não é sem razão que este Amor ou felicidade é chamado Glória nos códices Sagrados” (Espinosa, 2015, e v, p 37 . Esc.) 2 .
A obra de Espinosa está impregnada de filosofia judaica – o que não necessariamente significa estar ela impregnada de filosofia exclusivamente judaica, uma vez que, como dissemos anteriormente, os conceitos, teses e argumentos transitaram na rica interlocução entre diferentes tradições. Os autores foram felizes em expressar esse diálogo, sobretudo em se tratando de filósofos judeus e árabes, com especial destaque para os excelentes artigos de Charles Manekin e Julie R. Klein.
O livro possui muitos méritos, dos quais o maior mérito reside no exame dos conceitos e sua “passagem” entre Espinosa e seus interlocutores judeus. Só pela enorme quantidade de citações da Ética demonstra-se que a presença do judaísmo em Espinosa transborda e muito o escopo do Tratado teológico-político, chegando ao núcleo de sua filosofia.
Vemos dois pontos francos no resultado final da proposta, sendo um na coletânea e outro nos artigos. A coletânea concentrou-se demasiadamente, quase exclusivamente, na recepção de determinados filósofos na obra de Espinosa, como Gersonides, Crescas e, com especial ênfase, Maimônides – o que é reconhecido pelo organizador, na Introdução. Com isso, ela deixou de lado dois campos de interlocução extremamente importantes para a compreensão da obra de Espinosa: de um lado, seus contemporâneos na comunidade de Amsterdam; de outro, as tradições místicas judaicas.
Em relação aos artigos, a despeito de seu mérito, percebemos certa inclinação nos autores em procurar estabelecer débitos demasiado diretos e mecânicos de Espinosa para com este ou aquele filósofo. Jacob Adler, por exemplo, após constatar a similaridade entre certa tese de Espinosa e Alexandre de Afrodísias, conclui: “tal pormenor fornece a mais forte evidência de que Espinosa estava seguindo Alexandre” (ibidem, p. 25) . T. M. Rudavsky, por sua vez, argumenta que Espinosa “segue a sugestão de Ibn Ezra’s de que Moisés não teria escrito toda a Torá” (ibidem, p. 86). Já Warren Zev Harvey, numa controversa interpretação de Espinosa, conclui: “ao atribuir alegria e amor intelectual a Deus, Espinosa faz companhia a Maimônides, e segue Avicena e Gersonides”. Na sequência, este mesmo autor afirma: “ao sustentar que o autoconhecimento de Deus implica em Seu conhecimento de todas as coisas, Espinosa segue a interpretação de Aristóteles do Timeu, presente em Metafísica, XII 7 e 9” (ibidem, p. 114 – 115). Fiquemos nestes três exemplos.
Em certo sentido, todo filósofo segue outros que o precederam. Mas este é um sentido fraco, que designa apenas e tão somente o fato de haver interlocução entre os filósofos. Os autores, no entanto, procuraram muitas vezes estabelecer laços fortes entre Espinosa e seus interlocutores, como se certo conceito, certa tese ou certo argumento presente na obra de Espinosa já figurasse nesse ou naquele autor. Ao proceder dessa forma, o intérprete corre o risco de perder de vista o sentido da presença do conceito, da tese ou do argumento no interior da obra daquele que a recebeu. Ao se estabelecer recepções e linhagens, há que se tomar cuidado.
Quanto a isso, estamos de acordo com Nadler, quando este afirma que a filosofia de Espinosa “assimila, transforma e subverte um projeto antigo e religioso” (ibidem, p.2). A este projeto, acrescentaríamos outras tradições e correntes, como a filosofia de Aristóteles, o estoicismo e as filosofias de Hobbes e Descartes. Espinosa segue Gersonides, Maimônides, Crescas e outros, tanto quanto Hobbes, Descartes e Maquiavel, mas sob o preço de subvertê-los.
A despeito destes dois pontos, ressaltamos que o conjunto da coletânea compreende artigos escritos com rigor e erudição. Esperamos que sua publicação encoraje os espinosistas fora do mundo anglófono a engajar-se mais no estudo da presença da filosofia judaica em Espinosa.
Notas
1 A coletânea contém dez artigos. Para um resumo de cada um dos artigos, cf. Nadler, 2014, p.8-12.
2 Essa passagem foi abordada na coletânea por Warren Zev Harvey (Nadler, 2014, p.115), Kenneth Seeskin (Ibidem, p.122) e Julie R. Klein (Ibidem, p.210).
Referências
NADLER, s. (Ed.) (2014), Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
POLIAKOV, l . (1996) De Maomé aos Marranos. História do Anti-semitismo II, São Paulo: Perspectiva.
SPINOSA, b . (1997) Tratado teológico-político, Barcelona: Altaya.
ESPINOSA, b . (2015) Ética, São Paulo: Edusp, 2015.
Antônio David – Doutorando Universidade de São Paulo. E-mail: mdsf.antonio@gmail.com
Introdução à Tragédia de Sófocles – NIETZSCHE (C-FA)
NIETZSCHE, Friedrich. Introdução à Tragédia de Sófocles. Tradução de Marcos Sinésio Pereira Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 2014. Resenha de: SOUZA, Ronaldo Tadeu de Souza. A Estrutura Filológica da Tragédia Grega: a propósito da “ Introdução à tragédia de Sófocles ”de Nietzsche. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v.21, n.2 jul./dez., 2016.
Karl Marx escreveu um dos pontos mais significativos de sua Introdução para a crítica da economia política que:
a dificuldade não está em compreender que a arte grega e a epopéia estão ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade reside no fato de nos proporcionarem ainda prazer estético e de terem ainda para nós, em certos aspectos, o valor de normas e de modelos inacessíveis (Marx, [1857] 1974, p.131).
É certo que devemos aceitar na sua completude a afirmação de Marx acerca do “prazer estético” que a arte grega nos oferece ainda em nossos dias, mas é certo também que devemos nos esforçar para negar Marx ao dizer-nos que a arte grega porta “modelos inacessíveis”. A questão aqui envolve a possibilidade ou não de compreendermos aquela que talvez tenha sido a principal expressão artística do mundo grego antigo, a saber: a tragédia. Quanto mais compreensíveis forem as obras de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, mais estaremos em condições de acessarmos o estatuto da cultura grega clássica para a história das sociedades humanas.
Introdução à tragédia de Sófocles, de Nietzsche, recentemente publicado pela editora Martins Fontes (fim de 2014 / início de 2015), nos apresenta esta possibilidade. Assim, quais são os pontos a serem destacados no escrito introdutório de Nietzsche sobre o drama antigo? Uma observação inicial que é preciso ser feita sobre Introdução à tragédia de Sófocles é a respeito da edição do livro. É um trabalho cioso e esmerado que a erudição de Marcos Sinésio Pereira Fernandes e André Luis Muniz Garcia apresenta aos leitores brasileiros – sobretudo na organização das notas explicativas que percorrem todo o texto de Nietzsche. André Luiz Muniz Garcia, referindo-se ao seu companheiro de tradução e preparação do texto, diz que o trabalho de Marcos Sinésio “é resultado de (…) profundo trabalho de tradução, mas também de pesquisa filosófica e filológica” (Garcia, [Apresentação] 2014, p.XV) que o erudito da Universidade Federal do Maranhão oferece ao nosso público. Em tempo de especialização e profissionalização empobrecedora da universidade, Marcos Sinésio desejou ofertar “tradução e comentários [que] chegassem às mãos não apenas do público acadêmico, mas, principalmente, do leitor não especializado, daquele [não iniciado em] pensamentoschave de nossa cultura” (idem, ibidem). Ao estilo de Fichte: a erudição, aqui, serve à humanidade 1.
Se o esforço de Marcos Sinésio Pereira Fernandes e de André Luis Muniz Garcia foi o de empreender rigorosa pesquisa filológica na tradução de Introdução à tragédia de Sófocles, é porque o próprio estudo de Nietzsche emoldura-se pela filologia. Assim, mais do que um estudo introdutório sobre o sentido da tragédia no mundo grego antigo, e, mais especificamente, sobre a obra de Sófocles, o trabalho de Nietzsche nos apresenta a estruturação filológica da arte trágica. Resultado de um curso proferido por Nietzsche na Universidade da Basileia em 1870, Introdução à tragédia de Sófocles é composta por 20 lições nas quais o filósofo alemão expõe detalhadamente cada composição estética e narrativa que forma a estrutura filológica da tragédia na Grécia clássica. Ao longo das lições, Nietzsche analisa a configuração de significados que a tragédia procura representar na cultura grega antiga. Esta é uma das virtudes do estudo: posicionar os lineamentos narrativos de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes com os momentos constitutivos do mundo da Grécia clássica. É claro que Nietzsche não faz trabalho de historiador arranjando linearmente os trágicos nos pontos mais sensíveis e de maior relevância daquela sociedade. Com efeito, a arte esquiliana, sofocleana e euripideana são perscrutadas como documentos literários que expressam as tensões sobre o sentido da vida e da existência de toda uma civilização. Não é ocasional e de menor importância o fato de Nietzsche iniciar seu curso comparando “a antiga forma da tragédia [com] a moderna” (Nietzsche, 2014, p.3), pois, para esta última, Édipo Rei “é pura e simplesmente uma má tragédia, porque nela a antinomia entre destino absoluto e culpa fica insolúvel” (idem, ibidem). O núcleo substantivo da tragédia antiga na leitura de Nietzsche é a oposição de ânimos que conformam o significado estético da narrativa; vale dizer, é aquilo sobre o que o homem grego procurou se equilibrar: “o sentimento de triunfo do homem justo, comedido e isento de paixão” (idem, p.5) com o “instinto [ hybris ] (…), o enigma no destino do indivíduo, a culpa sem consciência, o sofrimento imerecido [e] sua musa trágica [que leva à] idealidade da infelicidade” (idem, pp.7-8). É este núcleo que Nietzsche procura emoldurar com a estrutura filológica de suas lições. Quais são os aspectos mais significativos destas lições que compõem a Introdução à tragédia de Sófocles ?
Se hoje nós compreendemos todas as artes dramáticas como artes da visibilidade, do ver a performance de grupo de indivíduos inseridos em espaços construídos especialmente para isto, na sua origem a arte dramática, que emerge da tragédia grega, é a arte do ouvir. É a arte da palavra que se apresenta como característica primeva de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Assim, a “intuição íntima através da palavra induzindo à fantasia é o que vem primeiro, a visibilidade do quadro da fantasia na ação é algo mais tardio” (Nietzsche, 2014, p.10). Podemos perceber, deste modo, que um dos esforços de Nietzsche em seu curso é entender a tragédia antiga como símbolo do humor: da disposição de ânimo que tensiona a existência dos homens. Não é mero exercício de retórica a afirmação de Nietzsche acerca do fato de que a beleza da lírica, seus componentes filológicos sublimes, seja também a “expressão da dor diante da desarmonia entre mundo desejado e o real” (idem, ibidem). Ele procurou representar em suas lições sobre Sófocles na Basileia o sentimento existencial da cultura grega antiga. Mas vamos acompanhar o estudo introdutório nietzschiano um pouco mais nesta abordagem sobre a tragédia como arte do ânimo musicalizado.
O significado da tragédia concernente à linguagem da cultura grega surpreende àqueles educados na estética do idealismo pós-kantiano – aqui é o belo, a formação mesma da educação sentimental pela beleza que estrutura o entendimento da arte 2 ; em Nietzsche, é a filologia do instinto que deve ser compreendida na tragédia como um dos documentos constitutivos da cultura dos gregos. O que estes enfrentavam, e que a arte de Ésquilo, Sófocles e Eurípides procurou dramatizar pela lírica musical, era o sentir da vida como “elemento (…) perigoso (…) dos poderes mais perigosos da natureza” (Nietzsche, 2014, p.13) que fornece o suporte necessário para os gregos entenderem e, também apreciarem, que a transcendência se faz igualmente na existência terrificante (idem, ibidem). Diz Nietzsche:
Culpa e destino são apenas tais meios, (…) tais [ mekhanaí ]: o grego queria absoluta fuga para fora desse mundo da culpa e do mundo do destino: sua tragédia não consolava, algo como um mundo após a morte. Mas, momentaneamente, abriu-se ao grego a intuição de uma ordem das coisas inteiramente transfigurada (…) os atenienses fizeram isso abertamente quando não coroaram o Oedipus rex : eles ouviram tão somente os golpes de timbale, o selvagem circulozinho das Mênades, mas queriam também que Sófocles lhes dissesse que tinha visto Dioniso. O velho Sófocles exprimiu-se em Édipo em Colono (como Eurípides nas Bacantes ) sobre o elemento libertador-do-mundo da tragédia: Eurípides, com uma espécie de palinódia, na medida em que se deixou despedaçar como Penteu, como o sensato e racionalista opositor do culto de Dioniso (Nietzsche, 2014, pp.13-4).
Mas Nietzsche ainda insiste na musicalidade como elemento distintivo da tragédia grega. Esta é uma das contribuições de Introdução à tragédia de Sófocles para o entendimento desta arte tão particular – e da cultura que organizava o universo simbólico e filológico da Grécia antiga. Com efeito, “a tragédia [nasceu] da lírica musical das Dionisíacas” (idem, p.21), de sorte a estabelecer os lineamentos sentimentais de toda a subjetividade do povo grego. A tragédia como arte dionisíaca despertava nos populares um profundo sentimento de embriaguez musical possibilitando aos que a ouvissem a percepção plácida da transcendência. Importa dizer acerca das lições de Nietzsche sobre Ésquilo, Sófocles e Eurípides o caráter inteiramente popular da tragédia. Assim, a extensão da linguagem da lírica dramática “abrange a vida social” (idem, p.23) dos Gregos. E a “música popular subjetiva (…), a poesia popular da massa, nas fascinantes e demoníacas Dionisíacas (…), [a] impetuosa lírica das massas” (idem, p.24) irrompia na cena cultural como expressão do ímpeto de ânimo do homem grego na existência. Não foi fortuito que no “predomínio da reflexão e do socratismo, começa uma degeneração do dionisíaco na tragédia” 3 (idem, p.27).
Na sequência de seu curso na Universidade da Basileia, Nietzsche estuda com seus alunos (e nos oferece) dois elementos fundamentais na estrutura filológica da tragédia: “a construção do drama” e o “coro”. No que consiste a construção do drama na tragédia antiga? Pode-se dizer que, para a Introdução à tragédia de Sófocles, o edifício estético posto de pé por Sófocles e seus iguais objetivava à realização de “um ato” (idem, p.32); isto é, o drama grego potencializava o “ pathos [da] cena” (idem, ibidem), de modo que a construção daquele tinha como exigência a figuração do ato mesmo no curso da temporalidade existencial de quem a assistisse. Isto fica mais claro quando Nietzsche propõe em suas lições uma comparação entre a construção do drama moderno de Shakespeare e a tragédia de Ésquilo e Sófocles. O encadeamento da sequência no drama shakespeariano foi forjado para intensificar o movimento da fantasia; o que significa dizer que a linguagem da “tragédia” moderna necessitava para sua melhor exploração artística de espaço adequado no qual aquela pudesse ser representada. Por isso a configuração da cena “contém um palco mais elevado e menor; diante dele, degraus; ao lado, pilares; em cima, um balcão cujas escadas descem até o proscênio” (Nietzsche, 2014, p.33). Esta construção tensionava a fantasia (idem, p.34) de quem a assistisse como fatura do jogo entre o “palco” e seus “degraus”, entre as “escadas” e o “proscênio”, a “pausa” temporal (obrigando à atividade da fantasia) e os personagens que surgem dos “pilares” – é que tudo no drama de Shakespeare era para ser visto e depois imaginado. Em Ésquilo e Sófocles, a construção do drama buscava outros fins: aquela fantasia impulsionada pelas imagens “o grego não conhecia em sua tragédia” (idem, ibidem). Era a interiorização do pathos musical que o drama antigo objetivava; o que importava era (e é) o “ Tá apóskenês ” 4, o a partir da cena… Daí que a construção do drama antigo e, sobretudo, o sofocleano, estruturou-se pela disposição filológica do coro. De sorte que o efeito do cântico na tragédia conformava o “antagonismo” entre “o espectador idealizado (…) representante dos pontos de vista gerais” (idem, ibidem) e o coro dramáticolírico enquanto tal. Diz Nietzsche a esse respeito:
as canções do coro tinham que assumir um pathos interior: para não tornar a representação do coro inconsequente. Eurípides conduzia com consciência o coro em regiões sentimentais mais brandas e empregava também uma música mais suave em correspondência (…) Em Ésquilo e Sófocles, há por vezes incongruência entre o coro dos grandes cantica e os dos diálogos. A situação dos cantica é deslocada (…) o coro e a música coral já são (…) [ hedýsmata ] (Nietzsche, 2014, pp.34-5).
Assim, é no coro que podemos encontrar o real sentido da tragédia como documento cultural do mundo grego antigo. Nietzsche deixa entrever isto nos quatro pontos que estruturam a articulação interna da linguagem do coro. Ele, então, afirma que os pesquisadores devem atentar para os seguintes elementos: (1) o coro representa a construção filológica do novo momento do mundo antigo, ele é a expressão artística da apropriação pelo povo sensível dos negócios do palácio, ou seja, é como se o ânimo musical dos deuses se voltasse agora para o peito dos homens (Nietzsche, 2014, p.41) na intervenção do coro na estrutura da tragédia; (2) pode-se dizer com isto que com o coro a tragédia adquire aspectos reflexivos acerca dos conflitos da vida e do pensamento, de modo que a “liberdade lírica [com] todo o poder sensível do ritmo e da música” (idem, ibidem) presente no coro conduz à ação refletida, mas com “força poética” (idem, ibidem); (3) isto, inevitavelmente, de acordo com Nietzsche, faz do coro na arquitetura filológico-narrativa da tragédia o ponto de inflexão entre a simples exposição organizada de diálogos existenciais e a grandeza trágica; (4) quer dizer, o coro é a possibilidade de alcançar a exuberância dos afetos, é a capacidade que a arte de Ésquilo, Sófocles e Eurípides tem de transformar o “ânimo do espectador” (idem, ibidem) em um ensaio para a liberdade de e na ação existencial. Com efeito, “o coro é o idealizante da tragédia: sem ele, temos uma imitação naturalística da realidade [n]a tragédia, sem coro, (…) os homens falam e andam” (idem, p.42).
Nietzsche chega assim ao fim de sua Introdução à tragédia de Sófocles, e nós, deste breve ensaio. As leituras e hipóteses dele se voltam agora diretamente para a obra de Sófocles – o ponto mais elevado da tragédia antiga. Como Nietzsche procede aqui? A comparação no espaço mesmo da tragédia grega foi o procedimento utilizado por ele: o que Nietzsche pretende com isto é ressaltar os elementos distintivos das peças sofocleanas. Sendo a tragédia de Sófocles o ápice da arte dramática antiga, ela se posiciona a meio caminho entre o puro instinto esquiliano e a construção racionalizada – a destruição do instinto – de Eurípides. De sorte que em Sófocles “o pensamento é acrescido”, só que aqui “o pensamento está em harmonia com o instinto” (Nietzsche, 2014, p.63). Mas é na estruturação filológica que Sófocles se põe em patamar superior ao do drama de Ésquilo e Eurípedes. Assim, a obra do autor de Édipo Rei preconiza não certas unilateralidades que atravessam as peças de Ésquilo e de Eurípides, sobretudo acerca da interpretação (e utilização) da forma e do pensamento na fatura da tragédia – a grandeza artística de Sófocles foi dada pela unidade da forma com o pensamento, da fusão tensa e motivada pelo existencial e seu significado na cultura grega entre a feição exterior (a disposição enquanto tal das partes constitutivas da tragédia) e os momentos de reflexão do ser pela linguagem do drama (a irrupção decisiva, de acordo com Nietzsche, do coro…). A ocorrência deste posicionamento superior de Sófocles em face a Ésquilo e Eurípides se dá porque ele “ressuscita o ponto de vista do povo” (idem, p.68). Enquanto a tragédia esquiliana é épica e a euripideana socrática, o drama antigo em Sófocles representa a massa trágica, “o enigma na vida do homem”, quer dizer, o sentido da tragédia sofocleana é a transformação do sofrimento humano em algo “santificante” e virtuoso – é a busca do entendimento de que, uma vez o povo lançado na existência incerta e incomensurável, o sentido da vida frente ao destino, “o abismo infinito” (idem, ibidem), não resulta em culpa passiva, mas na musicalidade lírica da humanidade heroica. Terminemos com as próprias lições de Nietzsche:
agora, sabemos certamente que Sófocles no primeiro período imitava Ésquilo (…) A tragédia de Eurípides é a medida do pensamento ético-político-estético daquele tempo: em oposição ao instintivo desenvolvimento da arte mais antiga, que, com Sófocles nele, chega ao seu fim. Sófocles é a figura de transição; o pensamento movese ainda no caminho do impulso [ Trieb ], por isso ele é continuador de Ésquilo (…) [Pois] Sófocles havia comprimido a reflexão no coro, para purificar o poema dramático, (…) [para] distribuir felicidade e infelicidade [a]os povos, ou [a] humanidade [e as] pessoas individuais (Nietzsche, 2014, pp.74,76,79).
Por isso Sócrates não preferiu esta construção e estruturação filológica sofocleana. Sócrates como sábio de si mesmo e dos poucos: ele “assiste à tragédia de Eurípides.Sócrates o mais sábio junto com Eurípides” (idem, ibidem) preferiu a arte racionalizada e filosófica. É que com Eurípides, ao contrário de Sófocles, o autor trágico de Nietzsche por excelência, que a tragédia deixa de ser elemento “bombástico” (idem, p.80) na cultura grega antiga e passa a ser componente da ordem filosofante. Resta-nos aqui investigarmos (talvez na trilha de Marx), em que medida esta disputa trágicofilológica entre Ésquilo, Sófocles e Eurípides ainda guarda beleza – e possibilidade de deleite e reflexão de nossa existência. Introdução à tragédia de Sófocles ora recebido pela nossa cultura pode ser a primeira lição sobre isto.
Notas
1 Sobre a relação entre a erudição (e os eruditos) e a humanidade, ver: Fichte, 2014.
2 Ver sobre o idealismo alemão e a arte: Werle, 2005 e Videira, 2009.
3 Gostaria de chamar a atenção do leitor para as páginas 27, 28, 29, 30 e 31 do livro que ora estamos estudando. As passagens que constam nestas páginas são de importância seminal para a compreensão ofertada por Nietzsche sobre a relação da arte trágica antiga com os cidadãos atenienses – entendendo estes como os populares da cidade.
4 Ver nota 79 em que consta a tradução da expressão e seu significado filosófico e filológico
Referências
FICHTE, J. G. (2014).O Destino do Erudito. São Paulo: Hedra.
MARX, K. (1974). Introdução à Crítica da Economia Política. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural.
Nietzsche, F. (2014). Introdução à Tragédia de Sófocles. São Paulo: Martins Fontes.
Videira, M. (2009). Resenha de Arte e Filosofia no Idealismo Alemão, organizado por Marco Aurélio Werle e Pedro Fernandes Galé. São Paulo: Barcarolla, 2009.Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, 14, pp.147-151
Werle, M. A. (2005). O Lugar de Kant na Fundamentação da Estética como Disciplina Filosófica. Revista Dois Pontos, 2 (2), pp.129-143.
Ronaldo Tadeu de Souza – Universidade de São Paulo. ronaldolais@yahoo.com.br
Angola-Portugal: Representações de Si e de Outrem ou o Jogo Equívoco das Identidades | Arlindo Barbeitos
Resenhar um livro com essa densidade e pormenorização é tão difícil quanto traçar o perfil do autor pois este assume diversas facetas: o intelectual, o professor, o investigador, o nacionalista, o politico, o cidadão, que se resume numa única característica: o profissional. E é com profissionalismo, mas igualmente com muito empenho, dedicação e persistência que Arlindo Barbeitos escreveu a presente obra, pois de outro modo não seria possível empreender essa tarefa com tal densidade de pormenorização. Abordar temas ainda muito sensíveis para a sociedade angolana e portuguesa, como a raça, a miscigenação e todas as conotações daí resultantes, analisar obras essencialmente portuguesas, mas que representam os angolanos da altura (período colonial), parece-nos à partida, uma missão inglória, na medida em que se torna fundamental ter um excelente domínio da história dos dois países, assim como da relação entre os diferentes acontecimentos ocorridos nos dois lados do Atlântico. Leia Mais
Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos – CAMARGO; VILLAR (BMPEG-CH)
CAMARGO, Eliane; VILLAR, Diego. Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos. São Paulo: Edições SESC, 2013. 304p. Resenha de: REITER, Sabine. Acabou o tempo dos mitos? Uma historiografia caxinauá moderna. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.11, n.2, mai./ago. 2016.
O livro “Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos” é uma coletânea trilíngue (em caxinauá1, português e espanhol) de textos com relatos sobre o passado remoto e mais recente dessa etnia indígena que vive na região fronteiriça entre o Brasil e o Peru. Foi organizado por Eliane Camargo e Diego Villar, uma linguista e um antropólogo, em colaboração com Texerino Capitán e Alberto Toríbio, dois caxinauás de diferentes comunidades do rio Purus, localizadas no lado peruano da fronteira. Com cerca de 2.400 integrantes, o grupo étnico no Peru é menos extenso em número do que seus mais de 7.500 parentes no lado brasileiro, mas – devido ao maior isolamento na primeira metade do século XX – todos ainda falam a língua nativa, comparados aos caxinauás brasileiros, entre os quais há uma parte que fala apenas português2.
Apesar da presença de missionários em suas aldeias, a partir dos anos 1960, os caxinauás peruanos também conseguiram manter viva maior parte da cultura tradicional, enquanto, no Acre, os caxinauás – que conviviam com uma população não indígena nos seringais desde a época da borracha – perderam quase por completo os antigos costumes. Foi nesse grupo peruano que Camargo começou a pesquisar há mais de 25 anos e, principalmente, entre 2006 e 2011, quando levantou e arquivou dados de língua e cultura desse povo no âmbito do programa Documentation of Endangered Languages (DOBES, 2000-2016), com projeto de documentação sediado no Instituto Max-Planck de Antropologia Evolutiva (MPI-EVA), em Leipzig, e na Université X de Paris, em Nanterre (DOBES, 2000-2016).
Neste livro, publicado em 2013, Camargo foi responsável pelas transcrições e traduções ao português dos textos orais, em boa parte provenientes do acervo digital do projeto DOBES. Villar, que é pesquisador adjunto do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas na Argentina e especialista de culturas pano, por sua parte, responsabilizou-se pela versão espanhola dos textos. Além disso, os dois organizadores restringiram-se a elaborar algumas frases introdutórias e comentários aos textos narrativos em notas de rodapé, onde explicam ao leitor o contexto narrativo, construções linguísticas e conceitos culturais. A escolha dos textos assim como a sua edição para formato escrito, no entanto, coube a uma equipe de jovens caxinauás, coordenada por Texerino Capitán, professor de escola bilíngue, e Alberto Toríbio, principal assistente de pesquisa do projeto DOBES. O livro, como informa Bernard Comrie, então diretor do departamento de linguística do MPI-EVA, na apresentação, é um dos produtos do projeto de documentação da iniciativa DOBES, que, através da perspectiva própria de um povo, “nos fornece uma visão diferente do mundo e a compreensão de nós mesmos” (Comrie, 2013, p. 23-25). Até hoje, é uma das poucas publicações que deixa falar – na sua totalidade – os próprios integrantes de um povo indígena amazônico.
O livro consiste em cinco partes principais. Nelas, os caxinauás informam sobre os hábitos dos seus antepassados, lembrados por alguns idosos e presentes na memória coletiva. Eles falam sobre os encontros com outras etnias pano, inclusive com aquelas encontradas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 2008, celebradas pela mídia internacional como “os últimos selvagens”3, e sobre os primeiros contatos com os ‘nauás’, os outros, não indígenas de origem europeia. Relatam sobre as suas experiências em território alheio e nas grandes cidades, e sobre a história de migração e dispersão do próprio grupo, que se iniciou nos tempos míticos com uma briga entre o criador Txi Wa e seu parente Apu, e continuou com acontecimentos em consequência dos primeiros contatos com brasileiros nos seringais. O anexo que segue as partes principais do livro apresenta uma nota sobre a grafia utilizada e um léxico trilíngue extraído dos textos em caxinauá e de termos significativos.
As fontes das narrativas são diversas: cinco dos 25 textos provêm do livro “Rã-txã hu-ni kuï: grammatica, textos e vocabulário caxinauás. A lingua dos caxinauás do rio Ibuacú, affluente do Murú (Prefeitura de Tarauacá)”, de João Capistrano de Abreu (1914), o historiador brasileiro que – em inícios do século XX – montou uma primeira coletânea de mitos, textos históricos e de outros gêneros, em conjunto com dois jovens caxinauás da região do rio Murú, no Acre. A grande maioria dos textos é composta por depoimentos e memórias polifônicas, gravadas dos anos 1990 para cá, e informações obtidas por meio de entrevistas com pessoas mais idosas – todas do grupo peruano, um segmento da população caxinauá que fugiu de um seringal brasileiro no início do século XX. No Peru, esses caxinauás e seus descendentes viviam afastados da sociedade e só foram ‘redescobertos’ ao final dos anos 1940; contato que foi documentado pelo fotógrafo Harald Schultz, em 1951, constituindo um acervo de aproximadamente 80 fotografias, com imagens de uma pescaria e de uma festa.
Uma variedade de trabalhos desse fotógrafo teuto-brasileiro, mostrando cenas cotidianas daquela época, assim como imagens de objetos coletados por ele – que hoje se encontram no acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) –, ilustra o livro, junto com fotografias recentes e desenhos feitos por integrantes do grupo especialmente para esta publicação. Entre eles encontramos os kene, grafismos tradicionais reproduzidos na tecelagem, na pintura corporal, em objetos e desenhos de cenas das narrativas, da vida cotidiana e de rituais. O que chama a atenção é que esses desenhos, produzidos em várias épocas, têm uma estilização própria: veem-se pessoas e objetos ‘deitados’ em uma vista de pássaro, para poder mostrar mais do que seria perceptível por meio do simples olhar de um espectador humano.
Todo o material recolhido neste livro foi selecionado pela equipe caxinauá, com o intuito de informar aos seus descendentes (filhos, netos) sobre a própria cultura, sendo veiculado na própria língua, a fim de manter viva a memória e uma identidade própria, como os dois colaboradores caxinauás escrevem no seu prefácio, que termina assim: “por esse motivo quisemos elaborar este livro. Dessa forma podemos todos juntos ler e aprender claramente a tradição” (Capitán; Toribio, 2013, p. 31). Ao mesmo tempo, o livro é um passo importante em direção a uma verdadeira participação dos povos indígenas na sociedade moderna através dos seus próprios discursos. Em uma época em que presenciamos ameaça cada vez mais forte à vida tradicional de povos indígenas em toda a América Latina, é essencial que um público maior tome conhecimento da história desse grupo, a qual reflete, de maneira exemplar, desenvolvimento ocorrido em muitos outros grupos, repetindo-se até hoje. Isso ocorreu desde o primeiro contato desses povos com a sociedade nacional, representada notadamente por bandeirantes/ coronéis, soldados da borracha, viajantes, missionários e pesquisadores, resultando em interferência cultural. Nas palavras dos caxinauás (traduzidas para o português), essa interferência se lê assim: “já nos tornamos nauás com suas roupas e comida. […] já não somos mais caxinauás! […] O governo diz que somos todos peruanos. É assim que falam” (2013, p. 227).
Ao mesmo tempo, a citação deixa bem claro que essa é uma visão de fora, a qual não reflete necessariamente a opinião do falante. A língua pano consegue expressar essas diferentes perspectivas de maneira elegante, através de marcadores de evidencialidade (no caso, -ikiki em akikiki, 2013, p. 226) que indicam, para os membros da comunidade de fala, o compromisso epistemológico com a informação dada. Essa técnica linguística pode até ser interpretada aqui como relevante indício de uma resistência clandestina e de uma mera adaptação superficial.
Uma atitude de ‘acostumação’, longe de ser assimilação por completo, também se manifesta em outro depoimento. Um caxinauá descreve como chegou a trabalhar como mecânico para um missionário americano: “um dia quebrei um parafuso e ele ficou furioso. […], achava que iria me bater. Achei isso porque me tratava assim. […] Depois eu me acostumei com ele. […] com suas palavras fortes” (2013, p. 203). Este trecho mostra mais um aspecto interessante do livro, a abertura para uma perspectiva intercultural: nós, os nauás, ficamos sabendo algo sobre como somos percebidos pelos caxinauás – como pessoas ameaçadoras pelo simples tom da voz! Ao passo que as narrativas exibem, em diferentes partes, uma visão caxinauá, o livro em si já é uma manifestação aberta da luta para a preservação de uma identidade própria.
Comparado com outras manifestações escritas na língua caxinauá, principalmente com a obra do grande historiador brasileiro do começo do século XX, este livro se destaca como marcador de uma mudança na percepção e no tratamento do elemento ‘indígena’ na sociedade. Enquanto o livro de Capistrano possui, sobretudo, relatos míticos, este é uma historiografia, em grande parte, de fatos vividos pelos caxinauás nos últimos 100 anos. Quem escolheu o material de “Rã-txã hu-ni ku-ï” foi o próprio Capistrano, tendo os dois caxinauás como fornecedores de informação e tradutores; aqui, os agentes principais são caxinauás, que selecionaram os textos baseados em critérios de informatividade a um público caxinauá atual e jovem4. Os textos de Capistrano também já eram traduzidos para o português na época, e existia uma explicação de ortografia destinada ao leitor brasileiro erudito. Porém, aquela tradução palavra por palavra deixou o texto original parecer ‘desajeitado’ ao leitor brasileiro monolíngue. Certamente, não fornece uma base para ser elaborada hoje em dia na educação bilíngue indígena, já que a ortografia desenvolvida pelo historiador autodidata em linguística não reflete bem a estrutura morfofonêmica da língua, não sendo legível para os caxinauás de hoje. A mesma crítica da ortografia inadequada pode se fazer a várias publicações recentes nessa língua indígena no Brasil. A maioria dos livros em caxinauá publicada, tanto no Brasil como no Peru, porém, é dirigida ao ensino nas escolas bilíngues, enquanto este livro pode ser de interesse de um público diversificado, mono e bilíngue, jovem e adulto, estudante e professor, leigo e acadêmico, voltado aos caxinauás e a cada pessoa que tenha curiosidade de conhecer outra perspectiva do mundo. Além de valorizar a cultura caxinauá, ele representa uma restituição ao grupo de coleta de relatos históricos, efetuada por pesquisadores, contribuindo igualmente para a difusão da diversidade do patrimônio cultural imaterial da Amazônia indígena.
Notas
1 O caxinauá pertence à família linguística pano.
2 Esses são os números oficiais do Instituto Socioambiental (Ricardo, B.; Ricardo, F., 2011, p. 12), que divergem consideravelmente de números informados em outras fontes, por exemplo, no site Ethnologue (Lewis et al., 2016). Segundo o Ethnologue, atualmente todos os caxinauás adquirem a língua nativa. Como o nível de conhecimento da língua indígena é uma questão política no Brasil, há diferenças entre os números oficiais em relação ao que se pode observar in situ.
3 Veja, por exemplo, Seidler; Lubbadeh (2008).
4 Neste contexto, pode-se questionar se o resultado realmente representa o ‘olhar caxinauá’, já que a equipe consiste de caxinauás escolarizados, parcialmente trabalhando na educação infantil, que, portanto, internalizaram um discurso padrão para texto escrito.
Referências
CAPISTRANO DE ABREU, João. Rã-txa hu-ni-ku-ï: grammatica, textos e vocabulário caxinauás. A lingua dos caxinauás do rio Ibuacú, affluente do Murú (Prefeitura de Tarauacá). Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu, 1914. [ Links ]
CAPITÁN, Tescerino Kirino; TORIBIO, Alberto Roque. Prefácio. In: CAMARGO, Eliane. VILLAR, Diego (Org.). Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos. São Paulo: Edições SESC, 2013. p. 31. [ Links ]
COMRIE, Bernard. Apresentação. In: CAMARGO, Eliane. VILLAR, Diego (Org.). Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos. São Paulo: Edições SESC, 2013. p. 17-19. [ Links ]
DOCUMENTAÇÃO DE LÍNGUAS AMEAÇADAS (DOBES). Cashinahua. A documentation of Cashinahua language and culture. [S.l.]: Projeto DOBES, 2006-2011. Disponível em: <http://dobes.mpi.nl/projects/cashinahua/?lang=pt>. Acesso em: 8 abr. 2016. [ Links ]
LEWIS, M. Paul; SIMONS, Gary F.; FENNIG, Charles D. (Ed.). Ethnologue: languages of the world. 19. ed. Dallas, Texas: SIL International, 2016. Disponível em: <http://www.ethnologue.com>. Acesso em: 8 abr. 2016. [ Links ]
RICARDO, Beto; RICARDO, Fany (Ed.). Povos indígenas no Brasil: 2006-2010. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. [ Links ]
SEIDLER, Christoph; LUBBADEH, Jens. Neuentdeckter Indianerstamm: “Das kann der Anfang vom Ende sein”. Spiegel Online, 30 maio 2008. Disponível em: <http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/neuentdeckter-indianerstamm-das-kann-deranfang-vom-ende-sein-a-556720.html>. Acesso em: 8 abr. 2016. [ Links ]
Sabine Reiter – Universidade Federal do Pará. E-mail: sabine_reiter@yahoo.com
[MLPDB]
Republicanismo Inglês: Uma Teoria da Liberdade | Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros
No dia 31 de dezembro de 1958 Isaiah Berlin, em uma aula inaugural na Universidade de Oxford, retomaria de forma contundente as duas conceitualizações de Benjamin Constant sobre liberdade, a saber: a liberdade negativa e positiva. A primeira, tendo Thomas Hobbes como ídolo maior, se referiria à liberdade como ausência de restrição, em que o agente, mesmo podendo sofrer forças externas de persuasão, poderia agir sem coação. Já a segunda emanaria de Aristóteles e contagiaria filósofos como Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau e Hegel. Nela, a liberdade seria a capacidade de determinar a própria ação, sem ser influenciado por forças externas. Os dois conceitos, conclui Berlin, seriam indispensáveis para a modernidade.
A essa interpretação, publicada imediatamente como panfleto pela Clarendon Press e como livro onze anos depois na coletânea Four Essays on Liberty, Quentin Skinner rebateu os argumentos de Berlin com o seu livro-panfleto Liberdade Antes do Liberalismo (1998), em que resgatava um terceiro conceito de liberdade, este muito caro à tradição republicana, a liberdade neorromana. Para Se utilizar da própria metodologia de Skinner, o livro de Alberto Barros vem justamente em direção a essa contenta, atacando as pretensões liberais de Isaiah Berlin e corroborando com o republicanismo de Philip Pettit e Quentin Skinner. Leia Mais
El futuro es un país extraño: una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI | Josep Fontana I Làsaro
A tópica do imperativo da esperança do mundo melhor remonta ao Gênesis, ao dilúvio e aos tempos imemoriais. Mas foi a partir do século 18, no torvelinho da corrente de dessacralização do fluxo da vida, que essa categoria ganhou o sentido de progresso e evolução permanente que sugere que dias melhores sempre virão. A leitura retroativa indicava que a vida das pessoas vinha de melhora em melhora desde o êxito dos Otomanos sobre Constantinopla. O século 19 não simplesmente ia amplificar os ganhos da revolução industrial do ferro, do algodão e da especialização do trabalho como avançaria sobre diversos campos de inovação científica e tecnológica que desembocaria na belle époque da fin-de-siècle. Esse tempo sublime, eivado de sentimentos de identificação e de necessidades de reconhecimento, levaria os mandatários germânicos após Bismarck a querer contar para além de suas fronteiras impondo aos demais a outorga de seu lugar ao sol. Leia Mais
Dialogue with Bakhtin on Second and Foreign Language Learning – HALL et. al. (B-RED)
HALL, J.; VITANOVA, G.; MARCHENKOVA, L. (Eds.). Dialogue with Bakhtin on Second and Foreign Language Learning: New Perspectives [Diálogos com Bakhtin a respeito da aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira: novas perspectivas]. Mahwah, New Jersey; London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. 241 p. Resenha de: MELO JÚNIOR, Orison Marden. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.11 n.2 São Paulo May./Aug. 2016.
A obra Dialogue with Bakhtin on Second and Foreign Language Learning: New Perspectives [Diálogo com Bakhtin a respeito da aprendizagem de segunda língua e de língua estrangeira: novas perspectivas] – doravante Dialogue with Bakhtin – traz, em seu título, dois temas de grande interesse para os estudos da Linguística Aplicada: a abordagem dialógico-discursiva da linguagem apresentada e discutida pelo Círculo (de Bakhtin) e os estudos voltados ao processo de ensino-aprendizagem de uma segunda língua ou de uma língua estrangeira1. A preposição with [com] – Dialogue with Bakhtin – posiciona a obra dentro do escopo real de diálogo entre os temas, tendo em vista não haver, nos escritos do Círculo, um ensaio específico sobre o ensino de línguas estrangeiras, não permitindo que esse Dialogue with Bakhtin [Diálogo com Bakhtin] fosse apresentado como Bakhtin’s Dialogue [Diálogo de Bakhtin]. Essa observação torna, portanto, a obra, mesmo publicada em 2005, bastante relevante para as pesquisas no campo do discurso, em especial a Análise Dialógica do Discurso (ADD), por perceber a amplitude dos seus estudos, chegando ao campo do ensino de línguas, bem como para as pesquisas sobre o ensino de línguas (segunda e/ou estrangeira), por ser impactada pela concepção (dialógica) de linguagem do Círculo. É importante a lembrança, entretanto, de que Bakhtin discorre sobre questões de estilística no ensino de língua materna (russo) em um ensaio que, traduzido para o português por Sheila Grillo e Ekaterina Américo, foi publicado pela Editora 34 em 2013. Segundo Beth Brait, em sua apresentação à obra, “Bakhtin também se preocupava com um ensino [ensino da língua russa no ensino médio] que, tratando abstratamente a língua, não lograva de fato ensinar seu comportamento vivo aos alunos” (2013, p.9-10)2.
Dialogue with Bakhtin é organizado por Joan Kelly Hall, da Pennsylvania State University, Gergana Vitanova, da University of Central Florida, and Ludmila Marchenkova, da Ohio State University, ou seja, por três pesquisadoras de diferentes universidades que, em um encontro da American Association of Applied Linguistics [Associação Americana de Linguística Aplicada], em 2002, mostraram interesse em compartilhar os seus estudos sobre a filosofia de linguagem de Bakhtin e as implicações dessa concepção na aprendizagem de línguas. Ao ser publicada em 2005, a obra tornou-se, portanto, a primeira, nos Estados Unidos, a explorar a relevância dos estudos bakhtinianos para as pesquisas e as práticas pedagógicas voltadas à aprendizagem de segunda língua e/ou língua estrangeira.
Com 241 páginas, Dialogue with Bakhtin é dividido em dois blocos, sendo o primeiro o maior: enquanto a primeira parte do livro (p.9-169), intitulada Investigations into Contexts of Language Learning and Teaching [Investigações em contextos de aprendizagem e ensino de língua], é composta de sete capítulos, em que cada um apresenta um estudo de caso específico, a segunda parte (p.170-231), intitulada Implications for Theory and Practice [Implicações para a teoria e prática], traz três capítulos de discussão teórica (Capítulo 9: Language, Culture, and Self: The Bakhtin-Vygotsky Encounter [Língua, cultura e o indivíduo: um encontro entre Bakhtin e Vygotsky], Capítulo 10: Dialogical Imagination of (Inter)cultural Spaces: Rethinking the Semiotic Ecology of Second Language and Literacy Learning [Imaginação de espaços (inter)culturais: repensando a ecologia semiótica da aprendizagem de segunda língua e de letramento] e Capítulo 11: Japanese Business Telephone Conversations as Bakhtinian Speech Genre: Applications for Second Language Acquisition [Conversas de negócios ao telefone no Japão como gênero do discurso bakhtiniano: aplicação na aquisição de segunda língua]. É importante a menção, no entanto, de que o livro abre com um capítulo introdutório, escrito pelas organizadoras. Intitulado Introduction: Dialogue with Bakhtin on Second and Foreign Language Learning [Introdução: diálogo com Bakhtin a respeito da aprendizagem de segunda língua e de língua estrangeira], o texto se inicia com uma discussão sobre os estudos voltados à aprendizagem de língua e sobre a influência que a visão formalista exerceu sobre essa área do conhecimento. Diante das limitações impostas por essa perspectiva teórica no campo da linguagem (o que inclui o ensino de línguas estrangeiras), as autoras apresentam a contribuição de Bakhtin para a compreensão de um novo conceito de linguagem, que, deixando de ser entendida como um conjunto de sistemas fechados de formas normativas, é apresentada como “constelações dinâmicas de recursos socioculturais que estão fundamentalmente vinculados aos seus contextos sociais e históricos” (p.2)3. Com base nessa concepção de linguagem, apresentam, ainda que rapidamente, os conceitos de enunciado, gênero do discurso e dialogismo, e apontam para duas implicações da assunção dessa perspectiva para o entendimento do processo de ensino-aprendizagem de uma segunda língua e/ou língua estrangeira, ou seja, a compreensão (por professores e alunos) de que (1) a língua é viva e de que (2) a aprendizagem acontece na interação social (e não na cognição individual do aluno).
Por ser uma obra voltada às implicações da teoria dialógica no campo do ensino de segunda língua e língua estrangeira, Hall, Vitanova e Marchenkova compilam sete pesquisas empíricas na primeira parte do livro. Como não há uma explicação sobre a ordenação dos capítulos, faremos a sua breve apresentação segundo a própria distinção entre ensino de segunda língua e de língua estrangeira, reconhecendo que outros critérios poderiam ser adotados, como o nível de escolaridade dos alunos-sujeitos de pesquisa ou os conceitos da ADD utilizados. Quase todas as pesquisas estão relacionadas com o ensino de inglês, quer como segunda língua (English as a Second Language – ESL) quer como língua estrangeira (English as a Foreign Language – EFL). Apenas uma voltou-se ao estudo de suaíle em uma universidade americana, ou seja, ao suaíle como língua estrangeira (Swahili as a Foreign Language – SFL).
Os capítulos relacionados a ESL são os capítulos 2, 3, 4, e 8. O capítulo 2, intitulado Mastering Academic English: International Graduate Students’ Use of Dialogue and Speech Genres to Meet the Writing Demands of Graduate School [O domínio do inglês acadêmico: o uso do diálogo e dos gêneros do discurso por alunos estrangeiros de pós-graduação a fim de suprir as exigências da escrita acadêmica em cursos de pós-graduação], é o resultado de uma pesquisa feita por Karen Braxley da University of Georgia. Concentrando-se, em especial, nos conceitos de dialogismo e gêneros do discurso, ela busca ajudar cinco alunas de pós-graduação a apropriar-se dos gêneros acadêmicos escritos.
No capítulo 3, intitulado Multimodal Representations of Self and Meaning for Second Language Learners in English-dominant Classrooms [Representações multimodais do ser e do significado para aprendizes de segunda língua em salas de aula em Língua Inglesa], Ana Christina DaSilva Iddings da Vanderbilt University, John Haught e Ruth Devlin, ambos da University of Nevada, analisam, apoiados no conceito de dialogismo e na sua relação com o heterodiscurso e a noção de sentido, as relações entre signo, significado e língua estabelecidas por duas alunas estrangeiras, uma da Tailândia e a outra de Cuba, recém-chegadas aos EUA, em uma sala de aula do terceiro ano do ensino fundamental. Escolhemos usar o termo heterodiscurso (em vez de plurilinguismo ou heteroglossia) conforme apresentado por Paulo Bezerra em sua tradução do ensaio de Bakhtin O discurso no romance. Para Bezerra (2015), o termo heterodiscurso “traduz a estratificação interna da língua e abrange a diversidade de todas as vozes socioculturais em sua dimensão histórico-antropológica” (p.247)4.
O capítulo 4, Dialogic Investigations: Cultural Artifacts in ESOL Composition Classes [Investigações dialógicas: artefatos culturais em aulas de redação de inglês como segunda língua], apresenta a pesquisa de Jeffery Lee Orr da University of Georgia feita com cinco alunos estrangeiros no primeiro ano de curso universitário. Com base no conceito de dialogismo e na sua relação com significado e ideologia, o pesquisador busca demonstrar a seus alunos a natureza dialógica da língua, contribuindo dessa forma para o seu desenvolvimento ideológico.
No capítulo 8, Authoring the Self in a Non-Native Language: A Dialogical Approach to Agency and Subjectivity [Ter autoria de uma língua não nativa: uma abordagem dialógica aos conceitos de agente e subjetividade], Gergana Vitanova, da University of Central Florida, busca analisar, a partir de conceitos de agência e autoria, como cinco imigrantes do leste europeu nos EUA podem ter autoria dos seus discursos em uma segunda língua e como podem exercer um papel de agente. Essa pesquisa é apresentada de forma completa na obra Authoring the Dialogic Self [Dando autoria ao ser dialógico], publicada em 20105.
Os capítulos relacionados à língua estrangeira são o 5, 6 e 7, sendo o 5 e 6 a EFL (inglês como língua estrangeira) e o 7, a SFL (suaíle como língua estrangeira). No capítulo 5, intitulado Local Creativity in the Face of Global Domination: Insights of Bakhtin for Teaching English for Dialogic Communication [Criatividade local em face da dominação global: insights de Bakhtin no ensino de inglês para a comunicação dialógica], Angel M. Y. Lin, da City University of Hong Kong, e Jasmine C. M. Luk, da Hong Kong Institute of Education, a partir do conceito de dialogismo e da sua relação com o heterodiscurso e a criatividade linguística, investigam como a prática do ensino de língua inglesa reflete e refrata a hegemonização da língua no país e como os professores podem recriar a sua ação pedagógica a fim de auxiliar os alunos a por em diálogo a língua inglesa e os estilos e as variações linguísticas do seu idioma local e a usar a própria criatividade linguística deles. O texto, muito mais reflexivo do que empírico (apesar da amostragem do trabalho feito com 40 alunos do ensino médio em Hong Kong), chama a atenção para os currículos escolares que necessitam promover o acesso dos alunos ao heterodiscurso social, dando-lhes espaço para tornar o inglês “uma língua própria ao povoá-la com seus significados e vozes” (p.95)6, permitindo, dessa forma, “o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem do inglês como uma língua para a comunicação globalizada e para o questionamento de temas locais e globais que concernem os diferentes papéis e posições das diferentes formas de uso do inglês no mundo” (p.96)7. Esse posicionamento das pesquisadoras, na contramão de posições hegemônicas da língua inglesa e de seu ensino, remete ao conceito de World English [inglês mundial], apresentado por Kanavillil Rajagopalan, em seu artigo The Concept of ‘World English’ and its Implications for ELT [O conceito de inglês mundial e suas implicações no ensino de língua inglesa]8. Para o autor, “falar inglês é simplesmente outra maneira de chamar a atenção ao fato de que ele [o World English] é uma arena onde interesses e ideologias conflitantes estão constantemente em jogo” (p.113)9.
O capítulo 6, ainda no campo de EFL, é intitulado Metalinguistic Awareness in Dialogue: Bakhtinian Considerations [Consciência metalinguística em diálogos: considerações bakhtinianas]. O texto apresenta a pesquisa feita por Hannele Dufva e Riikka Alanen, da University of Jyvaskyla, com 20 crianças entre 7 e 12 anos em uma escola de ensino fundamental na Finlândia. As pesquisadoras, com base nos conceitos de dialogismo de Bakhtin e de mediação de Vygotsky, visam a investigar a consciência metalinguística (na ação) de alunos e a sua relação com a aprendizagem de língua estrangeira.
No último capítulo a ser apresentado, o 7º., intitulado “Uh uh no hapana”: Intersubjectivity, Meaning, and the Self [“Uh uh no hapana”: intersubjetividade, significado e o ser], Elizabeth Platt, da Florida State University, investiga, com base no conceito de dialogismo e da sua relação com intersubjetividade e a noção de sentido, como duas alunas estrangeiras em um curso de pós-graduação produzem sentido a partir do conhecimento limitado que tinham do suaíle (SLE), língua-alvo das aulas, e como construiriam a sua própria identidade de aprendizes dessa língua.
Dialogue with Bakhtin [Diálogo com Bakhtin] é, portanto, não apenas um diálogo com a concepção de linguagem proposta pelo Círculo (de Bakhtin), mas um diálogo entre pesquisas e pesquisadores de diferentes universidades em diferentes partes do mundo que, ao se apropriarem total ou parcialmente do aporte teórico do Círculo ou ao promoverem um encontro de Bakhtin com outros autores, refletem sobre o ensino de segunda língua ou língua estrangeira. A riqueza da obra fica estabelecida pelo fato de ela trazer não uma “aplicação” dos conceitos para a área do ensino de línguas, mas de promover um diálogo entre as duas áreas, permitindo que o ensino seja impactado por essa concepção de linguagem, que vê a interação verbal como a sua realidade fundamental (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.127)10.
Por conseguinte, o conceito de dialogismo, ou de concepção dialógica da linguagem, foi bastante recorrente entre os pesquisadores. No entanto, ao trazerem Volochínov para o centro de suas discussões por meio da obra Marxismo e filosofia da linguagem (2010), apenas Dufva e Alanen, no capítulo 6, na seção Discussion [Discussão], apontam para o fato de o autor russo ter ventilado a questão da aprendizagem/assimilação de língua, que, para ele, só acontece quando os indivíduos “penetram na corrente da comunicação verbal” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.111)11. Entretanto, em nenhum momento, nem Dufva e Alanen, nem os outros pesquisadores apresentam a discussão que Volochínov desenvolve sobre a diferença entre sinal e signo, sendo sinal o conteúdo imutável, abstraído do domínio da ideologia, e a relação desses conceitos com a aprendizagem de línguas. Segundo Volochínov (2010, p.97), quando a assimilação de uma língua estrangeira se encontra no nível da sinalidade (como sinal), do mero reconhecimento, “a língua ainda não se tornou língua. A assimilação ideal de uma língua dá-se quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento pela compreensão”12. O próprio Volochínov traz uma nota de rodapé em que discorre, de forma abreviada, sobre métodos eficazes de ensino de línguas vivas estrangeiras e assevera que “um método eficaz e correto de ensino prático exige que a forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua […], mas na estrutura concreta da enunciação, como um signo flexível e variável” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p.98)13. Acreditamos que essa discussão enriqueceria a obra, pois permitiria que seus leitores compreendessem que, apesar de não haver um ensaio específico sobre o ensino de línguas (estrangeiras), o tema não passou despercebido do Círculo, chegando a ser formalmente discutido por Bakhtin (2013)14 e de forma mais abreviada por Volochínov (2010)15.
Por fim, Dialogue with Bakhtin [Diálogo com Bakhtin] é uma grande contribuição para a Linguística Aplicada no que tange ao diálogo feito com Bakhtin a respeito da aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira. Esperamos, portanto, que a obra seja mais divulgada em nosso país, tendo em vista o crescimento do número de pesquisadores da área de ensino de línguas estrangeiras que passam a adotar a perspectiva dialógica da linguagem nas suas práticas pedagógicas, bem como de analistas do discurso que ampliam o seu escopo de pesquisa para discursos voltados ao ensino de línguas.
1É necessário se estabelecer a diferença entre a aprendizagem de segunda língua e de língua estrangeira. Segundo o Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (2010), apesar de aprendizagem segunda língua ser um termo mais genérico, ao ser contrastado com o de língua estrangeira, passa a ter um sentido mais específico: diferentemente da aprendizagem de língua estrangeira, a aprendizagem de segunda língua acontece em um espaço onde essa língua exerce um papel importante de comunicação, comércio, escolaridade, etc. Como exemplo dessa definição, poderíamos citar as seguintes situações: ao fazermos, como falantes do português brasileiro, um curso de inglês em uma universidade estadunidense, o inglês é estudado (e abordado) como segunda língua. Entretanto, se estudarmos inglês em uma escola de idiomas ou em um curso de Letras-Inglês no Brasil, como o oferecido pela UFRN, o inglês é estudado (e abordado) como língua estrangeira. [RICHARDS, J.; SCHMIDT, R. Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. 4.ed. Harlow, England: Pearson Education, 2010.]
2BAKHTIN, M. Questões de estilística no ensino de língua. Trad. Sheila Grillo e Ekaterina Américo. São Paulo: Editora 34, 2013.
3No original: “dynamic constellations of sociocultural resources that are fundamentally tied to their social and historical contexts”.
4BAKHTIN, M. Teoria do romance I: a estilística. Tradução, prefácio, notas e glossário de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015.
5VITANOVA, G. Authoring the Dialogic Self: Gender, Agency and Language Practices. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2010.
6Texto no original: “a language of their own by populating it with their own meanings and voices”.
7Texto no original: “to enrich the learning of English as a language for globalized communication and for interrogating both local and global cultural issues revolving around the differential roles and statuses of different ways of using English in our world”.
8RAJAGOPALAN, K. The Concept of ‘World English’ and Its Implications for ELT. ELT Journal, vol. 58, n. 2, p.111-117, 2004. Disponível em: [http://eltj.oxfordjournals.org/content/58/2/111.full.pdf+html]. Acesso em: 27 fev. 2016.
9Texto no original: “to speak of English as a world language is simply another way of drawing attention to the fact that it is an arena where conflicting interests and ideologies are constantly at play”.
10BAKHTIN, M./VOLOCHÍNOV. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara F. Vieira. 14. ed. São Paulo: HUCITEC, 2010.
11Para referência, ver nota de rodapé 10.
12Para referência, ver nota de rodapé 10.
13Para referência, ver nota de rodapé 10.
14Para referência, ver nota de rodapé 2.
15Para referência, ver nota de rodapé 10.
Orison Marden Bandeira de Melo Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal, RN, Brasil; junori36@uol.com.br
Constructivity and Computability in Historical and Philosophical Perspective – DUBUCS; BOURDEAU (FU)
DUBUCS, J.; BOURDEAU, M. (Eds.). Constructivity and Computability in Historical and Philosophical Perspective. Dordrecht: Springer, 2014. (Series: Logic, Epistemology, and the Unity of Science). Resenha de: CARNIELLI1, Walter. Ser computável não é o mesmo que ser construtivo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.2, p.244-246, mai./ago., 2016
This book is a collection of essays focusing on the relationship between computability and constructivity. Taking into account the 80 years that have passed since Alan Turing’s seminal paper of 1936, the papers in the book examine two lines of development: on the one hand, the restrictions, generalizations and other modifications of the original Turing machines, resulting from the pressure that the notion of computability experienced from the explosive demand for applications, but also from encounters with concepts that are in principle stranger to Turing machines, such as Kolmogorov complexity and linear logic. On the other hand, some of the papers examine a more conceptual question, namely the interconnections between computability and constructivity. An especially important topic is whether the notion of computable function has to be taken as primitive, or can be founded on recursion theory.
Chapter 1, “Constructive Recursive Functions, Church’s Thesis, and Brouwers Theory of the Creating Subject: Afterthoughts on a Parisian Joint Session” by Göran Sundholm (p. 1-35) discusses the interdependence between recursive functions and constructivity, a topic that will also be examined in Chapter 6 by another author. It is argued that constructive functions cannot be replaced by recursive functions. Nonconstructive mathematics (apparently) fail to have a computational meaning. But what about the converse? Sundholm asks: “Is every function used in constructive mathematics recursive?” The answer has been negative since Heyting and Skolem: in constructivism, the primitive notion of a function cannot be replaced by that of a general recursive functions. The first part of this chapter explains why. A second topic discussed by Sundholm is the so-called Theory of the Creative Subject, which has already been called “provocative, attractive and dangerous” by A.S. Troelstra in his Principles of Intuitionism (1969).
The Theory of the Creative Subject, controversial even within intuitionism, was proposed by Brower as a method of constructing counterexamples for classical theorems based on the activity of an idealized mathematician. It is well known that this method, in a version formulated by G. Kreisel and J. Myhill, can be reconstructed in a certain kind of Kripke model. By analyzing the controversy regarding the Theory of the Creative Subject, and the related Kripke’s Schema (which basically asserts for each statement A the existence of a sequence that witnesses the validity of A) Sundholm shows, in this dense paper, how Kripke’s Schema can be used as a replacement for the Theory of the Creative Subject, and how this theory can be proved to be classically consistent, despite some of its apparent paradoxical unfoldings.
Chapter 2, “The Developments of the Concept of Machine Computability from 1936 to the 1960s” by Jean Mosconi (p. 37-56) investigates the relation between computation and machines, explaining how Turing’s ideas were gradually adopted and conveniently modified, leading to a close model of contemporary computers. Although Mosconi emphasizes the notion of constructive objects and the general notion of an algorithm on the light of Turing machines, I think that the reader should also take into consideration an illuminating paper by E.G. Daylight (2015), which explains why a certain group of scholars somehow associated with the Association for Computing Machinery (ACM) became interested in Turing’s work and made him, in retrospect, ‘the father of computer science.’ It seems instructive to read this chapter keeping in mind the misleading conception that Turing’s ideas were immediately appreciated by people involved in computing, after his 1936 inception of Turing machines.
Chapter 3, “Kolmogorov Complexity in Perspective Part I: Information Theory and Randomness” by Marie Ferbus-Zanda and Serge Grigorieff (p. 57-94) studies Kolmogorov complexity and the related notion of randomness. Kolmogorov complexity theory, or algorithmic information theory, was independently introduced by R.J. Solomonoff, A.N. Kolmogorov, and G. Chaitin, in parallel with C.E. Shannon’s information theory, but with different motivations. Both theories are intimately connected to computers, as they aim to provide measures of information by using the idea of the bit as a unity. As proposed by Chaitin, the notion of complexity can be used to provide a notion of randomness, via the so-called algorithmic definition of randomness, by relying on the capabilities and limitations of digital computers. This chapter, with a more technical nature, explains the main concepts and proofs related to these topics, also expounding other related notions of complexity, such as L. Levin’s monotone complexity and K.P. Schnorr’s process complexity.
Though not directly emphasized in this chapter, it is worth noting the intimate connection between the famous Gödel’s incompleteness proof and the theory of random numbers, as made clear in several works by Chaitin (the most relevant papers in this respect are cited in the chapter’s bibliography). As far as the most known proofs of Gödel’s incompleteness theorem are based on a version of the paradox of Epimenides, there is a similar proof of randomic incompleteness based on a variant of Berry’s paradox. This relevant result on measuring randomness, together with other results such as P. Martin-Löf’s, showing that randomness is equivalent to incompressibility, points to the possibility of using randomness as a foundation for probability theory, as explained in the chapter.
Chapter 4, “Kolmogorov Complexity in Perspective Part II: Classification, Information Processing and Duality” by Marie Ferbus-Zanda (p. 95-134) is a sequel to the previous chapter, with a more conceptual look at Kolmogorov algorithmic information theory. The chapter proposes to take this theory seriously as a mathematical foundation of information classification, discussing how the notions of compression and information content are related to classification and structure, and more generally to database and information systems. Google’s method of extracting information from the gigantic, unstructured databank represented by the World Wide Web (bottom-up model) and the relational database method based on pure logic (top-down model) to organize data, as proposed by E.F. Codd in 1970, are paradigmatic cases of classification and structure of information studied in this intricate chapter. Such models are the basis for the duality between the two modes of definition of mathematical objects: iterative definitions, and inductive (or recursive) definitions. The chapter makes clear how foundations of mathematics, information theory, and real-world applications are closely connected.
Chapter 5, “Proof-Theoretic Semantics and Feasibility” by Jean Fichot (p. 135-157) deals with foundations of constructibility by examining interpretations of constructive reasoning according to which the meaning of logical constants is determined by the way they are used in a language, or in other words that the meaning of the logical constants can be specified in terms of the introduction rules governing theman idea that amounts to G. Gentzen’s proof-theoretical investigations, complemented with the view that elimination rules are strictly unnecessary and can be obtained as a consequence of introduction definitions. This involves, however, the idealization behind canonical proofs, with dangers to feasibility. By examining the notions of polytime functions (introduced by S. Bellantoni and S. Cook in 1979), and a modification of linear logic, the light affine logic, introduced by A. Asperti in 1998, Fichot outlines a proof-theoretic semantics for feasible logic and for first-order light affine logic, evaluating their consequences.
Chapter 6, “Recursive Functions and Constructive Mathematics” by Thierry Coquand (p. 159-167) again takes up a fundamental question already treated in Chapter 1: is the theory of recursive functions necessary for a rigorous treatment of constructible mathematics? The chapter explains that, from the point of view of constructive mathematics, recursive functions are not needed for the foundations of constructible mathematics, and that mathematics done from an intuitionistic viewpoint does not rely on any notion of algorithm. This is hardly a novelty: in our book, Computability: Computable Functions, Logic, and the Foundations of Mathematics (Epstein and Carnielli, 2008, Chapter 26)2, it is explained in clear terms that recursive analysis is quite different from Brower’s intuitionism, and also how Bishop criticizes Brower’s work as too imprecise and infinitistic, and recursive analysis as too formal and limited. Indeed, it is well known that Bishop takes the notion of constructive function as primitive, refusing to identify it with any formal notion. This chapter, however, enriches its arguments with some brief accounts on the work of Heyting, Skolem, Novikoff, and Lorenzen, besides Bishop.
Chapter 7, “Gödel and Intuitionism” by Mark Atten (p. 169-214) closes the book, discussing how Brouwer’s intuitionism inspired the work of Gödel, with reflections in his famous Dialectica Interpretation. The interest of Gödel for Husserl and Brouwer is comparable to Gödel’s fascination with Leibniz, and can explain Gödel’s belief that the phenomenology of Husserl would prove useful for his program of “developing philosophy as an exact science” and the Dialectica Interpretation as a phenomenological contribution to intuitionism. An appendix to Gödel’s archives shows how he anticipated the concept of autonomous transfinite progressions of theories (the idea of generating a hierarchy of theories via a bootstrapping process, introduced in the literature by G. Kreisel in 1958) while working on his incompleteness proof.
The present book is the result of a meeting under the same name, “Constructivity and Computability in Historical and Philosophical Perspective”, held at the École Normale Supérieure in Paris, in December 2006. As the back cover states, this book contributes to the unity of science by aiming to overcome disagreements and misunderstandings that stand in the way of a unifying view of logic, and I believe it reaches its aims by weaving a deep and detailed account linking the mathematical and philosophical aspects of constructibility and recursivity, showing the limitations of both constructivist and classical mathematics.
Although at some points it is a bit difficult to read, as often happens with collections of texts sewing together pieces with different patterns and styles, this book is highly recommendable for logicians, philosophers, mathematicians, and computer scientists who want to understand how their fields interact.
Notas
1 Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Barão Geraldo,13083-859, Caixa postal: 6133, Campinas, SP, Brasil. E-mail: walter.carnielli@cle.unicamp.br
2 See also the Brazilian edition, Computabilidade: Funções Computáveis, Lógica e os Fundamentos da Matemática (Carnielli and Epstein, 2009).
Referências
CARNIELLI, W.A.; EPSTEIN, R.L. 2009. Computabilidade: Funções Computáveis, Lógica e os Fundamentos da Matemática. São Paulo, Editora UNESP, 415 p.
DAYLIGHT, E.G. 2015. Towards a Historical Notion of ‘Turing the Father of Computer Science’. History and Philosophy of Logic, 36(3):205-228. https://doi.org/10.1080/01445340.2015.1082050
EPSTEIN, R.L.; CARNIELLI, W.A. 2008. Computability: Computable Functions, Logic, and the Foundations of Mathematics. Socorro, Advanced Reasoning Forum, 370 p.
TROELSTRA, A.S. 1969. Principles of Intuitionism. Berlin, Springer, 111 p. (Lecture Notes, no. 95). https://doi.org/10.1007/BFb0080643
Walter Carnielli – Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Campinas, SP, Brasil. E-mail: walter.carnielli@cle.unicamp.br
[DR]
Uma introdução à metafísica da natureza: Representação, realismo e leis científicas – GHINS (FU)
GHINS, M. Uma introdução à metafísica da natureza: Representação, realismo e leis científicas. Curitiba: Editora Universidade Federal do Paraná, 2013. Resenha de: CID2, Rodrigo Reis Lastra. Uma crítica à metafísica conectivista de Ghins. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.2, p.233-243, mai./ago., 2016´.
O livro de Michel Ghins (2013), Uma introdução à metafísica da natureza, é uma interessante tentativa de produção de uma metafísica das ciências. Esse é um projeto relevante, pois, se as nossas teorias científicas têm alguma relação com o mundo, gostaríamos de saber qual é. Uma metafísica das ciências nos diria o que fundamentalmente há no mundo e como isso se relaciona com os objetos teóricos das ciências. Este livro pretende justamente isso a partir de quatro capítulos. No primeiro, o autor introduz o problema da objetividade das nossas teorias científicas, vistas como modelos e leis para explicar fenômenos. No segundo capítulo, explora o debate entre realismo e antirrealismo em filosofia das ciências, defendendo que o mundo pode fazer as nossas teorias aproximadamente verdadeiras. No terceiro, mostra duas das principais concepções em metafísica das leis da natureza, as quais considera inadequadas para fundamentar a regularidade e a contrafactualidade, expondo, posteriormente, sua própria concepção das leis como sustentadas em propriedades disposicionais. Finalmente, no quarto capítulo, apresenta o debate sobre quais são as propriedades fundamentais, as categóricas ou as disposicionais, defendendo um realismo científico moderado com uma metafísica mista, tendo propriedades irredutíveis de ambos os tipos, sendo as leis científicas fundadas nos poderes causais existentes no nosso mundo, o que legitimaria que sejam chamadas de leis da natureza. Embora não tenhamos encontrado problemas em sua concepção de teoria científica, temos algumas críticas à sua adoção de uma metafísica dos poderes.
Ghins começa dizendo que a motivação principal da pesquisa científica é explicar e prever fenômenos. Para isso, os cientistas precisam ter uma atitude objetificante (chamada de “abstração primária”), na qual tomam o objeto do estudo separado de seu contexto holístico e tentam realizar observações independentes de suas subjetividades individuais. Com essa finalidade, eles abstraem algumas propriedades dos fenômenos dignas de interesse (o que se chama de “abstração secundária”) – apreensíveis por outras pessoas nas mesmas condições – e as organizam por meio de relações, formando um sistema. De modo mais específico, um modelo teórico é uma estrutura que satisfaz certas proposições, e ele é construído da seguinte forma, segundo Ghins: (i) estrutura perceptiva – primeiro selecionam-se as propriedades relevantes do fenômeno; (ii) modelo de dados – depois, são feitas medições particulares dessas propriedades com os instrumentos apropriados e esses dados são coletados, sendo os modelos de dados homomórficos à estrutura perceptiva; (iii) (sub)estruturas empíricas (também teóricas) – as informações obtidas nos modelos de dados são generalizadas e relacionadas numa subestrutura teórica de um modelo, de modo a permitir a previsibilidade; (iv) modelo teórico – relaciona as subestruturas empíricas com condições específicas (ceteris paribus); (v) teoria – uma classe de vários modelos que visam a dar conta de todo um domínio abrangente de tipos de objetos. “Por exemplo, a estrutura das medidas dos períodos orbitais pode ser embutida na classe dos modelos de dois corpos da mecânica clássica de partículas” (Ghins, 2013, p.22). Vejamos as Figuras 1 e 2 apresentadas por Ghins.
Para ser científica, além de empiricamente adequada, uma teoria precisa respeitar as condições de universalidade, simplicidade e poder explicativo (Ghins, 2013, p.24). O que será privilegiado depende de critérios pragmáticos, dados os objetivos da teoria, mas ainda assim uma teoria será mais empiricamente adequada quanto mais suas previsões forem precisas em relação às mensurações3. Uma teoria é empiricamente adequada “quando, para qualquer modelo de dados relevante, ela contém subestruturas empíricas homomórficas adequadas” (Ghins, 2013, p.22); é por isso que ela permite a previsibilidade. E ela não é empiricamente adequada “se as predições da teoria não forem conformes às observações nem for possível construir, com base na teoria, uma estrutura empírica homomórfica aos novos resultados” (Ghins, 2013, p.23).

Figura 1. Abordagem de Ghins da formação de teorias científicas. Figure 1. Ghins’ account on the formation of scientific theories. Fonte: Ghins (2013, p.23).

Figura 2. Abordagem de Ghins da formação de teorias científicas.
Figure 2. Ghins’ account on the formation of scientific theories. Fonte: Ghins (2013, p.27).
Sobre a universalidade, para Ghins (2013, p.25), quanto mais geral a teoria, mais preferível. Por exemplo,
a mecânica de Newton unifica a mecânica celeste de Kepler e a mecânica terrestre de Galileu […] A teoria unificadora, além de aumentar em muitas vezes a exatidão das predições, permite também predizer novas observações e, com isso, aumentar o poder preditivo, ou seja, em última instância, construir teorias empiricamente adequadas a um maior número de observações.
Com relação à simplicidade, ao poder explicativo e sua relação, eles geralmente são pensados como opostos, pois, quanto mais poder explicativo uma teoria possui, mais complexa ela se torna; no entanto, a complexidade dificulta o trabalho teórico, de modo que mais simplicidade seria preferível. Todavia, simplicidade demais – como uma teoria que apenas descreve os fatos do mundo – é inadequado, pois nada seria explicado.
Mesmo tendo a relação entre simplicidade e poder explicativo em vista, esta última noção não é facilmente caracterizável, dadas as distinções nas concepções sobre o que é uma teoria. “Hempel e Oppenheim identificam justamente o poder explicativo de uma teoria à sua capacidade de efetuar predições a partir de leis gerais” (Ghins, 2013, p.25); contudo, eles possuem uma concepção sintática de teoria, isto é, pensam uma teoria como um conjunto de proposições, dentre as quais contam as leis como proposições mais gerais. Há também uma outra visão, chamada de “concepção semântica” das teorias, que subestima o papel das leis e toma as teorias como classes de modelos. A alternativa desenvolvida por Ghins, chamada por ele de “teoria sintética”, é híbrida, no sentido de que uma teoria científica é vista como “um conjunto de modelos e de proposições satisfeitas (tornadas verdadeiras) por esses modelos” (Ghins, 2013, p.26)4. Em sua abordagem, uma teoria só é explicativa quando descreve mecanismos causais. Mas o que é um mecanismo causal?
Para Galileu e Descartes, um mecanismo é um conjunto de partes dotadas de formas geométricas cujas posições e velocidades estão relacionadas entre si. […] Para a ciência matematizada, um mecanismo nada mais é que um conjunto de grandezas – posições, velocidades, acelerações, formas geométricas, massas etc. – que mantêm entre si relações matemáticas. […] De modo bastante amplo, um mecanismo é um modelo, uma estrutura de elementos quantificáveis organizados por relações matemáticas, isto é, leis – e, agora acrescento, leis causais (Ghins, 2013, p.30).
O que são leis causais e o que são leis não causais? Um dos exemplos de lei trabalhado no livro de Ghins é a lei geral dos gases (PV=KT), fundamentada na teoria cinética dos gases. Ela é considerada uma lei de coexistência, por não ser temporal; portanto, ela não seria uma lei causal. Segundo Ghins, uma lei causal deve ser uma equação diferencial com uma derivada em relação ao tempo, já que
um mecanismo explicativo no sentido geral é um sistema cujo domínio, isto é, o conjunto das grandezas que são seus elementos, satisfaz leis de natureza causal. […] [Um] mecanismo não é mais que um sistema de propriedades quantificadas que tornam verdadeiras as leis causais, as quais descrevem a evolução dos valores daquelas propriedades ao longo do tempo. (Ghins, 2013, p.31).
Mesmo assim, a teoria cinética dos gases é explicativa, porque, ainda que a lei dos gases ideais não seja causal e, consequentemente, não descreva mecanismo algum, a teoria cinética explica como a variação nômica indicada na fórmula ocorre, a saber:
[…] a pressão resulta dos choques das moléculas com a parede do recipiente e a temperatura é proporcional à energia cinética média das moléculas do gás. […] A explicação da lei dos gases perfeitos repousa sobre leis5 fundamentais e causais que descrevem o comportamento de corpos considerados como pontos massivos sem extensão (Ghins, 2013, p.28).Segundo Ghins, “a lei de Boyle-Mariotte não descreve um processo causal. Ela descreve uma situação num estado de equilíbrio. Para obter uma explicação, é necessário se referir às leis causais que descrevem os processos microscópicos” (2013, p.44). Por outro lado, as leis da teoria cinética de Maxwell-Boltzman, sobre a qual a explicação da lei de Boyle-Mariotte se apoia, são leis causais, já que são proposições que descrevem processos causais possíveis. As leis dessa teoria cinética são leis causais, porque as leis da mecânica são temporais, porque elas permitem explicar as variações temporais de propriedades determinadas ao longo de um processo ao reportá-las a causas definidas e porque “essas leis possuem termos que assumem a forma de derivadas temporais e que propomos identificar a efeitos. As variações de velocidade – as acelerações – são efeitos cujas causas são as forças pelas quais são produzidas as acelerações” (Ghins, 2013, p.43).
Mas em que medida pode-se aceitar que os modelos de nossas teorias representam corretamente a realidade? Em que medida pode-se acreditar que as leis científicas são verdadeiras? Essas são tanto questões ontológicas sobre a realidade dos objetos teóricos quanto questões epistemológicas sobre os limites do conhecimento científico. Construímos estruturas teóricas para dar conta de fenômenos, que, na realidade, são holisticamente apreendidos, e não isoladamente como o objeto científico. A dúvida, tal como expôs Bas van Fraassen, segundo Ghins, é “como uma entidade abstrata, como uma estrutura matemática, pode representar uma coisa que não é abstrata, uma coisa na natureza?” (2013, p.34). Essa objeção é conhecida pelo nome de “objeção da perda da realidade”.
A resposta de Ghins é dizer que ela se funda na ideia equivocada de que o cientista representa a realidade em seu modelo de dados e, consequentemente, nas subestruturas teóricas, nos modelos e nas teorias. “Quando um cientista afirma que o volume de um gás é igual a 1 dm3, ele pretende afirmar uma verdade a respeito de certas entidades fenomênicas. Asserções desse tipo não são representações” (Ghins, 2013, p. 35), mas são antes tentativas de descrição de certos aspectos da realidade. Para haver qualquer representação possível de uma entidade, tem de haver uma descrição anterior de suas propriedades. Tomar essas descrições de propriedades como se fossem representações implica criar uma distinção difícil de ser sustentada entre a contemplação do fenômeno do ponto de vista de lugar nenhum e as próprias construções representacionais. Toda contemplação de fenômeno é a partir de um ponto de vista, por mais que o ponto de vista seja intersubjetivo. As estruturas perceptivas, embora abstraídas dos objetos, não são estruturas abstratas, mas antes concretas, já que são apreendidas de situações particulares. Por exemplo, observamos uma bola de bilhar e vemos que ela tem a propriedade volume; não estamos representando a propriedade presente na bola como volume, mas estamos abstraindo uma propriedade da bola, a qual chamamos de “volume”, e depois medindo sua quantidade de acordo com uma medida convencionada. O que promove a objetividade, nessa concepção, é o acordo intersubjetivo com relação às estruturas perceptivas e aos modelos de dados (Ghins, 2013, p.38). E a posição metafísica defendida sobre a verdade, em Ghins, é a correspondentista (uma proposição é feita verdadeira – ou aproximadamente verdadeira – por algo do mundo), ainda que se assuma que nenhuma teoria da verdade como correspondência atualmente é satisfatória.
Poder-se-ia contra-argumentar a Ghins dizendo que não são apenas as propriedades abstraídas que têm de ser remetidas ao mundo, mas também as operações matemáticas. Sabemos que “volume” diz respeito a uma certa propriedade observável de um objeto, mas ao que diz respeito o termo “+”? Certamente, não significa “juntar”, pois podemos somar sem juntar coisas. Pode significar “reunir num conjunto”; mas conjunto é também um objeto matemático, que ainda não está se relacionando com a realidade. A objeção da perda da realidade, quando entra no domínio dos operadores matemáticos, leva a difíceis problemas… Não temos uma solução satisfatória para eles, mas cremos que Ghins também não. Talvez ninguém tenha. Se for o caso que ninguém tenha, então a melhor solução é deixarmos o nosso juízo em suspenso enquanto não obtivermos uma resposta satisfatória e continuarmos utilizando as operações matemáticas até lá.
Uma outra objeção que poderia ser feita, expressa pelo próprio Ghins, é que, embora não haja representação na estrutura perceptiva, nem no modelo de dados, nem na subestrutura teórica, existe representação quando começamos a criar modelos teóricos e teorias nas quais falamos sobre entidades inobserváveis.
No caso dos gases, é fácil verificar, por observações imediatas, que aquilo que está contido dentro de um recipiente tem de fato um volume, uma pressão e também o que podemos chamar de grau de calor. […] Por outro lado, a identificação de um gás com um conjunto de partículas que se movem e são dotadas das propriedades de possuir uma massa e de mover-se a certa velocidade é muito mais problemática. […] As partículas constitutivas de um gás não são visíveis e suas velocidades médias não são nem observáveis nem individualmente mensuráveis (Ghins, 2013, p.40-41).
Veja que a objeção aqui não é contra as observações imediatas, mas antes contra a explicação com inobserváveis que a teoria fornece para o fenômeno.
A resposta do autor é que, na medida em que a teoria tem adequação empírica, além das condições já descritas, isso é um forte indício, embora não uma razão suficiente, em favor de sua interpretação realista moderada, na qual as leis científicas podem ser aproximadamente verdadeiras. E não é razão suficiente por causa de uma objeção conhecida pelo nome de “argumento da subdeterminação da teoria” pelas estruturas perceptivas e pelos modelos de dados: “[…] visto que, em princípio, é sempre possível construir várias teorias incompatíveis entre si, mas que salvam as estruturas perceptivas relevantes, não temos nenhuma razão para acreditar na verdade, ao menos aproximada, de apenas uma dentre elas” (Ghins, 2013, p.41).
A resposta de Ghins (2013, p.41) é dizer que não basta indicar que pode haver teorias alternativas, mas deve-se fornecer alguma ou mostrar que uma já está sendo construída. Ele aceita que as teorias são realmente subdeterminadas pelos dados e, por isso, acaba aceitando que apenas a adequação empírica não garante a verdade de uma teoria. Ainda que se coloque a capacidade explicativa na história, haverá as dificuldades de dizer o que é uma boa explicação e como o fato de algo ser uma boa explicação, que é algo patentemente epistêmico, se relaciona com a verdade, que é algo metafísico. Pode-se dizer que uma teoria explicativa nos abre um acesso cognitivo a certas realidades externas e inobserváveis. E isso pode ser feito, sem muita dificuldade, segundo Ghins, ao aceitarmos a verdade das leis causais e uma noção de explicação baseada em mecanismos descritos por leis causais. O que Ghins defende é que (2013, p.45)
Nossas crenças na existência de objetos inobserváveis, tais como as moléculas, as partículas elementares, o campo gravitacional, os vírus, os genes, as placas tectônicas etc., encontram sua justificação a partir de considerações análogas àquelas que justificam nossas crenças na existência de entidades observáveis […] Da mesma forma, nossa crença na existência dos elétrons é justificada pela possibilidade de medir suas diversas propriedades de carga, spin e massa por meio de métodos independentes que proporcionam resultados precisos e convergentes.
A possibilidade do erro existe nessa concepção, e ela é remetida à própria possibilidade do erro no que diz respeito a entidades observáveis pelos nossos sentidos. Porém nós conseguimos diminuí-la ao repetirmos as observações, utilizando também outros sentidos além da visão e verificando se nossas observações são concordantes – o que, no caso do objeto científico, pode ser pensado como os instrumentos de mensuração. Por exemplo, no caso das moléculas (Ghins, 2013, p.44),
temos que dispor de métodos de mensuração que permitam determinar o valor da velocidade média, da massa e do número de moléculas. Além disso, é preciso que esses processos de medida da velocidade média e do número de moléculas sejam independentes dos métodos de mensuração da temperatura e da pressão.
Isso já ocorre, dado que podemos medir o mol de um gás por métodos independentes que fornecem resultados que convergem com um alto grau de precisão.
Outro argumento avaliado pelo autor é o conhecido “argumento do milagre” (ou no-miracle argument). Este nos diz que o realismo é a melhor explicação do sucesso empírico (previsões de mensurações bem-sucedidas) de nossas teorias, pois, se nossas teorias não são ao menos aproximadamente verdadeiras, então seu sucesso empírico é um milagre. Assim, ou aceitamos que as propriedades inobserváveis postuladas por uma teoria bem-sucedida seriam de entidades reais cuja existência é independente de nossos desejos, de nossas medidas e da nossa linguagem, ou aceitamos o sucesso, por milagre, da teoria.
Segundo Ghins, pode-se objetar a esse argumento que ele não é um argumento decisivo a favor do realismo e tem um caráter científico contestável, já que não tem a forma da explicação científica, baseada em leis causais, para dar conta da relação entre a verdade e o sucesso empírico. A solução de Ghins (2013, p.47) é dizer que a concordância entre as mensurações é mais exigente que o sucesso empírico, de modo que pode fundamentar melhor a verdade – ao menos a verdade aproximada – de uma teoria. Além disso, ele não pretende “explicar – e, certamente, não de modo científico – a concordância entre as mensurações de uma propriedade pela existência de uma entidade que a possui” (p. 47). O objetivo de Ghins, com o argumento do milagre, não é contrastar uma pseudoexplicação milagrosa com uma explicação de fato, mas fazer uma analogia entre razões para crer na existência de, por exemplo, um abacaxi, com diversas propriedades observáveis, e de um objeto, como um elétron, que só tem propriedades inobserváveis.
É possível, no entanto, objetar ainda que, na medida em que não conhecemos o mecanismo causal operante nos nossos instrumentos de mensuração, não podemos conhecer os mecanismos causais que viemos a conhecer a partir dos instrumentos de mensuração. Entretanto, isso não leva em consideração que, na experiência sensível ordinária, os mecanismos causais dos nossos sentidos (nossos instrumentos sensíveis de medição) não nos são totalmente conhecidos. Na experiência científica, diz-nos Ghins, os mecanismos causais dos instrumentos científicos de medição são bem conhecidos e descritos por meio de leis causais fundamentais. Ainda que isso não seja bem o caso e que não conheçamos perfeitamente o mecanismo causal dos nossos instrumentos de medida, conhecê-lo perfeitamente não é necessário para coletarmos dados com precisão; por exemplo, Galileu conseguiu dados precisos sobre os corpos celestes, mesmo sem conhecer as leis óticas envolvidas no telescópio.
O objetivo de Ghins até aqui é defender uma versão moderada – dado permitir a falsificação de teorias – de realismo cientifico, a qual ele pensa dar conta das objeções da perda da realidade e da subdeterminação da teoria, “argumentando [sobre entidades observáveis] que o êxito de nossas construções representacionais sustenta-se na verdade de proposições predicativas acerca dessas entidades” (2013, p.49-50). E sobre as entidades inobserváveis, Ghins crê que a razão pela qual as teorias têm poder explicativo permite-lhe falar verdadeiramente (aproximadamente) sobre elas. No entanto, o poder explicativo é uma exigência epistêmica, que o mundo não precisa cumprir, de modo que aquele não forneceria razões suficientes para crermos nas entidades inobserváveis das teorias. Por isso, Ghins critica o argumento do milagre como uma razão para crermos nas entidades inobserváveis postuladas pelas teorias. Embora esse argumento favoreça sua analogia entre razões para crer na existência de entidades observáveis e de não observáveis, ele não é aceito como conclusivo pelo autor. Sua razão principal a favor do realismo dessas entidades teóricas é que “estabelecemos nossas crenças na existência de entidades observáveis por observações repetidas e variadas, [e] defendemos a existência de entidades inobserváveis por meio de métodos de mensuração que sejam diversos e que proporcionem resultados concordantes” (Ghins, 2013, p.50). Seja qual for o caso, Ghins nos diz que, para crer na existência de certas entidades, seja um abacaxi ou um elétron, realizamos observações rigorosas e concordantes. Em nossas teorias científicas, segundo Ghins, expressamos, além de certas propriedades de certas entidades, também leis gerais que são satisfeitas pelos modelos teóricos de nossas teorias. Mas há uma grande divergência filosófica sobre a existência dessas leis científicas como leis da natureza. Por exemplo, segundo Ghins, Bas van Fraassen e Ronald Giere, seguidores da abordagem semântica das teorias científicas, defendem que o conceito de lei, além de ser problemático, é simplesmente inútil para compreender a natureza das teorias e da prática científica, que se utilizaria apenas de modelos. Outros filósofos, como Hempel e Oppenheim, defendem uma concepção sintática, na qual uma teoria é apenas um conjunto de proposições, das quais algumas são leis. Ghins discorda de ambos, por pensar que eles empobrecem as teorias científicas, já que não as representam adequadamente; por isso, ele constrói uma teoria híbrida, chamada por ele de “teoria sintética”, que aceita que as teorias são constituídas de modelos (teoria semântica) com leis (teoria sintática) satisfatíveis por tais modelos.
Mas o que seriam, na realidade, essas leis? Para responder essa pergunta, o caminho de Ghins é o seguinte: (i) avaliar a teoria regularista das leis; (ii) avaliar o necessitarismo contingencialista das leis; (iii) defender sua teoria necessitarista das leis metafisicamente necessárias como (Ghins, 2013, p.51, sic.)
proposições universais pertencentes a teorias empiricamente adequadas e explicativas, [e (…)] consideradas como sendo aproximada e parcialmente verdadeiras a propósito de sistemas reais. Uma teoria científica é composta de um conjunto de modelos e de proposições [d]entre as quais algumas alcançam o estatuto de leis.
Uma lei científica poderia ser considerada também uma lei da natureza, “se for possível elaborar argumentos em favor da existência de entidades metafísicas, tais como, por exemplo, disposições naturais ou poderes causais, que a tornassem aproximadamente verdadeira” (Ghins, 2013, p.52), e Ghins tenta fazer isso, mostrando que a regularidade e a contrafactualidade das leis se fundamentam nas propriedades disposicionais.
O regularismo (pelo menos na sua forma ingênua) toma as leis como proposições condicionais materiais, quantificadas universalmente, que são feitas verdadeiras pelos estados de coisas particulares, ou seja, toma-as como regularidades. Nessa concepção, as leis são verdadeiras, porém não necessárias. O primeiro problema que surge para o regularista é o chamado “problema da identificação”, que é a conjunção de dois problemas, a saber, (i) o problema (epistêmico) de saber como distinguir leis de regularidades meramente acidentais e (ii) o problema (ontológico) de indicar qual é o fato acerca do mundo que confere a uma regularidade seu estatuto nomológico. Por exemplo, seria dizer o que faz ser uma lei a regularidade de que toda pedra de urânio tem menos de 1 km3 e que não está presente na regularidade de que toda pedra de ouro tem menos de 1 km3 (já que consideramos este último como um mero fato contingente), e dizer quais critérios utilizaremos para distinguir um tipo de generalização de outro.
O regularismo sofisticado de Mill-Ramsey-Lewis, para responder 1, o problema epistêmico, diz-nos que uma lei é uma proposição universal que figura “como teorema (ou axioma) em todos os sistemas dedutivos verdadeiros que combinam simplicidade e força da melhor maneira” (Ghins, 2013, p. 54). Como simplicidade e força explicativa são opostos, seria adequado que mantivéssemos a melhor combinação entre eles. E ser um teorema ou axioma faz as leis serem algo mais que meras regularidades, a saber, elas são regularidades que estão presentes em todos os sistemas dedutivos verdadeiros equilibrados. Leis vácuas, como a lei newtoniana, que não são satisfeitas por nenhum sistema real, seriam leis na medida em que contribuem para maior simplicidade da totalidade da construção axiomática. Essa resposta certamente alivia um pouco o problema da identificação para o regularista, ao menos em sua parte epistêmica; porém, com relação à parte ontológica, “Lewis permanece silencioso sobre o que, na realidade do mundo, torna um sistema axiomático mais satisfatório que outro segundo seu critério de ‘melhor equilíbrio de simplicidade e força’” (Ghins, 2013, p.55). Outros problemas dessa forma de regularismo são que: (a) poucas teorias são axiomatizadas no sentido de Lewis e algumas não são nem axiomatizáveis, (b) o equilíbrio entre os critérios de simplicidade e força não foi precisado adequadamente, (c) e esses critérios são subjetivos, já que são epistêmicos e que não há necessidade alguma de a realidade os respeitar.
O neorregularismo de Psillos (2002, p.154 in Ghins, 2013, p.57), por sua vez, “defende uma posição realista segundo a qual a simplicidade de um sistema axiomático reflete a simplicidade objetiva da organização das regularidades fatuais”. Isso salva o regularismo do problema ontológico, mas, supostamente, segundo Ghins, o deixa à mercê do problema epistêmico, pois, ainda que identifique as leis com um tipo de regularidade e atribua simplicidade e uma estrutura nomológica para o próprio mundo, a contrapartida objetiva da lei não é acessível à observação direta, tal como desejaria que fosse o espírito empirista do regularista, e, consequentemente, não seria possível para o regularista distinguir as leis das regularidades que não são leis.
Não sabemos se esse argumento é bom, pois, se já aceitamos que o regularista pode distinguir leis de acidentes pelo fato de as leis possuírem uma posição especial nos melhores sistemas dedutivos, então o fato de ele atribuir a simplicidade desses sistemas dedutivos à existência de simplicidade no mundo não o impede de manter a distinção que resolveria o problema epistêmico. Ele não precisa de uma contraparte empiricamente acessível da lei; precisa somente de uma distinção, que, a princípio, poderia ser mantida, ao manter-se o espírito lewisiano, pela distinção de a lei ser um teorema ou axioma dentro de todos os melhores sistemas dedutivos para os fatos do mundo.
Um outro problema sério e persistente para qualquer forma de regularismo – na verdade, para qualquer forma de contingencialismo com relação às leis – é o problema da contrafactualidade. Se as leis do regularista são contingentes, elas não podem garantir a verdade de condicionais contrafactuais – condicionais cujo valor de verdade do antecedente é o falso. Tais condicionais são considerados trivialmente verdadeiros segundo a lógica de predicados de primeira ordem, se vistos como condicionais materiais comuns, já que um condicional material só é falso no caso de a antecedente ser verdadeira e a consequente ser falsa, e verdadeira em qualquer outra situação. Mas, na literatura filosófica, há muito trabalho sobre as condições de verdade dos contrafactuais que não os trivializariam. O fato de as leis regularistas não garantirem a verdade não trivial dos contrafactuais as deixa mais afastadas das leis científicas, já que estas garantiriam a contrafactualidade, diz-nos Ghins.
No entanto, pensamos nós, há uma objeção realizável por Lewis (1973), que tem uma teoria na qual ele tenta dar condições de verdade para os contrafactuais em termos de o que é o caso no mundo possível mais próximo. Um dos critérios para a proximidade entre os mundos é a semelhança de leis. Assim, no regularismo lewisiano, um contrafactual tal como “se Fa fosse o caso, Ga teria sido o caso” seria verdadeiro, se no mundo possível mais próximo Fa e Ga são o caso. Esse mundo possível é aquele com as mesmas leis que o nosso, mas com a antecedente do contrafactual sendo verdadeira. Uma objeção ao pensamento de Lewis é que seu contrafactual seria verdadeiro em muito menos situações do que as que esperaríamos. Um contrafactual cuja verdade surge a partir da verdade em todos os mundos possíveis relevantes, em vez de apenas no mais próximo, garante essa abrangência da verdade contrafactual, que não está presente na garantia da verdade contrafactual de Lewis. A abrangência científica da verdade dos contrafactuais chega a casos em que até algumas das leis não se mantêm (i.e., no caso de alguns contrafactuais contralegais), enquanto o mesmo não podemos dizer da teoria de Lewis.
O necessitarismo de Dretske-Armstrong-Tooley também não escapa das críticas do autor. Aquele nos diz que uma lei da natureza é uma relação universal contingente de necessitação entre universais imanentes, que garante (mais que a total contingência) a verdade no mundo atual, mas não em todos os mundos possíveis. E a relação de necessidade que opera ao nível dos universais implica também uma relação de necessidade ao nível dos indivíduos particulares que os exemplificam: N(F,G) → (x) N(Fx,Gx). Mas, a partir dessa definição, temos um problema, conhecido pelo nome de “problema da inferência”, de explicar a conexão entre a necessidade armstronguiana (necessitação) no nível dos universais e a do nível dos particulares6. A resposta de Armstrong é que a relação causal do domínio dos particulares e a necessitação são uma e a mesma relação, dado que os universais estão presentes nos particulares – o que tornaria a inferência acima, em algum sentido, analítica. Diferentemente do regularismo, o necessitarismo de Armstrong permitiria que a necessitação fosse observável, já que ele diz que observamos a necessitação, isto é, a causalidade, quando, por exemplo, sentimos o peso do nosso corpo. Um governista ante rem (teórico das leis como relações universais entre propriedades universais transcendentes), pensamos nós, também poderia dar conta desse problema ao dizer que a causalidade singular é instância da necessitação e que observamos, indiretamente, a necessitação por meio da observação da causalidade singular, tal como observamos, indiretamente, o azul universal ao observarmos uma instância sua em algo particular. De todo modo, observar os poderes das coisas também não é algo tão incontroverso assim.
Além de tomar essa observabilidade como bastante controversa, Ghins julga que há um problema não resolvido por necessitaristas (problema esse também para regularistas), a saber, distinguir propriedades naturais de não naturais. O problema é que, se não houver distinção e as propriedades de Goodman (propriedades como verzul) forem avaliadas pelos cientistas, teremos leis mutáveis no nosso sentido, embora imutáveis no de Goodman.7 Outros problemas, ainda, para o necessitarismo de Armstrong é que ele não dá conta de leis probabilísticas adequadamente – segundo Ghins, van Fraassen, em Laws and symmetries (1989, p.109-116), mostrou que a solução armstronguiana não era adequada – e nem de leis não causais (como as leis de conservação), além de não mostrar que a necessitação e a causalidade singular são a mesma relação.
Pensamos que é possível, tanto para teorias aristotélicas como a de Armstrong quanto para as teorias platônicas como a de Tooley, dar conta de leis de conservação como deriváveis de outras leis; por exemplo, se toda lei diz como uma forma de energia se transforma em outra, mas não há leis que determinem como a energia se extingue ou aumenta, então, por lógica apenas, chegamos à conclusão de que a quantidade total de energia deve ser sempre a mesma. Há proposições necessárias (se as leis forem necessárias) implicadas por leis que não são elas próprias leis, pois não são relações de necessitação entre universais. As leis probabilísticas, no entanto, são problemáticas; mas acreditamos que são problemáticas para qualquer teórico que seja: regularista, conectivista (metafísico dos poderes), governista in rebus (leis como universais imanentes) ou governista ante rem (leis como universais transcendentes).
Dados os problemas que Ghins (2013, p.64) aponta nessas concepções, sua proposta é
identificar epistemicamente as leis científicas como sendo proposições de forma lógica universal e (aproximadamente) verdadeiras, empregadas para construir teorias científicas explicativas empiricamente bem sucedidas. […] Segundo essa proposta, proposições universais podem ser chamadas de leis somente no contexto de uma teoria, como na concepção de Mill-Ramsey-Lewis. […] [Sua ideia é que] não se resolve o problema da identificação determinando o fundamento da necessidade das leis, mas estabelecendo sua verdade no contexto de uma teoria científica.
Assim, uma proposição é uma lei científica se ela fizer parte, como um teorema ou axioma, de uma teoria científica, interpretada realisticamente, que contém, entre outras coisas, proposições gerais com o status de lei. E essas leis científicas seriam leis da natureza na medida em que a verdade aproximativa das leis científicas é sustentada em poderes universais realmente existentes, que se expressam nas disposições essenciais das entidades naturais. Acreditamos que a proposta de identificar a lei científica com um teorema/axioma de alguma teoria científica é interessante, pois captura nossas intuições sobre a lei científica, mas identificar as leis científicas com poderes, e não com leis da natureza, essa proposta já é um tanto debatível.
A ideia de uma metafísica dos poderes é justamente apresentar qual é o fundamento modal que as leis científicas teriam, já que, a princípio, se elas são proposições descritivas, não podem logicamente implicar proposições que contenham modalidades, como os contrafactuais. Portanto, se há algo que conecta leis e proposições contrafactuais, temos de saber o que é. E, além disso, temos de explicar a existência de regularidades na natureza. As teorias anteriormente apresentadas têm problemas com a contrafactualidade, por causa da contingência; o regularismo, mais especificamente, têm problemas também com explicar a existência de regularidades na natureza, pois, se o que torna as leis verdadeiras são meras regularidades, aquelas apenas descrevem estas e não explicam por que estas acontecem; e o necessitarismo de Armstrong, embora dê conta da explicação da regularidade, tem os problemas indicados anteriormente, acredita Ghins. Se tivermos conseguido fugir dos problemas que afetam também a concepção conectivista de Ghins, então a posição governista seria, pelo menos, equivalente, em poder explicativo, àquela.8
A concepção de Ghins é de que o que torna verdadeira a proposição ‘p é uma lei,’ fundamentando assim a força modal de p, é a existência de poderes causais irredutíveis e essenciais às entidades que os têm (constituem necessariamente suas identidades). Mas o que é ter um poder causal, isto é, uma propriedade disposicional? Diz-nos Ghins (2013, p.69-70):
Uma entidade x possui a disposição D de manifestar a propriedade M em resposta ao estímulo T nas circunstâncias A, se e somente se, na eventualidade da entidade x ser submetida a T no ambiente A, x necessariamente manifestar M. Formalmente, temos (Bird, 2007, p.36-37):
D A,T,M x ↔ (Ax ˄ Tx) □→ Mx (a)
Esse último enunciado pode ser considerado uma definição da propriedade disposicional D A,T,M . Então, é analiticamente verdadeiro e necessário que □DA,T,M x ↔ (Ax ˄ Tx) □→ Mx (b)
Por exemplo, os copos de certos tipos de vidro têm a capacidade de se quebrar em certos tipos de circunstâncias (como quando sofrem certa quantidade de impacto e estão ausentes circunstâncias que agiriam como “antídotos” do processo causal). É em virtude dessa capacidade, poder ou propriedade disposicional que é necessário que o copo se quebre quando submetido a uma tal circunstância. E a relação entre essas disposições e a identidade de certos objetos é necessária; elas fazem parte da essência de tais objetos. Assim, seria parte da essência dos corpos frágeis que eles tenham uma disposição para se quebrar em certas circunstâncias. Se algo não tem esse poder de se quebrar, simplesmente não é um corpo frágil.
Um primeiro problema que vemos nessa concepção é a imaterialidade de um poder. Um copo de vidro tem o poder de se quebrar. Onde está esse poder? Você pega o vidro, leva para o microscópio e tudo que você vê são moléculas, uma junto à outra. Não vê poder algum de se quebrar; na verdade, não vê poder algum. Se há poderes nas coisas, eles são imateriais, estão presentes de algum modo estranho nas coisas. O teórico dos poderes tem de explicar como as coisas têm poderes. O teórico das leis, se for também categoricalista, dirá que a capacidade dos objetos advém de suas propriedades categóricas estarem submetidas a leis da natureza, e não que há capacidades ocultas em cada um dos objetos. É contra-argumentável que a imaterialidade das leis também atesta contra elas. Duas respostas são possíveis. Se defendemos o substantivismo armstronguiano, as leis podem ser cridas como materiais, pelo fato de os universais estarem presentes nas coisas particulares, e, se defendemos o substantivismo ante rem, ao estilo de Tooley (1977), podemos dizer que a imaterialidade das leis é menos problemática que a imaterialidade dos poderes, pois os poderes se movem junto com seus hospedeiros, enquanto as leis não se movem, e o movimento de algo imaterial é algo que, patentemente, precisa de explicação.
Uma objeção que consideramos ainda mais poderosa contra o teórico dos poderes é que ele não consegue descrever algo que um teórico categoricalista conseguiria, como, por exemplo, o resultado do contato de duas partículas como um resultado do contato das capacidades ou potencialidades ou poderes dessas partículas. Veja a seguir (Cid, 2011, p.40).
O conectivista poderia tentar dizer que as partículas do tipo X têm o poder de manifestar F quando interagem com as partículas do tipo Y9 e que as partículas do tipo Y têm o poder de manifestar F quando interagem com as partículas do tipo X, e que não há nada mais para a lei de que XY manifesta F do que esses poderes de X e de Y. O problema de dizer tal coisa é que a manifestação de F estaria sobredeterminada, já que ambas as partículas fariam F ser manifestado. Uma forma de tentar solucionar tal problema é dizendo que as partículas do tipo X têm o poder de manifestar F1 quando interagem com as partículas do tipo Y, que as partículas do tipo Y têm o poder de manifestar F2 quando interagem com as partículas do tipo X, e que (F1˄F2)→F. Poderíamos objetar a essa resposta dizendo que teríamos que explicar, então, como (F1˄F2)→F; e o conectivista não é capaz de explicar isso sem cair novamente no problema da sobredeterminação ou num regresso ao infinito. Pois se (F1˄F2)→F, então: (i) ou F1 está disposto a manifestar F quando estimulado por F2, e F2 está disposto a manifestar F quando estimulado por F1, (ii) ou F1 está disposto a manifestar F3 quando estimulado por F2, F2 está disposto a manifestar F4 quando estimulado por F1, e (F3˄F4)→F. O caso (i) faria F estar sobredeterminado. E com relação ao caso (ii), o problema seria ter que explicar a implicação de F3˄F4 para F, que só seria possível criando um caso como (i), que sobredeterminaria F, ou criando um outro caso como (ii) ad infinitum.
Ainda uma objeção, esta apontada por Ghins, contra uma teoria das disposições é chamada de “objeção da virtude dormitiva”: explicar a capacidade do vidro de se quebrar recorrendo a uma disposição para se quebrar (fragilidade) não nos explica nada sobre a capacidade de se quebrar; é apenas nomear a capacidade que já sabíamos que lá estava. A resposta de Ghins é dizer que, embora atribuir uma disposição não explique o fenômeno, ela nos fornece uma informação importante, de modo que permite que, por exemplo, nos previnamos da manifestação da disposição (protegendo o copo, talvez), além de constituir um convite a buscar o processo físico, químico, psicológico, etc. subjacente à manifestação das disposições. Com essa atribuição de propriedade disposicional, “acrescentamos um elemento suplementar, a saber, que a base desse comportamento regular é uma propriedade disposicional enraizada numa entidade. Ao afirmar tal coisa, operamos uma transição do nível puramente descritivo para o nível modal” (Ghins, 2013, p.73, grifo meu). Como pensamos ter mostrado, um teórico categoricalista, que não aceita a existência de disposições, descreveria a atribuição de propriedade disposicional de uma outra forma, com propriedades categóricas e leis (embora, em seu discurso superficial, possa achar conveniente apenas falar como se houvesse disposições, mas mantendo, em seu discurso profundo, que não há).
Contudo, Ghins sabe o quão debatível é falar de propriedades disposicionais irredutíveis e ele acaba adentrando na discussão sobre se, fundamentalmente, o que há na realidade são propriedades disposicionais irredutíveis ou se são propriedades categóricas irredutíveis. As propriedades categóricas seriam as propriedades primárias das coisas sobre as quais estariam fundamentadas todas as outras propriedades. Por exemplo, Armstrong (1983) pensa que as propriedades primárias são a forma, o tamanho e a organização interna, e que cores, sabores e disposições em geral são qualidades secundárias fundadas nas primárias. A ideia é que “as qualidades primárias, conforme se supõem, são definíveis independentemente de qualquer disposição das entidades que as possuem […] as qualidades primárias tornam possível a ação dos corpos uns sobre os outros e, em particular, a ação deles sobre os nossos órgãos sensoriais” (Ghins, 2013, p.75); elas seriam propriedades espaçotemporais.
Algumas objeções a essa ideia, feitas por Ghins, são que quantidades, tais como a carga ou a constante de Coulomb, não poderiam ser reduzidas a propriedades espaçotemporais e que é duvidoso que a estrutura do elétron, se ela existir, seja espacial. Para sanar esse problema, ele sugere que, na classe das propriedades categóricas, devemos incluir as propriedades e relações correspondentes aos símbolos matemáticos empregados na formulação das teorias científicas. Isso permitiria ainda a distinção entre propriedades categóricas e disposicionais, já que um elétron possuiria uma massa e uma carga, independentemente da possibilidade de interagir com outras massas e cargas. A dificuldade que prevemos com essa concepção é explicar o que seriam cargas, por exemplo, sem reduzi-las a algo que contenha uma disposição para atrair/repelir. Certamente o categoricalismo estrito não poderia aceitar cargas como propriedades categóricas. Ele teria de reduzir essas capacidades de atrair/repelir a propriedades categóricas governadas por leis. Sobre os símbolos matemáticos, a dificuldade é explicar o que, ontologicamente, são eles; mas essa é uma dificuldade, inserida no seio da filosofia da matemática, que todos os teóricos, das leis e dos poderes, enfrentam.
A teoria de Ghins, diferentemente de teorias estritamente categoricalistas (como o regularismo e o necessitarismo armstronguiano), é mista, por aceitar a existência tanto de propriedades categóricas, pensadas de modo abrangente, quanto de propriedades disposicionais – em vez de tentar reduzir estas últimas a propriedades categóricas. Ele pensa assim, porque, por exemplo, “ao lado de suas propriedades categóricas, o elétron possui igualmente propriedades disposicionais, tal como a capacidade de interagir com partículas e campos em conformidade a certas equações matemáticas como, por exemplo, as leis de Maxwell” (Ghins, 2013, p.84).
A razão para essa concepção mista é que, embora seja razoável supor o categoricalismo e, consequentemente, que as propriedades A, T e M – de DA,T,M x ↔ (Ax ˄ Tx) □→ Mx – possam ser caracterizadas exclusivamente por propriedades categóricas, ainda seria preciso que a definição não recorra a modalidades, já que as propriedades categóricas não seriam propriedades modais. O categoricalismo toma as propriedades como tendo uma natureza passiva; nele, “as propriedades modais não são inerentes às entidades que exemplificam as propriedades F e G, mas lhe são externamente impostas. Se o sal possui a disposição a dissolver-se em água, é porque existe uma relação de necessitação que liga a propriedade de ser sal à propriedade – complexa – de dissolver-se em água” (Ghins, 2013, p.81-82). Assim, o categoricalista deveria dar conta da implicação modal □→, à direita da bicondicional, sem usar, no lado esquerdo, propriedades modais. Isso parece uma tarefa impossível de realizar, segundo Ghins. Ele nos diz que isso é o “suficiente para fazer fracassar toda tentativa de reduzir inteiramente o significado de uma propriedade disposicional àquele de propriedades categóricas” (Ghins, 2013, p.81) e para fornecer razões para a crença em poderes irredutíveis a propriedades categóricas.
O que poderíamos responder a isso é que, em primeiro lugar, a tentativa de redução não é semântica, mas ontológica. Os categoricalistas estritos querem reduzir toda disposição a propriedades categóricas governadas por leis, e não o significado desses termos. Eles têm do lado esquerdo a necessitação conectando as propriedades, constituindo assim a lei. A lei, junto com as instâncias das propriedades governadas pela lei, fazem as coisas terem de acontecer em conformidade com a lei. A disposição do vidro de se quebrar é reduzida à lei sobre como se quebram conexões físicas entre certos tipos de moléculas junto com as instâncias das propriedades da lei presentes no copo de vidro. Nenhum dos universais da lei é ele mesmo modal, nem a necessitação e nem as propriedades relacionadas. As razões para uma lei ser necessária não estão na forma da lei, mas em outros argumentos (alguns deles apresentados em Cid, 2016). Assim, o substantivismo também pode respeitar o requisito de mostrar como algo naturalmente não modal implica frases modais. De todo modo, é ainda possível de se responder que não há necessidade alguma de redução das modalidades, que elas são um aspecto primitivo. Não acreditamos que este seja o melhor caminho de resposta – preferimos o primeiro –, mas também é viável.
As disposições, diz-nos Ghins, por conectarem necessariamente certos tipos de ocorrências com certos tipos de manifestações, dão conta da contrafactualidade. Elas também fornecem uma explicação das regularidades descritas pelas leis científicas. De fato, as leis científicas são suscetíveis de nos informar sobre a natureza interna das coisas de certos tipos de um modo preciso. Além disso, as disposições também podem dar conta das leis probabilísticas de modo elegante, diz-nos o autor, pois podemos identificar as tendências das coisas com as disposições probabilísticas.
Mas todas as entidades têm disposições irredutíveis? Precisamos postular a existência de poderes causais? Ghins pensa que sim, por causa de três argumentos (2013, p.89), os quais apresento a seguir.
- Argumento I:
Se somos dotados de poderes causais, então temos a capacidade de agir sobre sistemas que são prima facie “inanimados” e “inertes”, isto é, sistemas que são à primeira vista passivos e desprovidos de poderes internos. […] Visto que reagem de modo diferenciado e previsível a determinadas ações nossas, parece razoável supor que os sistemas externos sejam dotados de uma capacidade interna de reagir de uma maneira específica.
Diríamos aqui que, se somos dotados de poderes causais, nada se segue sobre se os objetos também são dotados de poderes causais. Pode ser o caso que poderes causais venham apenas do livre-arbítrio e que apenas seres com livre-arbítrio os tenham (já que os exemplos paradigmáticos de capacidades que temos envolvem situações com opções, como a capacidade de se levantar, quando se está sentado). Além disso, se esse for um argumento a favor de adotar poderes causais irredutíveis, ele assume que somos dotados de poderes causais. Mas um categoricalista estrito nunca aceitaria isso. O que temos são propriedades categóricas, e sua subsunção a leis torna existente a ilusão de que temos capacidades. O modo diferenciável e previsível em que as coisas reagem pode igualmente ser explicado por propriedades categóricas governadas por leis.
- Argumento II:
Poucas pessoas duvidam que um elétron submetido a um campo eletromagnético se comportará em conformidade com as equações de Maxwell. Se admitirmos que tais contrafactuais sejam verdadeiros, seremos conduzidos a postular a existência de disposições internas, poderes ou potências, que obrigam os sistemas que as possuem a comportarem-se de certa maneira precisamente porque esse comportamento corresponde à sua natureza ou essência.
Tal como argumentamos no parágrafo anterior, não há razões para postular a existência de disposições internas para as coisas; só precisamos de leis da natureza (obrigando os sistemas) e as propriedades categóricas (constituindo os sistemas). Além disso, se postulamos disposições, postulamos infinitas disposições para cada objeto existente, pois são infinitas as situações nas quais podem ocorrer diferentes coisas com os objetos. Costumamos pensar que os objetos particulares têm um número finito de propriedades, e não um número infinito de propriedades disposicionais.
- Argumento III:
Se postularmos a existência de poderes causais que se manifestam nos processos descritos pelas leis científicas, alcançaremos uma imagem geral e coerente da realidade cujo comportamento tem como base as essências das substâncias.
Isso pode até ser verdade. A imagem geral numa metafísica dos poderes é coerente; no entanto, de modo mais preciso, ela tem certos problemas com a noção de poder que têm de ser solucionados, para que essa coerência se mantenha nas perspectivas menos gerais. De todo modo, é argumentável que uma concepção que não se utilize de poderes e fique apenas nas propriedades categóricas é, além de coerente, mais simples e mais intuitiva. Não estou argumentando em favor disso aqui, neste texto, mas apenas dizendo que isso é argumentável, já que uma concepção governista pode dar conta dos problemas apresentados por Ghins.
Em resumo, a concepção de Ghins (2013, p.85-86) nos diz que
As propriedades categóricas são as propriedades matemáticas e quantificáveis referidas pelos símbolos matemáticos que figuram nas leis científicas. […] [As] disposicionais, em circunstâncias favoráveis, lhes permitem comportar-se em conformidade com leis. […] A modelização restringe-se às propriedades categóricas. O que torna as leis verdadeiras são, antes de tudo, os modelos, os quais são estruturas matemáticas. Somente quando consideramos a aplicação desses modelos a sistemas reais é que entram em jogo as propriedades modais de tais sistemas. […] As leis científicas são proposições universalmente verdadeiras que integram teorias científicas bem estabelecidas e que descrevem regularidades existentes na natureza. As regularidades descritas nas várias disciplinas encontram seus fundamentos nas naturezas relacionais, reais, de certas entidades e em suas disposições a submeter-se a processos específicos. De acordo com essa interpretação metafísica, o problema ontológico da identificação está solucionado, e as leis científicas também adquirem o estatuto de leis necessárias da natureza. Se as leis fossem outras, um campo eletromagnético ou um elétron não poderia continuar sendo a entidade que é pela simples razão de que uma mudança nas leis se traduziria ipso facto numa mudança nas essências das coisas.
No entanto, ainda que fosse possível mostrar que a existência de poderes causais na natureza nos oferece a melhor explicação possível das regularidades observadas e da verdade dos contrafactuais, isso não justificaria a crença na existência de poderes causais, simplesmente porque não há qualquer garantia a priori de que a realidade respeite nossos critérios de inteligibilidade. Por isso, diz-nos Ghins, para validar qualquer afirmação de existência, a evidência empírica é imprescindível. E, de fato, nós temos uma experiência pessoal dos poderes causais: enquanto sentado, por exemplo, estou consciente da minha capacidade de me levantar e caminhar. Ainda que os fundamentos metafísicos das leis sejam os poderes universais, o nosso acesso epistêmico a elas e às demais propriedades naturais depende exclusivamente do sucesso dos modelos científicos e da observação de regularidades recorrentes. Se há disposições irredutíveis, que fundamentam a verdade aproximada dos modelos teóricos, ao sustentar as leis científicas que seriam satisfeitas por esses mesmos modelos, que, por sua vez, foram criados a partir da abstração da realidade nas estruturas perceptivas e nos modelos de dados, então o objetivo de Ghins de criar uma teoria sintética, realista moderada e que fundamente metafisicamente as ciências terá sido cumprido. De modo geral, o que Ghins pretende com esse livro é mostrar que não é irracional acreditar nas disposições essenciais das entidades naturais como fundamentos da verdade aproximativa das leis científicas. E nós concordamos que irracional não é, embora a ideia de poder esteja cercada de mistérios e dificuldades; pensamos, ainda, que, mesmo que não existam poderes irredutíveis, toda a perspectiva de ciência de Ghins pode ser mantida, pois leis da natureza realmente existentes poderiam fundamentar a verdade aproximada das leis científicas, por sustentarem os mecanismos que as leis e os modelos científicos tentam descrever.
Notas
1 Agradeço à CAPES pela bolsa de doutorado sanduíche, na Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique), com a qual foi possível obter a orientação do Dr. Alexandre Guay e ter conversas pessoais com o Dr. Michel Ghins.
2 Doutor em Lógica e Metafísica pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor substituto no Instituto Federal de Minas Gerais. Av. Serra da Piedade, 299, Morada da Serra, Sabará, MG, Brasil. E-mail: rodrigorlcid@hotmail.com
3 Aqui vale uma nota, a saber, que uma teoria “mística” – como a previsão do futuro por meio dos búzios – pode acabar sendo empiricamente adequada, no sentido de Ghins, se ela obtém previsões bem-sucedidas e se mede algo no mundo para isso; no entanto, na medida em que essas teorias místicas não costumam ser estatisticamente bem-sucedidas em suas previsões, elas não são empiricamente adequadas. O fato de que elas poderiam ser bem-sucedidas e, assim, empiricamente adequadas nos mostra que ou o conceito de empiricamente adequado não é adequado para restringir o domínio das ciências e para justificar suas práticas ou, no caso de uma teoria mística ser bem-sucedida, teríamos que aceitá-la como empiricamente adequada (tão empiricamente adequada quanto as ciências). Mas o que justifica a prática científica, distinguindo-a de teorias místicas, acredito que nos diria Ghins, é a intersubjetividade da estrutura perceptiva e do modelo de dados.
4 Há um conflito aparente entre a ideia de que as leis são tornadas verdadeiras por modelos e a ideia de que os poderes causais são o fundamento das leis. Se os poderes causais fundam as leis, então são eles, e não os modelos, que as fazem verdadeiras. Além disso, se modelos e proposições têm o mesmo estatuto ontológico de serem entidades representacionais, portadores de valor de verdade (truth bearers) ou de algum outro valor (como adequação/inadequação), um não pode ser o veridador do outro, já que veridadores não são entidades representacionais. Mas é argumentável que um modelo é justamente o modelo de um poder causal. Se esse for o caso, então, se for o poder ou se for o modelo do poder que tornam a lei verdadeira, isso não fará diferença. O ponto, talvez, aqui, seja apenas um preciosismo terminológico, no qual diríamos que um modelo é feito verdadeiro (ou aproximadamente verdadeiro), tal como uma lei científica, por um poder causal, embora o modelo satisfaça sempre a lei científica. Embora uma lei científica e um modelo teórico só sejam aproximadamente verdadeiros, dada a distância entre a teoria e a realidade, a relação de satisfação entre o modelo e a lei não é aproximada. Se um modelo não satisfaz a lei, ele tem de ser mudado ou a lei tem de ser mudada. A escolha entre mudar o modelo ou a lei é pragmática.
5 Leis mais gerais da mecânica estatística de partículas.
6 O problema da inferência também pode ser expresso em outros termos, com menos compromissos ontológicos, se pensarmos que o que devemos explicar é a condicional: N(F,G) → (x)(Fx→Gx). Esta formulação é preferível, se quisermos tratar do problema sem a pressuposição de que há também o universal da necessitação no domínio dos particulares (o autor usa sua própria formulação, pois se direciona contra a concepção armstronguiana, que, de fato, pensa que a necessitação é idêntica à causalidade singular e, por isso, age também nos particulares). Um universalista transcendentalista crente da necessitação, por exemplo, poderia querer dizer que a necessitação, como universal, transcende os particulares, mas que a causalidade singular entre estados de coisas é apenas uma instância da necessitação. No entanto “(x)(Fx→Gx)” é neutro o suficiente para não pressupor nem a instanciação da necessitação. A condicional nos diz que a necessitação N, relacionando as propriedades universais F e G, implica que tudo que é um F é também um G. Como explicar essa implicação?
7 Michel Ghins, numa conversa privada, disse-me que tem plena noção de que esse problema também se aplica à sua metafísica dos poderes. Sua solução é dizer que ele identifica as propriedades naturais com as propriedades definidas pelas teorias científicas; no entanto, essa solução não é exclusiva ao metafísico dos poderes, mas logicamente possível também a qualquer teórico das leis. Por exemplo, Armstrong (1983), como defensor da necessitação contingente das leis, e Cid (2011), como defensor da necessidade metafísica das leis, sustentam, ambos, que devemos pensar as propriedades naturais como as propriedades indicadas pelas ciências.
8 De fato, eu acredito que o poder explicativo do conectivismo é menor que o do substantivismo, principalmente do substantivismo ante rem. Podem-se encontrar argumentos em Cid (2011). Vou apresentar alguns a seguir.
9 Ou, alternativamente, no caso do defensor dos átomos metafísicos, quando duas partículas do tipo X (do tipo átomo metafísico) interagem do modo Y, elas produzem F.
Referências
ARMSTRONG, D. 1983. What is a law of nature? Cambridge, Cambridge University Press, 180 p.
BIRD, A. 2007. Nature’s Metaphysics. Laws and Properties. Oxford, Clarendon Press, 246 p.
CID, R. 2011. O que é uma lei da natureza? Rio de Janeiro, RJ. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 114 p.
CID, R. 2016. São as leis da natureza metafisicamente necessárias? Rio de Janeiro, RJ. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 184 p.
LEWIS, D. 1973. Counterfactuals. Cambridge, Harvard University Press, 168 p.
PSILLOS, S. 2002. Causation and Explanation. Montreal, McGill-Queen’s University Press, 336 p.
TOOLEY, M. 1977. The Nature of Laws. Canadian Journal of Philosophy, 7(4):667-698. https://doi.org/10.1080/00455091.1977.10716190
VAN FRAASSEN, B. 1989. Laws and Symmetry. Oxford, Oxford University Press, 416 p.
Rodrigo Reis Lastra Cid – Doutor em Lógica e Metafísica pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor substituto no Instituto Federal de Minas Gerais. Sabará, MG, Brasil. E-mail: rodrigorlcid@hotmail.com
[DR]
Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro – COWLING (RBH)
COWLING, Camillia. Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013. 344p. Resenha de: SANTOS, Ynaê Lopes dos. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes poderiam ter sido heroínas dos folhetins e romances que enchiam de angústia e compaixão a alma dos leitores do final do século XIX. Negras, cativas ou ex-escravas, essas mulheres foram em busca do aparato legal disponível em Havana e no Rio de Janeiro, respectivamente, e fizeram de sua condição e do afeto materno as principais armas na longa luta pela liberdade de seus filhos na década de 1880. Todavia, a saga dessas mulheres não era fruto da vertente novelesca do século XIX e tampouco foi fartamente estampada nos jornais da época. Para conhecer e nos contar essas histórias, Camillia Cowling fez uma intensa pesquisa em arquivos do Brasil, de Cuba, Espanha e Grã-Bretanha, tecendo com o cuidado que o tema demanda a trajetória de mulheres negras – libertas e escravas – que entre o fim da década de 1860 e a abolição da escravidão em Cuba (1886) e no Brasil (1888) utilizaram o aparato legal disponível nas duas maiores cidades escravistas das Américas para lutar pela liberdade de seus filhos e filhas.
A fim de dar corpo a uma história que muitas vezes é apresentada como estatística, a autora examinou uma série de documentos legais produzidos a partir da década de 1860 para compreender os caminhos traçados por algumas mulheres em busca da liberdade. Em pleno diálogo com as importantes bibliografias sobre gênero e escravidão produzidas nos últimos anos, Camillia Cowling nos brinda com um livro sobre mulheres negras, maternidade, escravidão e liberdade, demonstrando como as histórias de Ramona, Josepha e outras tantas libertas e escravas, longe de serem anedotas do sistema escravista, podem ser tomadas como portas de entrada para a compreensão mais fina da dinâmica da escravidão no Novo Mundo nas duas últimas localidades em que essa instituição perdurou.
A complexidade do tema abordado e o ineditismo das articulações entre história da escravidão nas Américas, abolicionismo, dinâmica urbana, agência de mulheres negras, maternidade e processos jurídicos se expressam na forma como a autora organizou sua obra.
Na primeira parte de seu livro, Camillia Cowling trabalhou com a relação entre escravidão e espaço urbano naquelas que foram as maiores cidades escravistas das Américas, Havana e Rio de Janeiro. Analisando as dinâmicas de funcionamento da escravidão urbana, a autora sublinhou que as cidades não devem ser tomadas como mero pano de fundo dos estudos sobre escravismo nas Américas, e assim construiu uma narrativa que corrobora boa parte do que a historiografia aponta: a força que a escravidão exerceu sobre o funcionamento dessas urbes. Tal força poderia agir tanto nas especificidades geradas em torno das atividades executadas pelos escravos urbanos – sobretudo no que tange à maior autonomia dos escravos de ganho -, como nos sentidos e usos que essas cidades passaram a ter para a população escrava e liberta, a qual muitas vezes fez do emaranhado espaço citadino esconderijos e refúgios de liberdade. O engajamento jurídico das mulheres escravas e libertas frente às políticas graduais de abolição de cada uma dessas cidades é, pois, apresentado como mais uma característica da complexa dinâmica que permeou a escravidão urbana no Rio de Janeiro e em Havana.
A escolha pelas duas cidades não foi aleatória, muito menos pautada apenas por índices demográficos. Ainda que a autora tenha anunciado trabalhar com base na metodologia da micro-história, a abordagem comparativa que estrutura sua análise se pauta no diálogo com perspectivas mais sistêmicas da escravidão das Américas, principalmente com as balizas que norteiam a tese da segunda escravidão (Tomich, 2011). Como vem sendo defendido por uma crescente vertente historiográfica, a paridade entre Havana e Rio de Janeiro – pressuposto fundamental da análise de Camillia Cowling – seria resultado de uma série de escolhas semelhantes feitas pelas elites de Cuba e do Brasil em prol da manutenção da escravidão desde o último quartel do século XVIII até meados do século XIX, mesmo em face do crescente movimento abolicionista. Tal política pró-escravista (que também foi levada a cabo pelos Estados Unidos) teria permitido que a escravidão moderna se adequasse à expansão capitalista, criando assim um chão comum na dinâmica da escravidão nessas duas localidades, inclusive no que concerne às possibilidades legais que os escravos acionaram para lutar pela liberdade – possibilidades essas que se ampliaram após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Não por acaso, as capitais de Cuba e do Brasil transformaram-se em espaços privilegiados para que mulheres negras, apropriando-se do próprio conceito de maternidade e ressignificando-o, utilizassem as leis abolicionistas reformistas, nomeadamente a Lei Moret de Cuba (1870) e a Lei do Ventre Livre do Brasil (1871), para resgatar seus filhos do cativeiro.
Os caminhos percorridos pelas mulheres escravas e libertas e as muitas maneiras por meio das quais elas conceberam a liberdade (de seus filhos e delas próprias) passam a ser examinados pormenorizadamente a partir da segunda parte do livro. A pretensa universalidade do direito sagrado da maternidade foi uma das ferramentas utilizadas nos discursos abolicionistas do Brasil e de Cuba, os quais apelavam para um sentimento de igualdade entre as mães, independentemente de sua cor ou condição jurídica. Como destaca a autora, a evocação do sentimento de emoção transformou-se numa estratégia importante do movimento abolicionista que, a um só tempo, pregava a sacralidade da maternidade e ajudava a forjar um novo código de conduta da elite masculina, que começava a enxergar a mulher escrava de outra forma.
Camillia Cowling demonstra que a sacralidade universal da maternidade foi apreendida de diferentes formas nas sociedades escravistas. Se por um lado, a partir da década de 1870, tal assertiva ganhou força quando a liberdade do ventre ganhou status de lei, por outro lado a pretensa igualdade que a maternidade parecia garantir para as mulheres muitas vezes parecia restringir-se ao campo jurídico, mais especificamente, à luta gradual pela liberdade. Revelando uma vez mais a complexidade dos temas abordados, Camillia Cowling destaca que esses mesmos abolicionistas muitas vezes descriam na feminilidade das mulheres negras (brutalizadas pela escravidão), colocando-se contrários às relações inter-raciais, embora defendessem a manutenção das famílias negras.
Todavia, nesse contexto, o ponto alto do livro reside justamente no exame das estratégias empregadas pelas mulheres negras para lutar, juridicamente, pela liberdade não só de seu ventre, mas de seus filhos. A compreensão que essas mulheres tinham das leis graduais de abolição; o entendimento também compartilhado por elas de que as cidades do Rio de Janeiro e de Havana não eram apenas espaços privilegiados para suas lutas, mas também uma parte importante para a definição do que a liberdade poderia significar; e as redes de solidariedade tecidas por essas mulheres, que muitas vezes extrapolavam os limites urbanos, são algumas das questões trabalhadas pela autora.
Os desdobramentos dessas questões são muitos, a maioria dos quais analisada por Camillia Cowling na última parte de seu livro. As concepções que as mulheres negras desenvolveram sobre liberdade e feminilidade com base na maternidade merecem especial atenção, pois elas permitem, em última instância, redimensionar os conceitos de escravidão e, sobretudo, de liberdade nos anos finais de vigência da instituição escravista das Américas e nos primeiros anos do Pós-abolição. Se é verdade que, assim como aconteceu como Josepha Gonçalves e Ramona Oliva, a luta jurídica pela liberdade de seus filhos não teve o desfecho desejado e eles continuaram na condição de cativeiro, os caminhos e lutas trilhados por elas não só criaram outras formas de resistência à escravidão – que por vezes, tiveram outros desfechos -, como ajudaram a pautar práticas de liberdade e de atuação política que ganhariam novos contornos na luta pela cidadania plena alguns anos depois.
O tratamento dado pela autora sobre a luta de mulheres/mães pela liberdade de seus filhos e a forma por meio da qual ela enquadra tais questões naquilo que se convém chamar de “contexto mais amplo” faz que Conceiving Freedom possa ser tomado como uma importante contribuição nos estudos da escravidão urbana, não só por sua perspectiva comparada, mas também por trabalhar num território de fronteira da historiografia clássica, demonstrando que os limites entre o mundo escravista e o mundo da cidadania não podem ser balizados apenas pela declaração formal da abolição da escravidão. A luta começou antes dessas datas oficiais e continuou nos anos seguintes, sobre isso não restam dúvidas. Todavia, o protagonismo desse movimento não se restringiu às ações dos homens que lutaram pela abolição. Ao invés de fechar uma temática, o trabalho de Cowling indica novos caminhos num campo que poderá trazer contribuições promissoras para os estudos da escravidão e da liberdade nas Américas.
Por fim, vale ressaltar que num momento político como o atual, em que tanto se fala, se discute e se experimenta o empoderamento de mulheres negras, o livro de Camillia Cowling é igualmente bem-vindo. Não só por iluminar trajetórias que foram silenciadas ou tratadas como simples anedotas (demonstrando que a luta não é de hoje), mas igualmente por permitir repensar os moldes e os modelos por meio dos quais as histórias e as memórias da escravidão e da luta pela liberdade são construídas.
Referências
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011. [ Links ]
Ynaê Lopes dos Santos – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunta de História da Escola Superior de Ciências Sociais CPDOC-FGV. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: ynae.santos@fgv.br.
Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado – NICOLAZZI (RBH)
NICOLAZZI, Fernando. Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado. São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 484p.Resenha de: PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Tanto já se escreveu sobre Gilberto Freyre, e particularmente sobre Casa-grande & senzala, que está cada vez mais difícil se dizer alguma coisa nova e significativa sobre o autor ou sobre o livro de 1933. O risco de “chover no molhado”, como o próprio Nicolazzi diz, é bastante grande. Entre os estudiosos anteriores de Casa-grande, Nicolazzi está mais próximo de Ricardo Benzaquen, cujo trabalho reconhece como inspirador, mas oferece uma visão propriamente sua da obra de Freyre.
Um estilo de História é uma versão ligeiramente modificada de uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2008, que recebeu o prêmio Manoel Luiz Salgado Guimarães da Anpuh em 2010. Apesar de Nicolazzi não ter aproveitado esse lapso de 7 anos entre a defesa e a publicação de 2015 para fazer referência aos estudos publicados nesse intervalo, dá uma contribuição original para a montanha do que se pode chamar de “Estudos Freyreanos”, examinando Casa-grande de vários ângulos. Como o próprio autor confessa logo no início, seu livro é “um conjunto de ensaios travestido em tese universitária”, o que é muito apropriado no caso do estudo de um autor que adorava o gênero ensaístico e descrevia até mesmo sua volumosa obra de novecentas e tantas páginas, Ordem e Progresso, como um “ensaio”. O que mantém Um estilo de História mais ou menos coeso é o argumento do autor de que Freyre escolheu um estilo de representação do passado, um modo de proximidade, que diferia muito das representações anteriores empregadas por antigas histórias do Brasil; e que esse estilo pode ter mesmo sido adotado por Freyre em resposta direta a Os sertões.
Para justificar sua tese sobre representações, Nicolazzi adota o método de leitura atenta (close reading) dos textos para chegar a conclusões sobre o estilo, as estratégias literárias e os modos de persuasão tanto de Euclides da Cunha quanto de Gilberto Freyre. Seus sete ensaios-capítulos são organizados em três seções. A primeira se inicia com um relato da recepção de Casa-grande no Brasil (em outras palavras, representações de uma representação), e daí se volta para os dez prefácios do autor, nos quais ele se defendia contra más representações de sua obra, ou deturpações, e conversava, por assim dizer, com seus resenhistas. A segunda seção, que compreende mais dois ensaios, deixa Freyre de lado para se concentrar em Euclides da Cunha. A terceira seção retorna a Freyre, com três capítulos dedicados respectivamente a viajantes, memórias e ao próprio gênero do ensaio. Nicolazzi considera Freyre um viajante que privilegiava o testemunho de outros viajantes e oferecia aos seus leitores a sensação de estarem viajando ou no espaço ou no tempo. Também enfatiza a importância das memórias em Casa-grande: as do próprio autor, as de sua família e as dos indivíduos que entrevistou, o mais famoso dos quais foi o ex-escravo Luiz Mulatinho. O livro termina com um ensaio sobre o ensaio, refletindo sobre ensaios históricos e sobre a tradição brasileira do ensaísmo, a fim de buscar a singularidade da contribuição de Freyre para essa tradição.
Um estilo de História é fruto de uma leitura vasta e variada, que inclui não somente a historiografia, de Heródoto a Hayden White, mas também filosofia, literatura, psicologia, sociologia e antropologia, os campos nos quais o próprio Freyre estava muito à vontade. Nas páginas de Nicolazzi, Paul Ricoeur está ao lado de Wolf Lepenies, Roland Barthes ao lado de Clifford Geertz, Oliver Sacks de Quentin Skinner, François Hartog de Walter Benjamin, Jean Starobinski de Frank Ankersmit, Michael Baxandall de Gérard Genette, além de outros. Enfim, tantos nomes, tantas luzes a iluminar um texto.
Assim como a justaposição do livro de Euclides com o de Sarmiento, Civilização e barbárie, se tornou um tópos, o mesmo aconteceu com a comparação e o contraste entre Os sertões e Casa-grande, que novamente coloca a representação do “outro” versus a representação de “nós” em pauta. No entanto, Nicolazzi desenvolve esse contraste de modo interessante e valioso, focalizando pontos de vista. Segundo ele, o contraste essencial entre Freyre e Euclides – cujo trabalho Freyre estudou cuidadosamente e sobre o qual escreveu mais de uma vez – é que Euclides exemplifica o que Claude Lévi-Strauss chamou de “olhar distante”, observando e representando outra cultura como se estivesse pairando alto no ar; uma cultura que ele via como oposta à sua própria, ou seja, uma representando a civilização, e a outra, a barbárie. Sua estratégia literária era a do naturalista, registrando detalhes com o espírito de um cientista, uma espécie de Émile Zola do sertão. Em contraste, Freyre, como um antropólogo no campo, tentava chegar perto dos escravos e ainda mais perto dos senhores (e das senhoras) de engenho sobre os quais escreveu. Como Michelet – e diferentemente de Euclides – Freyre tentava evocar o passado, suprimir a distância e identificar-se com os mortos e com tudo o que já se foi. Ele pode até ser criticado – e o foi por Ricardo Benzaquen – por estar “correndo o risco de uma proximidade excessiva”.
Há muito a ser dito em favor desse contraste. Afinal de contas, Freyre disse em certa ocasião que “o passado nunca foi, o passado continua”. Sua “história íntima” e sua “história sensorial” tentavam exatamente tornar os leitores capazes de ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e até mesmo tocar o passado. O elemento autobiográfico em Casa-grande, enfatizado ainda mais em 1937 em seu Nordeste, é efetivamente central, e a confusão entre a vida do autor, de sua família e de sua região natal (ilustrada pelo uso frequente que Freyre faz da primeira pessoa do plural) é, na verdade, reminiscente de Michelet.
No entanto, a oposição entre distância e proximidade precisa ser qualificada, se não mesmo questionada – do mesmo modo como o próprio Freyre gostava de primeiro estabelecer, para depois solapar as categorias opostas de sobrados e mocambos, ordem e progresso, e assim por diante. Pois Freyre não era adepto de polaridades rígidas – que não davam conta dos paradoxos, contradições e complexidades da realidade humana – e se apelava para oposições binárias, sua estratégia era sempre enfraquecê-las por meio de mediações entre opostos, para o que o uso de termos recorrentes como quase-, para-, semi- se adaptava muito bem.
Assim, no que diz respeito à proximidade que Freyre pretenderia ter de seu objeto de estudo, deve-se acrescentar que ele também era capaz de ver seu próprio país com olhos estrangeiros. Seu emprego recorrente de textos escritos por viajantes como evidência não somente dá aos leitores a sensação de “estarem lá”, como Nicolazzi sugere, mas também os provê com distanciamento, já que os viajantes são frequentemente estrangeiros que podem ver mais facilmente o que nativos não veem. De qualquer modo, em algumas de suas passagens menos memoráveis, Freyre escorrega de seu estilo usualmente vívido e subjetivo e cai, por assim dizer, numa linguagem acadêmica, objetiva, escrevendo no capítulo 1, por exemplo, que “por mais que Gregory insista em negar ao clima tropical a tendência para produzir per se sobre o europeu do Norte efeitos de degeneração … grande é a massa de evidências que parecem favorecer o ponto de vista contrário”. Aqui, como em outros pontos da obra, a proximidade e a subjetividade do estudo da sociedade patriarcal dão lugar ao distanciamento e à objetividade. Pode-se, pois, descrever Casa-grande muito apropriadamente como um livro híbrido, não somente no sentido de combinar técnicas científicas e de ficção, como Nicolazzi aponta, mas também por se mover entre o fora e o dentro, entre distância e proximidade.
Como uma boa tese de doutorado, Um estilo de História é extremamente minuciosa e, em certos aspectos, ainda “cheira” a uma tese no sentido de que o autor não parece saber bem quando parar, repetindo argumentos e mesmo citações (uma delas três vezes) a fim de fortalecer seu argumento. Os leitores, ou ao menos alguns deles, podem ter às vezes a sensação de que Nicolazzi está usando uma marreta para abrir uma noz. Como muitas teses brasileiras, Um estilo de História está também sobrecarregada de reflexões sobre método e teoria, assim como apoiada em grande bagagem intelectual, desconsiderando, às vezes, o princípio conhecido como “o rifle de Chekhov”. Chekhov certa vez aconselhou os escritores a “removerem tudo que não tem relevância para a estória. Se você diz no capítulo primeiro que tem um rifle pendurado na parede, no segundo ou no terceiro esse rifle tem necessariamente de ser usado para atirar em alguma coisa. Se não for para ser disparado, então o rifle não deveria estar pendurado lá”. Do mesmo modo, se a Metahistory de Hayden White é discutida na introdução, como foi o caso, os leitores seguramente têm o direito de esperar que o livro de White seja usado mais tarde, discutindo, por exemplo, se Casa-grande & senzala foi “encenada” como uma comédia ou romance. Essas expectativas, no entanto, são frustradas.
Outra questão que importa levantar diz respeito ao uso acrítico que Nicolazzi fez, algumas vezes, dos escritos autobiográficos de Freyre, especialmente de seu “diário da juventude”. Esse texto ocupa lugar importante no livro para reforçar seu argumento sobre a legitimidade que as experiências vividas por Freyre dão ao estilo de história que escolheu escrever. Há evidências de que esse diário “da juventude”, publicado em 1975, não foi efetivamente redigido entre 1915 e 1930, tal como o Freyre maduro – tão envolvido em self-fashioning – quis fazer crer. Ele era, na verdade, exímio na arte da autoapresentação, produzindo com esmero a imagem que os leitores deveriam ter dele. Nicolazzi reconhece isso logo na primeira parte de seu livro. No entanto, várias vezes utilizará esse “diário”, ou ensaio-memória, como se ele representasse fielmente o que o autor fizera ou pensara quando ainda estava para escrever Casa-grande. É de se crer que esses deslizes se devam ao fato de o livro incluir textos escritos em momentos diversos, e que falhas ou descuidos como esses compreensivelmente escaparam na revisão.
Não obstante esses pequenos senões, Um estilo de História é livro inovador e perspicaz que elucida, inspira e instiga a curiosidade do leitor. É também valioso por tratar de ideias de proximidade e distância nos moldes de alguns estudos recentes e refinados sobre “distância histórica”, em especial os desenvolvidos por Mark Phillips e alguns de seus colegas. Particularmente interessante é a diferenciação que Phillips faz entre distância e distanciamento, o primeiro uma postura espontânea entre os historiadores, o segundo uma estratégia proposital usada por alguns deles para trazer o passado para perto do leitor, como num close-up, quando assim acham importante, ou distanciar o passado para obter outros efeitos. Enfim, a retórica da proximidade e da distância como uma ferramenta que alguns historiadores usam conscientemente, como um romancista, para causar determinados efeitos em seus leitores, é uma linha de estudos fecunda à qual o livro de Nicolazzi pode ser associado. E, nesse sentido, Um estilo de História tem o grande mérito de potencialmente acenar para um novo e promissor fio a ser seguido pelos estudiosos de historiografia e de Gilberto Freyre.
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke – Research Associate, Centre of Latin American Studies, University of Cambridge. Cambridge, UK. E-mail: mlp20@cam.ac.uk.
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT; HÉBRARD (RBH)
SCOTT, Rebecca J. Hébrard, Jean M. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Campinas: Ed. Unicamp, 2014. 296p. Tradução de Vera Joscelyne. Resenha de: MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Doze milhões de pessoas foram transportadas involuntariamente do continente africano para as Américas entre os séculos XV e XIX para serem vendidas como escravas. Em Provas de liberdade, Rebecca Scott e Jean Hébrard reconstituíram a trajetória de uma delas, Rosalie, de nação Poulard, e seguiram seus descendentes por cinco gerações historiando grandes temas da era contemporânea como a abolição da escravidão de africanos, a cidadania e as lutas contra o racismo.
Rebecca Scott, professora de História da América Latina e de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é conhecida do público brasileiro por seu livro Emancipação escrava em Cuba, cuja abordagem da desintegração da escravidão na colônia espanhola deu poder explicativo para a mobilização de escravos e libertos e teve um impacto significativo na historiografia brasileira da escravidão. Jean Hébrard é um dos diretores do Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain da École des Hautes Études en Sciences Sociales, na França, e professor visitante de História da América Latina e Caribe na Universidade de Michigan. O livro, publicado em inglês em 2012, rendeu aos autores dois prêmios da American Historical Association concedidos a livros sobre a História das Américas e sobre História Atlântica, em 2012, e um da Sociedade Americana de Estudos Franceses e do Instituto Francês de Washington para livros sobre temas comuns à França e às Américas, em 2013. Como Papeles de libertad, foi publicado em Cuba pelas Ediciones Unión e na Colômbia pelo Instituto Colombiano de Antropologia e História (ICANH). A edição brasileira, da Editora da Unicamp, contou com tradução de Vera Joscelyne e revisão técnica por equipe coordenada pelos autores e incluiu ilustrações, um mapa e um índice apenas onomástico – quando a edição original tinha índice remissivo onomástico e temático.
Provas de liberdade, como todo bom livro, tem diferentes camadas de entendimento e apreciação. Historiadores de qualquer área vão reconhecer a extensão da pesquisa e a originalidade da proposta metodológica; os especialistas na área de escravidão vão observar as contribuições historiográficas, e o público não especialista terá uma leitura prazerosa, emocionante e surpreendente.
Como relatam os autores, a pesquisa começou com a descoberta de uma carta no Arquivo Nacional de Cuba enviada da Bélgica por Edouard Tinchant ao general cubano Máximo Gomez no fim do século XIX. Nela, Tinchant declarava simpatia pela causa da independência de Cuba e associava a sua trajetória e a de sua família às lutas por cidadania e contra o racismo. Scott e Hébrard partiram, então, a verificar e reconstituir a história dessas pessoas que “personifica[vam] uma conexão entre três das maiores lutas antirracistas do ‘longo século XIX’: a Revolução Haitiana, a Guerra Civil e a Reconstrução nos Estados Unidos, e a Guerra Cubana pela independência” (p.17). O método, que os autores batizaram de “micro-história em movimento”, consistiu em seguir o rastro documental da família de Edouard Tinchant, duas gerações para trás e duas para a frente, por meio de documentos públicos e privados de todo tipo, garimpados em arquivos de oito países em três continentes e, na falta deles, preencher os vazios com dados que se associavam às trajetórias seguidas tanto por proximidade quanto por probabilidade. Sabendo, por exemplo, pela certidão de nascimento da mãe de Edouard, Elisabeth, que a mãe dela era Marie Françoise, conhecida por Rosalie, negra de nação Poulard, Scott e Hébrard puderam situar seu local de origem, a colônia francesa do Senegal, e o período aproximado de sua venda para o tráfico atlântico entre a Senegâmbia e Santo Domingo, o final da década de 1780. A falta de registros pessoais da primeira fase da vida da mulher que mais tarde se chamaria Rosalie foi então contornada pelos autores com o recurso a relatos contemporâneos de europeus, a documentos sobre a escravidão na colônia francesa do Senegal e à literatura secundária sobre a África Ocidental, o Islã na África e o tráfico atlântico do final do século XVIII.
No início da década de 1980, quando a área de estudos de escravidão começava a ganhar contornos e os especialistas ainda cabiam em um auditório, esboçava-se uma transição entre abordagens: de um lado, a do sistema de organização do trabalho e exploração dos trabalhadores, que dialogava com as teorias econômicas, e de outro, a das relações entre sujeitos históricos com autodeterminação, que abria o leque de influências disciplinares para incluir a sociologia, a antropologia e a linguística. Nessa fase, os historiadores passaram a observar mais de perto os mecanismos de reprodução do sistema, seus “segredos internos”, e com isso o comportamento dos grupos sociais, seus interesses e conflitos. O reconhecimento do protagonismo dos sujeitos históricos das camadas subalternas abriu espaço para que se multiplicassem as pesquisas em que a escala de análise dos diversos temas – trabalho, família, resistência, identidade étnica, práticas mágicas e religiosidade, entre outros – fosse a do indivíduo.
Depois de três décadas de grande florescimento e efervescência, a abordagem centrada nas pessoas escravizadas se vê às voltas com críticas acerca da representatividade dos sujeitos escolhidos e também da relevância dos seus achados para o entendimento dos grandes processos da História. Por isso, Provas de liberdade é ao mesmo tempo um libelo em defesa do jogo de escalas e uma demonstração de como proceder para incorporar o protagonismo dos sujeitos em uma análise dos processos históricos.
Os autores não trataram seus personagens como típicos ou excepcionais. A cada momento, na geração de Rosalie, de sua filha Elisabeth, de seu neto Edouard Tichant ou dos sobrinhos e sobrinhos-netos dele, Scott e Hébrard buscaram retratar momentos difíceis de tomada de decisão, de escolhas entre diferentes caminhos possíveis. Cada capítulo acaba com alguém embarcando rumo a uma nova fase na vida, sempre sob pressão ou ameaça. Foi assim quando Rosalie, já liberta, mas sem documento oficializado de sua liberdade, teve que fugir de Saint Domingue para Cuba com a filha Elisabeth em 1803, ou ainda quando a africana embarcou Elisabeth com sua madrinha para New Orleans, na Louisiana, em 1809 e voltou para o Haiti, agora independente. Foi ainda o caso da escolha feita por Elisabeth e seu marido, Jacques Tinchant, ele também filho de emigrantes haitianos de origem africana, de partir com quatro filhos para a França, país onde teriam direitos civis que não eram reconhecidos às pessoas livres de cor na Louisiana escravista da década de 1840. Foi igualmente a escolha de Edouard, nascido na França em 1841, de se juntar a dois de seus irmãos que trabalhavam em manufaturas de charutos em New Orleans. Na Louisiana, Edouard se engajou num batalhão de pessoas de cor durante a Guerra Civil, do lado da União, e depois entrou para a política, sendo eleito deputado da Assembleia Constituinte da Louisiana durante a Reconstrução, quando defendeu a igualdade de direitos civis, políticos e públicos para todos os cidadãos. Em cada trajetória e em cada momento vemos sujeitos fazendo escolhas em condições adversas, reagindo às limitações impostas pela conjuntura, protagonizando eventos e processos históricos como as transformações da escravidão e sua abolição, o pós-emancipação, ou mesmo a resistência ao nazismo na Segunda Guerra Mundial, história que antes víamos apenas de longe.
O diferencial metodológico do livro está na aproximação com o campo do Direito. Em primeiro lugar, os autores lançaram um novo olhar para os registros individuais. Sob a lupa do historiador cuidadoso, os documentos revelaram histórias complexas da aquisição e exercício de direitos (à propriedade, à liberdade, à nacionalidade, à cidadania), desnaturalizando-os e inscrevendo-os num campo de disputas. Assim, o direito à propriedade sobre escravos pode vir de uma apropriação ilegítima, posteriormente formalizada, como a que aconteceu entre milhares de ex-escravos de Saint Domingue que migraram para Cuba e depois para a Louisiana, onde a escravidão persistia: acabaram reescravizados. Em segundo lugar, Scott e Hébrard convidam os leitores a perceber como os protagonistas conferiam importância aos documentos escritos, mesmo que às vezes não pudessem ler. Essa consciência levou Rosalie a fazer questão de uma carta de alforria mesmo já sendo emancipada, pois nos territórios para onde iria ainda havia escravidão e ela sabia que precisaria provar sua condição. Nisso, percebemos que o entendimento sobre o significado e mesmo o conteúdo dos documentos sempre esteve em disputa entre as diversas forças sociais (incluindo as autoridades), e que as pessoas frequentemente se moviam na incerteza; não havia garantia plena de que uma pessoa livre de cor não fosse reescravizada, pois a fronteira entre escravidão e liberdade era bem mais porosa e cinzenta do que antes imaginávamos. Por último, é preciso ressaltar novamente a importância da abordagem simultânea em diferentes escalas, pois, ao narrar a história pelo fio condutor dos embates dessa família pelo reconhecimento de direitos – à liberdade, à respeitabilidade, à dignidade e igualdade perante a lei – os autores fizeram uma história social centrada na luta por direitos, sobretudo direitos humanos, no período entre a Revolução Francesa e o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o protagonismo dos negros, mulheres e povos submetidos à colonização forçou sua ressignificação e ampliação até serem reconhecidos como universais.
Em suma, Provas de liberdade é uma obra acadêmica rigorosa e inovadora que os leitores terão o prazer de ler como um romance.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, Brasil. beatriz.mamigonian@ufsc.br.
Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888)
A publicação de Flores, votos e balas, de Angela Alonso, é mais do que bem vinda ao mercado editorial brasileiro, tão escasso de títulos com perspectivas historiográficas abrangentes. Seu amplo escopo, sua variação de escalas e sua escrita envolvente certamente o tornarão uma obra referencial para o público mais geral, interessado em conhecer em detalhes os conflitos, os projetos, os personagens, as estratégias de luta e os principais eventos que, reunidos, marcaram o movimento abolicionista brasileiro, elemento central do processo que levou ao fim da escravidão no país. A fortuna crítica do livro, no entanto, não se esgotará aí, já que alguns de seus postulados deverão propiciar a retomada de um dos grandes debates da historiografia brasileira, que versa sobre as causas que levaram ao fim do cativeiro em 1888, e podem suscitar um profícuo diálogo sobre a temporalidade da escravidão oitocentista no país.
Antes de entrar nessas questões, convém primeiro apresentar os pressupostos que estruturam a obra, fundamentais para entender seu argumento. Por meio de uma estratégia narrativa que parte das trajetórias individuais dos principais nomes do abolicionismo e do escravismo nacional, Angela Alonso buscou fornecer uma visão de conjunto do primeiro movimento social de massas do país. Para isso, recorreu à chamada “abordagem relacional”, ancorada principalmente na sociologia histórica de Charles Tilly, para postular que a compreensão do abolicionismo deve levar em conta três variáveis históricas: movimento social, Estado e contramovimento. Isso, em outras palavras, significa dizer que a atuação dos abolicionistas não é tomada de forma isolada, mas sempre com base nas dinâmicas sociais e políticas que a condicionam.[1] Nas palavras de Alonso, “as conjunturas políticas são a chave para entender […] todas as […] táticas abolicionistas” (p. 18). A proposição não é de pouca monta. Além de ir na contracorrente de boa parte dos estudos sobre abolição produzidos nas últimas décadas, que reduzem as múltiplas dimensões do processo histórico ao sequenciamento de séries judiciais, ela traz implicações diretas para as conclusões apresentadas pela autora.
Ao tomar a luta organizada para dar fim ao cativeiro como parte de um todo mais amplo, um dos principais ganhos historiográficos de Flores, votos e balas é demonstrar a historicidade do movimento abolicionista brasileiro, tradicionalmente descrito como uma unidade estanque, que se alastrou progressivamente pela sociedade até alcançar seus objetivos. Do emprego da abordagem relacional, portanto, decorre diretamente uma das ideias centrais do livro, a de que a atuação do movimento abolicionista foi constituída por três fases distintas: a primeira, das flores (1868-78), marcada pela forte atuação dos antiescravistas no espaço público dos grandes centros urbanos do país; a segunda, dos votos (1878-85), na qual o foco dos militantes recaiu sobre a macropolítica imperial; e a terceira, das balas (1885-88), quando os abolicionistas, cansados dos seguidos fracassos parlamentares, partiram para a desobediência civil e passaram a incentivar clandestinamente as fugas em massa de cativos. Nesse ponto, não há o que discordar. Os argumentos da autora são mais do que convincentes quanto à historicidade do abolicionismo.
Mas nem só de flores é feito o livro. Sua outra ideia central, que diz respeito à importância do abolicionismo para o fim da escravidão, é mais discutível que a anterior. Segundo Angela Alonso, o resultado obtido em 1888 não “foi nem obra dos escravos, nem de princesa” (p. 17) e – poderíamos acrescentar, de acordo com outras passagens do livro – nem fruto de condições econômico-demográficas, mas resultou diretamente da atuação de André Rebouças, Joaquim Nabuco, Luís Gama, José do Patrocínio e companhia. Com essa abordagem, a autora se afasta da interpretação que vincula o fim da escravidão às ações da família real, da explicação mais estruturalista da Escola de São Paulo (especialmente da obra de Emília Viotti da Costa) e de parte da corrente historiográfica que focou suas análises na agência escrava; e, assim, afina-se às concepções de Seymour Drescher e outros autores sobre o abolicionismo anglo-saxão como motor da história da emancipação dos cativos. O postulado, no entanto, acaba funcionando como uma faca de dois gumes: de um lado, reintroduz o movimento abolicionista como uma das variáveis centrais para a compreensão do processo que levou ao fim do cativeiro no país, cobrindo uma importante lacuna deixada pelas produções das últimas quatro décadas; de outro, joga de escanteio a participação dos escravos e as transformações econômicas e demográficas ocorridas nas últimas décadas do Império, ambas pouco incorporadas ao livro.
Vejamos como isso ocorre ao longo da obra, começando pelo problema da participação dos escravos. Como se sabe, um dos grandes avanços da história social consistiu em mostrar como a atuação dos cativos na década de 1880 teve impacto direto para a derrocada do sistema escravista brasileiro. Isso, no entanto, pouco aparece no livro de Angela Alonso, provavelmente porque a trinca de variáveis com as quais a autora trabalha (movimento, Estado e contramovimento) não leva em conta, por exemplo, a atuação dos cativos, agentes que não podem ser classificados nem como abolicionistas (movimento) e muito menos como escravistas (contramovimento). Assim, durante a fase das balas, as fugas em massa que atingiram principalmente as regiões cafeicultoras são vistas na maior parte do tempo como reflexo da militância antiescravista. Mesmo que a autora tenha feito questão de ressaltar que “o combate à escravidão não foi obra exclusiva dos abolicionistas” e que “havia ações autônomas dos escravos” (p. 305), essas dimensões não são efetivamente integradas à narrativa do livro.[2]
Algo semelhante acontece com as transformações econômicas e demográficas, igualmente relativizadas em função do emprego da abordagem relacional. Ao afirmar que “os fatores decisivos para que [a escravidão] acabasse quando acabou foram políticos” (p. 336) – seguindo indicação de Robert Slenes em artigo clássico3 -, Angela Alonso desconsidera evidências de ordem econômica e demográfica às quais ela mesma faz referência ao longo do livro. Isso ocorre, por exemplo, quando a autora analisa a ampliação do movimento abolicionista na década de 1880, que contou com um público “desvinculado da escravidão” por conta do “tráfico interprovincial [que] aglomerava escravos nas regiões de agricultura de exportação e nas famílias de posse” (p. 145); e quando explica a tática abolicionista de libertação dos cativos de determinadas províncias e cidades do país (especialmente p. 194, 213, 266). Ao contrário do que a autora defende, esses exemplos podem servir para refletir sobre o peso que as dimensões econômica e demográfica exerceram para o desfecho do processo abolicionista. Teriam sido essas variáveis tão relevantes quanto as ações dos sujeitos históricos? Ou ainda, como afirma a autora, a ação política teria sido preponderante sobre as outras duas?
Uma resposta pode ser dada analisando-se mais de perto a relação entre tráfico interprovincial e a estratégia abolicionista de suprimir a escravidão província por província. Para Angela Alonso, “demografia e economia tiveram sua relevância”, mas “não [são] suficientes” para explicar essa tática, pois nesse caso – como nos demais – “decisivo foi mesmo o fator político” (p. 194). Ora, a relevância da economia e da demografia são tão centrais quanto a da política para explicar o fim da escravidão em determinadas partes do Império, já que foi a dinâmica da economia mundial que criou as condições para a atuação dos militantes abolicionistas. Dois exemplos podem ajudar a explicar melhor o que queremos dizer.
O Ceará – primeiro território libertado pelos abolicionistas – foi uma das províncias brasileiras mais afetadas pela paralisação da produção algodoeira norte-americana que se seguiu à Guerra Civil (1861-1865). Na década de 1860, incentivados pela forte demanda da indústria britânica, ávida pela matéria-prima que lhe faltava, muitos pequenos e médios agricultores locais passaram a se dedicar ao cultivo da fibra, abandonando a produção de gêneros alimentícios. A crise do setor, contudo, chegou mais rápido do que se esperava. Incapazes de competir com os novos produtores que ditavam o preço do produto no mercado mundial (Índia e Egito) e cada vez mais prensados pela recuperação da produção norte-americana no início dos anos 1870, os cearenses foram aos poucos abandonando a cultura algodoeira. Em resultado, desfizeram-se paulatinamente de seus cativos, vendendo-os para os cafeicultores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, necessitados de mão-de-obra para tocar a expansão de sua produção. No início dos anos 1880, em razão da dinâmica da economia global, eram poucos os cativos que restavam na província, abrindo o caminho para a formulação de uma política abolicionista local.[3]
No Rio Grande do Sul, outro processo histórico, mais lento, levou a resultados parecidos. Desde a revogação das Corn Laws, em 1846, os produtores de grãos argentinos souberam tirar proveito da abertura do mercado britânico de cerais, avançando suas fronteiras agrícolas. Para atender às crescentes demandas de trigo no centro da economia mundial e dar vazão aos grãos cultivados cada vez mais no interior do país, Estado e investidores privados fizeram investimentos maciços em transporte ferroviário a partir dos anos 1870. Com isso, conseguiram não apenas transformar a Argentina em um dos principais fornecedores de trigo para a Grã-Bretanha, mas também auxiliaram indiretamente os criadores de gado, que se valeram de toda infraestrutura criada para exportação de cereais, especialmente do barateamento do custo dos transportes, para tornarem seu produto mais competitivo. Na década de 1870, já era patente aos produtores rio-grandenses que seu charque não era capaz de concorrer com seus rivais argentinos, até mesmo no mercado interno. Em crise, desfizeram-se paulatinamente de seus escravos, vendendo-os para os pujantes centros produtores de café, os mesmos para os quais estavam rumando os escravos do Ceará. [5]
Sem as condições materiais criadas pela economia global, os abolicionistas teriam encontrado uma realidade muito diversa para livrar a província do Ceará, a cidade de Porto Alegre e outros municípios gaúchos da existência de escravos na década de 1880. Foi graças às crescentes desigualdades regionais do Brasil induzidas pela dinâmica econômica global que a militância deles se tornou viável e apareceu, como Alonso destaca, a figura dos presidentes de província favoráveis à causa, elemento importante para sacramentar a abolição nos territórios mencionados. Como se vê, é discutível afirmar, nesse caso, que a política foi um fator mais decisivo que os demais. Uma explicação que dê conta da totalidade da libertação de alguns territórios, assim como de todo o processo abolicionista, precisa trabalhar com as intersecções entre política e economia. Ainda que esse não tenha sido o propósito da autora, dado seu foco no movimento abolicionista, é forçoso dizer que ela poderia ter dialogado mais com a bibliografia que descreve os processos econômicos globais e seus impactos no Império do Brasil para situar melhor as possibilidades de atuação dos agentes históricos que estudou.
Ainda assim, o ponto mais questionável de Flores, votos e balas reside na categoria “escravismo de circunstância”, que Angela Alonso cunhou tendo por base uma leitura muito particular dos discursos emitidos pelos escravistas brasileiros. Para a autora, o termo descreve a atuação de Paulino Soares de Sousa e seu grupo a partir de 1871, quando teriam sido “compelidos pela conjuntura a justificar a situação escravista, sem defender a instituição em si” (p. 59). Tal afirmação, pode-se dizer, resulta de uma determinada compreensão da temporalidade da escravidão oitocentista brasileira. Como deixa evidente no primeiro capítulo, a autora, inspirada na obra de Seymour Drescher, entende a sequência de abolições ao redor do mundo como uma unidade histórica. Ainda que as enquadre em dois grandes ciclos – o primeiro, grosso modo, de 1791 a 1850, e o segundo da década de 1850 a 1888 -, essas abolições são descritas como pertencentes a um mesmo processo histórico de aproximadamente cem anos (p. 27-32). Essa perspectiva joga para um ponto cego diversos fenômenos históricos. Daí, provavelmente, o silêncio de Alonso sobre o período que vai de meados da década de 1830 à década de 1860, quando houve um reforço da escravidão tanto no Brasil, como em Cuba e nos Estados Unidos. Naquele lapso de tempo o cativeiro passou por uma nova configuração, atrelando-se de forma única à economia mundial e de forma diversa aos regimes representativos do século XIX. [6]
No Império do Brasil, o reforço da escravidão materializou-se com a ascensão do grupo conhecido como Regresso, núcleo histórico do futuro partido Conservador, que empreendeu uma verdadeira política da escravidão, estabelecendo alianças com proprietários e políticos das principais regiões de agricultura exportadora e atuando de forma conjunta no Parlamento e nos espaços públicos do Rio de Janeiro em aberta defesa do tráfico negreiro e do cativeiro. [7] Paulino Soares de Sousa, o filho, personagem que no livro de Angela Alonso sintetiza o “escravismo de circunstância”, foi o grande herdeiro da geração que havia ascendido nos escalões da macropolítica imperial defendendo a escravidão. Seu escravismo, portanto, não tinha nada de circunstancial. Representou, ao contrário, o ponto de chegada de uma vertente do liberalismo que buscou fazer frente ao projeto catapultado pela Grã-Bretanha de gerenciar a exploração social do trabalho por meio da liberdade individual. Paulino e seus seguidores protegiam com unhas e dentes o cativeiro como parte de um projeto civilizacional cuja estrutura residia na mais longa escravização possível de africanos e de seus descendentes. Tanto ele como a geração que o antecedeu costumavam projetar o fim da escravidão para um ponto futuro, desde que esse futuro fosse suficientemente longe da política do presente. Seu escravismo de linha do horizonte – vê-se o fim dele, mas ele nunca é alcançado – não era circunstancial. Encarnava a lógica da ideologia escravista imperial. Entender isso é, no fim das contas, compreender a temporalidade da escravidão brasileira no século XIX, elemento fundamental para avaliar de forma plena o abolicionismo que surgiu nos anos 1860.
É importante frisar que os aspectos discutidos acima não diminuem a importância do livro, que traz significativos avanços para a compreensão do processo abolicionista brasileiro. Entre eles, vale a pena mencionar a relação de Abílio Borges com a carta enviada pela Sociedade Francesa pela Abolição da Escravidão a D. Pedro II em 1866 (p. 34-43); a compreensão do movimento abolicionista como um movimento moderno por excelência (p. 20); o impacto da Guerra Civil norte-americana para a crise da escravidão brasileira (p. 31); e a preocupação com a escala global do abolicionismo e do escravismo nacionais, sempre vistos à luz de seus congêneres cubanos e norte-americanos (p. 103, 127, 291-93, 300, 305 e 327). Por todos esses motivos, Flores, votos e balas cravou lugar entre as leituras obrigatórias para aqueles que estão preocupados em compreender as variáveis históricas que conduziram ao fim da escravidão no Brasil. Concordando-se ou não com suas ideias, a obra precisará ser enfrentada pelos especialistas da área – apresentando ainda a vantagem de poder ser desfrutada pelo público mais geral.
Notas
1.A metodologia da obra é trabalhada de forma mais minuciosa em ALONSO, Angela. O movimento abolicionista como movimento social. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 100, nov. 2014,
2.A bibliografia sobre o tema é extensa. Ficam aqui as indicações de MACHADO, Maria Helena P T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). 2ª edição. São Paulo: EDUSP, 2014; AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo. São Paulo: Unicamp, 2010; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes de. Entre a mão e os anéis: a Lei dos Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. 2ª edição. Campinas: Editora da Unicamp, 2008; e XAVIER, Regina Célia Lima. A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. São Paulo: Centro de Memória/Editora da Unicamp, 1997.
3.SLENES, Robert W. Grandeza ou decadência? O mercado de escravos e a economia cafeeira da província do Rio de Janeiro, 1850-1888. In: COSTA, Iraci del Nero da (ed.). Brasil: história econômica e demográfica. São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas, 1986, pp. 103-55.
4. Sobre o tema, ver CANABRAVA, Alice P. “A grande lavoura”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Monárquico, vol. 6: Declínio e Queda do Império,pp. 103-66; BECKERT, Sven. Empire of Cotton: A Global History. New York: Alfred A. Knopf, 2014; e SLENES, Robert W. The Brazilian internal slave trade, 1850-1888: regional economies, slave experience, and the politics of a peculiar market. In: JOHNSON, Walter (ed.). The chattel principle: internal slave trades in the Americas.New Haven: Yale University Press, 2004, pp. 325-370. A título de curiosidade, vale lembrar que a biografia de João Capistrano de Abreu esteve estreitamente vinculada ao movimento descrito no parágrafo. O historiador era oriundo de família cearense que plantou algodão nos anos 1860, no contexto da Guerra Civil norte-americana, e vendeu seus escravos no decênio seguinte, quando a competição internacional se acirrou. Foi, inclusive, com o dinheiro da venda de um deles que Capistrano conseguiu pagar a passagem para o Rio de Janeiro e tentar a sorte na capital imperial. Sobre o tema, cf.. REIS, José Carlos. Capistrano de Abreu (1907). O surgimento de um povo novo: o povo brasileiro. Revista de História, São Paulo, 138 (1998), 63-82.
5. FAIRLIE, Susan. The Corn Laws and British Wheat Production, 1829-76. The Economic History Review,New Series, Vol. 22, No. 1 (Apr., 1969), pp. 88-116; MARRISON, Andrew (ed.). Free Trade and its Reception, 1815-1960. London; New York: Routledge, 1998; ZEBERIO, Blanca. Un mundo rural en cambio. In: BONAUDO, Marta (dir.). Nueva História Argentina, tomo 4: Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880). Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1999, p. 293-362; SLENES, Robert W. Op. cit.; e SCHEFFER, Rafael da Cunha. Comércio de escravos do Sul para o Sudeste, 1850-1888: economias microrregionais, redes de negociantes e experiência cativa. Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, 2012.
6. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Trad. Port. São Paulo: EDUSP, 2011; BLACKBURN, Robin. The American Crucible: Slavery, Emancipation, and Human Rights.London; New York: Verso, 2011; BERBEL, Marcia; MARQUESE, Rafael; PARRON, Tâmis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c.1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2010; PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011; e PARRON, Tâmis. A política da escravidão na Era da Liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846.Tese (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
7. Além dos trabalhos referidos na nota acima, cf. YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios (no prelo); e ESTEFANES, Bruno Fabris; PARRON, Tâmis; YOUSSEF, Alain El. Vale expandido: contrabando negreiro e a construção de uma dinâmica política nacional no Império do Brasil. Almanack.Guarulhos, n. 07, p. 137-159, 1º semestre de 2014.
Alain El Youssef – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: alayoussef@yahoo.com.br
ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. Resenha de: YOUSSEF, Alain El. Nem só de flores, votos e balas: abolicionismo, economia global e tempo histórico no Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 205-209, maio/ago., 2016.
Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império | Jurandir Malerba, Cláudia Heynemann e Maria do Carmo Teixeira Rainho
Em 1965, Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira e Bacalhau cantaram, em samba-enredo do Império Serrano, uma história dos grandes bailes da história da cidade do Rio de Janeiro.[1]2 Um dos destacados pelos compositores, o último d'”Os cinco bailes da história do Rio”, era o baile da Ilha Fiscal, que o governo da monarquia promoveu em 9 de novembro de 1889 em homenagem à visita de oficiais chilenos ao país – poucos dias antes, portanto, do fim do regime. O tema não era novidade para a escola: em 1953 o Império ficou na segunda colocação no desfile com o samba “O último baile da Corte imperial”, assinado por Silas de Oliveira e Waldir Medeiros. Em 1957, foi a vez da Unidos de Vila Isabel relembrar a efeméride, indo para a avenida com o samba “O Último Baile da Ilha Fiscal”, de Paulo Brandão, ainda que sem tanto sucesso. A presença do baile da Ilha Fiscal nos três sambas sugere sua força como marco para a memória urbana do Rio de Janeiro.
O último e nababesco baile da monarquia brasileira ressurge no livro Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império (EdiPUCRS, 2014), organizado por Jurandir Malerba, Cláudia Heynemman e Maria do Carmo Rainho. O livro reúne artigos de especialistas nas mais diversas áreas (moda, música, gastronomia, esportes e política) sobre uma notável coleção de documentos que o capitão de fragata José Egydio Garcez Palha organizou recolhendo menus, carnês de bailes, partituras musicais e comentários variados na imprensa sobre o baile, seus participantes e seus promotores. Recolhida entre 1889 e 1891, a coleção pertence desde 1930 ao Arquivo Nacional.
Um dos pontos destacados pelos organizadores na apresentação da obra reside no farto manancial de informações sobre diferentes aspectos do fazer cotidiano da cidade que se queria moderna. Desde nuances do fazer da mais alta política em suas recepções diplomáticas aos cochichos e maledicências sugeridas na imprensa, passando pelas preferências estéticas da elite imperial em sua frequência a casas da moda, cabeleireiros e confeitarias, a coleção realça a grandiosidade daquele baile sob a ótica dos personagens da própria época. Mesmo quem não esteve entre os aproximadamente 4 mil presentes à grandiosa festa pôde sentir de perto a grandeza do momento. Do Cais Pharoux dava para apreciar a suntuosidade da Ilha Fiscal fartamente iluminada por fogos de variadas cores, 700 lâmpadas elétricas e 60 mil velas. Do cais, ademais, partiam as damas e senhores da sociedade rumo ao baile.
A recepção aos chilenos se estendeu para além do baile, tendo durado dois meses. Nesse tempo, um interlúdio: a república fora proclamada bem no meio da visita dos convidados daquele país, chegados ao Rio em meados de outubro e partindo da cidade em finais de novembro. Em que pese a mudança de regime, mantiveram-se as variadas atividades propostas aos ilustres visitantes. Não fosse a república, teriam ainda as conversas sobre o baile rendido mais um tanto? Seja como for, o fato é que, 15 de novembro à parte, a grandeza do ultimo baile da monarquia imprimiu sua marca indelével na memória da cidade.
“Dê-me um pouco de magia, de perfume e fantasia e também de sedução”: impressões sobre as festas chilenas.
No livro, os capítulos de autoria de Victor Melo, Carlos Sandroni, Laurent Suaudeau, Carlos Ditadi e de Maria do Carmo Rainho apresentam por meio da análise da imprensa o que os organizadores chamam de “clima de opinião”. De fato, brotaram comentários os mais variados nos jornais da cidade, incluindo a observação de costumes e práticas de elite não tão bem assimiladas por alguns dos convidados presentes no baile. Algo a se estranhar, a princípio, pois segundo Melo, coordenador do Laboratório de História e do Esporte e Lazer da UFRJ, “a cidade já estava acostumada e apreciava atividades públicas” de monta, desde teatros ao turfe e ao remo, passando por festividades religiosas e sociedades dançantes (p. 118-119; 158).
De fato, se nos fiarmos no samba de Ivone, Silas e Bacalhau, a tradição festiva da cidade vem de longe. Segundo o musicólogo Carlos Sandroni, na ausência de formas de comunicação como o rádio, eram as bandas musicais, geralmente militares, que embalavam as festas, numa mobilidade impressionante que lhes permitia tocar em locais diferentes no mesmo dia. Sua onipresença não marcaria apenas a importância e formalidade de ocasiões solenes. Pelo contrário, elas botavam as pessoas para dançar. No baile de Ilha Fiscal tocou-se de tudo: quadrilhas, valsas, polcas e lanceiros animaram os presentes madrugada adentro, até quase o sol raiar, prática comum, aliás, em outros bailes frequentados pelos cariocas (p. 138-140).
Ao som da música, o detalhe das práticas ditas civilizadas – inclusive porte e vestimenta adequados para as danças – passava como forte signo de distinção, aspecto que apontava proximidades políticas e maneiras de inclusão no regime, tema que perpassa toda a obra. Victor Melo, em capítulo sobre as práticas esportivas, apresenta as disputas entre grupos de elite por receber a comissão chilena em seus clubes de remo e de turfe, preferência entre os cariocas mas que dividia as elites. Esses clubes serviam de ponto de encontro e aproximação entre grupos de preferência política comum, como republicanos ou monarquistas, respectivamente (p. 121; 129). Idem para o porte nessas ocasiões ou mesmo à mesa: estima-se que o refinadíssimo banquete oferecido aos chilenos no baile da Ilha Fiscal tenha custado aos cofres públicos 250 contos de Réis, segundo Suaudeau, que é chefe de cozinha, e Debati, pesquisador no Arquivo Nacional, quase 10% do orçamento da província do Rio (p. 162). Repleto de iguarias da culinária estrangeira, especialmente francesa, o banquete foi alvo de crítica de parte da imprensa pelos seus custos e também pelo pouco apreço às “iguarias puramente brasileiras”, segundo matéria n’O Paiz (p. 166). Convidados e garçons também foram alvo da crítica de jornalistas: homens fumando, conversando alto, acotovelando as senhoras, atirando restos de comida ao chão receberam comentários reprovadores. Assim como os criados, considerados desleixados e um tanto “esquecidos” (p. 107, 165). As senhoras não foram poupadas: entre os objetos encontrados após o baile, havia até mesmo espartilhos e “algodões em rama”, usados por debaixo dos espartilhos para dar corpo às mulheres (p. 107). Ao que parece, os algodões perdidos – e que demandavam o manejo, digamos, mais complexo da vestimenta feminina – não foram poucos, segundo Sandroni (p. 144). Não haveria ocasião melhor para manejos mais quentes. Afinal, a proximidade de corpos em danças regradas (ou nem tanto) realçava um tipo particular de experiência sensual que legava às senhoras assíduas frequentadoras de baile a “fama de assanhadas”.
A falta de civilidade pareceu quase geral, segundo observadores, incluindo a adequação da roupa à ocasião. Perder espartilhos não era pouca coisa: frequentada como foi por “senhoras e cavalheiros da fina flor fluminense” (p. 144), festas como a oferecida aos chilenos inscrevem-se, segundo Rainho, especialista em História da Moda, numa “cultura das aparências” que ganhava força entre a elite carioca especialmente nos anos finais do Império. O baile da Ilha Fiscal gerou um apagão no comércio de modas na cidade: não havia costureiras, maisons e cabeleireiros suficientes para tanta dama convidada. Ao mesmo tempo que manuais de etiqueta ensinavam cada vez mais a circunspecção feminina, as roupas atuavam como um poderoso meio de sedução que não cabia nesses manuais (p. 199).
“Algo acontecia, era o fim da monarquia”: aproximações entre cultura e política.
Segundo Rainho, além do mais, algo chamava a atenção nos comentários na imprensa sobre o grandioso baile: a ausência de comentários sobre a vestimenta dos oficiais chilenos (p. 201). Sebastião Uchoa Leite, poeta e ensaísta, em texto originalmente publicado em 2003 para o projeto que deu origem ao livro, apresenta um ponto interessante nesse sentido. Em grande parte dos comentários e reportagens sobre a recepção dos chilenos havia “um clima de oposição crítica ao próprio status quo reinante no país” (p. 101).
“Espécie de miragem”, ainda segundo Leite, o baile teria sido o ponto culminante do significado das “festas” para a monarquia. A observação não deixa de ser paradoxal, dado que a corte de Pedro II era avessa a grandes festividades. Jurandir Malerba, professor da PUCRS, lembra que o último baile no Paço Imperial ocorrera em 1852 após o encerramento das atividades do Parlamento (p. 39). Nesse ínterim, a família imperial teria se contentado com apresentações teatrais um tanto amadoras e para poucos convidados. No que Malerba lança uma hipótese interessante: considerando a destreza política de Dom Pedro II e sua saúde já frágil que cada vez mais servia como justificativa para seu distanciamento da condução direta da política nacional, o baile da Ilha Fiscal pode ter sido calculado para encenar “o grand finale de seu reinado” (p. 42-43).
Minuciosamente representado como signo de civilização em terras americanas, o Império do Brasil apresentava também seu lado moderno por meio de sua capital, o Rio de Janeiro. Cláudia Heynemann, supervisora de pesquisa no Arquivo Nacional, chama atenção para o vasto roteiro de visitas da comissão chilena, que em muito se aproximava daqueles propostos por livros de viagem do oitocentos (p. 57). Malgrado a presença de alguns problemas como calçamento e arborização, o processo de modernização pelo qual passava a cidade na segunda metade do XIX entrelaçava natureza e cultura por meio de obras como as do Passeio Público, do Campo da Aclamação e do Jardim Botânico (p. 65), uma modernidade ao mesmo tempo pedagógica e disciplinar (p. 70). Cidade já bastante grande, que contava com 226 mil pessoas livres e quase 5 mil escravos segundo o censo de 1872, o Rio de Janeiro se complexificava: novos bairros foram criados, acompanhados pela expansão do serviço de trens e bondes. Novas práticas de sociabilidade surgiam a seguir marcadas por hábitos europeizados, segundo Vivien Ishaq, doutora em história. A rua do Ouvidor mantinha o cetro de polo dos modismos e do bom gosto, mas cada vez a cidade também se dividia em várias se considerarmos os usos distintos dos espaços pelos grupos de diferentes camadas da sociedade (p. 81-84).
Em comum a todos os artigos de Festas Chilenas está o destaque para o baile como espaço de autorrepresentação tanto das elites imperiais quanto do próprio regime: esse ponto é especialmente destacado por Sebastião Uchoa Leite e Jurandir Malerba. Leite, ao sublinhar aspectos políticos de ocasiões festivas, neste caso por meio da imprensa através das críticas a usos e maneiras apresentados no baile, afasta o caráter “ameno” da ocasião. Houve encontros entre os aproximadamente 4 mil presentes mas havia também tensões (p. 109-110), presentes já no momento de seleção dos convidados. Malerba, ao realçar o baile como momento político, o faz invertendo o argumento recorrente de que a monarquia apostava, ali, no início de um esplendoroso terceiro Reinado, sob a batuta de Isabel e secundada por seu esposo, o conde d’Eu. Para o autor, o baile foi um último lance político mas com repercussões na esfera da cultura: era a memória da monarquia que estava em jogo.
Malerba distancia-se, assim, do argumento de José Murilo de Carvalho de que o baile teria sido um “golpe de publicidade” pró-continuidade monárquica, pensado por este autor em grande medida a partir de obras ficcionais de Machado de Assis. Em sua argumentação, Malerba oferece ao monarca (e ao regime como um todo) o papel de agente de sua história – e da representação da memória de seu reinado. Ainda que lançado como hipótese, o argumento é interessante na medida em que se aproxima de discussões mais recentes no campo da cultura acerca de sua percepção como manancial de estratégias referendadas pelo contexto, e não como um todo encerrado em si mesmo (segundo uma concepção vulgar e equivocada, porém corrente, de sistema).
Na esfera da historiografia contemporânea, a micro-história propõe um importante debate nesse sentido. Sua aproximação com a antropologia, especialmente aquela proposta por Clifford Geertz, promoveu o entendimento da cultura como um campo no qual o sentido dos símbolos deve ser entendido na análise de situações sociais específicas – é exemplar a “descrição densa” da briga de galos balinesa proposta por Geertz.[2] Mais especificamente, a micro-história investe seu esforço de análise nas ressignificações dos símbolos em situações de disputas sociais, tendo em vista a reflexividade dos sujeitos e sua capacidade de ação racional – como não se lembrar, por exemplo, do pensamento do moleiro Menocchio, estudado por Carlo Ginzburg?[3] Para Giovanni Levi, em artigo de revisão das tendências de análise na micro-história, “a abordagem micro-histórica dedica-se ao problema de como obtemos acesso ao conhecimento do passado [tomando o] particular como seu ponto de partida […] e prossegue, identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico”.[4] Longe da dicotomia que prevaleceu em discussões sobre agência e estrutura ou, de modo mais específico, entre cultura e política, Festas Chilenas lança um olhar sobre a esfera cultural que em muito se alimenta do próprio contexto político. Embora o imperador não ofertasse bailes de monta havia décadas, isso fazia parte do script do fazer monárquico. A suntuosidade da ocasião parecia acenar, assim, menos para o futuro que para o passado de grandiosidade da própria monarquia.
O samba do Império Serrano traz tais elementos para dentro da cena: “o luxo, a riqueza, imperou com imponência” ainda no baile da Independência. No baile da Ilha Fiscal se brindava “aquela linda valsa, já no amanhecer do dia”. “Iluminado estava o salão, na noite da coroação” de Pedro II. Acompanhando os cinco grandes bailes da cidade eleitos pelos compositores, dois localizam-se nos tempos do reinado de Pedro II. Ainda que o recurso ao fausto das festas apresentadas no samba tenha relação com a própria lógica de composição interna do samba-enredo, que ganhava novo formato especialmente nas mãos de Silas de Oliveira,[5] na memória urbana do Rio de Janeiro aquele momento parecia estar encravado como digno de rememoração. Não foi esse o único samba, aliás, a lembrar o baile: mesmo que o samba de 1953, também de Silas, tenha sugerido que nem imperador nem a corte esperavam o fim da monarquia, o esplendor do baile agradara a todos, inclusive os homenageados.[6]
Na esteira da hipótese de Malerba, que vê o baile como grand finale à luz do modus operandi do regime monárquico e de suas lógicas de formação de laços centralizados na figura de Pedro II (“não se faz políticas sem bolinhos”, lembrava o barão de Cotegipe), seria interessante perceber as inscrições desse último movimento do regime não apenas na memória da cidade, mas na memória popular urbana do Rio. Mesmo que todos os artigos da obra considerem, por exemplo, matérias em jornais como expressão de olhares algo debochados e um tanto críticos do baile, da elite imperial e do regime em si, a aproximação dessa perspectiva com outras do restante da população da cidade poderia iluminar mais o argumento central. Poucos anos mais tarde João do Rio chamaria a atenção para a forte presença de símbolos imperiais entre a população pobre e negra da capital da agora república.[7] Os grupos de capoeiras que desmantelavam conferências de republicanos e, após a abolição, a própria guarda negra suscitavam temor frequente entre os grupos aderentes ao novo regime instaurado enquanto os chilenos nos visitavam. Embora nossas fontes disponíveis não o expressem de maneira discursiva, alguns aspectos da cultura popular da cidade parecem ter alguma coisa a nos dizer sobre os significados não só do último baile da monarquia, mas do regime monárquico como um todo, mais tarde cantados “em sonho” na memória urbana carioca.
Notas
1. Vale escutar o áudio do samba-enredo da escola daquele ano, de autoria dos três, intitulado “Os cinco bailes da história do Rio“. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=laEBlDSZQZc . Acesso em 10 de abril de 2016.
2. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.Rio de Janeiro: LTC, 2008.
3. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes:o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
4. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In BURKE, Peter (org). A escrita da história:novas perspectivas. São Paulo: EdUNESP, 1992, p. 154-155.
5. VALENÇA, Rachel; VALENÇA, Suetônio. Serra, Serrinha, Serrano: o império do samba. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1981.
6. Ver, por exemplo, a crônica “Os Tatuadores”, no livro A alma encantadora das ruas:crônicas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.
7. Ver, por exemplo, a crônica “Os Tatuadores”, no livro A alma encantadora das ruas:crônicas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.
Carlos Eduardo Dias Souza – Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: kdudiaz@gmail.com
MALERBA, Jurandir; HEYNEMANN, Cláudia; RAINHO, Maria do Carmo Teixeira (Orgs.). Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014. Resenha de: SOUZA, Carlos Eduardo Dias. O quinto baile da história do Rio. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 210-214, maio/ago., 2016.
Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis | Jorge Gelman, Enrique Llopis e Carlos Marichal
Algunas veces las obras colectivas resultan en una suma de textos escasamente cohesionados en torno a un período, un espacio geográfico o un tema genérico que apenas logran disimular la carencia de objetivos metodológicos y hipótesis estructurantes en torno a las cuales hacer un aporte al avance del conocimiento. El libro en comento no corresponde a este tipo de publicaciones, ya que define con claridad el ámbito temático en que se inscriben sus ensayos. Por un lado, sus textos dan cuenta del estado de las economías de Iberoamérica y España, en su amplia heterogeneidad, en vísperas de las independencias nacionales. Por otro, revisitan la noción de que las reformas administrativas introducidas por las monarquías de España y Portugal a mediados del siglo XVIII impulsaron un prolongado período de expansión económica, tanto en las metrópolis como en sus colonias, que comenzó a declinar al comienzo de la última década de la centuria hasta llegar a una crisis que, en gran medida, explicaría el colapso del orden colonial. Como dicha noción, admitida a partir de los aportes de John Lynch, es en extremo general, la obra se encarga de contrastarla con distintas realidades americanas y metropolitanas para, según corresponda, confirmarla, descartarla o matizarla.
Para el caso del Río de la Plata Jorge Gelman y María Inés Moraes muestran que, en efecto, desde la década de 1760 se registra un ciclo de expansión articulado por el flujo de plata altoperuana hacia el Atlántico. Aunque este circuito comienza a declinar junto con el inicio de la crisis del orden colonial, la economía en su conjunto logró mantenerse estable gracias al fortalecimiento del intercambio entre Buenos Aires y las regiones interiores y, simultáneamente, al desarrollo de la ganadería en las provincias, que dio lugar a una fase de exportación de carne y cueros que se prolonga hasta el período nacional.
Sobre el desempeño del virreinato peruano, Carlos Contreras da cuenta de todas las aristas que impiden tener una noción precisa que explique la casi triplicación del PIB a lo largo del siglo XVIII. Además de la separación del Alto Perú, que le restó su principal fuente de recursos mineros, los indicadores demográficos, agrícolas y fiscales apuntan a una expansión sólo imputable al fortalecimiento de las economías regionales, el intercambio comercial entre ellas y la incorporación de un significativo contingente de indígenas a la población asalariada. Lo anterior permitió resolver la falta de mano de obra en la minería e incrementar la recaudación virreinal a través del tributo.
Menos variables en juego tiene el Virreinato de Nueva Granada, el que a partir de los datos de sus Cajas Reales, entre 1761 y 1800, Adolfo Meisel caracteriza como una economía rudimentaria, basada en el tránsito aurífero a través del río Magdalena, la ganadería en la provincia de Santa Marta y el mantenimiento de las fortalezas de Cartagena de Indias con los aportes del situado de Quito y Bogotá. El período examinado muestra un crecimiento del producto de 1,6% anual en promedio, cifra muy cercana a su ritmo de crecimiento demográfico, lo que da cuenta de una economía muy precaria, al borde de la subsistencia y sobre la que tuvieron muy pocos efectos las reformas administrativas de mediados del siglo XVIII.
Para el caso cubano José Antonio Piqueras describe una situación que resulta por completo ajena a las reformas borbónicas y sus consecuencias. Teniendo al azúcar como base de su economía, durante el siglo XVIII su consumo aumentó de forma extraordinaria en el mundo, aunque el ritmo de producción en Cuba fue inferior al de otras regiones competidoras, ya que hasta la última década de la centuria se mantuvo aferrada a los métodos tradicionales. No obstante estas limitaciones, el autor constata que la economía de la isla creció sostenidamente y, más aun, que dicha expansión coincide con las distintas guerras internacionales, pues, estando comprometida directamente o no en cada conflicto la Corona española, aportó recursos adicionales para reforzar el aparato militar de la Gobernación (“diluvio de plata”); otras regiones productoras, como las Antillas y Barbados, fueron escenario de enfrentamientos por lo que Cuba ocupó su lugar en el abastecimiento del comercio mundial de azúcar; y porque la apertura del intercambio con países neutrales, durante los conflictos de España con Francia e Inglaterra, en la práctica permitieron al azúcar cubano acceder al mercado de las trece colonias rebeldes, un consumidor seguro y generoso.
Sobre México la recopilación aporta dos estudios que contribuyen a, por lo menos, matizar la visión pesimista que impera sobre el desempeño de su economía durante las últimas dos décadas virreinales. Luis Jáuregui y Carlos Marichal ofrecen una visión panorámica de la economía novohispana entre 1760 y 1810 a partir de tres indicadores: la acuñación de monedas de plata, el comportamiento del comercio exterior y el del comercio interno, estos últimos dimensionados por su aporte tributario a las arcas virreinales. Los autores comienzan constatando que entre 1770 y 1810 la acuñación de pesos de plata creció a un ritmo oscilante entre el 1 y el 1,4% y que sus pulsaciones respondieron a la disposición de azogue (mercurio) antes que a otros factores sensibles para una actividad que, estimulada por las reformas de la década de 1760, arrastraba a los demás sectores productivos con su demanda por bienes y servicios.
Aunque el impacto del aumento en la producción de monedas de plata fue limitado para el comercio interno, ya que no se acuñaban monedas divisionarias, este creció a lo largo del período impulsado por el crecimiento de la población urbana que, además de alimentos, demandaba manufacturas y bienes artesanales de elaboración local. Mientras que el comercio exterior, animado por la liberalización de 1789, también marcó una tendencia ascendente.
Sin embargo, la noción común apunta a que la economía novohispana finicolonial experimentó una severa recesión y crisis demográfica, que en gran medida provocaron la disolución del vínculo con la metrópoli europea. Ernest Sánchez Santiró discute esta afirmación señalando que se trata de impresiones subjetivas del período 1815-1820, cuando las guerras de independencia sí habían afectado al aparato productivo, lo que llevó a muchos contemporáneos a formarse una impresión negativa de las décadas anteriores.
En base a las cuentas fiscales y a criterios metodológicos, el autor matiza y desmiente varios de estos supuestos. Sobre la disminución de la población, del orden de las 250 a 500 mil personas, asegura que más bien se trató del despoblamiento de los principales núcleos urbanos, personas que huyeron de los enfrentamientos hacia sectores rurales. En cuanto a la caída de la producción minera, estimada por algunos en torno al 50%, señala que esta es una apreciación fundada a una baja en la acuñación de plata, pero si se considera que los ingresos de los estancos del azogue y la pólvora no muestran fluctuaciones significativas, estaríamos en presencia de un contrabando masivo de metal en bruto. Sobre la caída superior al 40% del comercio exterior para la década de 1810, señala que ella corresponde a las cifras que entrega el Consulado de Veracruz y que dan cuenta de la situación del hasta entonces principal puerto de intercambio con Europa. Pero que si se considera el incremento de la actividad de los puertos menores, tenemos que el flujo mercantil no disminuye sino que cambia de dirección, imponiéndose el comercio hacia otras regiones.
Resulta interesante el hecho de que todos los diagnósticos pesimistas sobre el desempeño de la economía mexicana del crepúsculo colonial conviven con la constatación de un aumento en la recaudación fiscal. Sánchez Santiró explica esta aparente paradoja con una lista de nuevos impuestos, contribuciones forzosas y alzas tributarias que, junto con resolver esta contradicción, da a entender porque la temprana república mexicana emprendió un camino liberalizador de facto.
En relación a Brasil, el libro incluye dos estudios que permiten comparar la evolución histórica de las colonias españolas con las lusas en Américas, teniendo como referencias que ambas monarquías emprendieron procesos de reformas administrativas que apuntaban a impulsar el desarrollo económico. En el primero de estos ensayos, Angelo Alves Carrara se propone evaluar el resultado de las reformas pombalinas, introducidas en la década de 1750, en el escenario de una economía que llevaba más de sesenta años de expansión minera, pero que sus centros productivos en Minas Gerais no habían logrado estimular el desenvolvimiento y la diversificación productiva en las demás provincias. Esto porque la propiedad de los yacimientos estaba en extremo concentrada y empleaba muy poca mano de obra, de preferencia esclava, lo que representaba escasos incentivos para la agricultura y la ganadería.
Si algún cambio debe la economía brasilera al ciclo minero es el haber propiciado que Río de Janeiro desplazara a Salvador como principal núcleo portuario y comercial de la Capitanía, consagrado por el traslado de la corte hasta la ciudad carioca en 1763. La demanda urbana de la novel capital sí logró incentivar el desarrollo de las economías regionales y con ello a otras actividades de exportación, como el algodón y el café, que diversificaron la base de exportación y lograron la ocupación efectiva de regiones interiores. Sin embargo, el autor atribuye este fenómeno al aumento de la demanda europea por dichos productos, más que a las medidas diseñadas por el marqués de Pombal, cuyo único mérito sería haber logrado afinar el aparato de recaudación fiscal.
Luego, un interesante artículo de Joao Fragoso dedicado a entender por qué ni el ciclo de exportaciones mineras ni luego las reformas pombalinas lograron modernizar la economía brasilera, ya sea a través de la formación de una clase burguesa que liderara una necesaria transformación de la relaciones sociales e invirtiera sus utilidades en mejorar los procesos productivos, o de políticas concretas que facilitaran a la economía brasilera superar la fase preindustrial. Tal atraso es atribuido por el autor a la permanencia de una “sociedad regida por los muertos”, heredada del ciclo azucarero y que sobrevivió en el tiempo como consecuencia de la persistencia de un afán de nobleza que poco aportaba para el inicio de una transición hacia el Capitalismo. De esta forma, la organización social de la plantación de azúcar, basada en la esclavitud y métodos productivos primitivos, continuó vigente durante todo el ciclo de expansión minera. Entonces, la continuidad de la costumbre de legar parte importante de las fortunas, ya sea a través de donaciones, censos y capellanías, en la práctica dejó un limitado volumen de capital para reinvertir en la producción. Mientras que la permanencia de un régimen laboral esclavista impidió la formación de un mercado de consumo que se constituyera en una demanda interna significativa, al mismo tiempo que encadenaba las exportaciones brasileras al circuito imperial portugués formado por Lisboa – Río de Janeiro – Luanda – Goa, mediante el cual las utilidades de las exportaciones terminaban pagando el consumo de bienes suntuarios y la compra de esclavos.
Al final del ensayo, el autor señala que un indicador importante para establecer el perfil de una estructura económica radica en identificar cuál es el principal agente que controla el mercado del crédito. En el caso brasilero, hacia 1740, este actor sería el comercio esclavista y la propia Iglesia, más preocupados en perpetuar el sistema “esclavista católico” que de impulsar transformaciones de tipo capitalistas y burguesas.
Sobre la situación de España en la segunda mitad del siglo XVIII, Enrique Llopis analiza su comportamiento demográfico y económico constatando que su población creció a un promedio anual del 0,4%, inferior al 0,52 europeo, y que las provincias de Cataluña y Murcia fueron donde este incremento se dio con mayor intensidad. Esto, por el dinamismo del sector manufacturero que contrasta con el moderado desempeño de la agricultura y la ganadería predominantes en las regiones interiores y meridionales. El general, todos los sectores económicos mostraron una tendencia al alza, destacándose los sectores agrícolas que modernizaron sus métodos productivos y comenzaron a requerir menos mano de obra. Lo anterior se reflejó en un acelerado crecimiento de la población urbana, lo que redundó en una caída salarial y en altos niveles de marginalidad.
Luego, el autor constata que, hasta 1790, la economía española creció moderadamente. Pero, a partir de entonces y como consecuencia de la Revolución Francesa, enfrentó una severa recesión, agravada por una seguidilla de epidemias, convulsiones sociales y guerras que terminaron por provocar un descenso demográfico cercano al 15%. Curiosamente, durante el mismo período se registró un alza en la recaudación fiscal (25% promedio anual), gracias a la continuidad, y a veces aumento, del aporte americano y a la introducción de impuestos directos sobre las actividades productivas y el comercio. Como es bien sabido, estos recursos no fueron destinados a revertir el ciclo económico sino que fueron invertidos en el financiamiento de la política exterior imperial.
Se complementa el trabajo de Llopis con el artículo de Pedro Tedde de Lorca, dedicado a examinar la política financiera ilustrada entre 1760 y 1808. Para Carlos III el manejo de estas variables debía tener como objetivo estimular la producción de bienes y servicios, para luego la Corona extraer sus ingresos gravando al comercio y el tráfico de caudales. Además, debía llevar a cabo el anhelo planteado en 1749 por su tío Fernando VI, en orden a dejar atrás el antiguo régimen de castas y privilegios, introduciendo un sistema tributario universal y proporcional a las rentas. Sin una fórmula política para alcanzar tal objetivo y con la permanente necesidad de financiar las guerras internacionales en que se comprometió para proteger su monopolio comercial, la monarquía borbónica continuó recurriendo a las remesas de las Indias y a un creciente endeudamiento, configurando una ecuación que, de forma creciente e irremediable, arrojó números negativos.
El último ensayo de la recopilación en comento, de Rafael Dobado y Héctor García, está dedicado a perfilar el bienestar biológico de la América borbónica, y hacer una comparación internacional en base a salarios y estaturas. El estudio arranca constatando que en la América borbónica el trabajo asalariado estuvo mucho más extendido que lo que comúnmente se ha supuesto, lo que permite los cálculos sobre ingreso y desigualdad que los autores presentan. Luego y a partir de algunos ajustes metodológicos, sus resultados apuntan a señalar que en comparación con las principales ciudades europeas, durante la segunda mitad del siglo XVIII, América española tuvo un nivel de salarios más alto. El análisis presentado no se basa en el ingreso nominal, sino que en la cantidad de ciertos productos que permitían adquirir distintos promedios salariales. Entonces, las estimaciones arrojan que en América un salario equivalente al europeo permitía un mayor consumo de carne, azúcar y granos. Ciertamente, esta afirmación es matizada si se consideran distintas particularidades regionales, como la abundancia de tierras desocupadas en el Río de la Plata, Nueva Granada y Chile, que explicaría el alto consumo de proteínas animales por el predominio de la ganadería; o la prevalencia de costumbres prehispánicas en México y los Andes Centrales, que mantuvieron alta la oferta de granos.
En cuanto a las estaturas, se tomaron los casos de Yucatán, Campeche y México entre 1730 y 1780, que se compararon con los disponibles para diversas ciudades europeas en el mismo período, arrojando resultados de nuevo favorables a América que, en el caso de la población blanca de Maracaibo, la situaría dentro de las más altas del mundo. Una explicación para esto sería la elevada ingesta de carne, pero no resulta válida para México central, que se ubica debajo del promedio internacional, lo que obedecería a la influencia genética del componente maya.
A partir de la última década del siglo XVIII los indicadores económicos y antropométricos americanos comienzan a declinar, aunque a un ritmo inferior al que registran en Europa y Asia, lo que conduce a afirmar que los grandes problemas de América son la desigualdad y el lento crecimiento, pues sus valores promedio no permiten entender el origen del subdesarrollo y la pobreza.
En síntesis y volviendo a los objetivos planteados al comienzo, los trabajos reunidos en la recopilación comentada ofrecen una visión de la economía hispanoamericana antes de la Independencia y confirma la advertencia de que siempre es necesario tener en cuenta que convivían realidades regionales muy diversas, por lo que conclusiones y explicaciones generales deben ser hechas con cautela. Luego, esta heterogeneidad regional también debe ser considerada al momento de evaluar la hipótesis de un gran declive económico y biológico como trasfondo y causa estructural de la disolución del orden colonial. Los casos presentados indican que se trata de una exageración proveniente, en algunos casos de crónicas contemporáneas alarmistas, y en otros de errores metodológicos en la agrupación y análisis de los datos cuantitativos disponibles. Además de dar cuenta de los objetivos que se propusieron los editores, la obra tiene el mérito de ofrecer visiones renovadas de diferentes espacios americanos, líneas interpretativas útiles para comprender algunos desarrollos históricos que siguieron al período estudiado y vetas de investigación que permitirían explicar de forma aún más exhaustiva las distintas singularidades que se aprecian en la historia económica de Iberoamérica. Una de ellas es el comercio al interior y entre las colonias, pues aunque muchas veces es mencionado como una variable para explicar por qué cierta estructura económica mantiene su dinamismo o se ralentiza a un ritmo inferior al que se aprecia en las cifras agregadas a nivel imperial, su respaldo empírico es frágil.
En suma, Iberoamérica y España antes de las Independencias aborda tres cuestiones de importancia para todo ámbito desde donde se cultive la historia americana: la primera es que, comparada con el Viejo Mundo, la calidad de vida en América pareciera ser no tan desmejorada como se ha dado por supuesto, por lo tanto la “herencia colonial” tendría menor responsabilidad en los cuadros de pobreza, desigualdad y subdesarrollo que se aprecian durante el período nacional, que es donde habría que buscar explicaciones más rigurosas. Luego, se confirma la noción, aunque mucho más atenuada, de que América colonial experimentó un ciclo de expansión a partir de las reformas de mediados del siglo XVIII y otro de recesión desde la última década de esa centuria. Hasta ahora la mayor parte de los estudios que han intentado entender esta oscilación se han encapsulado buscando causalidades al interior del imperio, en lugar de atender a los fenómenos globales, que es donde parecieran estar las respuestas más sencillas y satisfactorias. Esto conduce a una última consideración, en especial para quienes se dedican a la economía colonial: se ha convertido en un hábito buscar en las variables fiscales las causas de las palpitaciones de las distintas economías regionales, como si los monarcas y sus súbditos experimentaran por igual fortunas y miserias. Los artículos reunidos en la obra demuestran que esta aproximación es insuficiente, incluso errónea, pues todos ellos muestran que, en distintos grados, al iniciarse el siglo XIX los mercados internos habían alcanzado una dinámica autónoma de suficiente vigor como para comenzar a albergar intereses y concebir proyectos distintos a los de sus metrópolis.
Jaime Rosenblitt B. – Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. E-mail: jaime.rosenblitt@dibam.cl
GELMAN, Jorge; LLOPIS, Enrique; MARICHAL, Carlos (Coordinadores). Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis. México D. F.: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; El Colegio de México, A. C., 2014. Resenha de: B., Jaime Rosenblitt. Hispanoamérica e Iberoamérica: una convergencia en el ocaso del mundo colonial. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 215-220, maio/ago., 2016.
A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração
A expressão acima, que dá título a esta resenha do livro de Jeffery Lesser, A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração (tradução brasileira da edição que a Cambridge University Press lançou em 2013), poderia sintetizar a história da imigração em vários países da América – nomeadamente, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Como brasilianista, comparar seu objeto de estudo com os Estados Unidos seria inevitável, mas esse procedimento encontra justificativa mais profunda nas pesquisas de Lesser. À análise comparativa para compreender a “invenção da brasilidade” soma-se a metodologia de estudo da imigração como uma história única desde o período colonial, e não em capítulos separados em que cada grupo imigratório apresenta história própria e específica. Como resultado, uma obra de historiador que, apoiada na etnografia antropológica, se propõe discutir a complexidade das questões de identidade no Brasil atual através da etnicidade e sua relação com a imigração – conceitos cuja fluidez torna indistinguíveis. Sua preocupação fundamental – de que forma a “brasilidade” foi e é construída? – lança luz sobre os seis capítulos e o epílogo que ocupam quase trezentas páginas de um livro proposto para alcançar público mais amplo, além das fronteiras da academia.
Por que o professor que ocupa atualmente a Cátedra de Estudos Brasileiros na Emory University (Atlanta) opta por esse caminho metodológico? A resposta pode ser encontrada no livro, mas também em sua trajetória pessoal de pesquisa. Em O Brasil e a questão judaica: imigração, diplomacia e preconceito, publicado no Brasil em 1995 pela Editora Imago, o enfoque recai sobre a política imigratória do Estado Novo para os judeus, discutindo os problemas da discriminação, da aculturação e da etnicidade no período. Em A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta pela etnicidade no Brasil (Editora Unesp, 2001), são analisadas estratégias que imigrantes não europeus – japoneses, sírios e libaneses – utilizaram para definir seu lugar dentro da identidade nacional brasileira, bem como reações a essas tentativas. Imigrantes que, juntamente com os grupos europeus, integram – e esta parece ser realmente a melhor palavra – as análises do novo livro.
Anos de experiência de pesquisa produziram inquietações sintetizadas no artigo “Laços finais: novas abordagens sobre etnicidade e diáspora na América Latina do século XX, os judeus como lentes” (publicado na revista Projeto História, n. 42, em 2011), escrito em parceria com Raanan Rein, professor da Tel Aviv University. O artigo expõe, através das investigações sobre os judeus latino-americanos, como caso exemplar, o que Lesser entende como indispensável inovação para os estudos étnicos na América Latina – em suas palavras, os “Novos Estudos Étnicos”. Uma tentativa de revigorar as pesquisas através da abordagem em duas vias. Por um lado, compreender a etnicidade como uma peça que compõe mosaico mais amplo da identidade. Por outro, atentar para o fato de que o estudo sobre etnicidade deve incluir pessoas não vinculadas a instituições da comunidade. Segundo o historiador, as atuais pesquisas sugerem que a maioria dos membros de grupos étnicos na América Latina não é afiliada às associações étnicas locais – ou seja, as noções de “comunidade étnica” serão sempre enganosas quando incluírem apenas os afiliados organizados.
Em sua ótica, nas duas últimas décadas, os estudos sobre os judeus latino-americanos têm avançado dentro da perspectiva de que essa minoria faz parte dos mosaicos étnicos e culturais que constituem as sociedades da América Latina com suas identidades híbridas e complexas, relacionando-se de forma dinâmica com outros grupos na vida econômica, social, cultural e política – no referido artigo, Lesser destaca os estudos publicados em revistas especializadas de Nelson Vieira, “The Jewish Diaspora of Latin America”, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies (2001), e Raanan Rein “Gender, Ethnicity, and Politics: Latin American Jewry Revisited”, Jewish History (2004), além do livro de Edna Aizenberg, Book and Bombs in Buenos Aires: Borges, Gerchunoff, and Argentine-Jewish Writing (2002). E o mais importante, pesquisas passaram a questionar o que as experiências dos judeus podem revelar sobre outros imigrantes e grupos étnicos e sobre o caráter geral das sociedades latino-americanas.
Com base na argumentação aqui brevemente sintetizada, Lesser defende que o estudo sobre os judeus latino-americanos pode ajudar a articular novas abordagens para os “Estudos Étnicos”, cujas propostas e críticas desafiadoras demandam atenção dos estudiosos do tema. No campo das proposições, assinala a necessidade de estudar as tensões entre etnia e nação. No âmbito das críticas, refuta as ideias presumidas de que as minorias étnicas não desempenham um papel significativo na formação de uma identidade nacional, de que o centro da identidade étnica coletiva deve sempre estar fora do país de residência e, finalmente, de acreditar que as comunidades étnicas são homogêneas ignorando divisões intra-étnicas muitas vezes replicadas por sucessivas gerações. A respeito das interpretações dos discursos produzidos pelos contemporâneos, observa que a pesquisa sobre etnicidade latino-americana compreende corretamente que a maioria dominante dos discursos é frequentemente racista, mas não atenta para a grande distância entre retórica e atividade social. O enfoque apenas no discurso tende a achar vítimas, muitas vezes sugerindo que o racismo representa uma estrutura absolutamente hegemônica. Na prática, porém, expressões racistas não impediram muitos grupos étnicos de penetrar nos setores dominantes, sejam políticos, culturais, econômicos ou sociais. Dessa perspectiva, a formação da identidade étnica aparece baseada principalmente na luta contra a discriminação e a exclusão. Os estudos que examinam o status social, por outro lado, chegam a uma conclusão diferente ao sugerir que o sucesso entre asiáticos, judeus, sírios e libaneses os colocam na categoria de “brancos”. Assim, Lesser sustenta que analisar os discursos racistas, juntamente com a mobilidade individual e de grupo, possibilita mudanças na compreensão da natureza entre opressão e sucesso.
O livro em questão pode ser apontado como resultante das propostas acima resumidas. Lesser concebe os imigrantes como protagonistas, e não apenas como vítimas, de um processo histórico no qual as definições étnicas e nacionais estão sempre em formação, pensando a afirmação das identidades como uma negociação constante pela qual os imigrantes se tornaram brasileiros. Para tanto, sem negar a importância dos estudos regionalizados e de grupos específicos de imigrantes, prefere situar as diferentes experiências regionais brasileiras em um diálogo nacional e, mais que isso, pensar os fluxos migratórios para o Brasil no amplo contexto da América.
Quando afirma tratar mais das semelhanças do que das diferenças – seja em relação à legislação de imigração, aos discursos das elites sobre a construção de identidades nacionais brasileiras ou às respostas e estratégias étnicas dos próprios grupos imigrantes perante a sociedade, o Estado e outros imigrantes -, tem como objetivo aprofundar e integrar as contribuições de obras que tratam os diferentes grupos imigrantes como inteiramente singulares. Comparando imigrantes em diferentes regiões de uma mesma nação, no caso o Brasil, Lesser advoga a tese de que a formulação das identidades é também condicionada pelo novo Estado que recebe os imigrantes e não apenas pela antiga nação de origem. Em suma, imigrantes de lugares distintos relacionam-se com o Brasil de maneiras semelhantes a despeito de suas diferentes origens. Definida a proposta, o historiador apresenta uma das questões norteadoras do livro, tendo por base a premissa de que a identidade e a etnicidade são sempre construções históricas, e não heranças recebidas como parte de algum tipo de essência cultural ou biológica: “De que forma imigrantes e descendentes negociaram suas identidades públicas como brasileiros?” (p. 20).
Colocando em outras palavras, ao estabelecer um diálogo entre imigração, etnicidade e identidade nacional ao longo do tempo, do espaço e entre grupos, estrutura-se a indagação-chave de seu estudo: “De que forma a brasilidade é construída?” (p. 23). Ainda dentro do campo das premissas, considera a identidade nacional um conceito fluido, sujeito a intervenções dos dois lados e historicamente mutável – daí sua afirmação de que a “assimilação (em que a cultura pré-migratória de um indivíduo desaparece completamente) foi um fenômeno raro, ao passo que a aculturação (a modificação de uma cultura como resultado do contato com outra) foi constante” (p. 25). Elementos abordados com grande perspicácia ao longo dos capítulos, quando abre espaço para análise do discurso elitista sobre a identidade nacional que se acreditava europeizada, branca e homogênea, transformando certos grupos de imigrantes em “desejáveis” ou “assimiláveis” enquanto outros eram “indesejáveis” ou “inassimiláveis”, além de ressaltar o papel ativo dos imigrantes recém-chegados ao desenvolverem formas bem-sucedidas de se tornarem brasileiros, alterando, inclusive, a ideia de nação dos grupos dominantes.
A história narrada por Lesser, porém, inicia-se antes, no período colonial, mais especificamente em 1808, com a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Difícil escapar desse recorte temporal quando o debate diz respeito à autonomia da colônia, nomeadamente em relação à escravidão e à construção de alternativas à sua inevitável superação em termos econômicos, sociais, políticos e, no caso específico da pesquisa tratada no livro, da formação da identidade nacional. O três capítulos iniciais abordam essa temática, destacando as primeiras tentativas de trazer imigrantes até a imigração em massa que ganhou contornos nas últimas décadas do Oitocentos. Espaço de tempo no qual, segundo o historiador, definiram-se, para as elites brasileiras, os caminhos a serem perseguidos em relação à vinda dos imigrantes. Ou seja, concordava-se que o país deveria alterar a composição racial de sua população maculada pela importação de escravos africanos, mas duas grandes questões se impunham: como definir branquidão e como a mão de obra imigrante seria integrada ao contexto da escravidão. Para Lesser, a ideia do Brasil como uma “nação de imigrantes” surgiu exatamente da tensão entre aqueles que achavam que o imigrante deveria substituir o escravo na grande lavoura, sem alterar as hierarquias de poder, e aqueles que defendiam os imigrantes como pequenos proprietários, ligando a branquidão ao capitalismo e ao progresso.
Dentro desse contexto, Lesser analisa como a ideia do branqueamento – tão cara ao pensamento imigratório brasileiro, mas com significado bastante maleável, influenciada inclusive pelo ideário científico da virada do século XIX para o XX, quando a eugenia se apresentava como instrumental científico de melhoria de uma “raça” ou de um “povo” – transformou os imigrantes europeus – sejam alemães, portugueses, espanhóis e italianos (capítulo 4) – nos supostos agentes civilizatórios e de embranquecimento através da miscigenação com o elemento nacional. Uma série de fatores, como a insubordinação política e social e a resistência ao trabalho sistemático nas fazendas antes executados pelos escravos, levaram à busca de alternativas fora da Europa. A ideia de branquidão, portanto, teve que ser modificada, pois era componente importante para a formação da “raça” brasileira. O significado de branco mudou radicalmente entre 1850 e 1950, como bem observado por Lesser nos capítulos 5 e 6 em que trata dos grupos de imigrantes do Oriente Médio, do Leste Europeu e da Ásia. Em suma, a transformação da branquidão em categoria cultural é uma das principais áreas de análise do livro, permeando todo o texto.
No Epílogo, Lesser aprofunda a análise, já iniciada nos capítulos 5 e 6, sobre a política imigratória durante a Era Vargas, e avança para o período do pós-Segunda Guerra Mundial, caracterizados, sobretudo, pelas cotas imigratórias, pelo forte nacionalismo e pela mudança no discurso sobre a imigração, definido pelo historiador como “abrasileiramento”. A imigração europeia ainda era vista como estratégica para a modernização, porém agora baseada no desenvolvimento industrial, não mais na agricultura. Dessa forma, instituiu-se uma “política preferencial” de portas abertas aos imigrantes que se enquadrassem na “composição étnica” do povo brasileiro, mas selecionando “mais convenientemente em suas origens europeias” e proibindo africanos e asiáticos. Enfim, apesar das transformações no significado de “branquidão” ao longo do tempo, a política de imigração da década de 1940 não se diferenciou tanto daquela do século anterior, quando o branqueamento já era componente fundamental. Certamente, a questão da imigração judaica para o Brasil no período de Vargas e sua suposta política imigratória antissemita vem à mente de quem lê o livro. A contribuição do autor para esse debate, porém, não ganha luz em suas páginas – o tema foi tratado em O Brasil e a questão judaica, já mencionado -, mas cabem aqui as observações feitas em uma entrevista ao site Café História (http://cafehistoria.ning.com/), em 12 de novembro de 2013.
Segundo Lesser, perguntas como “o governo Vargas é antissemita ou não” não funcionam. As questões fundamentais são: por que o Governo Vargas, ou melhor, os líderes do Governo Vargas, criaram uma ordem secreta proibindo a entrada de semitas no Brasil? Por que não usaram a palavra ‘judeus’ e por que, mesmo assim, nos anos seguintes, mais judeus acabaram entrando legalmente no país do que nos anteriores? Em sua concepção, todos os pesquisadores estão de acordo que o governo promulgou ou criou uma ordem secreta dizendo que no Brasil não poderiam entrar semitas. Há consenso também em relação ao número de pessoas que entraram. Diante disso, formula uma nova pergunta: por que isso aconteceu? Suas pesquisas mostraram, por exemplo, como instituições de refugiados mundiais estavam negociando abertamente com pessoas importantes do governo Vargas, tal como Osvaldo Aranha e o próprio Getúlio Vargas. Existiam claramente uma negociação, uma reposta e uma emissão de vistos. Evidências que levam o historiador estadunidense a afirmar que as pessoas acreditavam em certas ideias antissemitas, mas sem que essa crença configurasse um antissemitismo extremado a ponto de matar judeus. A discussão, pondera Lesser, é, de certa forma, sobre linguagem, porque seria impossível dizer que os líderes do Brasil daquela época não tiveram ideias preconceituosas, mas as ideias de Vargas, Francisco Campos, Oliveira Viana, eram mais ou menos comuns naquele período. O mais importante, no caso do Brasil, foi a quantidade de judeus que entraram, e não as ideias discursivas dos dirigentes, pois eram iguais em quase todos os países. A grande diferença é que no Brasil entraram muitos judeus – neste fato reside a discussão capital.
Para finalizar, seria interessante retomar a comparação entre duas das “nações de imigrantes” – Brasil e Estados Unidos – que, na verdade, está muito mais implícita no livro do que explicitada em seus argumentos. Para Jeffrey Lesser, a relação entre imigração e identidade nacional no Brasil é diferente daquela nos Estados Unidos. Estes, ao contrário dos brasileiros, são extremamente otimistas, e sua elite acha que o povo norte-americano é o melhor do mundo e que os imigrantes, ao chegarem, não têm alternativa senão tornarem-se grandes americanos. No Brasil, os imigrantes sempre foram considerados como agentes do aperfeiçoamento de uma nação imperfeita, conspurcada pela história do colonialismo português e pela escravidão africana. Vista pela ótica da longa duração, a imigração ajudou as elites brasileiras a imaginar um futuro melhor do que o presente e o passado. Absorção e miscigenação são, portanto, elementos-chave para o entendimento do processo. A brasilidade foi e continua sendo construída através da incorporação progressiva da multietnicidade, pois nas palavras do historiador, o Brasil, ao contrário do que muitos pensam, é muito mais que uma mescla de brancos, negros e índios.
Paulo Cesar Gonçalves – Departamento de História da Universidade Estadual de São Paulo – UNESP, Assis, SP, Brasil. E-mail: paulocg@assis.unesp.br
LESSER, Jeffrey. A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração. São Paulo: Editora Unesp, 2015. Resenha de: GONÇALVES, Paulo Cesar. Uma “Nação de Imigrantes”. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 221-225, maio/ago., 2016.
Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades – NUSSBAUM (C)
NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: M. Fontes, 2015. Resenha de: CESCON, Everaldo. Conjectura, Caxias do Sul, v. 21, n. 2, p. 461-466, maio/ago, 2016.
Ensinar a ser homens de negócios ou cidadãos responsáveis? Treinar para obter lucros ou educar à cultura do respeito e da igualdade? É preciso saber interpretar o mundo no qual se vive ou bastam técnicos e cientistas capazes de fazê-lo funcionar? Essas são algumas das questões enfrentadas por Nussbaum, filósofa liberal de tendência reformista e progressista com ascendência aristotélica.
A autora aborda a crise do ensino humanista que, vista em escala mundial, parece prejudicial para o futuro da democracia e das novas gerações. A corrida ao lucro no mercado mundial está dissolvendo a capacidade de pensar criticamente, de transcender os localismos e de enfrentar os problemas mundiais como “cidadãos do mundo”. Leia Mais
Organizar e proteger: trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX) – BATALHA; MAC CORD (TES)
BATALHA, Claudio; MAC CORD, Marcelo (Orgs.). Organizar e proteger: trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX). Campinas: Editora Unicamp, 2015, 280p. Resenha de: VELASQUES, Muza Clara Chaves. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.14, n.2, mai./ago. 2016.
O livro Organizar e proteger: trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX) oferece ao leitor alguns dos estudos históricos mais recentes sobre o tema. Organizado por representantes de duas gerações de historiadores do trabalho, Claudio Batalha e Marcelo Mac Cord, a publicação dá continuidade à coleção Várias Histórias, criada pelo Centro de Pesquisa em História Social da Cultura (Cecult) do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Desde a sua origem, o Cecult (1995) foi um dos principais espaços de renovação da história social, dinamizando as reflexões teóricas e da produção da história no uso das metodologias e fontes, com destaque para as investigações das experiências dos trabalhadores brasileiros nos estudos do século XIX e da primeira metade do século XX.
As formas de atuação dos trabalhadores nos seus locais de trabalho; o contato dos trabalhadores pobres com outros sujeitos históricos e as estratégias de resistência no embate entre as classes sociais; os espaços de sociabilidade, lazer e formas de expressão da vida cotidiana dos trabalhadores; e os laços de solidariedade, resistência e costumes são temas presentes nas dissertações e teses produzidas pelo Centro. Observa-se nestas produções a herança dos trabalhos que inauguraram, a partir de fins dos anos 1970, no Brasil um novo olhar da história social na interpretação dos temas da história da cultura e da história do trabalho, em um estreito diálogo com a produção do historiador inglês E. P. Thompson.1
Nos anos 1980, com o fim da ditadura civil-militar no país, assistimos à reestruturação das universidades públicas e, com elas, um novo fôlego na divulgação das pesquisas na área das ciências humanas. Nos núcleos acadêmicos de pesquisas históricas este movimento teve um importante papel através das revistas que ajudaram a impulsionar o diálogo entre os pesquisadores brasileiros e, consequentemente, fomentaram a produção historiográfica. No prolongamento deste movimento, como canal de divulgação das atuais pesquisas, a coleção Várias Histórias tem colaborado para a maior visibilidade do campo da história social, buscando divulgar uma produção que ajudou a desconstruir a hegemonia das explicações mais generalizantes e ortodoxas, principalmente nos estudos da escravidão, pós-abolição, trabalho escravo, trabalho livre e experiências operárias. O livro Organizar e proteger deve ser visto a partir deste contexto.
Com capítulos articulados com base nas análises de um objeto comum – as experiências associativas dos trabalhadores dos séculos XIX e XX –, o livro apresenta uma discussão pouco conhecida para o público que está fora dos círculos das pesquisas no campo da história. Batalha e Mac Cord, ao reunirem importantes estudos de especialistas da história social do trabalho na discussão das formas de organização de ajuda mútua dos trabalhadores ao longo do Império e primeiros anos da República brasileira, trouxeram questões essenciais a respeito da cultura associativa nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Maceió, Florianópolis, Campinas, além de algumas cidades do estado de Minas Gerais. Os autores dos nove capítulos da obra acabaram compondo um quadro que nos permite compreender a complexidade das associações mutualistas e das relações destas com os trabalhadores livres e escravos.
Partindo da proposição, explicitada na introdução do livro, de que as formas associativas que se multiplicaram na Europa, no decorrer do século XIX , são herdeiras das concepções iluministas do século XVIII, podemos observar nelas a defesa da vida pública e de ampliação da participação social, acompanhadas pelo sonho da meritocracia. Compreendem-se assim as bases do pensamento que conduziu a construção das diversas associações na Europa que reuniam “inteligências, virtudes e vontades” em seus grêmios literários e científicos, influenciando as experiências associativas nas colônias e ex-colônias europeias. A ideia de civilização e progresso somada aos valores e às práticas associativas terão grande peso na construção da sociedade liberal. Na sua origem europeia, o associativismo de início do século XIX refletia a fragmentação social vigente. As classes ‘subalternas’ não compunham os quadros de associados das organizações das elites letradas, e a burguesia proprietária não ficou de fora das experiências associativistas. Reuniam-se em entidades de classe que protegiam seus interesses econômicos e de atuação política. Trabalhadores também se organizaram em entidades de classe, pois entendiam que eram fundamentais para suas estratégias de sobrevivência.
Segundo os organizadores da obra, até o início dos anos 1980, os debates históricos, com raras exceções, trataram de ler o associativismo no Brasil como uma “espécie de pré-história da classe operária”. A partir de fins da mesma década, uma nova geração de historiadores debruçou-se nas pesquisas sobre o mutualismo no Brasil. Arquivos e fontes inéditos para o estudo das associações começaram a ser investigados, trazendo abordagens e interpretações renovadas sobre o associativismo, o que resultou em análises que puderam compreender as variadas formas que as práticas da ajuda mútua assumiram na nossa sociedade dos séculos XIX e XX.
Neste sentido, essas três últimas décadas foram suficientes para promover um acúmulo de conhecimento histórico sobre as formas de associativismo dos trabalhadores brasileiros e, em especial, sobre o mutualismo, como explicam os organizadores. Entendendo que as práticas do mutualismo no Brasil não são uma mera transposição dos modelos da experiência europeia, Batalha e Mac Cord chamam a atenção para as primeiras décadas do século XIX, onde encontramos a forma ‘clássica’ do associativismo no Brasil. Esta pode ser vista tanto na constituição das lojas maçônicas anteriores à independência, nas formas organizativas das elites letradas e proprietárias do Império dos anos 1830, como nas sociedades de trabalhadores artífices do mesmo período, que promoviam o auxílio mútuo e o aperfeiçoamento profissional para os seus membros.
Em um mergulho nas páginas de Organizar e proteger, fica claro para o leitor que a opção dos autores por um modelo de pesquisa que privilegia o estudo de caso permite que se chegue à principal chave de leitura para a compreensão do mutualismo como fenômeno histórico da sociedade brasileira. A chave encontra-se no olhar para as especificidades do objeto pesquisado. Os recortes de tempo e espaço nas análises revelam a dinâmica caleidoscópica das associações de ajuda mútua nas diferentes cidades estudadas.
Os autores do livro aprofundam a crítica às ‘verdades’ históricas consolidadas pela produção historiográfica anteriormente produzida, unindo-se aos avanços das pesquisas atuais sobre o mutualismo. Para Batalha e Mac Cord, os novos estudos opuseram-se às leituras que naturalizaram uma evolução das corporações de ofício como se estas necessariamente desembocassem no mutualismo e, na sequência, na formação dos sindicatos. Insistiram também na crítica à afirmação de que a construção da consciência de classe dos trabalhadores só era possível apenas a partir das organizações sindicais e partidos operários. Como importante contribuição do processo histórico da formação da classe trabalhadora no Brasil, o livro traz em seus capítulos a ampliação desse debate. As variações das conjunturas politico-sociais que envolveram as experiências mutuais impedem qualquer leitura cristalizada em busca de uma forma única do mutualismo no Brasil.
É possível compreender na leitura dos capítulos que as associações mutualistas foram criadas por diferentes grupos sociais. Algumas mutuais possuíam em seus quadros de sócios membros com identidades muito próximas, mas podia existir também em seu interior um distanciamento social muito grande entre seus membros. Esta contradição construía uma dinâmica de disputas e hierarquias no interior das associações, que também não foram por todo o tempo uma exclusividade dos trabalhadores. Ao oferecer serviços e benefícios, acabavam abrigando outros membros de origens distintas. No processo de surgimento das sociedades mutualistas ao longo da segunda metade do século XIX, as diversas experiências associativas de trabalhadores criaram identidades mais precisas no processo de manutenção de suas solidariedades e solução de conflitos.
Nas associações coloniais traduzidas por meio das irmandades leigas, pode-se ver a religião como um importante elo de união entre os trabalhadores. Junto a elas, os sentidos da solidariedade, da confiança na proteção mútua, assim como a ajuda material, mantinham hierarquias e obrigações que influenciaram as ações mutualistas na continuidade do século XIX. As experiências religiosas das irmandades mantiveram-se ativas nas formas de inclusão e exclusão social e racial existentes nas associações durante o Império, demonstrando que não só as corporações de ofício tiveram esse poder.
Outra nova questão é entendermos que a lógica associativa nem sempre esteve ancorada pelo primado da necessidade. Trabalhadores pobres sempre recorreram às mutuais, cooperativas ou sindicatos, onde podiam contar com as formas de assistência oferecidas, porém as condições de vida e trabalho podiam ser secundarizadas ou combinadas à priorização de elos que lhes conferiam identidades sociais. Logo, o mutualismo não pode ser lido apenas como a busca pela assistência na sua função previdenciária. Valores, ações festivas, rituais e outras práticas de construção de vínculos ainda menos estudadas, promovidas pelas sociedades de ajuda mútua, estavam presentes neste universo investigado pelos historiadores do livro.
Outra questão de destaque apresentada em alguns capítulos é como a condição social e a cor definiam a manutenção dos vínculos e hierarquias numa conjuntura de escravidão e fim da escravidão. Ser negro, em muitos casos, era fator de exclusão das associações. Porém, na luta contra a exclusão, observamos entidades de auxílio mútuo constituídas exclusivamente por homens pretos. Neste sentido, é grande a contribuição das pesquisas para o entendimento do complexo momento de convivência do trabalho escravo e livre para a história do trabalho. Em muitos casos, as sociedades mutualistas eram também um espaço de afirmação de identidade étnica e, muitas vezes, um indicador de status de seus sócios.
A não admissão de escravos ou libertos como sócios às vezes possuía o significado de estabelecer uma prática que procurava garantir ocupação para os sócios no mercado de trabalho e acentuar a diferenciação em relação ao trabalho escravo.
Ao resgatar as atas das reuniões e relatórios de atividades das mutuais, seus regimentos e jornais de época, as vozes dos trabalhadores puderam ser lidas e o entendimento sobre o processo de formação da classe operária ganhou profundidade. Se não existe uma simetria regional e temporal que defina esse processo uniformemente, as experiências reveladas pelas fontes apontam para relações cada vez mais ricas em suas complexidades. Fugindo dos esquemas deterministas vemos que as antigas irmandades religiosas, as sociedades mutualistas e os sindicatos operários compartilharam experiências. Não era raro no século XIX ver filiados que mantinham seus antigos laços com as irmandades religiosas e as associações de auxílio mútuo. E mais, alguns construíram elos com os sindicatos operários criados no século seguinte que incluíam vínculos com movimentos grevistas.
As investigações das experiências dos operários com as irmandades religiosas e profissionais de pretos no século XIX revelaram que o intercâmbio de práticas e ideias existiu entre eles em um nível que unia membros de diferentes cidades do país nos primeiros anos da República.
Batalha, que influenciou fortemente a geração de historiadores que compõem os capítulos do livro, afirma que não existe a possibilidade de compreensão de uma identidade da classe operária composta pelo trabalho regular e organizado sem entendermos as primeiras sociedades de artesãos que desenvolveram a ideia de valorização dos ofícios qualificados e da visão positiva de trabalho, que tratava de distinguir os trabalhadores dos pobres (sempre associados ao vício e ao ócio).
Tal discurso contribuía para um processo de construção de identidade de classe, reforçado pelas propostas dos cursos profissionalizantes desenvolvidos por algumas mutuais que herdaram esta prática das corporações de ofício para melhor qualificar os associados para o trabalho.
O papel do Estado também tem destaque nas discussões que os estudos apresentam no livro. As formas de controle que as autoridades públicas exerciam sobre as associações marcam não apenas o sentido da regulamentação do associativismo na questão da livre iniciativa, mas dizem respeito principalmente aos limites impostos pelo controle das formas de organização dos trabalhadores.
Ao colocar de lado a leitura da história política clássica, trazendo a ampliação da categoria ‘cultura’ como modo de vida (incluindo aí as experiências de sujeitos comuns nas relações cotidianas de vida e trabalho), a história do trabalho é capaz de ouvir os trabalhadores. Podemos afirmar que a leitura de Organizar e proteger oferece enorme contribuição para que isto ocorra. Mesmo partindo de concepções historiográficas nem sempre idênticas, os autores reforçam a necessidade de o pesquisador olhar para os sujeitos comuns da história. Essa atitude na pesquisa pode servir para os investigadores de diferentes áreas, principalmente para os estudiosos dos processos de trabalho da saúde.
Entender que as relações de trabalho atuais estão permeadas por preconceitos étnicos e que estes carregam formas históricas das experiências de organização dos trabalhadores, compreender que os laços de organização dos trabalhadores nem sempre são determinados pelo topo das esferas hierárquicas da administração ou da gestão do trabalho – ou ainda pela escala da formação educacional – nos aproximam da possibilidade de maior compreensão e construção do que é o trabalhador técnico da saúde na história e nos dias de hoje. Tais relações de trabalho e formas de organização dos trabalhadores transitam pelas demandas que atravessam costumes, tradições, valores, laços de solidariedade, trajetórias de vida e experiências coletivas. Não esquecendo que os trabalhadores, em suas lutas, a partir de suas necessidades e das identidades construídas, foram capazes de reinventar antigas formas de organização e autoproteção na luta por seus direitos.
Notas
1 The making of the English working, de E.P. Thompson, teve sua primeira edição em 1963 na Inglaterra, tornando-se a partir de então uma obra seminal para os estudos da história social do trabalho. A primeira edição no Brasil data de 1987 e foi lançada pela editora Paz e Terra em três volumes.
2Autores e seus respectivos capítulos: Mônica Martins (“A prática do auxílio mútuo nas corporações de ofícios no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX”); Aldrin A. S. Castellucci (“O associativismo mutualista na formação da classe operária em Salvador, 1832–1930”); David P. Lacerda (“Mutualismo, trabalho e política: a Seção Império do Conselho de Estado e a organização dos trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, 1860–1882”); Ronaldo P. de Jesus (“Associativismo entre imigrantes portugueses no Rio de Janeiro Imperial”); Osvaldo Maciel (“Mutualismo e identidade caixeiral: o caso da Sociedade Instrução e Amparo de Maceió, 1882–1884”); Marcelo Mac Cord (“Imperial Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais: mutualismo, cidadania e a reforma eleitoral de 1881 no Recife”); Claudia Maria Ribeiro Viscardi (“O ethos mutualista: valores, costumes e festividades”); Rafaela Leuchtenberger (“A influência das associações voluntárias de socorros mútuos dos trabalhadores na sociedade de Florianópolis, 1886–1931”); Paula Christina Bin Nomelini (“O mutualismo e seus diversos significados para os trabalhadores campineiros nas primeiras décadas do século XX”).
Muza Clara Chaves Velasques – Fundação Oswaldo Cruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: mcvelasques@fiocruz.br
[MLPDB]Educação básica: tragédia anunciada? – MARTINS; NEVES (TES)
MARTINS, André S.; NEVES, Lúcia M.V.(Orgs.). Educação básica: tragédia anunciada?. São Paulo: Xamã, 2015, 208p. Resenha de: MOTTA, Tarcísio. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.14, n.2, mai./ago. 2016.
Esta resenha foi elaborada a partir da transcrição editada da análise que realizei durante o lançamento do livro Educação básica: tragédia anunciada?, ocorrido no dia 30 de novembro de 2015, no auditório do Museu da República, Rio de Janeiro.
Meu papel aqui é pensar algumas questões a partir da leitura do livro, mas principalmente dizer que deve ser lido e divulgado, pois, assim como os outros trabalhos do Coletivo de Estudos de Política Educacional, é uma obra fundamental para nós que lutamos por uma sociedade mais justa, que queremos uma educação pública, democrática, laica, gratuita, socialmente referenciada e não sexista.
Antes de mais nada, quero apontar para duas questões fundamentais que o livro aborda e que tem a ver com o método e não exatamente com o conteúdo. A primeira questão é a tremenda aula sobre o que é o Estado. Geralmente, lemos análises que naturalizam o Estado como uma entidade burocrática que paira acima da sociedade, ou análises que tratam o Estado como mero instrumento de um determinado grupo ou classe social. O livro não faz nem uma coisa nem outra, porque consegue trabalhar com a complexidade do que é o Estado na atual fase do capitalismo no Brasil. Consegue perceber como está atravessado por interesses de classes e frações de classes que se organizam na sociedade civil, que inscrevem os seus interesses no aparelho do Estado e demonstra na prática, com aquilo que é o objeto de trabalho e de vida dos educadores, exatamente como esse processo acontece.
A segunda questão é que o livro é uma tremenda aula de história, sem abordar exatamente um período muito longo da história. Um dos grandes desafios dos historiadores – e falo do lugar de professor de história na educação básica – é conseguir mostrar para os alunos que onde parece haver só continuidade há descontinuidades, e onde parece haver descontinuidade há semelhanças que precisamos perceber. Acho brilhante a abordagem das duas conjunturas do capitalismo na contemporaneidade: o neoliberalismo ortodoxo dos anos 1980 e início dos anos 1990 e as mudanças que vieram conformar o que os autores denominam de neoliberalismo da terceira via. Em um período tão curto de tempo para nós que somos historiadores, o livro vai demonstrando como esse projeto vai se construindo com políticas específicas, com articulações, com a mudança no caráter e papel dos sujeitos políticos coletivos e como isso incide sobre as políticas educacionais enquanto política pública. Portanto, além do conteúdo sobre a educação propriamente dita, o livro é uma tremenda aula sobre o que é o Estado na sociedade brasileira e sobre a história recente do capitalismo com suas continuidades e descontinuidades, detalhes que são fundamentais para entender todo esse processo. É um livro cheio de vida, mesmo tratando de organismos, entidades e sujeitos políticos coletivos.
Estamos atualmente diante de um desmonte cada vez mais severo do projeto de educação proposto pela sociedade brasileira no contexto da redemocratização: a educação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada, cujo marco de discussão é o ano de 1986, conforme aponta o livro. Nessa última década, cada um desses termos vem sofrendo um duro ataque.
A educação pública está sob ataque por conta da miríade de formas de privatizações que vivemos hoje. Desde a venda e compra dos pacotes de tecnologias da informação até a entrega direta da administração escolar para OSs ou para a própria polícia militar, tal qual vem ocorrendo em Goiás. Uma mistura de privatização com militarização.
A proposta de uma educação democrática vem sendo apropriada e modificada sob a perspectiva de uma democratização consentida na gestão das escolas. Os governos atualmente conseguem tolerar a eleição dos diretores das escolas públicas, mas controlam essa eleição com os cursinhos preparatórios para esses mesmos diretores, tentam limitar a possibilidade da construção das próprias candidaturas, interferem diretamente nesse processo com a cooptação dos conselhos escola-comunidade. O ataque à gestão democrática não está mais no cancelamento ou na declaração de inconstitucionalidade das leis que obrigavam a eleição de diretores, mas justamente na aplicação de uma política meritocrática que obriga a que a escola tenha um padrão determinado para atingir metas determinadas, impedindo a discussão do sentido e objetivo da própria escola com a comunidade, o que implicaria associar a lógica da democracia com a lógica da autonomia.
A educação que defendemos, além de pública, gratuita e democrática, é uma educação de qualidade, um termo que também foi apropriado e, nesse sentido, o livro é ótimo, pois demonstra como essa apropriação reduziu a ideia de qualidade, reduziu o horizonte escolar a formação para o trabalho simples. Disputar o conceito de qualidade é fundamental para nós na atualidade.
A educação laica está sob o ataque de setores do fundamentalismo religioso que interferem nos planos municipais de educação pelo país afora. Interferem para retirar o que denominam de ideologia de gênero, visando abolir das escolas qualquer possibilidade de discutir questões que são tão caras a nós.
A ideia de uma educação socialmente referenciada está sob ataque quando estamos diante de um projeto ou de projetos que se multiplicam com o nome de escola sem partidos, ou escola sem ideologia, numa lógica de um pretenso conhecimento técnico e neutro, impossível de ser praticado nas escolas. Buscam com isso retirar das escolas a possibilidade de serem lugares de desvendamento do mundo.
O livro, de certa forma, recheia esse meio do caminho. Ele permite compreender historicamente a frase que diz que a crise da educação na verdade é um projeto, demonstrando e esclarecendo esse projeto de fabricação de um determinado modelo de educação que, ao fim e ao cabo, pretende manter o status quo, de uma educação para o consenso, de uma lógica do empreendedorismo, da responsabilidade social e o quanto isso é perverso. Muitos colegas educadores das escolas públicas não percebem a perversidade desse tipo de discurso.
O livro vai além ao dar nomes aos sujeitos coletivos que poderiam ter atuado para resistir a esse projeto, mas não o fizeram. Lembro aqui, por exemplo, o quanto lutamos no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe), em 2005 e 2007, para desfiliar o Sepe da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) exatamente porque percebíamos que estas entidades não estavam mais à altura dos desafios colocados pela conjuntura. Mas isso nos obrigava a buscar a unidade com outros setores para romper o isolamento nacional nas lutas em defesa da educação. Hoje percebemos o quanto faz falta algum tipo de instituição que, do ponto de vista dos educadores, articule um projeto alternativo de educação. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) é sempre parceiro em diversas lutas, mas, do ponto de vista da educação básica, faz muita falta um sujeito político coletivo que possa resistir a esse processo e construir um projeto contra-hegemônico que ultrapasse os muros da escola, que esteja nos sindicatos e que articule os educadores, que hoje estão no Paraná levando bombas, em São Paulo apoiando a ocupação de escolas ou no Rio de Janeiro ocupando as ruas resistindo bravamente.
Estou ansioso e esperançoso para ler a próxima parte da pesquisa, porque nós, professores da educação básica, vivemos as consequências deste processo. Fui professor da rede estadual e da rede municipal de Duque de Caxias nesse período, e um olhar atento sobre essa realidade pode ajudar a entender as relações sociais e políticas que causavam todas as angústias que nós vivemos naquele período. Tomara que a equipe consiga vencer as dificuldades de publicação para que essa segunda parte da análise sobre a educação básica possa ser veiculada.
Hoje, temos que conviver diretamente com alguns resultados dessa ‘tragédia anunciada’ discutida no livro, tais como a redução drástica do papel docente e do professor visto apenas como um mero entregador de conhecimentos prontos. No Rio de Janeiro, temos um exemplo que é muito característico desse projeto, que utiliza a tecnologia da informação para anunciar uma ferramenta que se anuncia como participativa, mas na prática diminui drasticamente a função docente: a “Educopédia”, uma plataforma ‘colaborativa’, onde os professores da rede municipal podem participar, oferecer e construir aulas, mas que na prática é utilizada para possibilitar a adoção de professores polivalentes para darem aulas de diversas matérias em sextos anos experimentais, iniciativa que vem se ampliando por toda a rede. Uma situação cruel e perversa. Alguns colegas ficaram felizes por produzir algo na Educopédia, mas a intencionalidade desse processo, além de vender mais tecnologia (que não é vista como apoio, mas como a lógica principal da educação), é retirar e reduzir o papel docente.
Outro elemento é a propaganda em torno da educação integral. Hoje todos defendem a educação integral. Na campanha de 2014 bastou que eu fizesse uma pequena crítica aos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), para que muitas pessoas passassem a criticar a minha posição sobre a educação pública. Eu estava só tentando dizer que, com a criação dos CIEPs houve o surgimento de duas redes; eu não estava criticando o projeto dos CIEPS ou a proposta de educação integral. Na verdade, isso demonstra que se criou um grande consenso que tem impedido que as pessoas se debrucem sobre os detalhes das experiências em que estão inseridas e sobre os limites da educação integral existente. Passar na linha vermelha e ver os escolões que estão sendo construídos na Maré, que serão chamados de educação integral, sem que nem mesmo os professores saibam como será feita essa educação integral, porque em nenhum momento o projeto foi discutido com aqueles que vão estar lá construindo aquela escola, é o ‘X’ da questão.
Para terminar, em um encontro com Roberto Leher, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele disse algo que coincide com o princípio e a lógica desse livro fantástico que está sendo lançado. Citando Marx, em “Crítica ao Programa de Gotha”, ele diz que, do ponto de vista marxista, nós devemos lutar sempre contra a ideia de que o Estado assuma o papel de educador. Ou seja, aqueles que lutam pela emancipação humana, que querem que a escola seja um espaço de ideias e desenvolvimento de valores emancipatórios, devem lutar para que o Estado dê condições para que a escola funcione, mas não podemos admitir que Estado tenha o papel de educador do povo, educador das massas, exatamente porque ele não é neutro e está atravessado pelas relações sociais de classe. E este livro mostra, de forma brilhante, como no Brasil, nesta primeira conjuntura do capitalismo neoliberal de terceira via, o Estado se propôs a ser educador a partir de uma perspectiva de classe.
Para lutar contra isso, nós educadores, precisamos apostar ainda mais na organização coletiva das escolas, na gestão radicalmente democrática, na autonomia dos profissionais da educação, na participação da comunidade escolar para definir as metas e obstáculos a serem ultrapassados, demandando do poder público as condições para que a educação de qualidade aconteça realmente. Não tenho dúvida de que a divulgação deste livro será muito importante para vencermos essa necessária e urgente luta.
Tarcísio Motta – Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: tarcisiomcarvalho@hotmail.com
[MLPDB]Pienso, luego creo: la teoría Makuna del mundo – CAYÓN (A-RAA)
CAYÓN, Luis Abraham. Pienso, luego creo: la teoría Makuna del mundo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2013. Resenha de: BARBOSA, María Alejandra Rosales. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n. 25, maio/ago., 2016.
(…) o fato de que o Pensamento seja uma forma de criar e gerar a realidade, colocando à humanidade em um lugar fundamental para a manutenção da vida no planeta, nño é uma ideia de pouco porte. Em um sentido, acredito que os Makuna estño propondo que a realidade que vemos é como uma projeção holográfica do Pensamento, o qual explicaria por que as propriedades fractais, as de diferenciação e simultaneidade, as de multiplicidade na unicidade, e as de constituição mutua, da sua teoria do mundo, atravessa, a constituição do espaço, o tempo e os seres.
(Cayón 2010, 392)
Este fascinante livro merecedor do Prêmio Nacional de Antropologia na Colômbia (2012) e publicado em idioma espanhol pela editora do Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) em 2013, é uma versño da Tese de Doutorado em Antropologia Social defendida na Universidade de Brasília (UnB) no ano de 2010. A partir de uma longa e intensa investigação etnográfica entre os índios Makuna ou ide masñ (gente de água), que habitam às margens do rio Comeña, Apaporis e Pirá-Paraná, ao sul da regiño do Vaupés, Luis Cayón estuda o complexo sistema de conhecimento xamânico deste grupo étnico tukano da Amazônia colombiana. Na tese de doutorado -versño original do livro-, o jovem antropólogo identificou e analisou uma ontologia nativa, com conceitos como ketioka (pensamento) e he (yurupari), ambos fundamentais para compreender e estabelecer premissas para uma teoria própria “do mundo Makuna”.
A célebre frase de Descartes “penso, logo existo” serve possivelmente de inspiração para o título da obra desse talentoso pesquisador colombiano. Descartes como sabemos, pensava que “o mundo” e a “realidade” estavam formados por duas entidades: a espiritual -portadora inclusive do pensamento- e a material -ator passivo da existência- Dessa maneira, segundo Descartes, “pensamos porque existimos”, e parafraseando Cayón, também “pensamos porque acreditamos”.
Apesar de ser uma tese de antropologia enquadrada nos estritos termos acadêmicos, o texto e a narrativa possuem uma estrutura e estilo de escrita bem peculiar, com prosas ora mais técnicas, ora mais livres; provavelmente por ser resultante de uma “etnografia compartilhada” e, como diria Roy Wagner (2010), decorrente de uma “antropologia reversa” que institui um tratamento mais “simétrico” ao sujeito e objeto da pesquisa, no sentido dado por Bruno Latour (1994). Essa combinação vem trazendo inúmeras contribuições e resultados positivos no que se refere às reinvindicações dos povos indígenas brasileiros, sendo inclusive uma ferramenta metodológica privilegiada, muitas das vezes apropriada pelos nativos para seu próprio benefício. Em outras palavras, discutir com os nativos os termos da investigação e, “hacerlos partícipes de la co-teorización” (Rappaport 2007). Portanto, segundo o próprio autor do livro, “el trabajo de campo, además de implicar el trabajo solicitado por los indígenas, se convierte en un lugar de pensamiento, reflexión y critica” (Cayón 2013, 56).
O livro Pienso, luego creo. La Teoria Makuna del Mundo apresenta-se com uma introdução e mais sete capítulos e um epílogo, oferecendo uma sequência intrigante, que desvela aos poucos o profundo pensamento Makuna. Na “Introdução”, Cayón contextualiza a sua pesquisa em uma regiño e com grupos amplamente estudados desde o processo de ocupação colonial, que inicia no século XVIII, dando maior ênfase na segunda metade do século XX. Descreve também, com emocionantes detalhes a sua trajetória de campo e a forma como os seus interesses pessoais e teóricos foram se transformando, alcançando o que ele mesmo define como uma verdadeira etnografía compartida.
No primeiro capítulo intitulado “El blanco en el mundo de los índios”, o autor explica o processo histórico do contato interétnico, dilucidando as consequências da política imperial e republicana para os grupos daquela regiño. No segundo capítulo “Unidades Cosmoproductoras” explica quem sño os makuna e como funciona a rede de conexño do sistema regional que fazem parte. Nesse capítulo, encontraremos a análise do parentesco e as unidades sociais dessa etnia, sem cair em excessos técnicos que dificultariam a leitura para um público mais leigo.
O terceiro capítulo, “La fuente de la vida”, começa com um trecho inicial do célebre escritor argentino Jorge Luís Borges, O Aleph (1998). A figura do “Aleph” em Borges e na etnografia realizada por Luis Cayón, constitui-se no ponto que congrega todo o universo, é uma imagem literária, relacionada com a multiplicidade do conhecimento e é justamente dessa forma que o autor nos adentra no pensamento Makuna, por meio das manifestações do Jurupari.
No quarto capítulo, “La maloca cosmo”, a narrativa é mais teórica e epistemológica, ao analisar o conceito nativo de ‘espaço’ como sendo a estrutura do universo. Espaços, territórios e lugares com nome, todos interconectados com ketioka (o pensamento). Já o quinto capítulo intitulado “Los componentes del mundo”, trata o conceito “tempo”, enfatizando o cuidado com os lugares sagrados e cumprimento do ciclo ritual, pois todos os processos de geração de vida sño indissociáveis do tempo e dos espaços.
O sexto capítulo “Personas de verdade”, desenvolve com intensidade e profundidade a noção de “pessoa”, tomando em conta o conceito nativo de doença, a composição interna dos seres humanos e principalmente, como algumas substâncias e objetos podem ser importantes na constituição relacional dos Makuna com o universo.
No último e talvez mais relevante capítulo chamado “Cosmoproducción” –termo criado pelo autor- Cayón explica a maneira como o “pensamento” Makuna entra em agenciamento, dando vitalidade e ânimo aos seres humanos e nño humanos. Entendido como resultado de um processo de fabricação e construção do universo. E finalmente, o livro conclui com uma narrativa etnográfica em forma de epílogo, destacando alguns aspectos relevantes da teoria Makuna do mundo e ilustrando com autorretrato do autor.
Segundo Luis Cayón (2010; 2013), os Makuna ou “Gente de água” contam na atualidade com uma população aproximada de 600 pessoas, habitando as selvas do Vaupés colombiano, a 150 km da fronteira brasileira. Pertencem à família linguística Tukano Oriental, que se localiza fundamentalmente, na regiño central do noroeste amazônico, cercado pelas bacias dos rios Vaupés e Apaporis, assim como no alto rio Negro e seus afluentes no Brasil. Interessante notar que, esse grupo compartilha esse amplo território com outras famílias linguísticas como: arawak, carib e makú-puinave, apresentando inclusive, grandes similitudes na sua organização social e vida ritual no geral.
Para essa “Gente de Água”, a realidade está construída por três estados ou dimensões de existência que sño simultâneos: o estado primordial a partir do qual se originaram todos os seres, a dimensño invisível em que os seres possuem diferentes formas e manifestações e, o estado físico ou material que tem a ver com a dimensño visível que normalmente percebemos (Cayón 2010). Sem dúvida que, essa forma de explicar o mundo e tudo o que há nele, está intimamente relacionado com o complexo sistema xamânico dessas sociedades, transcendendo todas as dimensões da vida cotidiana, sendo crucial o seu estudo.
A noção ketioka ou pensamento, grande destaque na ontologia Makuna, é definida por Cayón (2010; 2013) de forma polissêmica, é o conocimiento-saber-poder-hacer, conceito que apresenta nño apenas diversos sentidos, mas também agências. Ketioka é ao mesmo tempo tudo o que os Makunas fazem, dando sentido a sua existência: pensar, curar, falar bem, dançar e se divertir. Também pode ser entendido como elementos do universo e dos ornamentos ritualísticos. Em um sentido mais amplo, é entendido também como a força que impregna e comunica a todos os poderes xamânicos existentes no universo.
Desse modo, na teoria makuna do mundo, toda forma tangível e física é mais do que aparenta e, a experiência ordinária percebida pelos sentidos possui uma dimensño invisível e intangível, que eles chamam de He. Arhem et al. (2004, 55) explica”: “‘He’, es el mundo de espíritus poderosos y de las deidades ancestrales. En esta otra dimensión, las rocas y los ríos están vivos y las plantas y animales son personas. Conocido por el mito y controlado por el ritual, He contiene los poderes primordiales de la creación que gobierna, en última instancia, el presente”. Nesse sentido, os Makuna nño fazem distinção entre o visível e o invisível, pois ambos sño dimensões interconectadas, como se fossem uma única manifestação da “realidade”.
Hoje, os Makuna na Colômbia, lutam por manter sua forma de viver frente às diversas pressões da “sociedade nacional” colombiana, que constantemente ameaçam a integridade e direitos já adquiridos de seus territórios, seja com grandes empreendimentos extrativistas, ou com figuras político-administrativas e de proteção, estabelecidas pelo próprio Estado e sem consulta prévia. E como diz Cayón (2008): “un poco más de un siglo de contacto directo debilitó el pensamiento y la forma de vida de este grupo, pero no logró exterminarlos. (…) por ejemplo, la mitología y las curaciones chamánicas se han enriquecido por ello. No hay nada más pristino y estático en el pensamiento makuna”. É por isso que, nesse difícil contexto, cada vez mais faz-se necessário o diálogo entre a disciplina antropológica e as epistemologias nativas, na tentativa de proporcionar um melhor entendimento da situação atual e dos desafios futuros desses povos, na realização de como diz Ramos (2010), um verdadeiro diálogo intercultural e sem assimetrias.
Gostaria de encerrar esta resenha, com a seguinte afirmação: a maneira profunda como os ameríndios em geral, percebem, manejam e explicam o mundo, vai mais além do que o pensamento abstrato e concreto normalmente alcança, desafiando até o próprio pensamento antropológico. Podemos dizer que é um tipo de conhecimento sensorial e de relações de várias ordens, uma perspectiva sob a lógica de uma complexa epistemologia de conhecimento própria, que nesse caso, foram bem “traduzidas” na linguagem etnológica e etnográfica por Luis Abraham Cayón[1]. Uma escrita como ele mesmo chama, intimista e transformadora, uma escolha que muitos dos seus leitores saberemos agradecer sempre.
Comentarios
1 A Tese de Doutorado do antropólogo Luis Cayón, teve importante repercussño no mundo acadêmico e fora dele, contribuindo para que a Unesco em 2011 declarasse o xamanismo Makuna e de seus grupos vizinhos, como patrimônio intangível da humanidade.
Referências
Århem, Kaj, Luis Cayón, Gladys Angulo e Maximiliano García. 2004. Etnografía Makuna: tradiciones, relatos y saberes de la Gente de Agua.Bogotá: Acta Universitatis Gothenburgensis e Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). [ Links]
Borges, Jorge Luis. 1998. Obras Completas 1.Espanha: Editora Globo. [ Links]
Cayón, Luis. 2002. En las aguas de yurupari. Cosmologia y chamanismo makuna. Bogotá: Ediciones Uniandes. [ Links]
Cayón, Luis. 2008. “Idema, el caminho de agua. Espacio, chamanismo y persona entre los makuna”. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología 7: 141-173. [ Links]
Cayón, Luis. 2010. “Penso, logo crio. A teoria Makuna do mundo”. Tese doutoral, Universidade de Brasília, Brasil. [ Links]
Cayón, Luis. 2013. Pienso, luego creo. La teoría Makuna del mundo.Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. [ Links]
Latour, Bruno. 1994. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34. [ Links]
Ramos, Alcida Rita. “Revisitando a Etnologia à brasileira”. EmHorizontes das Ciências Sociais no Brasil. Antropologia, editado por Luis Fernando Dias Duarte, 25-49. Petrópolis: Vozes. [ Links]
Rappaport, Joanne. 2007. “Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración”.Revista Colombiana de Antropología 43:197-229. [ Links]
Wagner, Roy. 2010. A invenção da cultura. Sño Paulo: Cosac Naify. [ Links]
María Alejandra Rosales Barbosa – Universidade Federal de Roraima, Brasil. Doutoranda em Antropologia Social/Etnologia Indígena da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Docente no Instituto INSIKIRAN de Formação Superior Indígena. Dentre as últimas publicações destaca-se: “Fotoetnografia: uso da fotografia na pesquisa antopologica”. Em Anais do V Seminário de Integração de Práticas Docentes e II Colóquio Internacional de Práticas Pedagógicas e Integração. Boa Vista: Editora da UFRR, 2013. “Medicina popular em Curitiba (1899-1912): curandeirismo ou feitiçaria?” Textos e Debates 8: 129-151, 2005. malejab@gmail.com e alejandra.rosales@ufrr.br.
[IF]
Gallina de Angola. Iniciación e identidad en la cultura afro-brasileña – VOGEL; SILVA MELLO (A-RAA)
VOGEL, Arno; SILVA MELLO, Marco Antônio da; BARROS, José Flávio Pessoa de. Gallina de Angola. Iniciación e identidad en la cultura afro-brasileña. Buenos Aires: Editorial Antropofagia, 2015. Resenha de: CARBONELLI, Marcos Andrés. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.25, maio/ago., 2016.
Dentro del campo de estudios afrobrasileños, Gallina de Angola se sitúa como una de las etnografías más complejas y de mayor potencialidad teórica, a partir de su propuesta de articulación de descripciones minuciosas de los ceremoniales del candomblé y debates teóricos de la antropología y sociología contemporáneas. Resulta un aporte esencial a la hora de examinar el lugar de lo religioso en procesos de definición de identidades individuales y colectivas, y en la resolución de los conflictos que dirimen el estatus de la otredad y de la identidad comunitaria.
El prefacio, a cargo de Antonio Olindo, anticipa el núcleo de esta obra, centrado en la importancia del candomblé en la trama cultural brasilera, a partir de un desplazamiento intencional de las fronteras entre lo sagrado y lo profano, lo individual y lo colectivo. De allí que las reflexiones de Olindo recuperen al mercado como síntesis de la proximidad entre la cultura navegante lusitana y las prácticas africanas, ya que ambas enlazan el intercambio de cosas con la comunicación con lo divino.
En el prólogo, los autores presentan la metodología argumentativa que desplegarán en los capítulos siguientes. Cada descripción densa de los ritos que componen la iniciación en el candomblé (con sus ceremonias, participantes, objetos, fórmulas y cantos) es apuntalada por una explicación solventada en los aportes de los antecedentes más destacados de la materia, el andamiaje conceptual de los clásicos (Weber, Durkheim, Lévi-Strauss, Mauss, Turner, entre otros) y las narrativas de mitos propios de la cultura afro, y también de mitos ajenos a ésta. Todos estos materiales se disponen para responder a los enigmas que encierra cada ritual del candomblé, y se encuentran hilvanados por una hipótesis maestra: la Gallina de Angola constituye el símbolo nodal, el puente ineludible que permite sumergirse en los meandros culturales del litoral brasileño.
El primer capítulo, “El mercado”, abre la cronología del proceso de iniciación. El veterano y el iniciado realizan compras piadosas, que serán los insumos imprescindibles de sus ritos de iniciación.En la selección cuidadosa de elementos como animales, frutas y santos se ponen en juego marcas de pertenencia, códigos de nobleza y disputas por el honor. Así, en su búsqueda de vitalidad y de la reproducción del linaje, la esfera ritual sortea los muros del terreiro1 y hace del mercado un campo de acción, donde cada uno de ellos compite por ser el más prestigioso, el más decorado, aquel que consigue mayor cantidad de filhos-de-santo (adeptos al candomblé). Este capítulo también prefigura la Gallina de Angola como símbolo sacrificial, en cuanto ofrenda preferida de casi todas las divinidades del universo candomblé y protagonista ineludible de sus mitos fundantes.
La descripción y el análisis del Borí, primer rito de iniciación del candomblé, ocupan el segundo capítulo. Vogel, Da Silva Mello y Pessoa de Barros lo consideran el primer paso en el viaje cósmico de los iniciados, y tiene lugar en la casa del sacerdote jefe. Allí, el novicio se adentra en el misterio del contacto con los dioses, a partir de una ceremonia, intensa, casi privada, donde acontece el sacrificio de la Gallina de Angola y de un palomo, y la unción del iniciado con la sangre de éstos. La profundidad de estos signos se devela a la luz del mito del Alfarero distraído, que los autores recuperan para señalar la importancia en la cosmología candomblé de la obediencia de los hombres a los dioses. El sacrificio es símbolo de un mandato ancestral, del debido respeto que los hombres deben guardar por los dioses, y la síntesis de los movimientos que estructuran la vida: calma (palomo)-agitación (Gallina de Angola).
Si el Borí es una fiesta íntima, despojada, marcada por el sacrificio y la austeridad, la ceremonia del Orúko es su necesario reverso. Brillo, pompa, lujos y publicidad son los marcadores de una fiesta descrita en el tercer capítulo, donde se da a conocer el nombre que adquieren los iniciados ante los ojos de otros terreiros. En sentido estricto, la fiesta del Orúko (la más pública e importante del candomblé) reporta la presentación en sociedad de los filhos-de-santo. Es también la instancia donde cada casa-de-santo escenifica su poder, su capacidad de generar nuevos hijos y reproducir en el tiempo sus jerarquías. Para ilustrar su centralidad, los autores retoman la noción de rito de pasaje (acuñada por Van Gennep y luego perfeccionada por Turner), no para marcar un simple tránsito entre etapas de la vida, sino para realzar un momento de transformación ontológica: de seres inanimados, perdidos, débiles, los iniciados se transfiguran en sujetos revestidos de la presencia de lo transcendente a partir de la concesión de un nombre.
La teatralización de una secuencia de tres pasos (donde los novicios aparecen primero como seres desprotegidos y torpes para luego emerger como sujetos equipados de adornos, vestimentas finísimas y rostros radiantes) traza una analogía meridional entre los iniciados y la Gallina de Angola. Mitológicamente, ella también fue beneficiada por el beneplácito divino, y así, pasó de ser un animal de andar inseguro y de colores opacos a transformarse en un ave multicolor y dotada de una gracia sin igual.La ceremonia del Orúko, también es el momento en que se visibilizan las jerarquías y las normas de cada terreiro. Si en el Borí se acentúa la obediencia a los dioses, en el Orúko este precepto se refuerza con la debida disciplina de cada iniciado a su casa-de-santo. En este sentido, se entiende que “la Gallina de Angola no es sólo el símbolo-patrón del ritual. También es el patrono del sujeto del rito” (164), en la medida en que su fidelidad y su prestancia a los dioses imprimen una ética que cada nuevo filho de santo debe desplegar en relación con su casa de pertenencia.
El tercer capítulo, “Romería”, se destaca por ser el de mayor voltaje político y el que de manera más profunda se inserta en la cuestión de la identidad afrobrasileña, sus tensiones y estrategias de mantenimiento. Una pregunta estructura esta sección: ¿Por qué los iniciados, luego de los ritos descritos, deben cumplir con el precepto de asistir a una misa? Para responder dicho enigma, los autores revisan la noción de sincretismo, tomando distancia de un doble problema conceptual: dicha noción no resulta un atavismo propio de culturas primitivas ni un artilugio que los sectores dominados orquestan para birlar los controles de la hegemonía cultural. Tampoco se contentan con la imagen que la sociedad brasileña brinda de sí misma, según la cual la convivencia y el diálogo entre ritos católicos y candomblés reportan un modus vivendi marcado por la armonía y la conciliación.
Sus respuestas se estructuran en torno a la idea del sincretismo como artificio sociológico, como una hechura social donde los diferentes grupos conciertan o imponen acuerdos que invisibilizan (temporariamente) formas de poder. En este sentido, Vogel, Da Silva Mello y Pessoa de Barros establecen que los iniciados en el candomblé van a misa para venerar a sus propios orixás en la figura de los santos católicos, pero también para desafiar la manera católica de imponerse en la esfera pública, y sus intentos de clausurar la participación de otros credos en la identidad brasileña. La postura desafiante de los adeptos al candomblé también encierra la ponderación de la arrogancia como una virtud que deben cultivar y exhibir; entendida ésta no como petulancia y olvido de las normas, sino como orgullo comunitario que resulta el mejor antídoto frente a las coerciones, explícitas e implícitas, que imponen las instituciones dominantes de la sociedad brasileña. A la luz de esta controversia final, los autores ensayan una hipótesis sobre la configuración dialéctica de la identidad afrobrasileña, tensionada permanentemente entre los polos de la (pretendida) pureza y el mestizaje.
Este capítulo, al mismo tiempo que deja al descubierto toda la capacidad hermenéutica de los autores, también desnuda uno de sus principales escollos. En su énfasis por la descripción meticulosa de cada ritual, adoptan una perspectiva sincrónica que ofrece pocas herramientas para pensar las tensiones visitadas y las transformaciones de los rituales mismos, en otros escenarios y, fundamentalmente, en otros tiempos. En concreto, el déficit radica en marginar del análisis las condiciones políticas, culturales y hasta económicas que hacen posibles los diálogos y tensiones entre una forma religiosa hegemónica y otra desafiante. En otras palabras: ¿Qué procesos históricos, que exceden al campo religioso, son los que habilitan este tipo de enfrentamientos velados? ¿Qué circunstancias históricas los gestaron? ¿Qué elementos permitirían un cambio? Estos interrogantes estructurales permanecen sin respuesta en un pasaje clave del texto. Sólo se mencionan brevemente las diferencias existentes entre la cultura lusitana y su orientación mercante con el barroquismo español, pero esta alusión se torna insuficiente para alumbrar las complejidades de estas interacciones y sus posibilidades (o no) de reproducción.
A modo de recapitulación, y para reforzar argumentativamente la conjetura acerca de la centralidad simbólica de la Gallina de Angola, el último capítulo, “Mirabilia Meleagrides, o los creados y la secta”, retoma el análisis mitológico en la cultura candomblé, esta vez para marcar la presencia de la Gallina de Angola en la creación del mundo y su gravitación, no sólo en el momento de la iniciación sino en todo el itinerario biográfico de los hijos del candomblé. La Gallina de Angola comprende así la armadura moral e identitaria de esta adscripción religiosa. Cabe destacar que la edición de Antropofagia cuenta en sus páginas finales con un glosario detallado, el cual constituye una herramienta de lectura indispensable para todos aquellos no familiarizados con la terminología candomblé.
En suma, Gallina de Angola resulta un estudio nodal para la aproximación antropológica a las tensiones propias de la reproducción jerárquica del lazo social y la producción de identidades. Éste es su principal aporte, no sólo para los estudiosos del candomblé y cultos afros, sino también para el vasto campo de análisis cultural enfocado en rituales religiosos y seculares. Esta obra ilumina con minuciosidad el diálogo tenso entre los simbolismos de una forma religiosa minoritaria y la sociedad que la abriga. Invita a revisar contextualmente categorías sacralizadas de la antropología, (tales como sincretismo, rito de pasaje y liminaridad), para establecer su eficacia en un ejercicio permanente de interpretación, donde se privilegian los hallazgos etnográficos por encima dela aplicación irreflexiva de conceptos.
Sin pretender clausurar el campo de análisis, la obra de Vogel, Da Silva Mello y Pessoa de Barros constituye un punto de referencia por su capacidad para sintetizar debates antecedentes y resignificarlos mediantenuevas aproximaciones.
Comentarios
* La versión original en portugués es: Galinha D´Angola Iniciação e identidade na cultura afro-brasileira. 1993. Río de Janeiro: Pallas Editora.
1 Terreiro alude al espacio donde se celebra los cultos. Casa-de-santo es un sinónimo de terreiro.
Marcos Andrés Carbonelli – Universidad de Buenos Aires, CEIL CONICET, Argentina. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Investigador Asistente CONICET. Docente en la carrera de Ciencia Política y en la maestría en Investigación Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Docente regular en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina. Entre sus últimas publicaciones están: “Valores para mi País. Evangélicos en la esfera política argentina 2008-2011”. Dados 58 (1): 981-1015, 2015. Coautor de “Igualdad religiosa y reconocimiento estatal: instituciones y líderes evangélicos en los debates sobre la regulación de las actividades religiosas en Argentina (2002-2010)”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales225: 133-160, 2015. E-mail: m_a.carbonelli@yahoo.com.ar
[IF]
La motivación, el punto clave de la educación. Curso de cocina rápida – GARCÍA ANDRÉS (I-DCSGH)
GARCÍA ANDRÉS, J. La motivación, el punto clave de la educación. Curso de cocina rápida. Burgos: Universidad de Burgos, 2015. Resenha de: SÁNCHEZ AGUSTÍ, María. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.83, p.81-82, abr., 2016.
El doctor García Andrés, profesor de educación secundaria en Burgos y, también, en la universidad de esta ciudad castellana, ha escrito un sugerente libro sobre motivación escolar, publicado por el Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional de la universidad burgalesa.
Ya su tesis doctoral en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad de Valladolid –«Mecanismos motivadores en la enseñanza de la historia. Un modelo de aplicación con alumnos de ESO»– obtuvo una mención honorífica en la convocatoria del CIDE para premios a la investigación educativa y tesis doctorales defendidas en el año 2006. Y ese mismo año, además, obtenía el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa, en el área de humanidades y ciencias sociales, por una «investigación de archivo» (según la propia denominación del trabajo) titulada «Asesinato en la catedral, una propuesta didáctica» que el lector puede encontrar resumida en un artículo publicado por el autor en el número 63 de Íber (2010). Si en estos trabajos (y en otros de su amplio currículum) García Andrés se ha preocupado por la motivación en la enseñanza de la historia, en la obra que comentamos ésta se aborda con un carácter más general: la motivación en el aula, circunscrita a cualquier materia.
Se trata, por tanto, de un libro dirigido al profesorado escrito por un profesor interesado en cómo despertar la curiosidad de los alumnos por el qué. Pero ahora, además, como docente experimentado, el autor busca avivar también el interés de los futuros lectores por los planteamientos que expone. Y para ello, creativa (y acertadamente), compara la función de enseñar con la de un chef y el aula, con una cocina. Ciertamente, los ingredientes con los que cuenta un chef suelen los mismos, si bien su fraccionamiento, su preparación, sus mezclas, sus grados de coc-ción, sus salsas añadidas… varían según sean los comensales: primaria, secundaria, adultos, «dietas» individuales… A este respecto no nos resistimos a anotar las originales «raciones» que componen el libro: I. Abriendo el apetito (el aperitivo… el perejil de todas las salsas…), II. Los ingredientes básicos (la motivación inicial): materia prima y condimentos, III. Los ingredientes extra (la motivación continua); primeros platos, «las cosas claras»; segundos platos, «las cosas raras».
En sus «primeros platos», García Andrés aborda «los ingredientes que favorecen la forma de enseñar » (como por ejemplo «comer con los ojos»), mientras que, en los «segundos platos», señala «los ingredientes que favorecen la forma de aprender» (como por ejemplo «¿cueces o enriqueces?»).
Todo acaba con «la guinda del pastel», en el postre, y con la motivación final («la cuenta»), donde se busca aprender de forma autónoma.
Dentro de estos originales capítulos y atractivas denominaciones, nos encontramos con el tratamiento de los procesos de aprendizaje, las capacidades cognitivas, el esfuerzo, el fracaso escolar, la enseñanza activa, el aprendizaje comprensivo y, en definitiva, con aquello que es la preocupación fundamental de esta obra: la diferente naturaleza de las motivaciones (y desmotivaciones) de los alumnos y las diversas posibilidades para la acción didáctica del profesor.
Se trata pues de un libro sobre motivación válido para el alumnado de cualquier nivel que, por la presentación y variedad de las propuestas didácticas que contiene, a quien primero motivará es a los docentes, quienes, sin duda, se sentirán motivados por las citas, los ejemplos, las imágenes, los gráficos, las alusiones, etc., pero sobre todo por una nueva visión del tema, claramente novedosa, diferente a los tradicionales planteamientos científicos propios del mundo de las ciencias de la educación.
Y por si fuera poco, para terminar esta reseña, el autor utiliza un castellano muy correcto, muy ágil, de facilísima lectura. Todo ello presentado en una edición en donde es de destacar la riqueza gráfica y cromática de sus atractivas páginas.
María Sánchez Agustí – E-mail: almagosa@sdcs.uva.es
[IF]Geo-grafías: Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar – HOLLMAN; LOIS (I-DCSGH)
HOLLMAN, V.; LOIS, C. Geo-grafías: Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar. Buenos Aires: Paidós (Cuestiones de Educación), 2015. Resenha de: BORRÁS TERUZZI, Daniela. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.83, p.82-83, abr., 2016.
¿Cómo pensar en enseñar geografía en las aulas sin mapas, sin paisajes o sin fotografías? Parece un disparate. Su uso se ha vuelto tan obvio que así como no se cuestiona si se podría no usarlos, tampoco se debate en torno a cómo emplearlos. Esta última es la cuestión sobre la que reflexionan Hollman y Lois en su libro Geo-grafías. Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar. Ambas autoras sostienen que las imágenes son imprescindibles porque generan un tipo de conocimiento al que no es posible acceder por medio de otros lenguajes. Se habla incluso de las imágenes como una categoría de pensamiento, con un estatus similar al de las palabras. Entre ambos dispositivos –la imagen y la palabra–, las argumentaciones presentes en los libros de texto, pósteres, manuales y otros materiales didácticos empleados en las aulas sugieren ciertos itinerarios de aprendizaje que, según las autoras, es necesario poner en entredicho. Leia Mais
Dialogismo: teoria e(m) prática – BRAIT; MAGALHÃES (B-RED)
BRAIT, Beth; MAGALHÃES, Anderson Salvaterra (Orgs.). Dialogismo: teoria e(m) prática. São Paulo: Terracota, 2014. 322 p. Resenha de: WALL, Antony. Um Bakhtin bem jovem. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.11 n.1 São Paulo Jan./Apr. 2016.
Organizado por Beth Brait e Anderson Salvaterra Magalhães, a recente obra Dialogismo: teoria e(m) prática, recebida com muito entusiasmo, constitui uma vibrante e muito bem vinda adição aos estudos bakhtinianos internacionais. As dezesseis contribuições publicadas nesse livro bem editado, de 322 páginas (acompanhadas de um pequeno prefácio de Carlos Alberto Faraco e uma introdução de três páginas dos organizadores), exemplificam a presente jovialidade dos estudos bakhtinianos no Brasil, que se apresentam com uma verve interdisciplinar e uma energia intelectual revigoradora.
De várias formas, esta obra pode ser lida como uma excelente introdução à área – em constante crescimento – dos estudos bakhtinianos desenvolvidos no Brasil atualmente (em particular, em São Paulo). O alcance disciplinar dos ensaios é amplo, compreendendo as seguintes áreas: Análise do discurso, Estudos de textos e imagens, Estudos de tradução, Estudos de comunicação e mídia, Estudos teatrais, Educação, Estudos literários, História da arte. Em sua maioria, esses trabalhos estão embasados em uma premissa teórica interessante, ou seja, a de que, para se revitalizar a noção bakhtiniana de dialogismo, seria necessário fazer conhecer os diálogos implícitos entre autores de ensaios acadêmicos que trabalham em vários campos das disciplinas das Humanidades e das Ciências Sociais e seus objetos de estudo discursivamente constituídos. O dialogismo, discutido de forma tão convincente na introdução, é, por conseguinte, melhor entendido como sendo o criador de conexões e inter-relações humanas. Segundo os editores afirmam nas páginas iniciais, engajamo-nos “em relações graças à linguagem, por meio da linguagem” (p.14). Propõe-se, portanto, uma metodologia dialógica para ser seguida em disciplinas voltadas à Arte, segundo a qual não é mais possível considerar “objetos” de estudo sem vida, compreendidos de fora: o ponto de vista deve ser o de perguntas e respostas múltiplas que emanam de ambos os lados da díade pesquisador-pesquisa; ou seja, não parte somente da ótica do acadêmico que investiga e escreve, mas da perspectiva do material vivo com o qual ele se engaja. Dessa forma, o pesquisador é obrigado a participar da interação intervocal e interpessoal, em outras palavras em diálogo (p.14).
Logo nas primeiras páginas, o jogo com palavras proposto pelo subtítulo – teoria e(m) prática – na sobrecapa, permite que seja sentida sua influência semântica sobre a forma como a maioria dos capítulos é concebida e sobre os “objetos de estudo” a serem investigados. De forma significativa, o teórico Bakhtin e o seu Círculo são muito mais do que uma mera fachada nesses ensaios, são muito mais do que fontes citadas perifericamente. De forma notável, os autores russos estão virtualmente presentes em cada uma das contribuições publicadas e, no seu interior, fundamentam as discussões sobre o cerne dos problemas desenvolvidos. Todos os autores mostram um acentuado conhecimento dos recentes estudos sobre Bakhtin e o seu Círculo, publicados no mundo lusófono, mas também – e de forma muito impressionante – no mundo acadêmico anglo-americano, na Rússia e na França. Virtualmente, todos os importantes conceitos bakhtinianos são trazidos à tona em pelo menos um, se não em mais de um, dos ensaios aqui publicados. Além do “dialogismo”, conforme anunciado no título da obra, há uma discussão bastante produtiva sobre responsabilidade, gênero, discurso, ideologia, o grande tempo, cronotopo, linguagem escrita e oral. Surpreendentemente, se o tema do carnaval é, talvez, a noção bakhtiniana menos discutida nos ensaios, o livro em si é disposto como uma suntuosa festa rabelaisiana de ideias na qual Bakhtin e seu pensamento são constantemente incentivados, questionados, revitalizados, reinstrumentalizados, muitas vezes virados de cabeça para baixo e, dessa forma, produtivamente colocados em movimento.
Em mais da metade dos ensaios, a abordagem especial aos estudos bakhtinianos meticulosamente desenvolvida ao longo da última década por Beth Brait, uma teórica bakhtiniana prolífica, apresenta-se na forma daquilo que ela chama de discursos “verbo-visuais”. O pensamento inovador de Brait no campo dos estudos culturais desenvolve-se na análise de objetos multiconstituídos e híbridos em que é impossível a separação de suas dimensões inerentemente icônicas e linguísticas. Infelizmente, o seu trabalho ainda não é tão conhecido no mundo anglófono1. De maneira ampla, a presente obra Dialogismo: teoria e(m) prática é uma importante homenagem à natureza produtiva da obra de Brait, tendo em vista que mais da metade dos autores dos ensaios é formada por colaboradores atuais e/ou por ex-alunos de doutorado ou pesquisadores em pós-doutorados que têm atuado, às vezes por longos períodos de tempo, sob sua liderança notoriamente exitosa. Para ser franco, Beth Brait representa um dos pensadores (se não ‘o’) mais importantes que surgiram nos últimos quinze anos no Brasil, país onde há, no presente, uma boa dúzia ou mais de canteiros intelectuais de estudos bakhtinianos.
O livro, no entanto, não deve ser considerado uma mera coletânea clássica de ensaios que reconhece o lugar de proeminência de uma mestra na academia. De fato, as várias propostas teóricas desta coletânea provêm de um espaço fora do seu campo de trabalho intelectual, que, ao longo dos anos, foi por ela construído na Universidade de São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ademais, esta coletânea de ensaios não está, de forma alguma, limitada a simples variantes dos princípios de análise de discursos “verbo-visuais” que ela desenvolveu. No interior da obra, muitas aventuras intelectuais em outras esferas são propostas também. O livro é dividido em três partes, sendo a seção mais substanciosa das três (140 páginas de extensão) a que é intitulada Dialogismo na vida. Ela contém sete ensaios, incluindo aqueles assinados pelos organizadores da obra. No primeiro ensaio dessa seção, escrito por Anderson Salvaterra Magalhães, uma discussão teórica densa sobre a história da imprensa é acompanhada por um estudo provocador de uma série de reportagens de jornal sobre o movimento neonazista brasileiro, pleno do uso inventivo da distinção feita por Bakhtin entre pequeno e grande tempo. Com Bruna Lopes-Dugnani, Beth Brait co-assina um artigo em que se debruçam sobre as conexões inextricáveis entre corpos, discurso verbal e imagem a partir de cartazes, escritos à mão ou impressos, que manifestantes levaram às ruas nas grandes manifestações em junho de 2013, que ficaram conhecidas, por vezes, como o movimento “V-de vinagre”. Aqui, constelações polimórficas do “nós” nos enunciados dos manifestantes são analisadas com o objetivo de revelar as forças heterogêneas de interlocução que se desvelam simultaneamente nas várias mídias expressivas, ao mesmo tempo que evidenciam o espaço ou espaços em que tais enunciados são produzidos e recebidos. Outras contribuições estudam a complexa interpenetração entre discursos jurídicos e jornalísticos no que tange a um julgamento de homicídio que foi bastante noticiado (Maria Helena Cruz Pistori) ou a relações intrínsecas entre cor, layout e fonte na publicação de uma série de capas de revistas em que aparecem imagens do ex-presidente Lula (Miriam Bauab Puzzo).
Esta parte central do livro é separada por duas seções menores (aproximadamente 70 páginas de extensão cada) – uma antes, outra depois – que são intituladas, respectivamente, Dialogismo: produção de conhecimento à brasileira e Dialogismo na arte. Enquanto na primeira parte encontramos contribuições sobre os gêneros do discurso, jornalismo e, especialmente, um artigo esclarecedor sobre os problemas para traduzir Bakhtin para a língua portuguesa (Sheila Vieira de Camargo Grillo e Ekaterina Vólkova Américo), na última seção do livro, encontram-se análises inteiramente bakhtinianas em áreas de estudo como a museografia, onde palavras e imagens entrelaçadas têm um papel proeminente na recente exibição sobre o escritor Jorge Amado (Adriana Pucci Penteada de Faria e Silva), as ilustrações da fábula A cigarra e as formigas de Esopo (Elaine Hernandez de Souza), os discursos indiretos livres em Vidas secas de Graciliano Ramos (Maria Celina Novaes Marinho), ou, finalmente, a presença subversivamente oculta da voz de uma mãe e uma discussão instrutiva sobre o uso de nomes próprios no romance amplamente aclamado de Guimarães Rosa Grande sertão: veredas (Sandra Mara Moraes Lima).
Os variados objetos de estudo propostos e discutidos nos ensaios desta coleção criam um caminho recompensador para o leitor que deseja uma visão detalhada dos direcionamentos contemporâneos dos estudos do pensador russo nesse centro cultural incontestável dos Estudos Bakhtinianos no mundo, isto é, o Brasil. A jovialidade dos articulistas não está entre as características menos atrativas do livro (apesar de se desejar que, ao serem feitas citações às obras do Bakhtin e do Círculo, as edições usadas fossem as mesmas em todos os capítulos, evitando, assim, que cada autor usasse edições próprias). Dado o agrupamento dos ensaios ter sido, de certa forma, inesperado, objetos de estudo semelhantes foram encontrados em várias contribuições em diferentes partes do livro. O desfecho positivo dessa escolha editorial é que os objetos de estudo, em sua dinâmica, não ficaram compartimentados em seções específicas do livro, tendo em vista que, simultaneamente, vários pontos de vista metodológicos e teóricos estão justapostos de forma produtiva, ou seja, de forma quase dialógica na sua disposição paratática, permitindo que o leitor, ao ir de um ensaio ao outro, perceba a insensatez que seria restringir a sua curiosidade para uma única parte do livro ou para um único “objeto” de estudo.
Por fim, o livro Dialogismo: teoria e(m) prática não é apenas uma homenagem muito justa ao trabalho de Beth Brait, que deve ser colocado no centro dos estudos bakhtinianos brasileiros. A obra também fornece um testemunho bastante convincente da alta qualidade das pesquisas feitas por muitos jovens acadêmicos em São Paulo e em outras partes do Brasil na atualidade.
Traduzido por Orison Marden Bandeira de Melo Júnior – junori36@uol.com.br
1Essa lacuna por parte de pesquisadores que não leem português é lamentável. Alguns dos trabalhos vigorosos de Brait sobre (e com) Bakhtin podem ser encontrados na seguinte lista de publicações, que está longe de ser exaustiva: (1) Ironia em perspectiva polifônica [Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1996/2008]; (2) Bakhtin, dialogismo e construção do sentido [Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1997/2013]; (3) Estudos enunciativos no Brasil: histórias e perspectivas [Campinas, SP: Pontes/FAPESP, 2001]; (4) Bakhtin: conceitos-chave [São Paulo: Editora Contexto, 2005]; (5) Bakhtin: outros conceitos-chave [São Paulo, Editora Contexto, 2006]; (6) Bakhtin: dialogismo e polifonia [São Paulo: Editora Contexto, 2009]; (7) Bakhtin e o Círculo [São Paulo: Editora Contexto, 2009]; (8) Literatura e outras linguagens [São Paulo: Editora Contexto, 2010]. Ela é, claro, a fundadora e editora-chefe do periódico eletrônico Bakhtiniana.
Anthony Wall – University of Calgary, Calgary, Alberta, Canadá; awall@ucalgary.ca.
Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics – ALMOG
ALMOG, Joseph. Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics. [?]:Oxford University Press, 2014. Resenha de MARTONE, Filipe. Manuscrito, Campinas, v.39 n.2 Apr./June 2016.
The work of Ruth Barcan Marcus, Saul Kripke, Keith Donnellan, David Kaplan and others started a revolution in philosophy of language. The so-called direct reference theory, or simply referentialism, dealt a powerful blow to the then prevailing Fregean spirit of theories of meaning and reference, and it deeply affected the way we think about these topics. But saying what the core ideas of direct reference really are is not as easy as one might think. Direct reference theorists often disagree about what seems to be very basic issues: Are there singular propositions, and do we need them? If descriptivism is false, what are the mechanisms of reference determination? What are the consequences (if any) of holding a referentialist semantics to our views on cognition? Should referentialists be worried about Frege’s Puzzle? In a time in which debates in philosophy of language can get highly sophisticated, it is easy to get lost amidst technical arguments and overlook these fundamental questions. Joseph Almog‘s new book, Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics, is an attempt to look past the technicalities of this “quantum mechanics of words” (p. xvii) and to engage with those questions directly.
Almog has three aims in this essay. First, he wants to understand what direct reference is really about. To do so, he dissects the versions of direct reference offered by three of its founding fathers – Kripke, Kaplan and Donnellan – and examines their foundations and their consequences for philosophy of mind and metaphysics. Second, he tries to show that two puzzles that supposedly threaten direct reference – the puzzle of empty names and Frege’s Puzzle – are not puzzles at all. Third, and finally, he introduces his project of unifying the semantics of all subject-phrases under the referentialist framework: instead of modelling paradigmatically referential terms such as proper names after denoting phrases (e.g. “every philosopher” or “most philosophers”), as Montague and his followers did, Almog wants to treat denoting phrases as genuinely referential terms. The challenge of integrating referential semantics into global semantics is what he called the Russell-Partee-Kaplan challenge. But Referential Mechanics only sets up the stage for a full answer to this challenge. A detailed account will be given in a companion piece, not yet published.
The book is divided into four chapters. The first three deal with direct reference as conceived by Kripke, Kaplan and Donnellan, and the fourth wrestles with the puzzles of empty names and cognitive significance (a.k.a. Frege’s Puzzle) and begins to work on an answer to the Russell-Partee-Kaplan challenge. In what follows I will offer a brief overview of the chapters, pointing out some of their virtues as well as their shortcomings.
In the first chapter, Almog offers an interesting reading of Kripke’s Naming and Necessity (henceforth NN) and introduces some of the key notions of his essay. He claims that there is a fundamental tension between two very different conceptions of semantics in NN. On the one hand, there is what he calls the designation model theory for natural language. This model is what we get from Lecture I. On this model, direct reference is cashed out in terms of rigid designation. On the other hand, there is the historical referential semantics, found mainly in Lecture III. The distinction between these two conceptions of semantics “touches the very fulcrum” of Almog’s essay (p. 15). According to him, the designation model suffers from a fundamental defect; it completely misconceives what semantics truly is (or should be): a descriptively correct account of the actual workings of a natural language, and not an adequate but mere representation of such workings (p. 16).
The main problem with the designation model, Almog argues, is the following. In this model, expressions such as names, definite descriptions, sentences and predicates are all unified under the fundamental semantic relation of designation. This model of semantics, therefore, sees no categorical difference between proper names and definite descriptions. In other terms, even though names are rigid designators whereas descriptions are not, both are connected to their designata via the same kind of semantic relation. However, designation is a “stipulated relation designed for a language with uninterpreted symbols: individual constants, variables, predicates (…)” (p. 15). Thus, designation is not, Almog claims, the real semantic relation that obtains in an actual existing language like English. Taking it to be so creates an insolvable puzzle, namely, the puzzle of reference determination: descriptions pick out their designata via satisfaction or fit; but how do names pick out their designata if they are not disguised descriptions, as Kripke so convincingly argued? How does the designation relation obtain for proper names? This model of semantics has no answer to give.
The historical referential semantics, on the other hand, gets it right. There is no puzzle of reference determination to be solved. The names we use are already loaded with their referents. We, consumers of language, do not have to “reach out” to them; they come to us through their names via causal/communication chains. The puzzle of reference determination arises only we if take designation to be the fundamental semantic relation obtaining in actual languages. Once we see that it is not, the puzzle disappears. Almog calls this shift from an “inside-out” (designation) to an “outside-in” (historical referential) mechanism of reference the “flow diagram reversal”: we refer with a name not because we designate an object, but because the object itself is already connected to the name we are using. This “flow diagram reversal”, he claims, is present in the works of Kripke, Kaplan and Donnellan, and it is the key idea of direct reference.
Almog’s notions of “outside-in” mechanisms of reference and of “flow diagram reversal” are quite interesting, and they neatly capture some of the main lessons of direct reference. However, he makes some rather cryptic remarks about perceiving an object through its name. More precisely, he claims that the reversal account of reference also extends “the classically qualitatively understood perception” (p. 29), meaning that “we perceive (remote) objects by means of loaded names” (p. 30). He offers some details of this view in footnote 19, but they are not really illuminating. What he seems to be suggesting is that public names put us in some sort of “acquaintance” relation with their bearers, allowing us to cognize them through language. This is a respectable idea which has many advocates nowadays. Yet, to say that this kind of relation extends perception per se seems to stretch the notion of perception beyond plausibility.
The second chapter is devoted to Kaplan’s account of direct reference in terms of singular propositions. For Kaplan, for a term to be directly referential is for it to make a special kind of contribution – its referent – to the proposition expressed by the sentence that contains it. This kind of proposition is called ‘singular proposition’. Almog stresses how distinct Kaplan’s approach to direct reference is when compared to Kripke’s designation model. That model makes no use of propositions; its key semantic unit is the pre-sentential subject (the designator). Kaplan’s direct reference semantics, on the other hand, takes propositions as its key semantic unit, and as the objects of assertion and thought. Almog argues that this leads to several problems, and these problems show that singular propositions fail to capture what direct reference is really about.
One interesting aspect of this chapter is that it tries to distinguish between what are legitimate criticisms of singular propositions and what are not. Almog vehemently dismisses the claims that the doctrine of singular propositions (and direct reference in general) is committed to a particular view about modal haecceitism and about the informativeness of identity statements (i.e. Frege’s Puzzle). Singular propositions and direct reference, he argues, are merely semantic notions. As he puts it: “There are no entailments from direct reference theory proper regarding either modal or attitudinal questions” (p. 48; italics in the original). What are legitimate criticisms of singular propositions, on the other hand, are the well-known objections of negative existentials with empty names and of reference to past objects.
What is a bit strange in this chapter is Almog’s claim that the failure of singular propositions to correctly classify apparently contradictory cognizers like Kripke’s Pierre and to capture phenomena of cognitive dynamics adequately “leads to the breakdown of the apparatus of proposition and content” (p. 56). If singular propositions are neutral regarding “attitudinal questions”, as he says, why are arguments from cognitive dynamics and propositional attitudes wielded against them? Why is Frege’s Puzzle not a problem to singular propositions while Kripke’s Pierre is? In fact, Kripke’s Pierre seems to be an instance of Frege’s Puzzle, so it is not at all clear why singular propositions are threatened by the first and not by the latter. Almog is also quite vague when it comes to his alternative to singular propositions. He talks of “object-loaded names” coming to us and of sentences with empty names being true precisely “because there is no proposition” corresponding to them. These remarks are somewhat obscure. He says, for instance, that “On this idea of the re-ferent coming to us late users, there is no mystery about why you and I can and do refer now to the long gone Aristotle by using now the (Aristotle-loaded) name ‘Aristotle’, just as we see a long dead star by being impacted now by light from it” (p. 52). There is plenty of mystery there to me, however. If the object no longer exists, how come it is loaded into the name? How do we “refer back” to Aristotle and cognize him, as Almog often says, if Aristotle does not exist anymore? Almog probably means that there is a causal connection between Aristotle, “Aristotle” and us, but that is not a complete explanation of what sort of thing we are in fact cognizing and referring to when using a name. Besides, it is also not obvious why his objections to singular propositions do not apply to his own view, since objects themselves play a crucial role in his semantics, as they do in Kaplan’s account.
The third chapter is by far the most compelling part of Almog’s book. It discusses Donnellan’s idea of referential uses of expressions and its connection to having an object in mind. Almog believes that these two ideas are the key ideas not only of direct reference, but of semantics in general. In discussing them he hopes to show that semantics should be conceived not as a branch of model theory (as Montague held), but as branch of cognitive psychology (p. 63).
Almog claims that Donnellan’s insight about having an object in mind in fact explains direct reference: direct reference is direct not because of conventional rules of language, but because it is linked to a certain cognitive mechanism of grasping worldly objects. This mechanism is captured by the “flow diagram reversal”: we do not have to reach out to those worldly objects; our minds, by natural processes, enter in relations with those objects, and they “make their way” into our cognition. It is not necessary to select which object we are thinking of and then look for it in the world. In fact, Almog argues that it is a mistake to understand Donnellan’s idea of having an object in mind as internally selecting some individual or other; the object we have in mind is determined by causal/historical processes. It is because we have objects in mind in this way that we can directly refer to it.
Almog argues that the process of referential use is divided into three different stages. First, there is the fixing. My mind enters in some relation with an object by an outside-in mechanism, which makes that precise object the object of my cognition. Second, there is the characterization. After the object is determined by this process, I can predicate things of it. Almog stresses that, because the object is already fixed, it does not matter if I apply false predicates; my thought is about it even in cases of gross mischaracterization. This is precisely what happens in Donnellan’s cases. Third, there is the communication. After (1) the object is fixed and (2) I form some beliefs about it, I can (3) go on to express these beliefs through language. To do that, I use whatever expression I think will help to direct the audience’s attention to the object I am already thinking of. As Almog puts it: “I am trying to co-focus you, make you have in mind what I already have in mind” (p. 69). This is why, for him, referential uses are not in any way restricted to definite descriptions. Any kind of singular terms, and even expressions like “someone”, can be used referentially: these terms do not determine the reference; they are used merely as aids to communication.
With this Almog hopes to show why Kripke’s claim that Donnellan’s cases are cases of speaker reference and not of semantic reference is mistaken. He believes that this distinction is preposterous; they are all as semantic as it gets. However, I do not see why this conclusion follows from his arguments. His proposal might in fact account for referential uses, but it is not clear why it also entails that there is no such thing as the semantic referent of an expression in a particular use. Even if our cognition is hooked to objects by non-conventional processes (which is a very plausible idea), it does not follow that this sort of having in mind completely overrides the conventional reference of the expressions used. In other words, I do not see why it is incompatible to hold this “flow diagram reversal” for thought and the speaker/semantic reference distinction at the same time. In short, more arguments are required to show why Donnellan’s “cognitive mechanics” entails the collapse of the speaker/semantic referent distinction.
In sum, Almog seems to be proposing some sort of externalist-subjectivist semantics in this chapter. It is externalist because external objects themselves make their way into our cognition, and the meanings of the expressions we use (if we are allowed to talk about meanings in Almog’s framework) are external objects and properties. Yet, it is subjectivist because what matters for giving the content (again, if such talk is plausible here) of the expressions we use are not community-wide conventions, but individual speakers in particular occasions. This is not, of course, to deny the role of conventions, but what ultimately determines the content/referents of our expressions is what the speakers have in mind when they use these expressions. This combination of two apparently opposed views about language is certainly interesting and it deserves further discussion.
The fourth and last chapter is concerned with Frege’s Puzzle and the puzzle of empty names, and it introduces the discussion of the Russell-Partee-Kaplan challenge. Almog argues that, if we take Donnellan’s approach seriously, both puzzles disappear. In fact, they turn out to be uninteresting consequences of this model of semantics (p. 91). The first observation he makes is that no speaker is omniscient regarding the semantic history of all names she uses. If this is right, informative identity statements are to be expected precisely because knowing that two names lead back to the same object can only be known a posteriori. Informativeness, Almog claims, is a relational feature, and it arises from the interaction between the information a speaker has in the head and the relevant sentence. If this in-the-head information is sufficient to settle the truth of the sentence, it will be trivial; if not, it will be informative. Second, the puzzle of empty names disappears because what makes sentences containing such names true are not object-involving propositions; what makes them true is the history of the name that leads back to failed baptisms.
Almog puts the Russell-Partee-Kaplan challenge as follows: “Can we or can’t we generalize the reference-only semantics to all nominals?” (p. 98). The problem arises from a dilemma about the visible grammatical form of subject-predicate sentences and their semantic forms. Subject-predicate sentences apparently work in the same way: they introduce objects for subsequent predication. Some terms, like proper names and indexicals, seem to fit well in this intuitive definition. Their visible grammar is a reliable guide to their semantic (or logical) forms. The problem is that some subject-predicate sentences, like “most philosophers are wise” or “some linguists sing”, do not seem to refer to any object. How should we deal with this? Russell, as Almog says, held that not all nominals function semantically in the same way: some refer, some denote. Montague, on the other hand, wanted to keep the link between visible grammar and semantics, but to do that he opted to treat referential terms as he treated other denoting nominals: visible grammar reflects semantic form insofar as all subject terms denote and not refer. Almog, however, wants to keep the semantics of all nominals referential and the visible grammar intact. So, he needs to explain what sort of reference expressions like “most philosophers” and “many linguists” have and how we should treat subject-predicate sentences containing them.
Almog claims that all nominals can be used either referentially or attributively. In the first case, they merely communicate an already made reference to an object, i.e., they externalize what I have in mind; in the second, they originate reference. This is a genuine semantic “ambiguity” of nominals, and not a mere pragmatic phenomenon. Both uses, however, necessarily involve reference to some worldly entity. As for their reference, Almog claims that nominals like “every musician” and “two philosophers” pick out kinds or “pluralities” in the world (p. 111). In this way, they do not denote, but genuinely refer to these entities. He closes the chapter by considering some challenges and further objectives (to be discussed in another essay): he wants to extend his account beyond subject-predicate sentences, apply it to the logical relation of consequence and to understand what is to cognize the world by using ordinary language – all of this following the general guidelines of keeping the semantics referential and the superficial grammar untouched.
Referential Mechanics is an engaging and provocative book, even though its difficult subject and the many topics it discusses would probably receive a better treatment in a longer and more detailed essay. Its occasional lack of clarity and insufficient argumentation can get frustrating sometimes. However, this does not diminish its many merits. The essay advances unorthodox theses and offers interesting takes on three of the most important versions of direct reference. Anyone interested in semantics, foundational semantics and in the history of analytic philosophy should definitely study it.
References
ALMOG, Joseph. Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics. Oxford: Oxford University Press, 2014. [ Links ]
Erratum
In the article “Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics” with DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0100-6045.2016.V39N2.FM, published in MANUSCRITO, 39.2, 133 a 140, on 133, where it says “Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics” one should read “Book Review: ALMOG, J. Referential Mechanics: Direct Reference and the Foundations of Semantics (Oxford University Press, 2014)”
Although this article is included in the present volume, it appeared earlier in the modality Ahead of Print.
1CDD: 401
Filipe Martone – University of Campinas – Philosophy. Rua Cora Coralina, 100, Campinas São Paulo, Brazil. 13083-896. filipemartone@gmail.com.
Metafísicas Canibais-CASTRO-(NE-C)
CASTRO, Eduardo Viveiros de. Metafísicas canibais. São Paulo: Cosacnaifty, 2015. Resenha de: PIMENTA, Pedro Paulo. A permanência da metafísica, pelas lentes de um antropólogo. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 35, n.1, Mar, 2016.
Desde sua publicação em meados de 2015, o livro de Eduardo Viveiros de Castro vem sendo comemorado por parte significativa da comunidade antropológica brasileira, e por boas razões. Trata-se de mais uma contribuição desse etnólogo à reflexão sobre o estatuto, o papel e a dimensão da antropologia como ciência social que não hesita em assumir também uma dimensão filosófica-vocação essa que muitos, inclusive este resenhista, consideram inerente a ela. É natural, portanto,que também os filósofos se posicionem diante do livro,de preferência sem aderir de antemão ao projeto em que ele se insere ou tampouco rechaçá-lo (só porque esse projeto se imiscui,sem pedir muita licença, nos domínios da filosofia).Desde o título,acertado e provocativo,este Metafísicas canibais tem tudo para alienar uma parcela do mundo acadêmico e cultural pouco afeita a irreverências com a filosofia (há uma razão para isso: volta e meia, ela é constrangida a se explicar, e mesmo a justificar a própria existência – por que filosofia? Por que filósofo? Pergunta que volta e meia se põe, como observava Rubens Rodrigues Torres Filho nos idos de 1974). O leque de referências filosóficas abertamente mobilizadas por Viveiros de Castro, que relê a antropologia estrutural de Lévi-Strauss pelo crivo de Deleuze e Guattari, constitui outro fator, se não alienante, certamente divisor, dada a paixão com que o pensamento destes últimos, atualmente divulgado à exaustão no Brasil, é aceito/rejeitado por leitores que por ele se interessam (num fenômeno similar ao que ocorre com Foucault).Mas, se é verdade que não se pode julgar o livro pelo título, e muito menos pela bibliografia, então não resta dúvida de que a chegada da obra em língua portuguesa (o texto de base surgiu na França em 2009) deve ser comemorada como uma boa-nova, pois não há dúvida de que Viveiros de Castro merece ser lido por todos aqueles que tomam a peito a filosofia e que, nessa condição, certamente receberão a obra criticamente – atitude que, se não me engano, ela mesma reclama de seu leitor.
A primeira coisa que observo é que Metafísicas canibais é um livro original não somente pelas teses que expõe, ou, melhor dizendo, que costura,como também pelo modo como as enuncia.O estilo de Viveiros de Castro é vivamente coloquial,sem nunca se tornar prosaico.O tom de sua voz,pessoal desde as primeiras páginas,não raro inusitadamente confessional, põe o leitor em contato direto com a inteligência do autor, marcada pelo raciocínio rápido, a virada engenhosa, o arremate inesperado, a ironia por vezes sarcástica, nunca desmesurada. Tudo isso, percebe-se logo, é estritamente necessário para a encenação de um balé arriscado, em que a antropologia estrutural e a filosofia contemporânea são os protagonistas. Seria impreciso referir-se à relação entre elas,tal como concebida por Viveiros de Castro,como um diálogo ou interlocução – situação demasiadamente relacionada ao logos que o autor quer descentrar.Trata-se antes de choque,fricção,desencontro, conflito e outras situações próximas do desacerto e da incompreensão, estratégia que as hábeis mãos do encenador julgam a mais conveniente para alargar as perspectivas da filosofia ao mesmo tempo que reforça a posição da antropologia como ciência com ambições filosóficas. Um clima de tensão, que resulta dessa abordagem, perpassa as páginas do livro e garante – o que não é pouco, em se tratando de uma obra com elevadas pretensões teóricas e extensas digressões conceituais-queo interesse do leitor se mantenha o mesmo,do início ao fim.
Uma das evidências de que estamos diante de um discípulo autêntico e original de Lévi-Strauss é a adoção por Viveiros de Castro de um viés bem determinado,que pauta os diferentes estudos que compõem este Metafísicas canibais, e que poderíamos descrever como um pendor, que se mostra, nas mais densas análises teóricas, para conclusões com consequências vultosas. Efeito notável, que infunde o texto com a promessa de que, atravessadas as páginas mais áridas de teoria propriamente dita, chegar-se-á por fim a um resultado de monta, que diz respeito a muito mais do que a teoria mesma que levou a ele. No caso de Lévi-Strauss,a dissolução da filosofia na etnologia,movimento coerente,que as Mitológicas finalmente executam,com as indicações e esquemas legados ao estruturalismo por Rousseau; no caso de Viveiros de Castro,a absorção mútua de certa filosofia (a de Deleuze e Guattari, mas também a de um Latour) e da única antropologia que no fundo lhe importa,justamente essa que Lévi-Strauss inventou,ao levar a sério as injunções lançadas por Rousseau à razão ocidental.Aqui e ali,trata-se em alguma medida da reforma (ou mesmo da sorte) de um saber ancestral,que,como se sabe,se encontra em plena crise desde o início do século XIX:a própria filosofia.A exemplo de Lévi-Strauss,Viveiros de Castro saboreia a ironia de que justamente um herdeiro dessa mesma filosofia – o antropólogo, logo ele, filho da Ilustração – venha a propor algo como uma reformulação da metafísica, essa “ciência” há muito combalida e desacreditada, porém resistente. É uma ideia irônica, mas que nenhum deles considera despropositada. Com efeito, a filosofia se encontra, tanto para Viveiros de Castro quanto para Lévi-Strauss,no banco dos réus – ou,melhor seria dizer,no leito de morte, tendo caducado em virtude de suas próprias deficiências e limitações (basicamente de perspectiva) e da arrogância que por séculos a fio a levou a ignorá-las. Daí a aliança com Deleuze e Guattari, que se inscrevem num horizonte de reflexão pós-metafísica. É o pano de fundo a partir do qual desponta o conceito central de toda a obra de Viveiros de Castro,ou pelo menos deste livro e do que o precedeu, A inconstância da alma selvagem: o perspectivismo. Um modo de simplificar ao extremo e mesmo banalizar Metafísicas canibais seria dizer que é uma obra de fundamentação filosófico-antropológica do perspectivismo, com vistas a assentar essa nova teoria no centro das reflexões teóricas e métodos de estudo, em campo e no gabinete, adotados pelos estudiosos simpáticos à antropologia estrutural. E mais. Uma vez adotado esse programa, sugere-se, a nova antropologia não somente prescindirá dos serviços dos antigos funcionários do logos como poderá reclamar para si as prerrogativas que um dia couberam a estes, desde Platão. Em suma, teríamos uma ciência que faz algo de fato singular: propõe uma visão de mundo,completa e abrangente.E o faz num movimento dos mais interessantes: a morte da filosofia como evento que traz o renascimento da metafísica, no seio da antropologia.
Sabiamente,o autor se recusa a rebaixar sua empreitada a um inquérito, como se a “história da filosofia” pudesse ser acessada, de repente, sem mais, a partir de um ponto de vista exterior que reduzisse a quase nada as aventuras da razão (e não só dela: entre suas acompanhantes, não esqueçamos aqui a imaginação, tão louvada pelos filósofos que entreviram o advento do saber etnológico).A insuficiência da filosofia,tal como diagnosticada pelo pós-estruturalismo(se me permitem o termo), não será identificada por nenhuma leitura rápida,com nenhum recurso aos antigos manuais que nos brindavam com a triunfante marcha da razão rumo a sua efetivação completa.Ao contrário,e pode-se dizer que quanto a isso Viveiros de Castro se coloca mesmo numa posição privilegiada,em relação àquela de Lévi-Strauss. Enquanto este,em meio a rompantes contra os filósofos,não conseguiu jamais apagar a impressão de que no fundo era um deles (e dos mais raros:um discípulo de Rousseau, talvez o único depois de Kant), nosso autor se dirige à filosofia como quem busca por uma aliada,ciente de que o título desse saber,e daquele que o pratica (filósofo), é um nome geral que recobre muitas ideias particulares, cada uma delas com suas nuances e sutilezas, algumas mais próximas de seus propósitos, outras que, de tão alheias a eles, podem simplesmente ser ignoradas. É uma estratégia inteligente, que contribui muito para o vigor dos argumentos expostos. (E representa um passo importante em relação a A inconstância da alma selvagem, onde o peremptório acerto de contas com alguns clássicos da filosofia era feito com um misto de má vontade e simplificação – Hume um herdeiro da reforma luterana,Kant,obscuro,porém conveniente etc.)
Para compreender Metafísicas canibais e saboreá-lo não é preciso,porém,concordar com esse diagnóstico,apenas embarcar com o autor em sua aventura intelectual, sem necessariamente se comprometer com ela (em sã consciência,ninguém lê Descartes ou Hegel em busca da verdade,mas,via de regra,porque são autores interessantes).É então que surge a questão de saber que sentimentos o livro estaria apto a despertar num leitor oriundo da filosofia que se interessa pela exposição como testemunho de uma vigorosa empreitada intelectual. Tudo depende, é claro, da formação de cada um, de suas leituras, dos filósofos que se está acostumado a frequentar,por assim dizer.Os leitores acostumados à filosofia surgida na França em fins dos anos 1950 não terão dificuldade em extrair muito proveito das páginas de Viveiros de Castro,pois é efetivamente com essa tradição que ele dialoga, inclusive no terreno da antropologia – se pensarmos que em 1966 Foucault encerra As palavras e as coisas saudando a etnologia de Lévi-Strauss como uma das formas legítimas do saber filosófico de nosso tempo (pois o tempo de então é também,em larga medida,o nosso).Mas é claro que nem todos os filósofos são herdeiros de Foucault. E questões inusitadas podem surgir,a partir de uma posição mais distante em relação a tudo isso.
Por exemplo, um leitor de Kant (como este resenhista) poderia observar, já no próprio título do livro, a filiação do projeto de Viveiros de Castro a uma tradição especificamente moderna, que consiste na elevação, a objeto de reflexão filosófica, de um tema raramente estudado antes do século XVIII,e em todo caso tido como de importância marginal: acuriosa permanência da metafísica, a despeito de todos os ataques e contestações sofridos por essa pretensa ciência – ou por esse saber,se quisermos simplificar as coisas.É um tema fascinante:outrora “rainha de todas as ciências”,ela se vê contestada,declara a Crítica da razão pura, por todas as partes. Mas mesmo os céticos, que a rechaçam com mais contundência, concedem a ela algum valor, que seja relativo à configuração específica da razão humana, e logo lhe concedem uma perenidade. É claro que o título cunhado por Viveiros de Castro tem um forte sabor irônico, mas nem por isso é menos sério. Em suas lições no Collège de France,Lévi-Strauss advertia:o canibalismo,estritamente falando,não existe como instituição social. O que seriam então essas “metafísicas canibais”? Precisamente isto, eu arrisco dizer: sistemas de leitura e interpretação, que surgem não da cogitação do indivíduo a respeito do mundo, mas do lugar mesmo que ele ocupa em relação a outros indivíduos, na trama das relações que perfazem isso que por conveniência se chama de mundo, natureza, totalidade, cosmos, gaia etc. Muito se discutiu, na época moderna, acerca dos limites da razão e da possibilidade ou impossibilidade da metafísica como ciência;mas,como alerta Kant, haverá metafísica enquanto houver relação e enquanto essas relações forem concomitantes a ações – ou seja, haverá metafísica enquanto houver seres (não necessariamente humanos) que atuam em consequência de necessidades sentidas, sejam elas transcendentais (Kant), sejam empíricas (Condillac, Rousseau). A esse respeito, cabe lembrar a lição de Lebrun,intérprete de Kant:pode-se esperar pelo fim da metafísica comociência,mas seria uma grande tolice aguardar por sua dissolução como instinto próprio,resultante do fato de que o homem é uma espécie de animal que cogita e pensa abstratamente;logo,sempre haverá uma metafísica, como presença surda e incontornável na constituição de todo e qualquer pensamento ou saber positivo – seja ele abstrato ou civilizado, seja concreto ou selvagem (Lévi-Strauss), seja ainda, como sugere Viveiros de Castro (na trilha de um Iluminismo expandido),animal,vegetal,pós-humano etc.Não custa muito,assim, à antropologia estrutural reiterar algo que o século xviii apenas esboçara: a equivalência entre esses múltiplos sistemas, quanto ao valor da interpretação que eles sugerem (e cada um deles sugere sua própria interpretação como única, verdadeira e necessária, ainda que restrita a um só evento ou fenômeno: logo, como relativa a quem interpreta). Que se afirme a existência de classes reais na natureza;que estas sejam reduzidas a uma síntese da imaginação,que sejam elevadas a princípios transcendentais, dissolvidas e anuladas pela perspectiva de um indivíduo qualquer – em todo caso,articula-se uma visada sobre indivíduos e relações, e é prudente deixar em suspenso qual delas deve ter prioridade ou se seriam mesmo excludentes.
Com isso, Metafísicas canibais reforça o convite, que já fora feito indiretamente pelo autor em A inconstância da alma selvagem e diretamente em conferências (que eu saiba,não publicadas por escrito) para que os filósofos sejam lidos do mesmo modo como quem se encontra diante da enunciação de uma concepção de mundo essencialmente alheia ao senso comum (teórico ou não) de cada um – experiência com que o etnógrafo/etnólogo se depara o tempo inteiro, se estiver aberto ao que a experiência, direta ou indireta, tem a lhe oferecer. Assim como seria uma perda de tempo deslocar-se até o Alto Xingu ou a Itanhaém apenas para reforçar o que os manuais de outrora e de hoje dizem sobre “povos primitivos”, de que valeria abrir as páginas de um Espinosa ou de um Aristóteles, se é apenas para confirmar o que cada um tem na cabeça e toma como verdades intocáveis a respeito do que é relevante ou não para o atual debate filosófico? É preciso conceder a um filósofo que parece falar e pensar como nós, e que parecemos compreender, a possibilidade de que aquilo que ele diz seja uma articulação estranha, de verdades cujasimplicações nos escapam, que, para ser compreendidas, exigiriam realmente algo como um descentramento de nossa razão, uma abertura tal que levasse a considerar cada sistema filosófico como a expressão de uma singularidade completa quanto ao modo de pensar.É preciso,em suma, que a ideia de uma razão ocidental seja posta em suspenso, para que a filosofia associada a essa alcunha venha a ressurgir em todo o seu esplendor e riqueza. Aceita essa premissa, na verdade bastante sensata, e silenciosamente em operação na melhor historiografia filosófica (como a de um Deleuze ou de um Lebrun, como nas leituras de um Foucault), fica difícil falar, sem mais, em logos e em razão ocidental. Por mais que os filósofos da tradição compartilhem de certos pressupostos,seriam estes suficientes,como se costuma pensar,para sustentar a unidade dessa entidade rarefeita,a razão ocidental,diante do peso e da força das singularidades de cada um? Pensamento selvagem ou pensamentos selvagens? Daí a pertinência do título escolhido por Viveiros de Castro, que fala em metafísicas, não em metafísica: se é verdade que esta morreu,com a revolução kantiana ou com a Revolução Francesa,pouco importa aqui,sua posteridade é igualmente irrecusável.Encontram-se metafísicas por toda parte – das ciências da natureza às da linguagem, da medicina à economia,da história à política e,é claro,em toda filosofia que se preze (mesmo nas pós-metafísicas, que pretendem atravessar a antiga ciência).Com as ciências humanas não é diferente,e uma lição silenciosa de Metafísicas canibais é esta: basta que se ignore ou, pior, se faça pouco da presença de uma metafísica num saber positivo qualquer para que este adquira, inadvertidamente, as feições de uma metafísica única, centralizada, pronta para suprimir a pluralidade de saberes, possíveis e existentes, às voltas com as condições de possibilidade de sua efetivação como saberes.
A sugestão que se depreende da leitura de Viveiros de Castro para a compreensão da reflexão filosófica em relação com a historicidade da própria filosofia é tão mais pertinente quando se pensa que o próprio Deleuze, cuja obra perpassa as páginas desse livro, foi antes de tudo um exímio leitor de Hume (1953), Nietzsche (1962), Kant (1963), Espinosa (1968) e Leibniz (1986). Essa série de livros pode inclusive ser vista como uma espécie de mitologia filosófica do autor, teia de referências sobre a qual repousa sua própria reflexão – ela mesma,mais um capítulo das mitológicas filosóficas que vislumbrei aqui, a partir de Metafísicas canibais. Em vista disso, uma frustração que o leitor de cabeça filosófica poderá eventualmente experimentar ao percorrer as páginas de Metafísicas canibais é a relutância mostrada pelo autor sempre que tem diante de si a possibilidade de explorar as sendas percorridas por Deleuze em sua historiografia (indissociável de sua filosofia). É o caso, por exemplo, de uma sugestão feita por Viveiros de Castro, porém não explorada, de que o perspectivismo teria afinidades com a monadologia de Leibniz. Parece indubitável que, se uma abertura como essa fosse aproveitada, o livro seria bastante diferente, embora não necessariamente melhor. Em todo caso, fica a tentação de pensar o que seria esse outro livro, que um leitor entusiasmado de Leibniz (ou de Borges) poderia inclusive supor como realmente existente – correlato metafísico, determinação complementar da mônada que é o Metafísicas canibais que temos diante de nós. (Seria esse livro aquele a que o autor se refere nas páginas iniciais – o anti-Narciso?) A etnologia de Viveiros de Castro,ousada e sugestiva, deixa assim no leitor a impressão de ser um pensamento que se estrutura à maneira do organismo leibniziano – totalidade encerrada em si mesma, máquina vital cujas partes remetem a determinações infinitas de uma substância una (cujo equivalente, no plano da exegese crítica, seria a tradição antropológico-filosófica, em constante evolução, que serve de pano de fundo ao autor).
Como toda mônada,essa se encerra em si mesma no mesmo movimento em que se abre para outras,e o leitor de filosofia tirará proveito do modo como Viveiros de Castro se posiciona em relação à tradição estruturalista e seus desdobramentos;e quem sabe se,estimulado por esse embate, não mergulhará (ou se perderá?) nos escritos de Clastres, Descola, Ingold, Sahlins, Strathern, Wagner e tantos outros que aí comparecem – incluindo, evidentemente, o saber dos “povos da selva”.É um enfrentamento estimulante,conduzido por um pensador que se põe à altura de uma corrente de pensamento para a qual sua própria obra vem contribuindo, pelo menos desde Araweté: os deuses canibais (1986).Sem mencionar que é impossível não retornar,ainda uma vez,ao Lévi-Strauss de Opensamentoselvagem e das Mitológicas – ponto de partida e de retorno de Viveiros de Castro, em sua etnografia bem como em sua própria “metafísica” (aqui já com as devidas aspas).Essa (re)descoberta de fontes poderá inclusive reforçar esta indagação, a que a leitura do livro progressivamente dá corpo:e quanto aos limites dessa metafísica tão singular, que, na pena de Viveiros de Castro, pretende contestar a metafísica clássica? Não estariam eles na articulação discursiva,na formulação dos conceitos,na leitura e interpretação das fontes, orais, escritas, simbólicas – enfim, numa certa presença, talvez incontornável,daquela racionalidade que tanto incomoda e que se pretende superar? Se essa indagação tiver sentido, o livro de Viveiros de Castro se mostrará também,entre muitas outras coisas,como uma confirmação da atualidade de Kant e de Nietzsche. E, nessa exata medida, poderá ser inscrito numa mitologia que, felizmente para todos nós, não parece dar sinais de esgotamento.
Pedro Paulo Pimenta– Professor do Departamento de Filosofia da USP.
A Evolução do Capitalismo | Maurice Dobb
O presente texto tem por objetivo construir uma análise da obra de Maurice Dobb, A Evolução do Capitalismo. Buscaremos, para isto, destrinchar os capítulos que compõe o livro afim de apresentar ao leitor a tese principal do autor. Para isso, pretendemos aqui equacionar o mais erudito da obra com o mais popular, para que este não se torne apenas um material a mais na elucidação do processo de desenvolvimento científico.
Como veremos em seu prefácio, o autor critica sua obra de forma a mostrar que um especialista, se for o caso chamarmos assim, como um historiador pode passar despercebidos alguns informes sobre a Economia; e isso se estende como réplica, pois ao olhar somente do economista pode passar a ideia de amadorismo historiográfico. Leia Mais
Simulation and Similarity: Using Models to Understand the World | Michael Weisberg
La utilización de modelos para representar y comprender distintos fenómenos del mundo es una estrategia tan antigua como la ciencia misma. En el año 2000 AdC Egipcios y Babilónicos ya empleaban modelos matemáticos para intervenir e introducir mejoras en su vida cotidiana (Schichl, 2004). No obstante, el uso sistemático de estos dispositivos en ciencia puede enmarcarse a partir del siglo XIX, tratándose principalmente de modelos mecánicos (Bailer-Jones, 2013), y sólo recientemente el estudio de este tema cobró particular importancia en el marco de la filosofía de la ciencia y la epistemología.
Este interés epistemológico sobre la construcción de modelos y sus usos en las prácticas científicas comenzó a manifestarse tímidamente en 1950, a partir de la apreciación de la ubicuidad de su uso en ciencia, siendo analizado su rol en relación al desarrollo de las teorías (Bailer-Jones, 1999). Posteriormente, fue señalado cada vez con mayor énfasis el lugar privilegiado que ocupan los modelos en la ciencia, llegando a considerarse cierta autonomía en la actividad del modelado respecto de las teorías (Morgan & Morrison, 1999), o incluso a afirmarse que eran los modelos y no las teorías los auténticos vehículos del conocimiento científico (Suppe, 2000). Leia Mais
A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII – FELIPPE (RBH)
FELIPPE, Guilherme Galhegos. A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2014. 376p. Resenha de: BASQUES JÚNIOR, Messias Moreira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36,, n.71, jan./abr. 2016.
O livro A cosmologia construída de fora foi originalmente escrito como tese de doutorado e recebeu o Prêmio Capes na área de História em 2014. Trata-se de uma importante contribuição à história e à etnologia indígena das Terras Baixas da América do Sul, pois se baseia em uma aproximação bem-sucedida entre pesquisas antropológicas e um extenso corpo documental referente às práticas e concepções de povos chaquenhos e às suas relações com o outro no século XVIII: afins e inimigos, missionários e invasores europeus. O livro tem o mérito de abordar uma região pouco estudada pela antropologia brasileira: o Grande Chaco, uma das principais regiões geográficas da América do Sul e que constitui zona de transição entre a planície da bacia amazônica, a planície argentina e a zona subandina.2 A análise de registros produzidos por observadores civis e religiosos ao longo do século XVIII evidencia o contraste entre o discurso europeu, centrado na denúncia da barbárie e da inconstância que caracterizariam os nativos, e o modo propriamente indígena de responder ao avanço colonial. Felippe examina três aspectos da cosmologia chaquenha: a guerra, a reciprocidade, e o regime de produção e consumo alimentar. O fio condutor da análise é a mitologia desses povos, aqui entendida como fonte de conhecimento sobre o pensamento ameríndio.
Desde o título até suas páginas finais, o livro demonstra a fertilidade da proposição levistraussiana a respeito da importância da “abertura ao outro” no pensamento ameríndio e nos modos pelos quais esses povos costumam se situar diante da alteridade. Segundo Anne-Christine (Taylor, 2011), essa característica foi desde cedo detectada por Claude Lévi-Strauss, como mostram os dois artigos por ele publicados no ano de 1943 e que estabeleciam “o aspecto sociologicamente produtivo da guerra vista como forma de vínculo … e a primazia da afinidade no universo social dos índios, a primazia da relação com o não-idêntico sobre as ligações de consanguinidade ou, mais exatamente, de identidade” (Taylor, 2011, p.83). O tema da “abertura ao outro” inspirou profundamente os autores mobilizados por Felippe em seu diálogo com a antropologia e, sobretudo, com a etnologia amazonista. Inserindo-se nessa tradição, Felippe apresenta uma descrição histórica e etnográfica que corrobora uma tendência recente da antropologia chaquenha de acentuar as ressonâncias entre os povos da região e aqueles da Amazônia. Retomando o clássico artigo de (Seeger et al., 1979), alguns autores têm defendido a existência de um “pacote amazônico” (Londoño Sulkin, 2012, p.10) cujos componentes também estariam presentes no Grande Chaco e dentre os quais se destacam: o foco no corpo humano e seus elementos como matriz primária de significado social e a existência de um cosmos perspectivista que se encontraria mediado por relações com alteridades perigosas e potencialmente fecundas (Echeverri, 2013, p.41).
O primeiro capítulo trata dos mitos indígenas como construção da realidade, partindo de uma reflexão teórica acerca das diferenças entre o conhecimento objetivo e subjetivo, bem como das concepções de natureza e cultura que fundamentavam o cotidiano e os conhecimentos dos povos chaquenhos no século XVIII. Apesar da grande variedade de versões registradas nas fontes documentais, pode-se notar que, quando tomadas em conjunto, as narrativas míticas refletem problemas similares, como o tema da origem da humanidade e dos animais a partir de uma mesma constituição ontológica, de um fundo comum marcado pela comunicação interespecífica e pela partilha de subjetividade e da capacidade de agência. Felippe descreve como a absorção de ele- mentos exógenos era o eixo do pensamento indígena e, nesse sentido, as transformações criativas que se podem observar na mitologia desses povos revelariam a sua forma de refletir e de responder aos “brancos”, ora incorporando, ora recusando elementos do cristianismo, bem como os objetos, animais, atividades e tecnologias trazidos pelos europeus.
No segundo capítulo, a guerra aparece como meio por excelência para a internalização do outro e como produtora de relações entre diferentes sociedades e no interior de cada uma delas. Nas palavras do autor, a guerra chaquenha era diametralmente oposta à guerra praticada pelos europeus, pois “não se fundamentava na extinção do inimigo, nem na busca pela paz. Era, em realidade, o método mais eficaz de estabelecer relações e, consequentemente, movimentar o meio social” (Felippe, 2014, p.121). O modelo utilizado na análise da guerra chaquenha é “amazônico” e se apoia nas teorias da “economia simbólica da alteridade” (Viveiros de Castro, 1993) e da “predação familiarizante” (Fausto, 1997). A hipótese, em suma, é a de que em ambas as regiões encontraríamos “economias que predam e se apropriam de algo fora dos limites do grupo para produzir pessoas dentro dele” (Fausto, 1999, p.266-267).
Esse capítulo oferece um sólido contraponto às teses que defendem a ocorrência de escravidão – e o uso desse conceito na análise das práticas de apresamento – entre os ameríndios (cf. Santos-Granero, 2009), pois Felippe demonstra que “ao grupo vencedor interessava capturar pessoas e levá-las à sua aldeia como cativos de guerra, porém sem a intenção de mantê-los prisioneiros ou fazer deles escravos” (2014, p.175). Isto é, os cativos de guerra não eram con- vertidos em mercadorias e não viviam sob a lógica de uma objetificação de caráter utilitário: “se havia algum acúmulo era de relações sociais, e não de bens” (p.213). O mesmo pode ser dito acerca dos frequentes roubos e assaltos entre os povos da região e, sobretudo, contra reduções jesuíticas, cidades e vilarejos, práticas estas que lhes permitiam a obtenção de montaria, de armas e de bebidas alcoólicas, e que serviriam para intensificar uma lógica preexistente de captura do outro. Em suma, as reduções e as rotas de comércio “proporcionaram aos índios vantagens materiais e estratégicas que acrescentavam elementos à dinâmica relacional nativa – ao invés de substituí-la” (p.141).
A economia indígena é o tema da última parte do livro. No terceiro capítulo, retrata-se o avanço colonial por meio da implantação de relações comerciais e da integração dos povos nativos ao sistema mercantil. Sem menosprezar a violência e as suas consequências, o autor argumenta que os chaquenhos não foram meramente integrados ao mercantilismo, já que são abundantes os relatos acerca do protagonismo indígena no que concerne à potencialização das relações de reciprocidade com outros povos por intermédio de sua participação no comércio e na circulação de mercadorias não indígenas. Não obstante os esforços dos jesuítas para incutir entre os indígenas o sentido da falta e o desejo pela produção de excedentes, Felippe nos mostra que os missionários repetidamente testemunharam o fracasso dessa “conversão” para uma economia de acumulação. Segundo o autor, os Jesuítas não mediram esforços para “introduzir nos índios a insegurança que os modernos tinham em relação ao futuro” (Felippe, 2014, p.305-306). No entanto, se a inconstância era a resposta indígena diante da obrigatoriedade da crença, a prodigalidade parece ter sido a sua contrapartida às ideias de contrato e previdência.
O quarto capítulo apresenta as razões de outra recusa: a não incorporação de métodos e técnicas do sistema econômico moderno, em especial, da agricultura como forma de produção de excedente e da domesticação de animais para reprodução. Inspirando-se em (Sahlins, 1994, p.163), Felippe procura de- monstrar que as razões dessa recusa não se resumiam a uma divergência de percepções ou aos limites do entendimento dos povos nativos, conforme alegavam os missionários e agentes burocráticos ou coloniais, pois “o problema não era empírico, nem tampouco prático: era cosmológico”. Daí os índios que optaram por ou foram cooptados a viver nos povoados missioneiros não terem se dedicado à domesticação de animais, tampouco demonstrado interesse pela manutenção do “stock de subsistência” oferecido nas haciendas. A recusa à domesticação seria, desse modo, o “efeito de uma impossibilidade”, pois “tudo se passa como se entre o amansamento dos animais autóctones passíveis de ser caçados e sua domesticação verdadeira havia um passo que os ameríndios sempre se recusaram a dar” (Descola, 2002, p.103, 107). A resiliência indígena frustrava os missionários, que denunciavam o fato de consumirem “com desordem o rebanho destinado a sua manutenção” (Fernández, 1779 apud Felippe, 2014, p.315) e de sua economia de produção alimentar se limitar ao consumo imediato, mesmo nos casos de povos horticultores.
A invasão europeia no Chaco e o avanço da empresa colonizadora provocaram grande movimentação de povos indígenas, bem como o seu decréscimo populacional e o extermínio de tribos marginais à área chaquenha. Diante das transformações por que passaram, não podemos negligenciar a distância que se impõe entre os modos de vida indígena pré e pós-conquista. Entretanto, há um inegável “ar de familiaridade” (Fausto, 1992, p.381) entre os relatos sobre os chaquenhos dos Setecentos analisados por Guilherme Galhegos Felippe e os povos que hoje se encontram nessa região, o que torna o seu livro leitura obrigatória para antropólogos e historiadores interessados no Grande Chaco e em suas ressonâncias com a história e a cultura dos povos indígenas das Terras Baixas da América do Sul.
Referências
DESCOLA, Philippe. Genealogia dos objetos e antropologia da objetivação. Horizontes Antropológicos, v.8, n.18, p.93-112, 2002. [ Links ]
ECHEVERRI, Juan Álvaro. La etnografía del Gran Chaco es amazónica, In: TOLA, F. et al. Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur, 2013, p.41-43. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. A dialética da predação e da familiarização entre os Parakanã da Amazônia oriental: por uma teoria da guerra ameríndia. Tese (Doutorado) – PPGAS-Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 1997. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. Fragmentos de História e Cultura Tupinambá: da etnologia como instrumento crítico de conhecimento etno-histórico. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.381-396. [ Links ]
_____. Da inimizade: forma e simbolismo da guerra indígena. In: NOVAES, Adauto (Ed.) A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.251-282. [ Links ]
LONDOÑO SULKIN, Carlos David. People of Substance: An Ethnography of Morality in the Colombian Amazon. Toronto: University of Toronto Press, 2012. [ Links ]
MITCHELL, Peter. Horse nations: The Worldwide Impact of the Horse on Indigenous Societies Post-1492. Oxford: Oxford University Press, 2015. [ Links ]
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. [ Links ]
SANTOS-GRANERO, Fernando. Vital Enemies: Slavery, Predation and the Amerindian Political Economy of Life. Austin: University of Texas Press, 2009. [ Links ]
SEEGER, Anthony; DA MATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n.32, p.2-19, 1979. [ Links ]
TAYLOR, Anne-Christine. Dom Quixote na América: Claude Lévi-Strauss e a antropologia americanista. Sociologia & Antropologia, v.1, n.2, p.77-90, 2011. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Alguns Aspectos da Afinidade no Dravidianato Amazônico. In: _____.; CUNHA, Manuela C. da (Org.) Amazônia: Etnologia e História Indígena. São Paulo: NHII/USP-Fapesp. p.149-210, 1993. [ Links ]
Notas
2A palavra “chaco” deriva do Quechua e significa “grande território de caça” (MITCHELL, 2015, p.15).
Messias Moreira Basques Júnior – Doutorando em Antropologia Social, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: messias.basques@gmail.com.
[IF]Lealdades negociadas: povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII) – CARVALHO (RBH)
CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Lealdades negociadas: povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII). São Paulo: Alameda, 2014. 596p. Resenha de: MAIA, Lígio de Oliveira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71, jan./abr. 2016.
Índios missioneiros, infieles, “administrados”, “apóstatas”, cabildantes e índios comuns, usados como canoeiros, ferreiros, carpinteiros, “presidiários”, escravos e força militar; aqueles não integrados à política indigenista eram os índios “independentes”, os “bárbaros”: conhecida imagem política e/ou jurídica a justificar ora a guerra ofensiva ora a guerra defensiva. Entre uns e outros e os diferentes sistemas de integração dos povos indígenas em áreas de fronteira em disputa entre Portugal e Castela, nas regiões centrais da América do Sul, os caciques, figuras coloniais que terão novas atribuições com a secularização das missões religiosas a partir da segunda metade do século XVIII, constituíam outras personagens imprescindíveis na formulação das políticas ibéricas. Mas não só. Juntem-se a esse cadeirão cultural nas “raias dos impérios” – como afirma o autor mais de uma vez ao longo da obra – quilombolas, “renegados”, vadios, negros escravos e forros, colonos pobres livres e toda forma arbitrária de identificação de marginalizados, e ter-se-á o elenco da experiência humana daquelas fronteiras setecentistas apresentado em Lealdades negociadas, livro de Francismar Lopes de Carvalho.
Quanto ao cenário, trata-se de espaço fronteiriço entre a capitania de Mato Grosso e as províncias espanholas de Mojos, Chiquitos e Paraguai, no âmbito das indefinições do Tratado de Madri de 1750, impelindo a política de expansão dos impérios ibéricos à promoção de atração de populações indígenas e colonos a partir do princípio da uti possidetis. Nessa perspectiva, missões religiosas, vilas e fortes militares eram planejados e construídos não somente como marcadores de domínio, mas como centros de atração de lealdades em disputa, vassalos de todo tipo que, em maior ou menor grau, tiveram a oportunidade de negociar suas lealdades a um ou ao outro monarca.
Lealdades negociadas deve ser apontada como uma contribuição original a devassar mais uma de nossas “fronteiras” – histórica e historiográfica, vale dizer – pela densa compreensão da configuração espaço-territorial daqueles espaços liminares. Não se trata, contudo, de mera análise comparativa de viés “nacional” bastante conhecida entre nós, historiadores brasileiros, com raras exceções, quando os temas abordados são os limites setentrionais ou meridionais da América portuguesa no âmbito das disputas diplomáticas entre portugueses e outros europeus.2 Caudatário de uma perspectiva mais fluida e dinâmica do conceito de fronteira, em boa medida advinda da historiografia norte-americana, o autor reflete sobre diferentes tipos de instituições coloniais de ambos os impérios, por exemplo, a política indigenista, o recrutamento militar, os sistemas de trabalho e abastecimento, o funcionamento da administração local, a gestão espacial das missões e dos pueblos, as formas típicas de ascensão social etc., naquilo que ele denomina “abordagem relacional da situação de fronteira” (p.35). Graças a esse deslocamento, a política indígena dos “índios submetidos” – por meio de seus caciques nos pueblos e cabildos, no lado de Castela, bem como dos índios principais e câmaras municipais, nas vilas pombalinas -, mas também dos “índios independentes” – ainda não integrados à vassalagem de suas Majestades Católica ou Fidelíssima -, a ação consciente (agency) dessas personagens históricas pode ser mais bem dimensionada em sua extensão mais ampla (p.34).
Quanto a esse último aspecto, basta mencionar que a política indigenista de atração pacífica de povos não integrados dependia da situação política da área em disputa. Contribuição inovadora, ao enfatizar as noções de “fronteira externa” e “fronteira interna” – respectivamente de áreas mais claramente disputadas entre os impérios ibéricos e aquelas já pacificadas -, o autor demonstra que, nessas áreas, governadores ilustrados reformistas e elites locais, em ambos os domínios, tinham pouco ou nenhum interesse na manutenção dessa forma pacífica de aliança com os povos indígenas. Logo, da “fronteira externa à interna, a passagem era também da força do simbólico ao simbolismo da força” (p.183).
Conscientes de que tinham sua lealdade em disputa, os índios Guaykuru, por exemplo, no final do século XVIII, não se fizeram de rogados. Para aceitarem os dispositivos do diretório, no lado português, exigiram de seus interlocutores, autoridades locais, que se lhes fossem dados escravos para iniciarem as plantações de milho e feijão, “porque eles não eram captivos”; quanto à construção das casas na nova vila ou povoação a que seriam transferidos, os mesmos índios diziam “que as madeiras para ellas [casas] eram muito duras, e molestavam os hombros que todos as queriam, mas que lh’as fossem fazer os portugueses”; ainda no âmbito do diretório quanto à promoção dos casamentos mistos, “disseram todos queriam mulher portuguesa; mas com a condição de as não poderem largar até a morte, lhes pareceu inadmissível” (p.311). Esse parecer do comandante Ricardo Franco Serra, em 1803, apontava que a mo- bilidade, a guerra e a aversão dos Guaykuru aos costumes ocidentais eram elementos impeditivos de um aldeamento permanente entre eles.
Altivos, guerreiros equestres e nunca plenamente integrados à vassalagem na forma de quaisquer das políticas indigenistas de ambos os impérios, os índios da família linguística Guaykuru – os Mbayá, na documentação espanhola (p.38, nota 64) – eram exemplos modais quanto às indefinições de fronteira de domínio e de seu próprio efeito na experiência do colonialismo. Da parte dos domínios castelhanos, uma das soluções efetivas foi introduzir 25 famílias Guarani na redução de Belén, em 1760, de modo a garantir o abastecimento agrícola e servir de exemplo a aqueles “índios cavaleiros”, pois sabia-se no Paraguai e nas missões jesuíticas que os Guaykuru “desprezavam o trabalho agrícola” (p.312-313).
Entretanto, nem sempre a política de pacificação precisava culminar numa missão ou redução, pois a integração desses povos numa rede de comércio e mesmo de contrabando não era elemento menos importante em ambas as políticas.
Em Borbón, um dos 27 presídios que existiam no Paraguai no final do século XVIII e um dos dois em que os soldados venciam soldos, por inoperância deliberada da Real Hacienda era bastante comum o uso dos índios como fornecedores de provisões. O mesmo valia para o forte Coimbra, estratégica possessão portuguesa também no vale do rio Paraguai. Assim, a boa relação com os Guaykuru, então “índios amigos”, resultava em fornecimento de gado aos dois lados em disputa; da parte dos índios agricultores Guaná, recebiam porções de milho, mandioca, moranga, batatas, pescado e galinhas. Aos índios eram dados tecidos de algodão, redes e apetrechos de todo tipo, como tesouras, facões, machados etc. (p.435).
Essa dependência dos militares em relação aos índios e aos colonos moradores nas proximidades dos fortes e presídios advinha do precário tipo de “abastecimento das guarnições” (p.457). Aos governadores espanhóis e portugueses, a política de suas monarquias era a mesma: reduzir custos – da Real Hacienda e da Fazenda Real – e impelir seus soldados e oficiais a cuidarem de buscar o próprio sustento (p.471). De maneira mais abrangente, o estabelecimento dos vassalos nos territórios contestados passava pelo uso de dispositivos simbólicos de lealdades e pela transferência de gastos aos colonos (p.486). O autor nos ajuda então a compreender dois outros aspectos a partir dessas dependências: as construções tipicamente militares – fortes e presídios – adquiriram outra função para além da defesa e de postos avançados, pois eram também pontos de atração a colonos e índios não integrados; o segundo as- pecto diz respeito àquilo que o autor denomina “negociação assimétrica de lealdades” (p.30). Ora, mesmo sob condição precária, o serviço militar nunca deixara de ser um mecanismo importante de ascensão social, mesmo nas fímbrias daquela sociedade de Antigo Regime, impelindo quase todas as camadas sociais a, de alguma forma, dela participar. Entretanto, a remuneração real desses serviços tocava de maneira distinta as elites locais e os colonos pobres, homens de cor, mestiços livres e índios: “a Coroa assinalava a certos setores proprietários que não pretendia destruir suas propriedades”, pois, como assinala o autor, o pacto entre as elites locais e o poder central era a própria base da monarquia “de que estavam excluídos os despossuídos” e sobre quem recaía o recrutamento, especialmente aos “vadios” (p.345-346).
Outro ponto dos mais instigantes em Lealdadas negociadas diz respeito à política deliberada – ainda que secreta – de autoridades portuguesas em promover um sistemático circuito de contrabando no império rival. Assim, em 1761, dirigindo-se ao governador do Pará, o secretário de Estado Francisco Xavier de Mendonça Furtado referia-se ao “político uso do commercio” desde que feito “cautelozamente com os padres castelhanos”; ao governador do Mato Grosso, a mesma dissimulação barroca – como se refere o autor – ganha maior dimensão diplomática: “por que assim He conveniente ao Serviço de S. Mag.e; conservando esta ideya no mais inviolável segredo” (citado na p.512).
Vale dizer que desse contrabando, um sucesso da parte da política portuguesa, resultou a construção do monumental Forte Príncipe da Beira, iniciada em 1776 e finalizada na década de 1780, garantindo a presença portuguesa no vale do rio Guaporé à custa de ninguém menos que os próprios vassalos da monarquia rival, uma vez que curas, mercadores, missionários, militares e até governadores colaboravam com esse circuito a ligar as regiões de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e La Plata, drenando de quebra a produção dos povos indígenas das missões de Mojos e Chiquitos. Logo, a política espanhola de monopólio da produção das missões pós-jesuítas – os religiosos foram expulsos em 1761 -, acabou por estimular sobremaneira a fuga de recursos e produtos do fiscalismo da Real Hacienda.
Ao que parece, a lealdade de vassalos tão distantes de seus monarcas, especialmente em áreas de contestação, passava pelo crivo da experiência histórica de seus inúmeros atores: “as lealdades imperiais em nada se assemelhavam a quaisquer sentimentos ‘nacionalistas’; eram antes noções instáveis de pertencimento resultantes de dispositivos materiais e simbólicos do colonialismo” (p.522).
Diante da exiguidade de espaço, nem de longe foram apontados aqui todos os temas e questões relevantes do livro. A presença dos jesuítas e a história militar da capitania de Mato Grosso – “antemural da colônia” e “chave” do domínio português nas bacias do Amazonas e do Paraguai e Paraná, como constava em uma consulta ao conselho ultramarino, em 1748 (p.45) – são histórias ainda a ser sistematizadas; de maneira mais dirigida, o mesmo vale para as duas expedições espanholas, em 1763 e 1766, destinadas a desalojar os portugueses do Mato Grosso, assunto pouco discutido na historiografia brasileira (p.387, 444-445).
Resultado de 6 anos de pesquisa entre doutorado e pós-doutoramento, Lealdades negociadas recebeu o Prêmio Científico da América Latina/ Santander Totta (Portugal), edição 2014, na categoria de melhor Tese em Ciências Sociais. Abrangendo diferentes tipos documentais em arquivos e bibliotecas em Espanha, Portugal, Brasil, Paraguai e Argentina, além de um denso diálogo bibliográfico com a literatura histórica de língua inglesa e espanhola, essa edição parece ressentir-se apenas de traduções para o português das inúmeras citações presentes no livro. A julgar por nossos alunos brasileiros, quase todos monolíngues, esse aspecto da obra não é nada irrelevante.
Referências
FARAGE, Nádia. As muralhas dos sertões: povos indígenas no Rio Branco e a colonização. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Anpocs, 1991. [ Links ]
GARCIA, Elisa F. As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009. [ Links ]
Notas
2 Nesse sentido, o trabalho do autor soma-se a outras pertinentes exceções. Cf. GARCIA, 2009; FARAGE, 1991.
Lígio de Oliveira Maia
[IF]
Trabalhadores e política no Brasil: do aprendizado do Império aos sucessos da Primeira República – CASTELLUCCI (RBH)
CASTELLUCCI, Aldrin A. S. Trabalhadores e política no Brasil: do aprendizado do Império aos sucessos da Primeira República. Salvador: Eduneb, 2015. 251p. Resenha de: VISCARDI, Cláudia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71, jan./abr. 2016.
O discurso historiográfico – muito por sua relação interdisciplinar com a sociologia histórica – se constrói a partir de alguns paradigmas que, embora contribuam para a apresentação dos resultados de pesquisa e confiram certo grau de objetividade ao campo, podem gerar distorções em seus resultados. Refiro-me especialmente aos conceitos e às categorias. Seu uso pode interferir sobre a pesquisa, distorcendo a análise ou funcionando como verdadeiros diques a controlar os resultados. Para ser mais específica e ir diretamente à reflexão que pretendo fazer acerca do livro de Castellucci, dois conceitos que permeiam a sua obra são postos em relação, opondo-se às abordagens anteriores que sempre os trataram como mutuamente excludentes: os conceitos de cidadania e de oligarquia. Basta recorrermos a qualquer manual da sociologia política, do mais simples ao mais sofisticado, para encontrarmos esse par de conceitos como antitéticos, na medida em que a ausência do primeiro é a essência do segundo.
A historiografia brasileira levou essa disparidade (no sentido literal de pares opostos) ao senso comum, relegando a participação política, as lutas pela cidadania, e sobretudo suas conquistas, a um período posterior à plena consolidação do capitalismo entre nós. Por essa razão, os períodos anteriores a 1930 são categorizados como oligárquicos e, por assim o serem, nenhum historiador a eles deve se dirigir na expectativa de encontrar sujeitos em luta e em exercício da cidadania política. Vistos como massas de manobra da classe senhorial, submetidos ao paternalismo, às redes clientelares ou à violência, seus atores tonaram-se destituídos de identidade e autonomia, inseridos nas categorias escravos, povo, massa, classes dominadas, pobres, desvalidos, assistidos e marginais, entre outras tantas.
Claro que muito se ganha com o uso de tais categorias. Facilitam análises, sobretudo as de caráter comparativo. Unificam o discurso, permitindo o diálogo transdisciplinar. Nos ajudam a perceber rupturas e mudanças. Mas muito se perde também, principalmente os historiadores, cujo olhar sobre o passado deve prevenir qualquer tipo de anacronismo, compreendendo os indivíduos imersos em seu tempo, sem que o seu horizonte de expectativa contamine a análise do passado. Categorias unificadoras criam sérios riscos para a análise do passado. Conceitos que hoje compartilhamos podem não fazer sentido entre os contemporâneos sobre os quais lançamos nosso olhar, como há muito nos advertiram não só os historiadores collingwoodianos, mas também os alemães liderados por Koselleck. Perde-se não só a possibilidade de nos surpreendermos com as fontes, mas também, à semelhança dos ansiosos, corre-se o risco de olhar o passado em busca do futuro, perdendo a chance de usufruir daquilo que o passado pode efetivamente nos proporcionar.
Felizmente, nos últimos anos acompanhamos tentativas bem-sucedidas de revisionismo historiográfico, feitas com o fim de romper com a camisa de força das categorias e dos conceitos e abrindo o olhar do historiador para as experiências de luta e conquista de cidadania, em passados bastante remotos. No período compreendido entre os anos finais do Império e a Primeira República, novos estudos têm revelado uma presença mais ativa dos indivíduos e grupos nos campos político e cultural. Entre eles, destaco o encontro que tive com o livro de Aldrin Castellucci e falarei das agradáveis surpresas que sua leitura me proporcionou.
Com fôlego de um nadador em águas profundas, Castellucci apresenta ao leitor um conjunto muito amplo de questões. Ao se impor tantos desafios, vê-se obrigado a encontrar suas respostas num mar de fontes. Deriva daí a primeira surpresa. Nós, pesquisadores do campo da história social e da história política, temos por fontes preferenciais a imprensa, os anais parlamentares, os documentos das associações organizadas, as estatísticas, as memórias, as correspondências e a documentação oficial. Castellucci se vale de todo esse conjunto a um só tempo, ao passo que igualmente recorre a inventários post-mortem, almanaques e testamentos. O volume é muito grande, o que confere à tese e ao leitor, a um só tempo, um porto seguro e a certeza da propriedade de seus resultados.
O livro é uma versão modificada de sua tese de doutorado defendida em 2008 na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem como foco principal a análise da relação entre trabalhadores e Estado a partir do acompanhamento de uma agremiação que apresentou três facetas em diferentes momentos. O Centro Operário da Bahia, originado do Partido Operário de 1890 e que teve uma dissidência em seu primeiro ano de existência, a União Operária Baiana. Nessa relação o autor privilegiou a participação do Centro nos diferentes processos eleitorais.
O livro é dividido em cinco capítulos. O primeiro (“As Regras do Jogo”) aborda os marcos jurídicos que delimitavam a prática eleitoral brasileira nos anos finais do Império e ao longo da Primeira República. Trata-se de uma boa síntese que ajuda o leitor a acompanhar a participação eleitoral da agremiação diante das mudanças nas regras do jogo político brasileiro. Considero como ponto alto desse capítulo a análise dos indicadores de participação eleitoral de outros países no mesmo período, contribuição valiosa que insere o Brasil, comparativamente, no circuito de direitos políticos usufruídos pela população em diversos lugares do mundo. Tal análise permite ao leitor perceber que a exclusão de parcela significativa da população da cidadania política não foi uma originalidade tupiniquim, mas encontrava correspondência em várias democracias liberais contemporâneas. Destaca-se também nesse capítulo uma análise minuciosa da Constituição do estado da Bahia, objeto em geral relegado a segundo plano no debate sobre eleições e partidos no Brasil.
O capítulo 2, intitulado “A Montagem de uma Máquina Política Operária”, aborda o processo de formação do Partido Operário da Bahia levando em consideração sua trajetória de cisões e rearticulações, entre elas, o surgimento da União Operária Baiana e do Centro Operário. Trata-se de um capítulo onde Aldrin apresenta para o leitor seus principais atores e o modo como foram construídos e reconstruídos ao longo do tempo. O ponto alto desse capítulo, no meu entendimento, é a demonstração dos esforços do Centro Operário em intervir no jogo político com o fim de ampliar direitos, sobretudo os sociais. Como estratégia, vinculou-se às elites locais numa tentativa de ampliar suas bases, que se tornaram, por conseguinte, policlassistas.
“Os Trabalhadores e o seu Mundo” é o título dado ao terceiro capítulo do livro, que enfrenta uma tarefa difícil, mas na qual Aldrin obteve êxito: o de traçar um perfil sócio-ocupacional e étnico-nacional dos membros do Centro Operário. O uso das fontes notariais lhe permitiu concluir que mais de 74% dos associados ao Centro eram artesãos, ou seja, trabalhadores mais qualificados. Revela com esse perfil a presença, entre os associados do Centro Operário, de uma elite trabalhadora – dona de oficinas e dos instrumentos de trabalho – e de uma elite política e econômica, como industriais, comerciantes e políticos, entre outros. Para que o capítulo não se resumisse a levantamentos estatísticos, Aldrin trouxe para o texto a análise de algumas biografias, de modo que o leitor ampliasse sua visão sobre o perfil dos membros da agremiação. Na análise da composição racial de seu grupo, concluiu que o percentual de brancos era inferior a 23%, sendo os demais pretos, pardos e mestiços. O que mais chama atenção é que a agremiação era menos branca que a própria Bahia (75,9% contra 68%). Aldrin mostra ao leitor o que já se esperava – mas é sempre importante ver comprovado -, que os poucos brancos existentes pertenciam à elite política e econômica dos associados. Mostra igualmente as relações do Centro Operário com as mutuais e as irmandades, com o fim de identificar a formação das diferentes redes que compunham a sociedade civil baiana no período e de mostrar que muitos membros do Centro eram também sócios das mutuais e membros das irmandades a um só tempo. Certamente é esse o melhor capítulo do livro, o que nos mostra como o Centro Operário se compunha e de que forma interagia com diferentes setores da sociedade civil para que seus fins fossem atingidos.
Os capítulos 4 e 5 tratam do ideário político e social dos membros (“O Sonho com a República Social”) e da atuação político-eleitoral da agremiação (“Os Eleitos da Classe Operária”), respectivamente. O quarto capítulo, em minha opinião, contrasta com os demais em razão das dificuldades enfrentadas pelo autor no acesso ao imaginário político dos sujeitos – tarefa muito desafiadora tendo em vista a falta de fontes e as complexidades próprias ao tema. Ressalta a diversidade de culturas políticas (o autor prefere falar em “ideário político”) compartilhadas pelos associados, revelando uma heterodoxia que reunia a um só tempo o marxismo, o cristianismo, o republicanismo, o positivismo, o abolicionismo e o liberalismo. Identificou em meio a essa diversidade dois valores recorrentes: o de ajuda mútua e o do cooperativismo. Tal heterodoxia refletir-se-ia na prática política de seus membros, que lutavam pela ampliação dos direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, assumiam, na visão do autor, o papel de “reformistas sociais”, sem questionarem, em nenhum momento, a ordem estabelecida. Essa participação política resultou em conquistas para os trabalhadores, mas também gerou facções internas. Não obstante, o autor destaca a eficiente intervenção do grupo sobre a política local ao conseguir eleger trabalhadores para vários cargos, tornando-se uma engre- nagem eleitoral a contribuir com o pleno funcionamento da máquina política republicana.
A análise de Castellucci desmistifica uma série de afirmações recorrentemente encontradas na literatura sobre o mundo do trabalho no Brasil, principalmente as de viés marxista. A ausência de uma “consciência de classe” a inspirar as ações do Centro Operário é atestada não só pela composição por demais heterogênea da agremiação, mas também pelas suas hierarquias internas, que submetiam trabalhadores menos qualificados às lideranças, em relações que acabavam por repetir as de clientelismo e patronagem, comuns na época. Tal ausência impediu também que o Centro Operário se mobilizasse em torno de mudanças mais estruturantes e objetivasse apenas ganhos mais imediatos para a categoria, a exemplo da expansão dos direitos sociais. Nesse momento, em minha visão, Castellucci “escorrega” em sua avaliação, na medida em que deposita no Centro uma expectativa que seus membros poderiam não compartilhar. Talvez, em sua heterogeneidade, desejassem apenas ter uma ação efetiva na política com o fim de obter ganhos sociais, o que não era pouco, sem imprimir mudança mais radical no ordenamento político e econômico no qual estavam inseridos. Retira assim do grupo a autonomia antes concedida, ao afirmar que a burguesia os usava como eleitores, o que poderia ter interferido negativamente para a formação de uma “consciência de classe” (p.111). Ora, a leitura do texto não faz ver ao leitor que o Centro era objeto de manipulação e muito menos que pudesse ou quisesse desenvolver uma consciência de classe específica. Ao contrário, o livro mostra uma organização autônoma, que se valia das relações com as elites para obtenção de ganhos para a categoria e que reproduzia em seu interior a cultura paternalista contra a qual não se colocava, até por estar nela inserido. Por diversas vezes o autor afirma que os associados não viam contradições em suas relações com o poder público, com as elites e nem mesmo com a polícia, desde que seus ganhos fossem viabilizados, numa demonstração clara do pragmatismo político.
Outra importante contribuição de Aldrin Castellucci refere-se à manifesta ligação dos trabalhadores do Centro com o republicanismo. Tal abordagem reforça a ideia de que a república não foi exclusivamente uma construção da elite, à revelia do povo, que dela pouco tinha conhecimento. O autor revela que o novo regime foi recebido com otimismo pelos trabalhadores, pois viam nele a possibilidade de ampliação de seus direitos, o que de fato ocorreu, segundo suas análises. Outra importante contribuição é a constatação de que muitos libertos se tornaram trabalhadores na Bahia e não foram relegados à marginalidade social. Além disso, o Centro se tornou um importante espaço de interação social por parte dos negros recém-saídos do cativeiro.
Por fim, o trabalho de Aldrin se reveste da maior importância por tratar de uma região fora do eixo Sul-Sudeste, o que expressa o vigor da historiografia brasileira após a expansão da pós-graduação. Dessa forma, ganhamos todos com a possibilidade de compreensão das diversidades nacionais e evita-se a generalização que pouco tem nos ajudado a compreender nossa sociedade multicultural.
Iniciamos esta resenha a falar sobre os prejuízos que o uso de conceitos e categorias rígidas pode causar sobre os resultados da pesquisa histórica. A maior contribuição do livro de Castellucci foi ter evitado essa armadilha, ao relacionar a cultura paternalista e oligárquica aos anseios e lutas por cidadania de pretos, pardos e mestiços e ao comprovar sua efetiva participação na construção e consolidação do projeto republicano. Só por essa razão, a leitura de Trabalhadores e Política no Brasil já valeria a pena.
Cláudia Viscardi – Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pesquisadora do CNPq. Juiz de Fora, MG, Brasil. E-mail: claudiaviscardi.ufjf@gmail.com
[IF]Guerra fria e política editorial: a trajetória das Edições GRD e a campanha anticomunista dos Estados Unidos no Brasil (1956-1968) – OLIVEIRAR (RBH)
OLIVEIRA, Laura de. Guerra fria e política editorial: a trajetória das Edições GRD e a campanha anticomunista dos Estados Unidos no Brasil (1956-1968). Maringá: Eduem, 2015. 274p. Resenha de: GRINBERG, Lucia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71, jan./abr. 2016.
Era comum em resenhas bibliográficas relacionadas à história política do Brasil republicano a constatação de que historiadores e cientistas sociais se dedicavam especialmente ao estudo das esquerdas, negligenciando as direitas. O panorama mudou. Nos anos 2000 houve um crescimento significativo na produção de teses e dissertações dedicadas a intelectuais, movimentos e partidos políticos de direita nos programas de pós-graduação em história no país. No campo específico dos estudos sobre o movimento integralista, as pesquisas avançaram para além dos anos 1930, buscando mostrar a presença de integralistas na vida política institucional no período da experiência democrática instaurada em 1945, a vitalidade de intelectuais e periódicos integralistas, assim como a diversidade de trajetórias individuais e de memórias de militantes. Guerra fria e política editorial é expressão da ampliação e do amadurecimento da área. Elaborado originalmente como tese de doutorado, defendida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG), obteve menção honrosa no Prêmio Capes de Teses (2014) e ganhou o Prêmio Anpuh de Teses (2015).
Com base no estudo de caso sobre o editor Gumercindo Rocha Dorea e de suas Edições GRD, a historiadora Laura de Oliveira desenvolve uma reflexão relevante e atual sobre o campo das direitas políticas ao mostrar as possibilidades de alianças apesar da diversidade de inspirações doutrinárias. No caso, ela aborda como um militante integralista, admirador de Plínio Salgado, pôde contar com o financiamento do governo norte-americano para promover o anticomunismo em nome da democracia. Na primeira parte do livro, “a experiência”, Laura de Oliveira apresenta as articulações entre as Edições GRD, o movimento integralista e a United States Information Agency (USIA). Na segunda parte, “a palavra”, desenvolve um estudo propriamente da “obra editorial”. Para investigar os integralistas e seus aliados no Brasil, Oliveira consultou acervos considerados estratégicos por especialistas, como o Fundo Plínio Salgado (Arquivo Público Histórico de Rio Claro) e o Fundo IPÊS (Arquivo Nacional). Nos Estados Unidos, pesquisou documentação relativa à USIA no National Archives and Records Administration (NARA), e ao Franklin Book Programs, na Mudd Manuscript Library da Princeton University.
Na primeira parte do livro, “a experiência”, em narrativa bem estruturada, a historiadora analisa os contextos variados que combinados permitem compreender a trajetória política e empresarial de Gumercindo Rocha Dorea: as tradições e a estrutura das organizações integralistas, a política externa norte-americana de intercâmbio cultural e a parceria com o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPÊS). Em 1956, quando o jovem baiano Gumercindo Rocha Dorea criou as Edições GRD, era filiado ao Partido de Representação Popular (PRP), liderado por Plínio Salgado, e participava ativamente de iniciativas integralistas no campo da cultura. Dorea foi editor do jornal integralista A Marcha (1952-1955), diretor da Livraria Clássica Brasileira (1956-1957) e presidente da Confederação Nacional dos Centros Culturais da Juventude (1952-1953 e 1957-1958). A autora dialoga com obras recentes sobre a Ação Integralista Brasileira (AIB) e o PRP, indicando ao leitor contribuições relevantes na área.
As Edições GRD também foram beneficiadas pelas iniciativas da “cultural war”, a política norte-americana de intercâmbio cultural implementada nos anos da guerra fria. Desde os anos 1950 a editora obteve recursos por meio da política de financiamento de traduções do Book Development Program, desenvolvido pela USIA, entidade diplomática que vigorou entre 1953 e 1999.
De acordo com as fontes pesquisadas, a USIA promoveu cerca de 1.340 traduções de originais de língua inglesa lançados no mercado editorial brasileiro.
A GRD teve 48 traduções patrocinadas pela agência. Muitas editoras brasileiras receberam subsídios por meio do programa que incentivava a publicação de obras que veiculavam do elogio ao american way of life ao anticomunismo.
Dorea se destacou pela seleção de obras marcadamente anticomunistas.
Na conjuntura anterior ao golpe de 1964, as Edições GRD se associaram ao IPÊS, como outros estudos já apontaram. No entanto, Laura de Oliveira mostra que a associação era um desdobramento de parceria anterior às conspirações para depor o presidente João Goulart – havia uma sintonia entre os objetivos políticos da USIA, do IPÊS e da GRD, todos desejavam combater as esquerdas e desestabilizar o governo federal. Apesar de a campanha ipesiana se caracterizar por penhorar o destino brasileiro às instituições liberais, Dorea participou ativamente. Em contraste com os “camisas verdes” dos anos 1930, a partir de 1945, os militantes do integralismo, então denominados “águias brancas”, construíram uma nova identidade política. Não se isolaram na doutrina original, apropriaram-se das regras da democracia representativa instaurada e continuaram operando por intermédio do PRP e de iniciativas culturais, como as Edições GRD, mesmo estando longe de compartilhar ideais liberal-democráticos.
Na segunda parte do livro, “a palavra”, na perspectiva de Raymond Williams, Laura de Oliveira investiga as conexões entre experiência social e literatura, combinando história política, história do mercado editorial e estudos literários. De acordo com a autora, ao analisar o conjunto da obra das Edições GRD, de 1956 a 1968, é possível identificar um sentido comum: a divulgação do comunismo como distopia contemporânea, como tragédia iminente que ameaçava o Brasil e a América Latina. As Edições GRD tiveram duas coleções importantes, a “Coleção Política Contemporânea”, traduções financiadas pela USIA principalmente, e “Clássicos Modernos da Ficção Científica” (posteriormente intitulada “Ficção Científica GRD”). O anticomunismo estava presente em ambas.
De 1958 a 1971, as Edições GRD publicaram cerca de trinta livros do gênero ficção científica, traduções e originais de autores brasileiros, sendo considerada responsável pela consolidação do gênero no país nos anos 1960. Em diálogo com estudos sobre ficção científica, Oliveira mostra como o gênero lida com alegorias utópicas e seu par coexistente, a distopia, ao narrar mundos alternativos, outros planetas, territórios longínquos ou paraísos perdidos. Durante a guerra fria, nos clássicos da literatura de ficção científica de língua inglesa, Aldous Huxley, George Orwell e Ray Bradbury contrapõem sociedades baseadas nos ideais de liberdade e individualidade a Estados totalitários. Nas publicações de ficção científica da GRD, Oliveira identifica “uma permanente associação entre a consagração dos projetos totalitários (marcadamente, do comunismo soviético) em ambiente internacional, o esforço da União Soviética de colonização dos países democráticos, sua ação na América, confirmada pela então recente revolução em Cuba, e seu conjecturado avanço sobre o Brasil” (p.195).
No mesmo sentido, durante o governo João Goulart, a “Coleção Política Contemporânea” editou títulos como Anatomia do comunismo (1963) e Cuba, nação independente ou satélite (1963). Oliveira apresenta os enredos, os paratextos e reproduções de capas das publicações, introduzindo o leitor em um universo trágico comum às obras de ficção científica e de política contemporânea. Na orelha de Anatomia do comunismo (1963), Dorea inscreveu a sua mensagem: pretendia levar “aos homens públicos responsáveis pela manutenção do sistema democrático na vida política brasileira, a lição que nos vem dos que têm sofrido, na própria pele, a ameaça diuturna das hostes bélicas que, a qualquer momento, poderão descer do leste europeu” (grifos do autor, p.202).
Na historiografia relativa a partidos políticos no Brasil republicano, desde os anos 1990, há teses que desafiam as interpretações tradicionais que enfatizam a distância entre as organizações partidárias e a sociedade, assim como as que destacam as descontinuidades das legendas, desconsiderando as intervenções sucessivas de ditaduras no sistema partidário. No presente caso, as intervenções extinguindo os partidos políticos por decreto atingiram a AIB, no Estado Novo, e, posteriormente, o PRP, em 1965, com o Ato Institucional no 2. Guerra Fria e política editorial é uma bela contribuição para o debate. Partindo do caso de Gumercindo Rocha Dorea, baiano de Ilhéus, a autora mostra a possibilidade de, diminuindo a escala de análise, investigar trajetórias individuais tendo em vista o estudo de atores coletivos, como partidos políticos. Ao se dedicar ao estudo das Edições GRD, Oliveira investiga as relações entre atividade editorial e militância político-partidária, considerando as especificidades dos dois campos: as características de negócio e a necessidade de financiamento, a marca da afinidade ideológica e a existência de uma rede de sociabilidade de intelectuais, antigos membros da AIB, filiados e simpatizantes do PRP, reunidos em torno da editora. Afinal, apresenta os integralistas, entusiastas de um movimento de extrema direita, inseridos na sociedade, e mostra que os militantes se articularam em novas organizações, não permaneceram isolados.
O interessante em Guerra Fria e política editorial é justamente a percepção das dinâmicas, continuidades e descontinuidades do movimento integralista, e da possibilidade de articulação com o próprio governo norte-americano, antes combatido pelo nacionalismo exacerbado, o anticosmopolitismo e o antilibe- ralismo, próprios do integralismo. Em 1967, as iniciativas da USIA foram denunciadas nos Estados Unidos como tentativa de manipular a opinião pública por intermédio de editoras da iniciativa privada. Em pouco tempo, com o fim do convênio, as Edições GRD voltaram a reeditar autores integralistas e Dorea passou a comandar igualmente a “Voz do Oeste”, editora fundada por Plínio Salgado. Guerra Fria e política editorial mostra, portanto, a parceria entre liberais norte-americanos e integralistas brasileiros, assim como o enraizamento das tradições integralistas e a capacidade organizacional de seus quadros.
Lucia Grinberg – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: luciagrinberg@gmail.com.
Hajari, as fúrias da meia-noite de Nisid: o legado mortal da partição da Índia | Oliver Stuenkel
A partição, a divisão do subcontinente indiano em dois países em 1947, sempre será lembrada como uma das maiores tragédias do século XX, envolvendo uma das maiores migrações humanas forçadas da história, deslocando mais de 10 milhões de pessoas. Isso levou a mais de um milhão de mortes no contexto da saída da Grã-Bretanha do subcontinente e da independência da Índia e do Paquistão. Finalmente, foi o capítulo de abertura de uma das rivalidades mais complexas e não resolvidas do mundo, produzindo um hot spot nuclear que muitos consideram o mais perigoso do mundo. Nisid Hajari escreveu um livro muito legível sobre a política da Partição, detalhando as negociações e dinâmica de energia na véspera de 15 de agosto de 1947.
Com habilidade jornalística, o autor fornece retratos íntimos dos personagens principais do livro, Jawaharlal Nehru e Mohammed Ali Jinnah. Gandhi, Vallabhbhai Patel (Sardar) e Lord Louis Mountbatten também aparecem com frequência, mas Hajari descreve essencialmente o drama da Partition como um show de dois homens.
Enquanto Hajari se destaca em transformar um evento complexo e pesado em um virador de páginas, sua conta é centrada na Índia e, no final das contas, muito tendenciosa às visões de Nehru para fornecer uma conta equilibrada. O primeiro primeiro-ministro da Índia, o leitor é informado nas primeiras páginas do livro, era “arrojado”, “famoso por algumas das mãos”, tinha “maçãs do rosto aristocráticas e olhos altos que eram piscinas profundas – irresistíveis para suas muitas admiradoras”. “Apesar de desdenhoso das superficialidades, ele cuidou muito da aparência”, maravilha-se o autor. Ao longo do livro, Hajari descreve as qualidades supostamente sobre-humanas de Nehru, por exemplo, quando ele oferece o risco de sua vida para proteger os muçulmanos em Old Delhi. Jinnah, por outro lado, é amplamente descrito como um bandido sedento de poder que carecia de princípios “irascível” e ”
Nehru, o autor admite, também tinha falhas. Como escreve Hajari, Nehru se recusou a aceitar a Liga Muçulmana como parceiro da coalizão em 1937, exceto em termos humilhantes que incluíam a fusão incondicional dos partidos parlamentares da Liga Muçulmana no Congresso. O comportamento arrogante e distante de Nehru era precisamente o que Jinnah precisava para fortalecer as ansiedades que os muçulmanos tinham em relação à Índia dominada pela maioria hindu. E, no entanto, o livro deixa poucas dúvidas sobre quem é o vilão da história.
O que talvez seja mais problemático com esse relato é que a idéia de criar o Paquistão é descrita como pouco mais do que uma manobra usada por Jinnah para retomar sua carreira política após o retorno de Gandhi da África do Sul e a ascensão do povo hindu. O congresso o empurrou para a margem. Depois que sua jovem esposa se suicida, Jinnah se muda para uma casa sombria com sua irmã do mal, Fátima. Enquanto Nehru é movido por altos ideais, sugere o livro, Jinnah é movido pela amargura e pelo desejo de vingança.
No entanto, a idéia do Paquistão era muito mais do que um mero argumento de barganha proposto por Jinnah. Hajari permanece calado sobre figuras-chave como Muhammad Iqbal, uma das figuras mais importantes da literatura urdu e o filósofo que inspirou o Movimento Paquistanês. O autor parece sugerir que seria necessário apenas um representante mais moderado da Liga Muçulmana para evitar a Partição.
Contudo, esse argumento ignora que as eleições supervisionadas pelos britânicos em 1937 e 1946, que o Congresso dominado pelos hindus venceu com facilidade, apenas endureceram a identidade muçulmana e tornaram inevitável a divisão. A política britânica de definir comunidades com base na identidade religiosa, que alterou fundamentalmente a autopercepção indiana, requer muito mais atenção para explicar a dinâmica que levou à Partição. Churchill, em particular, viu consolidar uma identidade muçulmana na Índia e alimentar tensões sectárias como essenciais para prolongar o domínio britânico no subcontinente (ele apoiou ativamente a causa de Jinnah nos anos anteriores a 1947).
Hajari reconhece que a decisão de Mountbatten de antecipar a retirada da Grã-Bretanha e deixar um cartógrafo despreparado traçar as fronteiras dentro de 40 dias (sem visitar as regiões afetadas, como o autor nota corretamente) tornou todo o projeto muito mais mortal do que poderia ter sido em outras circunstâncias . Jinnah dificilmente poderia ter antecipado tal comportamento irresponsável pelos britânicos.
Como escreve Pankaj ( Mishra, 2007 ), ninguém havia se preparado para uma transferência massiva de população. Mesmo quando milícias armadas vagavam pelo campo, procurando pessoas para sequestrar, estuprar e matar, casas para saquear e trens para descarrilar e queimar, a única força capaz de restaurar a ordem, o Exército Indiano Britânico, estava sendo dividida em linhas religiosas – soldados muçulmanos no Paquistão, hindus na Índia. Em breve, muitos dos soldados comunalizados se uniriam a seus co-religiosos na matança de facções, dando à violência a partição de seu elenco genocida … Os soldados britânicos confinados em seus quartéis, ordenados por Montana para salvar apenas vidas britânicas, podem provar ser a imagem mais duradoura do retiro imperial.
As Fúrias da meia-noite não descobrem muitas fontes novas e os especialistas não encontrarão nada que mude de opinião, mas o livro é bem pesquisado. Uma exceção um tanto estranha é a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), uma organização hindu de direita, que Hajari abrevia erroneamente como RSSS ao longo do livro.
Apesar de seu viés, o livro aponta para a importância de um ponto de virada histórico crucial que continua a moldar os atuais debates geopolíticos. Como a disciplina de Relações Internacionais, em particular, continua se concentrando demais no que aconteceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, são necessários muitos outros livros sobre as consequências da guerra na Ásia e em outras partes do mundo.
Referências
Mishra, Pankaj. Feridas de saída: o legado da partição indiana. 13 de agosto de 2007. Disponível em: http://www.newyorker.com/magazine/2007/08/13/exit-wounds ; Acesso em: 12 jan. 2016. [ Links ]
Oliver Stuenkel – Professor Assistente de Relações Internacionais, Faculdade de Ciências Sociais, Fundação Getulio Vargas (FGV). São Paulo, SP, Brasil. E-mail: oliver.stuenkel@fgv.br.
STUENKEL, Oliver. Hajari, as fúrias da meia-noite de Nisid: o legado mortal da partição da Índia. Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt, 2015. 328p. Resenha de: STUENKEL, Oliver. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71 São Paulo, jan./abr. 2016.
Sobre a arte brasileira da Pré-História aos anos 1960 – BARCINSKI (CA)
BARCINSKI, Fabiana Werneck (Org.). Sobre a arte brasileira da Pré-História aos anos 1960. São Paulo: Edições Sesc/WMF Martins Sontes., 2015, 365 p. Resenha de: MAIOR, Paulo Martin Souto. Clio Arqueológica, Recife, v. 31, n. 2, p.211-216, 2016.
Sobre a Arte Brasileira não é mais um tratado historicista dedicado aos diferentes períodos da história da arte no Brasil. Idealizado e organizado por Fabiana Barcinski, partiu de uma visão social da arte que pretendia dar um viés diferente à percepção da estética. Desde os primórdios da região como colônia portuguesa e como Nação independente depois, sem ignorar as raízes indígenas, a obra leva desde o início a uma reflexão sobre o que realmente seja a genuína arte brasileira. Para tanto, foram convidados escritores e pesquisadores de diversas instituições acadêmicas do Brasil. O resultado foi uma obra original, crítica e reflexiva sobre as múltiplas facetas da arte brasileira e sob os diferentes olhares de um grupo destacado de especialistas.
Dividido em nove temas, o livro se abre com o capítulo: Para uma história (social) da arte brasileira, escrito por Francisco Alambert, professor da USP e crítico de arte, que marca já o teor da obra, a partir da reflexão sobre a legitimidade e a pertinência de falar em uma arte “brasileira” com características próprias.
Segue-se A arte pré-histórica do Brasil: da técnica ao objeto, da autoria de Anne- Marie Pessis e Gabriela Martin, arqueólogas e professoras da UFPE, que refletem sobre a finalidade prática e imediata, material ou imaterial, do objeto que, hoje podemos considerar artístico, mas que, na realidade, era parte das estratégias de sobrevivência do grupo autor, considerando a arte pré-histórica brasileira como uma manufatura cuja evolução segue os passos do cognitivo ao lúdico e, finalmente, ao social.
Valeria Piccoli, arquiteta e integrante do Núcleo de pesquisa em crítica e história da arte na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no capítulo intitulado O olhar estrangeiro e a representação do Brasil, reflete sobre o explícito desinteresse da Coroa portuguesa de divulgar ou dar valor à produção de textos ou imagens das terras e povos sob sua soberania, notadamente nos dois primeiros séculos da colonização. A cartografia do litoral, tão necessária à colonização das novas terras desenvolve-se, entretanto que o interior do país, a chamada Terra Incógnita permanece deliberadamente reduzida à representação de vinhetas da vida cotidiana. Esse panorama vai mudar com a chegada dos holandeses ao Brasil. As obras de Frans Post, Albert Eckhout, Georg Marcgraf e Willem Piso abrem as primeiras janelas à desconhecida paisagem brasileira, enriquecida depois com as obras dos viajantes estrangeiros.
Com o artigo Maneirismo, Barroco e Rococó na arte religiosa e seus antecedentes europeus, de Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, historiadora da arte e professora da UFRJ, a obra entra nos estilos universais dos séculos XVII a XVIII implantados no Brasil pelos colonizadores portugueses.
Destaca-se a importância preponderante da Igreja Católica como cliente da encomenda arquitetônica e artística no período colonial, em detrimento da arquitetura civil de caráter oficial. A historiadora da Arte Elaine Dias, da Universidade Estadual de Campinas, SP, assina o artigo Arte e academia entre política e natureza (1816-1857). O trabalho analisa o impacto da Missão Artística Francesa iniciada em 1816 que pretendia a criação de uma Escola de Ciências, Artes e Ofícios no Rio de Janeiro e que seria o cerne da Academia Imperial de Belas Artes instituição de fundamental importância na formação de brasileiros no campo da arte e da cultura.
A Arte no Brasil entre o segundo reinado e a Belle Époque, artigo assinado por Luciano Migliaccio, do Departamento de História da Arquitetura e Estética da USP, inicia a sua dissertação no momento da maioridade de D. Pedro II, proclamada em 1840. No Império do Brasil, separado de Portugal, o Rio de Janeiro torna-se a sede de uma corte detentora da política cultural do Estado. A Academia assumirá o papel preponderante nas exigências de propaganda do governo imperial. Paralelamente, o indigeníssimo passa a ser valorizado, embora com uma visão romântica alheia à realidade. O autor cita, entre outros exemplos, daquele indianismo incipiente, a estátua equestre de D. Pedro I ladeada por grupos indígenas com animais e plantas típicas da natureza brasileira.
Em Modernismo no Brasil: campo de disputas, sua autora Ana Paula Cavalcanti Simioni, docente do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP vemos como a sua formação em Sociologia dão uma base segura ao posicionamento crítico adotado na hora de julgar os valores do Modernismo brasileiro. Reconhecendo o Rio e São Paulo como os pilares do Modernismo no Brasil, a autora chama a atenção para não negligenciar as produções ocorridas em Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, entre outros centros, a partir, inclusive de como entender o termo “Modernismo”.
Também com marcada direção sociológica, Glaucia Kruse Villas Bôas, da UFFRJ, escreve Concretismo, capítulo do livro que abarca temas como as artes plásticas, a poesia, o cinema novo, o teatro e a bossa nova com um discurso intelectualizado e universalista que se contrapõe ao empenho de fixar a brasilidade do Modernismo, interessado no “abrasileiramento dos brasileiros”, como dizia Mário de Andrade.
Os anos 1960: descobrir o corpo de Paula Braga, filósofa e historiadora da arte, nos fala no seu artigo do labirinto sensorial Tropicália como herança das vanguardas modernistas. A produção artística nacional deu um salto radical, ultrapassando em poucos anos o abismo que a separava da arte europeia, norteamericana e até japonesa. A autora considera que o neoconcretismo se inicia nos anos 1960 com o Manifesto Neoconcreto, publicado em 1959, na abertura da I Exposição de Arte Neoconcreta, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Os dez capítulos que formam a obra se encerram com Arte Popular, trabalho de Ricardo Gomes Lima, antropólogo e professor de arte na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O título do artigo é já explicativo. O autor refere-se à recusa inicial de considerar como objetos artísticos obras realizadas pelas camadas mais humildes da população, sejam urbanas ou rurais.
O autor considera que o povo brasileiro deixa de ser uma totalidade quando falamos em arte popular e arte erudita, separando os dois conceitos por uma linha econômica e social. Citamos, por oportuno, palavras do escritor Ariano Suassuna sobre a arte na história, que começou sendo popular para ser depois considerada erudita. O livro amplamente ilustrado, apesenta bibliografia relativa a cada capítulo.
A melhor definição que podemos fazer desse livro, quem nasce como uma obra de referência é o comentário de Luciano Migliaccio no seu capítulo Arte no Brasil entre e o Segundo Reinado e a Belle Époque: A arte brasileira, ontem como hoje, reflete em si as ambiguidades de um país que se quer moderno e que faz da arte um atalho para imaginar seu próprio futuro, ocultando as contradições que esconde em seu seio.
Paulo Martin Souto Maior – Departamento de Arqueologia, UFPE. E-mail: pmsmaior@yahoo.com
[MLPDB]Patrimônio Arqueológico, ambiental e inclusão social no Plano Diretor de São Raimundo Nonato-PI: Síntese dos biomas e das sociedades humanas da região do Parque Nacional Serra da Capivara, volume III – MAIOR (CA)
MAIOR, Paulo Martin Souto. Patrimônio Arqueológico, ambiental e inclusão social no Plano Diretor de São Raimundo Nonato-PI: Síntese dos biomas e das sociedades humanas da região do Parque Nacional Serra da Capivara, volume III, Ed. Fundação Museu do Homem Americano, Fumdham, 2015. 206p. Resenha de: PESSIS, Anne Marie. Clio Arqueológica, Recife, v. 31, n.1, p.136-139, 2016.
Imagem da capa da obra resenhada – página136
O livro é o terceiro volume da coleção Os Biomas e as Sociedades Humanas na Pré-História da Região do Parque Nacional Serra da Capivara, Brasil2. Está divido em duas partes e trata, inicialmente, de uma revisão histórica dos conceitos que subsidiaram e fundamentaram leis como o Estatuto da Cidade e as posturas adotadas em relação à arqueologia em intervenções urbanas. A inserção da arqueologia e do ambiente na dinâmica de uma cidade ou em zonas rurais e seu papel na construção de uma mentalidade preservacionista são os temas centrais do texto.
Conhecidas ou sem registro, à mostra ou não, o fato é que o autor identifica duas posturas básicas em intervenções urbanas e rurais em locais com vestígios arqueológicos: uma, produto de exclusão, e, outra, de inclusão. O primeiro conceito é apresentado através de intervenções urbanas nas quais o elemento arqueológico atua de forma excluída, ou seja, produto da interpretação, contextualização e exposição de vestígios materiais. Segundo o autor, trata-se de uma perspectiva meramente arqueológica. Essa postura denota que em análises territoriais, ao se proporem intervenções, a disciplina arqueológica ainda atua de forma difusa e espacialmente pontual.
Como contraponto a essa postura o autor apresenta casos nos quais a antinomia entre conservação e transformação do espaço urbano aponta para uma tendência que vem sendo incorporada em projetos de intervenção. Assim, a conservação, como essência de transformação do espaço e de sua relação com o entorno e o contexto do território, pode e deve repercutir na qualidade do espaço urbano e, essencialmente, na sua preservação. E a percepção desse aspecto pela população, ou seja, do valor cultural do vestígio arqueológico e histórico, torna-se mais eficaz se integrada aos usos e percursos da cidade; portanto, como espaço morfológico arqueológico. Essas foram as premissas básicas e consideradas na construção do Plano Diretor de São Raimundo Nonato-PI.
Na segunda parte apresenta-se a experiência do município de São Raimundo Nonato, através do diagnóstico e das propostas de quatro temas que nortearam a construção do seu Plano Diretor: Inclusão social, patrimônio histórico, patrimônio arqueológico e ambiente natural. Nesse aspecto o texto apresenta um dos elementos fundamentais da proposta do Plano: considerar as ações exitosas de inclusão social na proteção do patrimônio arqueológico e ambiental do Parque Nacional Serra da Capivara.
Diante desse arcabouço a proposta do Plano baseou-se no conhecimento préhistórico, histórico e geomorfológico do município de São Raimundo Nonato através de seu diagnóstico na época em que se coletaram os dados, entre 2006 e 2007, e que forneceram um alto grau de conhecimento das transformações ocorridas nas formas de ocupação, desde a Pré-história até a atualidade. Por outro lado, as ocupações recentes e desordenadas, tanto na sede do município quanto nas áreas rurais, significaram o maior desafio na busca de soluções e propostas que integrassem a arqueologia com as questões urbanas e rurais típicas de um plano diretor.
Da postura adotada nas propostas a partir da tríade patrimônio cultural, ambiente e inclusão social, resultaram os parâmetros de proteção e do zoneamento, com o intuito de impedir o crescimento desordenado das duas situações: A urbana, referente à sede do município, e a rural, referente ao Parque Nacional Serra da Capivara. Nesse aspecto a proposta do Plano Diretor aborda diretrizes para uma política municipal voltada para a preservação do patrimônio histórico, do arqueológico, do ambiente natural e na inclusão social. Insere, portanto, o elemento arqueológico em igualdade de condições com questões como, por exemplo, a mobilidade, a educação, o uso do solo e o lixo urbano entre outros.
Nesse contexto, embora um plano diretor aborde temas diversos e variados, o foco do texto que se publicou preocupou-se na inter-relação e na especificidade entre quatro temas básicos (inclusão social, patrimônio histórico, arqueologia e ambiente). É o caso, por exemplo, dos sítios arqueológicos e do patrimônio histórico associados ao ambiente, assim como a relação desses três temas com á inclusão social. Da mesma forma, a evolução física da sede do município traduzse no seu traçado de vias, nas edificações – inclusive as de valor histórico – assim como seus usos estão inseridos no perfil histórico e socioeconômico. Todos esses temas, juntamente com os demais temas do Plano, nortearam uma abordagem participativa na qual se aprimorou a consciência preservacionista dos elementos culturais do município.
Nota
2 Na Clio Arqueológica número 2013-V28N1 publicou-se uma resenha sobre o volume I e na número 2015-V30N2 publicou-se uma resenha sobre os volumes II-A e II-B.
Anne Marie Pessis – Docente, Programa de Pós-graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial, UFPE.
[MLPDB]Historiografia da revolução científica: Alexandre Koyré, Thomas Kuhn e Steven Shapin | Franscismary Alves da Silva
A institucionalização da Ciência Moderna, como a conhecemos hoje, tem a sua origem associada às transformações conceituais e metodológicas pelas quais o desenvolvimento científico passou, essencialmente, entre os séculos XVI e XVII. Tais transformações com o tempo passaram a ser trabalhadas pela historiografia sob a designação de “revolução científica”. A dinamicidade e a amplitude com que este conceito foi problematizado ao longo do século XX é o foco central da pesquisa realizada pela professora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) Francismary Alves da Silva em sua dissertação de mestrado, Historiografia da Revolução Científica: Alexandre Koyré, Thomas Kuhn e Steven Shapin, defendida junto ao Departamento de História da UFMG em 2010 e publicada recentemente (2015) com o mesmo título. Nesse estudo a autora discute de maneira didática, a partir de uma perspectiva histórica, as principais questões com que a História da ciência se deparou com relação aos conhecimentos humanos sobre a natureza, fundamentalmente, em três momentos específicos: na consolidação, no apogeu e o declínio da expressão “revolução científica”. Leia Mais
Dicionário Histórico do Vale do Paraíba Fluminense | R. B. R. M. Cavalcante, Neusa Fernandes, Rosilene de Cássia Coelho e Carlos Wehrs
De onde veio a elite senhorial brasileira? De Portugal, claro. Mas não de Lisboa. Veio, isso sim, em grande parte, do Norte de Portugal e das ilhas açorianas. Na maioria, os fundadores das famílias que constituíram a aristocracia rural, da qual resultaram alguns influentes políticos que ainda hoje se destacam no cenário nacional, chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás, em busca da chamada “árvore das patacas”. À custa de muito esforço, obtiveram sesmarias, escravizaram indígenas e tornaram-se latifundiários, escravocratas e capitalistas, ou seja, “homens bons” no século XVIII. Quase todos seriam pessoas de escassas letras.
Quem duvida que procure ler o Dicionário Histórico do Vale do Paraíba Fluminense, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vassouras (IHGV) e pela Prefeitura Municipal de Vassouras, com o apoio da Nova Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, organizado pelas historiadoras Irenilda R.B.R.M. Cavalcanti, Neusa Fernandes e Roselene de Cássia Coelho Martins, com a colaboração de mais 21 pesquisadores, dentre os quais se destacam Antonio Henrique Cunha Bueno e Carlos Eduardo Barata, autores do Dicionário das famílias brasileiras (São Paulo, Editora Ibero-Americana, 1999). Leia Mais
A Casa Rosa do Leblon: vida e costumes de uma família do século XX | Miridan Bugyja Britto Falci
O livro A Casa Rosa do Leblon surge com lugar especial na historiografia carioca ao tomar o bairro como referência para a história da cidade. O livro mistura pesquisa e memória pessoal ao tratar a história da família da autora que se confunde com a história da casa que passou a abrigar a família a partir de 1954. Conforme a leitura revela, a família se instalou no Leblon depois de residirem no bairro do Grajaú, transferindo-se da Zona Norte para a Zona Sul. Sonhavam, inicialmente, com uma casa em Copacabana, mas numa época em que na região as casas desapareciam e davam lugar aos edifícios de apartamentos. A casa no Leblon, na rua Sambaíba 555, surgiu como alternativa. Seguramente, o ponto privilegiado do Alto Leblon foi decisivo. A Casa Rosa do Leblon era dominada por uma vista do mar das praias do Leblon, Ipanema e Arpoador, e das janelas dos quartos era o morro dos Dois Irmãos que impunha sua presença. Tudo isso antes da verticalização das edificações, que terminaram por encurtar os horizontes da vida na cidade.
Buscando contextualizar historicamente a trajetória da família e de seus membros que habitavam a casa que se torna o personagem principal do livro, Miridan Bugyja Britto Falci termina por construir aproximações que caracterizam a história da vida social de classe média na cidade, retratando as transformações sociais do Rio de Janeiro no século XX. Destaca-se que a originalidade do estudo está justamente nesse enfoque da história do bairro que é raramente explorado na historiografia carioca. Leia Mais
Em nome da palavra e da Lei: relações de crédito em Minas Gerais no Oitocentos | Rita de Cássia da Silva Almico
O mercado de crédito. Aparentemente um tema árduo e entediante, que é abordado por Rita de Cássia da Silva Almico de forma original e interessante. Emprestar e tomar emprestado são os dois lados de uma moeda que envolveu os mais diversos setores da sociedade, de fazendeiros, negociantes, pequenos comerciantes, carpinteiros a costureiras, e que, por isso, descortina relações sociais muitas vezes encobertas por análises centradas nos grandes agentes ligados ao complexo cafeeiro. Justamente por não ter por objeto o crédito bancário, mas o mercado de crédito como um todo, abrangendo as relações de empréstimo de dinheiro, bens e serviços, a autora analisa os diferentes aspetos que permitem vislumbrar as relações cotidianas da população de Juiz de Fora da segunda metade do século XIX. Essa é certamente a grande contribuição do livro Em nome da palavra e da Lei: relações de crédito em Minas Gerais no Oitocentos, resultado da tese de doutorado, defendida no PPGH da Universidade Federal Fluminense, em 2009.
O texto flui ao longo de cinco capítulos que escrutinam diferentes aspectos envolvidos nas relações de crédito em Juiz de Fora e seus distritos, buscando não apenas comprovar a existência de um mercado de crédito, mas também analisar suas diversas variáveis. A escolha desse município justifica-se pelo seu papel na região, a Zona da Mata, enquanto “capital regional” (p. 25), cidade destacada não apenas na Província (depois Estado) de Minas Gerais, mas um polo dinâmico integrante do complexo cafeeiro brasileiro, com fortes vínculos com o Rio de Janeiro. O período analisado é delimitado pelos anos de 1850 e 1906, corte cronológico que determinou outra contribuição importante da pesquisa de Almico, pois enfoca as relações de crédito inseridas em uma nova conjuntura institucional, ou seja, a vigência do Código Comercial Brasileiro (Lei n. 556, de 25/06/1850). Conjuntura que sofreu uma inflexão pela crescente intervenção do governo federal a partir do Convênio de Taubaté (1906).
A autora demonstra que Código Comercial contribuiu para a formação do mercado de crédito ao normatizar esse tipo de relação, fornecendo garantias aos credores e estabelecendo canais formais/legais para sua proteção. O recurso sistemático às execuções das dívidas e a celeridade do processo são evidências da eficiência dos mecanismos estabelecidos para a proteção dos credores. É nesse contexto que surge a principal fonte primária utilizada, as ações de execução de dívidas. Ao optar por essa fonte, a autora, conscientemente, limita sua pesquisa àquelas relações de crédito que, diante da inadimplência, foram cobradas judicialmente. Conclui-se que um grande número de relações de crédito escapou à análise, o que deixa várias dúvidas acerca do tamanho desse mercado, sobre os valores envolvidos e a proporção entre as ações de execução e a totalidade das relações de crédito no período estudado. Mas esse limite é sobrepujado pela riqueza de informações que a fonte oferece e por sua abrangência, levando a autora a tomar as relações judicializadas como referência representativa desse universo. Se os inventários post-mortem, com suas dívidas ativas e passivas, e os registros de hipotecas, fontes primárias também exploradas pela autora, oferecem uma visão estática da relação de crédito, as ações de execução de dívida permitem conhecer sua dinâmica, suas características e dar voz a todos os agentes nelas envolvidos. Dessa forma, surgem na análise variáveis como as taxas de juros praticadas, os prazos, as razões para a tomada da dívida e para a inadimplência, o papel das relações familiares e pessoais, os montantes emprestados, as categorias sociais de credores e devedores, a dispersão espacial das relações de crédito, entre outras. Essas ações abrangem relações de empréstimo de dinheiro, serviços e bens, incluindo as hipotecas, mas também aquelas sem esse tipo de garantias. A originalidade do trabalho se encontra em grande parte na sensibilidade de escolher e explorar competentemente essa fonte.
As informações constantes nas ações de execuções de dívidas, complementadas e contrapostas àquelas constantes nos inventários post-mortem e nas escrituras de hipotecas, para além da análise qualitativa, receberam um aprumado tratamento quantitativo, sintetizado em tabelas e gráficos. A análise desses dados permitiu à autora adentrar ao mundo das relações de crédito, não apenas corroborando sua hipótese de existência desse mercado regional de crédito em Juiz de Fora, mas também caracterizando de forma aprofundada a oferta e a demanda por crédito, assim como a trajetória dessa relação nas diferentes conjunturas econômicas do Brasil da segunda metade do século XIX.
A construção da obra traduz esse movimento, integrando a análise qualitativa e a quantitativa dos dados em constante diálogo com a historiografia econômica brasileira e estrangeira. O primeiro capítulo, intitulado “Dar crédito é acreditar: relações de crédito em uma sociedade do século XIX”, além de uma minuciosa análise da origem, da tramitação e implicação das ações de execução de dívidas, estabelecidas pelo Código Comercial de 1850, traz a definição dos conceitos essenciais à análise, tais como o conceito de mercado, de crédito e de circulação da informação. A autora segue a definição de crédito expresso pela historiadora portuguesa Maria Manuela Rocha (Viver de crédito: práticas de empréstimos no consumo individual e na venda a retalho. – Lisboa, séculos XVIII e XIX. Working Papers , Lisboa, GHES, n. 11, 1998), que abrange as trocas de bens e serviços, excetuando alguns casos, tais como dotes e heranças.
Contrapondo sua análise a várias outras que abordaram o crédito envolvendo bancos, comissários do café ou grandes “capitalistas” e relacionadas exclusivamente ao financiamento das atividades do complexo cafeeiro, a autora afirma que não irá utilizar “essa divisão em categorias sociais específicas” (p. 76), o que lhe permitiu visualizar a sociedade de Juiz de Fora nas diversas categorias declaradas pelos agentes, expondo a capilaridade do emprestar e do dever. Nesse sentido, o trabalho insere-se entre as recentes abordagens da historiografia econômica sobre o tema que trouxeram novas questões, tais como a importância e o peso das relações pessoais, os mecanismos informais de crédito, os aspectos não monetários dessa relação, etc.
O segundo capítulo, “Pedir e emprestar: o mercado de crédito em uma comunidade cafeeira”, analisa as diferentes conjunturas econômicas brasileiras na segunda metade do século XIX aos primeiros anos do século seguinte, com destaque para os movimentos decorrentes da crise da Casa Souto (1864) e a crise do Encilhamento, movimentos que tiveram impacto sobre as relações de crédito no Brasil. Demarcados esses momentos e à luz desses movimentos, a autora passa a apresentação do mercado de crédito de Juiz de Fora, apresentado dados gerais da documentação trabalhada, tais como número de processos, valores das dívidas e sua distribuição temporal e espacial, frequência com que os agentes emprestavam e tomavam emprestado, taxas de juros, prazos, garantias, etc. Trata-se de uma visão abrangente, mas que permite ao leitor compreender a pertinência da hipótese da autora, caracterizando, em linhas gerais, a existência de um mercado de crédito em Juiz de Fora e suas imbricações com o mercado nacional.
A partir do terceiro capítulo, “Regiões que emprestam e suas relações de crédito: a natureza das dívidas e a cobrança de juros”, a autora passa a caracterizar as relações estabelecidas nesse mercado: a dispersão espacial de credores e devedores, as taxas de juros praticadas e natureza das dívidas. A análise da distribuição espacial dos credores corrobora a hipótese do caráter regional do mercado de crédito nucleado pela cidade de Juiz de Fora, que abrange preponderantemente a Zona da Mata mineira, mas que se vincula fortemente com a Província/Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a capital. Ao analisar a natureza das dívidas, a autora observa o predomínio de fazendeiros, negociantes e bancos nessas relações, as quais envolviam preponderantemente empréstimos de dinheiro (16,5% dos valores e 37% das transações), hipotecas (55,9% dos valores e 25,9% das transações) e letras (14,2% dos valores, representando 15,4% do total de transações creditícias). No entanto, a pesquisa traz à luz vinte e dois tipos de dívidas, revelando as várias formas assumidas pelo crédito, abrangendo o arrendamento de terras, compras de gêneros, jornais de escravos, vales, penhor, serviços prestados, compra e juros de debêntures, etc. Dados que demonstram a diversidade de relações envolvidas. Ponto interessante no trabalho foi demonstrar que as taxas de juros anuais variavam consideravelmente (de 4% a 30% a.a.), mas que predominava, em quase 50% dos contratos de crédito, a taxa de 12% a.a. Confrontando esses dados com os de outros historiadores, Almico observa que as taxas não eram elevadas, não havendo encontrado queixas em relação a cobranças extorsivas nas ações de execução de dívidas pesquisadas.
Os dois últimos capítulos tiveram como objeto de análise os dois polos da relação de crédito: o credor e o devedor. No capítulo “Se constitui meu devedor: credores e suas relações no mercado regional de crédito”, a autora analisa os agentes que emprestavam recursos, em diferentes aspectos, tais como categoria social, número de ações, valores transacionados, etc. O predomínio de emprestadores residentes em Juiz de Fora, seguidos daqueles do Rio de Janeiro, corrobora estudos que evidenciam a origem local dos recursos que financiavam o setor cafeeiro brasileiro, fato que em parte pode ser atribuído ao reduzido número e tardio surgimento de bancos que atendessem à demanda por crédito dos produtores de café. O predomínio de emprestadores residentes em Juiz de Fora corrobora uma das hipóteses da autora, a da existência de um mercado de crédito regional polarizado por aquele município e a importância da circulação de informações na região com uma variável que viabilizava a concretização desses negócios. O universo de credores era composto de 30 ocupações, dentre as quais se encontravam advogados, padeiros, carpinteiros, médicos, etc. Dentre os emprestadores, destacavam-se, em número e nos valores transacionados, aqueles que se identificaram com fazendeiros e negociantes. A participação destacada dos fazendeiros, segundo a autora, traduz a concentração de renda e da propriedade associada à sociedade brasileira e, particularmente, de uma região vinculada ao complexo cafeicultor, mas também permite verificar um transbordamento de recursos gerados pelo setor cafeicultor para outros setores da sociedade através das relações de crédito. Importante observar que os bancos se envolveram em um número pequeno de ações de execução de dívidas (1,93%) quando comparados aos fazendeiros e negociantes; no entanto, é relevante o elevado valor que suas transações, ocupando o terceiro lugar no conjunto do período (19,83%). As ações de execução movidas por bancos tornaram-se mais frequentes somente a partir da década de 1880, e tinham como devedores apenas fazendeiros e negociantes. Fato que evidencia que a maior parte dos devedores buscava recursos junto a outros agentes privados.
Os devedores foram analisados no quinto e último capítulo, “Devo que pagarei: devedores e suas relações no mercado regional de crédito”. Sendo as ações de execução de dívida abertas no município de domicílio dos devedores, esses eram quase que inteiramente residentes em Juiz de Fora e seus distritos (97,4% das ações), excetuando-se apenas aqueles que mudaram após a abertura do processo. Dentre esses destacavam-se os produtores de café, tomados como sinônimo de fazendeiros (62%). Interessante observar que o grupo de devedores era menos diversificado que o de credores; pois suas declarações abrangeram 21 ocupações diversas incluindo, entre outros, barbeiros, carpinteiros, marceneiros, um boticário e um operário. Como a fonte indica, se os fazendeiros se destacavam dentre os tomadores de empréstimos, eram aqueles que tiveram as dívidas executadas com maior frequência, as quais ocorreram predominantemente em conjunturas de crise econômica. Muito relevante é a evidência de que os fazendeiros buscavam empréstimos preferencialmente junto a outros fazendeiros. Da mesma forma, os que se identificavam como negociantes buscavam recursos prioritariamente junto àqueles de mesma ocupação. Fatos que demonstram que a boa circulação de informações, o conhecimento das condições de mercado e, infere-se, as relações pessoais desempenharam um papel importante nessas transações. O capitulo é encerrado com um estudo de caso, o de José Bernardino de Barros, Barão das Três Ilhas, produtor de café de um distrito de Juiz de Fora. Esse caso ganha relevância pela forma como seus credores se articularam em torno dos irmãos do devedor, dentre os quais, Gabriel Antônio de Barros, Barão de São José Del Rey, para reaver seus direitos. A autora demonstra que a ação dos irmãos, administrando as fazendas do devedor, foi pautada pelo desejo não apenas de preservar o patrimônio familiar, mas de garantir os direitos dos quarenta e dois credores.
Um ponto que causa estranhamento é o fato da filiação teórica-metodológica da autora não haver sido explicitada na introdução da obra. Como alertou José Jobson de Arruda (p. 19), na apresentação do livro, essa só é declarada na conclusão, ou seja, quando a autora explicita a influência de historiadores marxistas como Joseph Fontana, François Furet, Eric Hobsbawm e a sua filiação à história quantitativa e serial. O lidar com números, a construção de séries e o manejo de um grande volume de dados são, por si, tarefas árduas que exigem não apenas seleção criteriosa e crítica das fontes, mas também reflexão cuidadosa sobre os métodos empregados. Justamente por isso, sente-se falta de uma discussão mais profunda da metodologia utilizada e de seus pressupostos teóricos na introdução. No entanto, a leitura do livro supre essa lacuna inicial, desvendando um dos méritos da obra. Essa opção metodológica impõe ao historiador muitos cuidados para fugir à armadilha de simplesmente “ler” as tabelas e gráficos ou perder-se em análises baseadas na correção entre variáveis descoladas da realidade. Escapando à armadilha, tão em voga, de tomar o método como um fim em si mesmo, de fazer uma história “sem pessoas”, na qual os números são considerados necessários e suficientes para abrir a janela do passado, Almico busca “qualificar o quantificável” (p. 261). Ela pensa o passado com base nas evidências quantificáveis, as quais analisa em seus contextos para desnudar agentes e processos nem sempre presentes nos estudos sobre a Zona da Mata mineira ou o complexo cafeeiro. Assim, a autora construiu um livro interessante e original sobre um tema aparentemente árduo, revelando, para além de bancos, fazendeiros e grandes negociantes, relações que abrangiam diferentes categorias sociais até então desconhecidas como ofertantes e demandantes de crédito.
Marcia Eckert Miranda – Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: mmiranda@unifesp.br
ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Em nome da palavra e da Lei: relações de crédito em Minas Gerais no Oitocentos. Rio de Janeiro: 7 LETRAS, 2015. Resenha de: MIRANDA, Marcia Eckert. Entre devedores e credores: o mercado de crédito em Juiz de Fora, MG, 1850-1906. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 209-213, jan./abr., 2016.
A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822) | João Paulo Pimenta
A desagregação dos impérios espanhol e português é objeto de vastíssima bibliografia. Vinculado a esse assunto, a independência das colônias americanas é um dos temas de estudo marcado por uma infinidade de debates historiográficos importantes. No caso específico do Brasil, um desses importantes temas historiográficos refere-se à dicotomia continuidade/descontinuidade com o passado colonial. Outros pontos importantes relacionam-se com a problemática da manutenção da unidade e com o debate sobre a recolonização do Brasil. A historiografia é abrangente, e boa parte dessas discussões remete ao século XIX.
O livro de João Paulo Pimenta, A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822), é mais um trabalho importante que surge nesse vasto conjunto bibliográfico. O livro propõe uma mirada significativamente insinuante ao tratar esse momento histórico de uma perspectiva ampla, que insere diversos espaços e atores em um cenário maior de profundas redefinições. Esses espaços e atores são aqueles vinculados à “crise e dissolução do Império espanhol na América” e aos envolvidos diretamente na realidade luso-americana.
Pimenta procura estudar como a experiência hispano-americana condicionou a trajetória política dos sujeitos na América portuguesa num contexto mundial turbulento, marcado pela guerra na Europa e pela fragilização dos controles metropolitanos sobre as colônias americanas. Em seus termos,
as transformações políticas em curso na América espanhola durante a crise e dissolução do Antigo Regime constituíram um espaço de experiência para o universo político luso-americano, em grande medida responsável pelas condições gerais de projeção e consecução de horizontes de expectativas na América portuguesa, dos quais resultou um Brasil independente de Portugal, nacional, soberano, monárquico e escravista” (p. 31)
Nessa passagem, estão sublinhadas as duas categorias históricas concebidas por Reinhart Koselleck, a categoria de “espaço de experiência” e a de “horizonte de expectativas”. De fato, ao longo do livro, é possível notar grande unidade narrativa que demonstra como o universo de crise do império espanhol constituiu-se como um espaço de experiência para que os atores vinculados diretamente ao mundo luso-americano pudessem projetar um horizonte de expectativas para o império português. Em diversos momentos do livro, a associação é evidente, como, para citar apenas um exemplo, no caso da Revolução Pernambucana de 1817, quando a experiência hispano-americana explodiu internamente no espaço político luso-americano.
Organizado em quatro capítulos que seguem a lógica dos acontecimentos internacionais entre 1808 e 1822, Pimenta acompanha as vicissitudes que marcaram os impérios espanhol e português, ambos afetados diretamente pelo curso das guerras napoleônicas e por um ambiente revolucionário que facultava a mobilização e a propagação de ideias de transformação. A leitura do livro permite o entendimento de que o Brasil se inseria num contexto marcadamente revolucionário na qual a proximidade com os acontecimentos da América espanhola era determinante para a atuação dos sujeitos – fossem eles apoiadores da Corte joanina ou críticos dela.
No primeiro capítulo, intitulado “A América ibérica e a crise das monarquias (1808-1809)”, tem-se uma compreensão da situação crítica vivida por Portugal e Espanha e da aproximação das experiências desses dois países, que combatiam o mesmo inimigo. A integração econômica entre diversas partes do império português e a América hispânica, especialmente as relações comerciais com o Rio da Prata, e os acontecimentos revolucionários que se iniciam com a invasão napoleônica das metrópoles ibéricas oferecem as bases para a atuação da política externa da Corte joanina. Com o colapso das metrópoles ibéricas, Pimenta expõe as reações hostis na América espanhola ao novo governante francês e o surgimento de diversos projetos para enfrentar a crise, com ênfase para o “projeto carlotista”, que impulsionou disputas em diversos pontos do continente, como no Alto Peru (p. 74-75).
Esse primeiro capítulo apresenta passagens importantes que contextualizam a crise do início de século XIX na América e na Europa, com destaque para a ação da Grã-Bretanha, numa clara tentativa de inserir os acontecimentos americanos na chamda Era das Revoluções. O momento revolucionário fica evidente no fracasso do projeto carlotista incentivado pela Corte do Rio de Janeiro, que pretendia a fidelidade da América espanhola a um parente – Carlota Joaquina – do rei espanhol destronado. Nas palavras do autor, tal projeto
encontrava o mesmo obstáculo que qualquer outro encontraria: a impossibilidade de obtenção de uma unanimidade dentro de uma unidade em profunda crise de legitimidade e de representação política como era o Império espanhol, e que agora conhecia a explosão conflituosa de sua natural diversidade. Vimos como o ocaso dos tradicionais vínculos de coesão nacional fazia surgir dilemas e contradições sem solução, convertendo-se em revolucionário até mesmo aquilo que se pretendia conservador. Ao propor uma manutenção – que era ao mesmo tempo uma substituição – desses vínculos por meio da preservação da dinastia, o projeto carlotista tampouco escaparia a essas armadilhas. (p. 84)
O capítulo 2, “O Brasil e o início das revoluções hispano-americanas (1810-1813)”, apresenta a monarquia portuguesa já consolidada no Rio de Janeiro. Sua ideia central é simples. À medida que se aprofunda na América hispânica, a crise do colonialismo espanhol teria condicionado a política na América portuguesa. De acordo com Pimenta, foi crucial para o governo de D. João acompanhar de perto as notícias da parte convulsionada da América espanhola, especialmente porque, como já referido, os contatos entre uma parte e outra dos domínios ibéricos – muitos dos quais comerciais – eram frequentes, e o perigo de contágio, real. Uma vez mais, compreende-se por que o espaço de experiências das colônias espanholas constituiu-se como um horizonte de expectativas para a política joanina. Isso explicaria três elementos muito importantes abordados no capítulo. O primeiro diz respeito à intensa correspondência entre América e Europa travada pelas autoridades portuguesas. O segundo, à repercussão dos acontecimentos internacionais nos jornais que circulavam no Brasil, especialmente Gazeta do Rio de Janeiro, Idade do Ouro do Brasil e Correio Brasiliense. Por fim, à política interna do governo joanino como, por exemplo, os silêncios e lacunas nas notícias da Gazeta do Rio de Janeiro, a censura a periódicos e a perseguição feita pela Intendência Geral de Polícia do Rio de Janeiro aos franceses – inimigos naturais na Europa – e espanhóis – possíveis inimigos e vizinhos na América. Eles poderiam divulgar ideias perigosas e revolucionárias, segundo o ponto de vista das autoridades. Por isso, conclui Pimenta, “a situação dos domínios espanhóis claramente punha em xeque a própria possibilidade de sustentação da monarquia como regime político. O que notadamente não poderia deixar de dizer respeito ao Brasil, ainda mais porque tudo isso se passava em territórios a ele contíguos” (p. 186).
No terceiro capítulo, denominado “O Brasil e a restauração hispano-americana (1814-1819)”, tem-se um enfoque mais preciso na situação dos países ibéricos no contexto da nova ordem pós-napoleônica. O cenário de turbulência da América hispânica, marcada pela guerra civil – objeto de denúncia do Correio Brasiliense – e o acompanhamento e a atuação do governo de D. João frente à situação dramática dos vizinhos são dois pontos que o autor consegue muito bem correlacionar. Nesse contexto, as peças de um xadrez revolucionário se movimentam no tabuleiro do espaço Atlântico, tanto do lado de cá, na América, quanto do lado de lá, na Europa, com a nova ordem sendo construída a partir do Congresso de Viena. O difícil jogo de aproximação que se constrói entre os governos de Portugal e Espanha nesse contexto, a ameaça à segurança interna ao império português, as tensões geradas pelo governo de Buenos Aires e pela atuação de Artigas, a necessidade de proteção às fronteiras e a invasão da Província Oriental, tudo isso chama a atenção do leitor para a complexidade do quadro que se apresentava para o universo político português. Nesse sentido, cumpre destacar dois pontos: a caso da localidade de Marabitanas, às margens do rio Negro, na Amazônia, e a atuação de Lecor na Província Oriental. No que se refere ao primeiro ponto, destaca-se a proteção às fronteiras dos domínios portugueses em uma localidade distante do Rio de Janeiro. O aparente isolamento não esconde as intensas comunicações feitas pelo comandante do posto militar de Marabitanas, Pedro Miguel Ferreira Barreto, com o governador do Rio Negro, bem como a necessidade de negociações entre os portugueses nessa fronteira e os revolucionários na Venezuela. Com relação à Província Oriental, destaca-se o modo como atuou o militar Carlos Frederico Lecor na consolidação dos interesses portugueses na região sul do Brasil. Todo esse cenário de turbulências, guerra civil e ameaças de revolução preocupavam a Corte joanina, especialmente após o movimento revolucionário de 1817 em Pernambuco. Justificava-se, desse modo, o acompanhamento das transformações no mundo hispano-americano. Como escreve Pimenta, “o ano de 1817 agregou a um conhecido quadro de medos, tensões e descontentamentos um novo componente: a revolução, que agora se concretizava não somente na vizinhança, mas também no interior do Reino Unido, em Portugal e no Brasil”.
O momento crítico entre os anos de 1820 e 1822 é o assunto do último capítulo, “A Independência do Brasil e a América”. Esse capítulo representa uma continuidade com a tese central da pesquisa de Pimenta, qual seja, a de que a experiência da América espanhola conformou o universo político do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e também a experiência histórica dos partidários da independência do Brasil. Apesar disso, não houve uma determinação mecânica dos ritmos e caminhos entre o que ocorria nas independências da América hispânica e no Brasil. Nas palavras do autor, a experiência hispano-americana
desfrutará [no momento de crise final dos impérios ibéricos] de condições especialmente favoráveis de amplificação no mundo português, amadurecida e publicizada em proporções até então inéditas. Após ter introduzido, durante os anos anteriores, elementos determinantes para as modalidades desde então assumidas pelos projetos de futuro formulados no universo político luso-americano, essa experiência continuará a ser metabolizada no contexto vintista, para fazer despontar uma solução progressivamente hegemônica para a crise portuguesa, cuja perpetuação será o ‘motor’ da própria independência e constituição do Brasil como Estado autônomo, nacional e soberano.
A crise manifestada pela experiência hispano-americana e suas implicações para o universo político do Reino Unido se manifestará em diversos assuntos, como os debates acerca da permanência de D. João no Brasil e a incorporação da Província Cisplatina ao Reino Unido. A Revolução do Porto e a reunião das Cortes de Lisboa, episódios que acentuaram as diferenças entre os interesses portugueses e os do Brasil, são analisados de modo integrado ao quadro de ruptura definitiva que ocorria em diversos pontos da Américas espanhola. A crise apresenta aos brasileiros um leque de alternativas temerárias. Entre elas estavam a guerra civil – que no plano linguístico expressava-se pelos termos anarquia e revolução – e a independência.
Ao final da leitura, uma certeza. A de que é imprescindível inserir os acontecimentos ocorridos na América no quadro mais amplo da Era das Revoluções. Sem dúvida, as ocorrências estudadas por Pimenta podem ser classificadas como revolucionárias porque “tanto Portugal e Espanha quanto seus respectivos impérios ultramarinos integram uma mesma conjuntura política e econômica mundial, marcada pelo avanço do Império de Napoleão e sua subsequente submissão aos padrões reacionários legitimistas da Santa Aliança, bem como pela emergência da Grã-Bretanha na condição de potência hegemônica, alavancada pelo seu pioneirismo no desenvolvimento de padrões industriais de produção capitalista” (p. 462). A leitura do livro, sem dúvida, permite perceber essa perspectiva ampla.
Agregando valor aos grandes temas historiográficos sobre a independência do Brasil, o livro de João Paulo Pimenta será referência para qualquer estudo que revisite o processo de independência do Brasil quebrando as grades de ferro do nacionalismo metodológico.
Marco Aurélio dos Santos – Departamento de História da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: marcoholtz@uol.com.br
PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiênciaamericana (1808-1822). São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2015. Resenha de: SANTOS, Marco Aurélio dos. A independência das Américas na era das revoluções. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 214-217, jan./abr., 2016.
African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World | Ana Lucia Araujo
Quando este novo livro organizado pela historiadora Ana Lucia Araujo chegou em minhas mãos, o momento não poderia ser mais oportuno. Eu estava ainda estarrecido pela existência, em um shopping de classe alta de São Paulo, de uma loja de roupas femininas de alta costura chamada “Sinhá”. Semanas antes, eu havia fotografado um prédio, localizado em outro bairro também de classe alta da mesma cidade, com o nome “Edifício Senzala”. Os exemplos não param. Mas o que nos interessa nestes casos é o fato de que o passado escravista ainda é mote de controversas elaborações da memória pública e coletiva e, como demonstra o argumento central do livro em questão, isso representa em grande medida a forma como se tem considerado a presença e a participação da população negra na história do Brasil.
Mas o interesse é, sobretudo, historiográfico. African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World é uma síntese de como os temas do legado africano, da escravidão e do pós-abolição têm sido pensados e discutidos face às reformulações do espaço público e da memória coletiva das populações negras no Atlântico Sul. Escrita para o leitor em língua inglesa, a obra, porém, é resultado do trabalho de pesquisadoras e pesquisadores da Europa, Brasil e Estados Unidos que, a partir de diferentes perspectivas e diversos temas, privilegiam o Atlântico Sul em suas análises.
A reunião de artigos que constitui a obra possui como fio condutor os significados que a escravidão de africanos e seus descendentes imprimiu nas sociedades contemporâneas. O tema é central na obra de Ana Lucia Araujo, historiadora brasileira radicada nos Estados Unidos, onde leciona História da América Latina e do Mundo Atlântico, na Howard University. Em obras como Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery [1] (2014) e Public Memory of Slavery: Victims and Perpetrators in the South Atlantic [2] (2010), Araujo tem desenvolvido estudos acerca da presença do passado escravista nos debates sobre patrimônio, políticas de reparação, reconhecimento social e racismo. Autora de dezenas de artigos e capítulos em livros, a autora organizou outros três títulos sobre o assunto [3].
Em African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World, a organização dos 10 capítulos nos quais a temática ganha corpo e expressão resulta em uma leitura que evidencia experiências históricas e sociais compartilhadas nas duas margens do Atlântico Sul (Brasil e África), mas sem perder de vista as especificidades regionais e dos suportes institucionais a que se referem (museus, patrimônio cultural, espaço público etc).
No primeiro capítulo, “Collectionism and Colonialism: the Africana Collection at Brazil’s National Museum (Rio de Janeiro)”, a historiadora Mariza de Carvalho Soares demonstra o importante papel que a lei 10.639 (que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileiras no currículo oficial), sancionada em 2003, assumiu para o crescimento do interesse na reformulação e reconceitualização das coleções de obras africanas nos museus brasileiros. Partindo da experiência do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a historiadora aponta a profunda relação da criação das coleções africanas com o tráfico negreiro e com a ocupação colonial na África de fins do século XIX, como ocorre em diversos outros museus do mundo.
A instituição museológica é também tema do capítulo 9, “Preserving African Art, History and Memory: The AfroBrazil Museum”, da historiadora da arte Kimberly Cleveland. Neste caso, a autora apresenta o processo de constituição do Museu AfroBrasil, em São Paulo, procurando compreender o seu contexto de criação. Por meio da análise da exposição permanente do museu, conclui que a instituição assume o papel de revisitar a história oficial do Brasil, evidenciando a importância da população negra para a arte, memória e cultura brasileiras. O trabalho de pesquisa e educação desenvolvidos no museu, somado ao fato de esta ser a maior instituição de preservação da cultura africana e afro-brasileira é, do ponto de vista de Cleveland, um indício das mudanças governamentais em relação ao tema. O grande ganho do capítulo é aliar uma investigação cuidadosa da história da instituição com a análise dos processos históricos mais estruturais do Brasil, iluminando as questões levantadas com entrevistas de profissionais do museu (como o atual diretor Emanoel Araújo) e com interpretações do espaço expositivo.
Outro tema de grande destaque na obra é a cultura visual, questão central de dois capítulos. “Race and Visual Representation: Louis Agassiz and Hermann Burmeister” (capítulo 2), de Maria Helena Machado, se volta para as coleções fotográficas dos naturalistas oitocentistas que possuem como modelos mulheres e homens africanos, registradas durante a Expedição Thayer (1865-1866). A historiadora situa essa produção visual no contexto de desenvolvimento das ciências anatômicas e da história natural, que desde o século XVIII incrementam os estudos que relacionam tipos físicos e organizações sociais, a fim de criar hierarquias para a diversidade humana. As comparações entre esculturas que representam o ideal clássico de beleza (de origem greco-romana), com as fotografias registradas no Brasil, foram comuns após o retorno de Agassiz aos Estados Unidos, onde conferiu diversas palestras sobre o assunto. Desse modo, a representação das “raças” humanas nas fotografias, serviu para reforçar ideias de “raças puras”, característica central de políticas segregacionistas.
Do mesmo modo, o capítulo 3, “Counterwitnessing the Visual Culture of Brazillian Slavery”, do historiador da arte Matthew Francis Rarey, demonstra como a representação dos castigos e das punições de escravizados, recorrentes nas obras de artistas europeus do século XIX, como Debret e Rugendas, criaram códigos visuais que ajudam a compreender a violência como um elemento fundacional da escravidão brasileira. Entretanto, o que Rarey procura demonstrar é a relação entre a cultura visual da violência com as rebeliões de escravizados recorrentes no período. O capítulo evidencia a cultura visual como um testemunho da sociedade que, assim como outros documentos, deve ser lido a contrapelo, a fim de se compreender a ação dos sujeitos subalternizados.
Os dois capítulos seguintes tratam das permanências culturais de práticas de matrizes africanas na atualidade. Em “Angola in Brazil: The Formation of Angoleiro identity in Bahia”, capítulo 4, Mathias Röhring Assunção examina a influência centro-africana para a cultura e práticas religiosas afro-brasileiras. Inicialmente Assunção discute os significados do termo angola, como no caso da capoeira que, seguida dessa denominação, é associada a certa pureza cultural, ao contrário do que ocorre com o Candomblé Angola, associado a mistura de culturas. As diferentes concepções da herança angolana ajudam a compreender como as identidades africanas se reconstruíram a partir da experiência do tráfico e sobrevivem até os dias atuais, dando sentido para lutas em prol do reconhecimento de patrimônios e práticas constitutivas da cultura afro-brasileira.
No quinto capítulo, “Memories of Captivity and Freedom in São José’s Jongo Festivals: Cultural Heritage and Black Identity, 1888-2011”, as historiadoras Hebe Mattos e Martha Abreu examinam a atuação de diferentes grupos afro-brasileiros da região do Vale do Rio Paraíba para a recuperação das práticas culturais africanas e afro-brasileiras, muitas delas remontando ao período da escravidão. Neste caso, a prática do jongo, ou caxambu, é colocada em evidência, relacionando-a com a presença de centro-africanos na época do tráfico negreiro. Palavras de origem Kikongo e Kimbundu, as danças circulares, a presença do fogo, entre outros elementos, atestam as transformações das práticas culturais e como elas fundamentam inclusive a atuação política de grupos pelo reconhecimento do patrimônio afro-brasileiro. As entrevistas realizadas pelas historiadoras com descendentes de escravizados da região, constituem experiência quase única na produção historiográfica brasileira, e são importantes documentos para a compreensão das transformações socioculturais da presença africana no Brasil.
Os espaços e as territorialidades aparecem como outro recorte temático aparente na obra, em três capítulos. O capítulo 6, “From Public Amnesia to Public Memory: Rediscovering Slavery Heritage in Rio de Janeiro”, de André Cicalo, discute o processo de memorialização do Cais do Valongo, a partir da descoberta, em 2011, das ruínas do antigo cais na região portuária da cidade do Rio de Janeiro. No Valongo, desembarcaram milhares de africanos, principalmente entre os anos 1758 a 1831, constituindo este como um espaço importante de memória da escravidão. O capítulo procura situar a importância da atuação de diversos ativistas e coletivos negros frente às instâncias municipais de patrimonialização.
Os portos de origem dos africanos desembarcados no Valongo eram situados sobretudo na região da atual Angola, como Luanda e Benguela. Estes espaços são objetos de reflexão de Marcia C. Schenck e Mariana P. Candido no capítulo 7, “Uncomfortable Pasts: Talking about Slavery in Angola”. As autoras investigam os modos pelos quais o tráfico negreiro e a escravidão se relacionam com a memória das populações locais, e como essa memória foi reelaborada diante das turbulências sociais e conflitos vividos pelas guerras anticoloniais e civil, entre os anos de 1961 e 2002. O capítulo realiza um exercício de comparação entre o discurso sobre este passado apresentado no Museu da Escravatura e aquele compartilhado entre as pessoas que vivem na região, por meio de entrevistas realizadas ao longo da pesquisa. O tema é de importância central, tendo em vista que a historiografia sobre o tema pouco se debruçou sobre o impacto da escravidão e do tráfico para a constituição da esfera pública das sociedades africanas.
Por outro lado, a cientista social Patricia de Santana Pinho examina, no capítulo 8, a criação e as transformações das rotas turísticas baseadas no patrimônio africano na Bahia, região de desembarque de milhares de africanos ao longo do período do tráfico negreiro. Em “Bahia is a Closer Africa: Brazilian Slavery and Heritage in African American Roots Tourism”, Pinho evidencia a construção de uma imagem pública da Bahia que, associada à diáspora africana e a um sentimento de africanidade, não dá ênfase, entretanto, aos locais historicamente associados a escravidão. Este apagamento do passado escravista, presente nas rotas turísticas baianas é, segundo a autora, um indício da ainda presente ideologia da democracia racial na indústria do turismo brasileiro.
O décimo e último capítulo, “The Legacy of Slavery in Contemporary Brazil”, da socióloga Myriam Sepúlveda dos Santos, trata da memória coletiva da escravidão no Brasil, destacando o modo pelo qual o patrimônio da escravidão e a própria população afrodescendente têm sido representados no espaço público. A autora analisa os discursos presentes em estudos sobre a escravidão, desenvolvidos no Brasil até fins da década de 1970, demonstrando como a miscigenação e a democracia racial ainda constituíam as narrativas oficiais, que acabavam por inviabilizar a experiência da escravidão como violenta e traumática para as populações descendentes de africanos escravizados. Isso começa a mudar a partir de 1980, quando os estudos passam a enfatizar a agência de africanos e afrodescendentes, destacando o passado traumático e as violações dos direitos humanos, que ensejam as discussões sobre políticas reparatórias. O capítulo final da obra apresenta as dificuldades que a escravidão legou para a constituição de uma memória coletiva que leve em conta o trauma histórico e, por isso, tem o tom de uma conclusão geral para os assuntos tratados nos capítulos anteriores, que possuem essa consideração como fio condutor.
A interdisciplinaridade, a variedade de objetos de estudos, a diversidade de abordagens e as diferentes experiências de pesquisas, situadas em culturas historiográficas polifônicas, são elementos que fazem desta uma obra de fundamental leitura para a compreensão dos difíceis caminhos que a memória da escravidão e do passado africano encontraram e encontram para as sociedades contemporâneas. O olhar diacrônico, atento ao mesmo tempo aos complexos processos históricos – com suas tensões, conflitos e projetos contingentes – e às elaborações da memória, da escrita da história e das narrativas coletivas do presente, é o grande ganho do livro.
Se, como afirma Paul Gilroy, o atlântico negro pode ser definido pelas “formas culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais originadas pelos negros dispersos nas estruturas de sentimento, produção, comunicação e memória” [4], ainda é necessário compreender como essas experiências atlânticas foram elaboradas frente à escravidão e como suas reelaborações posteriores, por meio da constituição da memória coletiva, do patrimônio e do espaço público, imprimiram conflitos ainda presentes nas sociedades contemporâneas. Este livro é um grande avanço nesse sentido, principalmente por destacar o Atlântico Sul, espaço muitas vezes deixado de lado pelos estudiosos do mundo atlântico.
African Heritage and Memories of Slavery deve ser lido como um esforço de sistematização dos temas que envolvem a memória da escravidão e a presença africana no Atlântico, mas também como uma obra provocativa de novos estudos e reflexões. A qualidade dos textos e das pesquisas, e a vasta produção bibliográfica dos autores, especialistas em seus temas, tornam urgentes e necessárias a tradução e publicação da obra em língua portuguesa, considerando que cumpre com excelência o seu papel de apresentar ao público os complexos rumos da nossa história, entrelaçada e enraizada com a história da África e da escravidão.
Notas
1. Araujo, Ana Lucia. Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery. New York: Routledge, 2014. 268 p.
2. Idem. Public Memory of Slavery: Victims and Perpetrators in the South Atlantic. Amherst, NY: Cambria Press, 2010. 502 p.
3. Politics of Memory: Making Slavery Visible in the Public Space. New York: Routledge, 2012. 296 p.; Paths of the Atlantic Slave Trade: Interactions, Identities and Images. Amherst, NY: Cambria Press, 2011. 476 p.; e Living History: Encountering the Memory of the Heirs of Slavery. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 290 p.
4. GILROY, Paul. O atlântico negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 35.
Rafael Domingos de Oliveira – Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – São Paulo, SP, Brasil. E-mail: rafael.historiasocial@gmail.com
ARAUJO, Ana Lucia. African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World. Amherst, NY: Cambria Press, 2015. Resenha de: OLIVEIRA, Rafael Domingos de. Passados feridos: legado africano e memória da escravidão. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 218-222, jan./abr., 2016.
Palavras cruzadas – GRAMMONT (AF)
GRAMMONT, Guiomar. Palavras cruzadas. [Sn.]. Resenha de: JARDIM, Eduardo. Artefilosofia, Ouro Preto, n.20, 2016.
Palavras cruzadas, de Guiomar de Grammont, é um livro corajoso. Aborda o destino trágico dos guerrilheiros do Araguaia, que se tornaram perseguidos políticos no período da ditadura militar. Muitos foram mortos, outros continuam desaparecidos, como Leonardo, o personagem do romance. O tema já foi tratado anteriormente pelos historiadores, mas não da forma tão livre como faz Guiomar.
Essa liberdade certamente tem a ver com o fato de que a exploração do assunto se faz, no caso, por meio de uma obra literária. O livro escapa da visão simplificadora que opõe heróis e vilões e encara de frente a complexa e dolorosa trajetória do personagem do desaparecido. A narrativa de Sofia, irmã de Leonardo, é o fio condutor do romance. Ela quer a todo custo resgatar do esquecimento a história do irmão. São vários os sentidos da sua busca. Explicitamente trata-se de uma retomada da figura de Antígona, que enfrenta as leis da cidade para poder en terrar o corpo do irmão. Porém, de forma indireta, o romance toca em aspectos centrais do significado da narrativa literária, incluindo a tragédia grega. Dois deles são particularmente pertinentes: a dimensão catártica da literatura e, relacionado com ela, a possiblidade de a literatura promover a reconciliação com a realidade e, como decorrência, tornar possível um recomeço da vida.
Guiomar tem todo motivo para usar como epígrafe uma passagem da Antígona, de Sófocles, que se refere à decisão da heroína d e não deixar insepulto o cadáver do irmão, exposto aos ataques dos cães famintos e das aves carniceiras. O livro também traz à lembrança uma passagem de outra escritora, a dinamarquesa Isak Dinesen, lembrada por Hannah Arendt: “Todas as mágoas são suportáveis quando se pode contar uma história a seu respeito.” Como explicar este poder da narrativa de dar alento àquele que ouve ou lê a história de seus próprios sofrimentos, como aconteceu com Ulisses, na corte dos feácios? Há, primeiramente, o fato de que o contar a história estabelece uma distância do que efetivamente ocorreu. Há uma cessação do sofrimento efetivo. Ao mesmo tempo, a narrativa torna possível a reapresentação dos acontecimentos, o que constitui uma forma de se reaproximar deles. Isto quer dizer que a narrativa promove a reconciliação com a realidade. Ao mesmo tempo que guarda um elemento curativo, o contar a história tem o dom de dar significado àquilo que escapa à compreensão. Em Palavras cruzadas, dois personagens contrastam em sua maneira de lidar com a trajetória de Leonardo – a irmã, Sofia, e a mãe, Luisa. Esta última prefere esquecer. Já envelhecida, ela revela à filha que não se importa de perder a memória, pois lembrar é doloroso demais. Narrar a história do que aconteceu está vedado para ela. Assim, não há chance s de superar a dor, de reconciliar-se com o que aconteceu, de compreender seu significado. Sofia, pelo contrário, encarna a figura da narradora, adota o ponto de vista que é possivelmente da própria autora do livro. Não seria exagerado dizer que, no seu caso, existe salvação. Por este motivo, pode-se dizer que Palavras cruzadas, apesar de todo o percurso trágico descrito, tem um desfecho positivo. A comprovação disto é o encontro de Sofia com a sob rinha, até então desconhecida, que representa no livro a vida que se reinicia. Narrar, reconciliar-se, compreender efetivam o acabamento de um processo, não a sua anulação. O acabamento libera a possibilidade de um novo começo. Assim, novas vidas se iniciam, como a da sobrinha Cíntia, em Paris, com seu gesto de libertar o passarinho para voar. E estas vidas serão possivelmente o assunto de novas histórias para contar. Com sua linguagem ágil e nunca pretensiosa, Guiomar de Grammont reconstitui em seu livro um capítulo difícil da história recente do país. Ao mesmo tempo, com muita inteligência, provoca a reflexão sobre importantes aspectos da natureza da narrativa literária, de um ponto de vista filosófico.
Recortes do livro, trechos escolhidos pela autora:
Seu irmão jazia insepulto; ela não quis que ele fosse espedaçado pelos cães famintos ou pelas aves carniceiras.
Antígona, Sófocles
Sofia voltou para casa perturbada. Despiu as roupas molhadas e tomou um banho quente. Era inverno, mas ela não sabia se os arrepios que sentia eram febre ou efeito da descoberta. Entrou no quarto e, depois de hesitar um momento, decidiu procurar a caixa. Precisou subir em uma cadeira para alcançá-la na parte mais alta do armário, em seu quarto. Deixara ali para evitar a tentação da lembrança. Sempre que estava triste, sempre que se sentia só, nos aniversários, nas datas que marcavam a passagem do tempo e faziam com que ela pensasse mais ainda no irmão, voltava a procurar aquelas fotos e objetos, para buscar algum conforto. Eram os poucos indícios que conservava da presença dele no mundo, e aquelas incursões ao passado acabavam por aumentar sua angústia. As bordas das fotos tinham sido danificadas, aqui e ali, por suas lágrimas. Sofia pegou a caixa e procurou a foto tirada na casa de seus pais, quando ela tinha uns dez anos, em que Leonardo e seu amigo sorriam. Leonardo a pegava no colo, com visível orgulho, como se ela fosse um troféu. Sofia olhou com atenção o rosto do amigo ao lado do irmão. Sim, era ele, sem dúvida. Então, guardou a foto e colocou a caixa no mesmo lugar.
[…] Sofia estava concluindo suas pesquisas e começou a ficar intrigada com um ponto que não tinha conseguido esclarecer: como Leonardo teria ido parar no Araguaia? A resposta a essa pergunta era fundamental, pois, dependendo do resultado, ele podia estar vivo ou morto. E ela acalentava a esperança de que ele estivesse vivo em algum lugar, que pudesse retornar de repente e contar que tudo não passara de um pesadelo. Talvez estivesse há anos conduzindo trens em um metrô sombrio da Suécia, ou entregando jornais, ou limpando latrinas em algum país europeu ou nos Estados Unidos. Papéis falsos, um ou dois casamentos com mulheres que não amava, apenas para obter cidadania e viver do seguro desemprego, esquecido de tudo que tinha vivido antes. A vida é assim, nos leva por caminhos inusitados. E, muitas vezes, é difícil voltar. A volta dá uma preguiça enorme. É melhor lembrar as pessoas que fomos e os entes que um dia amamos a enfrentar o estranhamento. Olhar para eles e perceber que não se sente mais nada, que o elo se partiu, definitivamente, que não há retorno. Quantos exilados não viviam dessa forma? Sem passado e sem futuro, expatriados para sempre? Seria essa a história de Leonardo? Sofia tanto temia quanto desejava essa possibilidade. E, se fosse assim, como ter certeza? Como poderia saber se ele estava vivo? Provavelmente a vida iria transcorre r até o fim e eles jamais se encontrariam. Leonardo iria morrer, em algum lugar desconhecido, sem jazigo de família, sem memória, sem história.Afinal, a morte é a única certeza da vida. Se Leonardo já não estivesse morto, morreria um dia, e ela também, e tudo que haviam partilhado. Todas as lembranças, as trocas de afeto quando ela era criança, os abraços, as brincadeiras, tudo se desfaria no tempo.
Era esse o destino de todos os seres humanos. Então, porque ela sofria tanto? Por que aquela permanente angústia pela falta de uma conclusão, um desfecho, um ponto final? Por que não deixava o tempo passar e a lembrança se desvanecer até se tornar poeira no infinito, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse aqui e agora e para sempre? “Tudo é sempre a gora”, o poema ecoava como um mantra em seu pensamento. Esqueça, tudo é sempre agora. Nada foi, nem será. Nada se perde, tudo se transforma, tudo é sempre agora.
Porém, ela não conseguia esquecer. Não havia sono que não fosse visitado pela presença de seu irmão, nem momento de felicidade que não viesse empanado por aquela ausência. Uma culpa fina e constante a trespassava, por ter sobrevivido, por estar no mundo e poder aproveitar os momentos felizes. Cada instante de alegria era um momento a mais sem Leonardo, um momento a menos que ele estaria vivendo ou compartilhando com ela e com a família. Leonardo era um rosto sorrindo no escuro, quando ela assistia a um filme ou espetáculo, era um braço que roçava o seu, cálido, humano. Ela olhava para o lado, de rep ente, esperando dar com o olhar dele, doce e próximo, e se desapontava. Quando Sofia ouvia uma música ou via um filme que a emocionava, imaginava-se contando a ele e as lágrimas vinham a seus olhos. Sempre que ela abraçava um homem mais alto, a reminiscência de um gesto semelhante atravessava por um segundo seu inconsciente, mesmo que ela não estivesse pensando em seu irmão, mesmo que ela não pensasse em nada. Aquela falta pulsava, buraco negro no espaço.
O tempo passava e um dia todas as lembranças seriam esquecidas, as vivências, sentimentos e histórias se dissolveriam no insondável.
[…] O vento insistia em dobrar a folha de papel presa na máquina de escrever, como se quisesse atrair a atenção de Sofia. Ela se aproximou, moveu o carrinho e soltou a folha. O papel parecia ter sido deixado preso ali para que alguém o encontrasse. Como uma explicação ou…uma carta de despedida?!, pensou. E, de repente, a dúvida.
Sentou-se na poltrona, trêmula, o papel na mão. As letras embaralhavam.
Rememorou os eventos d aquela manhã, quando chegou, depois do telefonema da vizinha. Viu a ambulância na porta da casa e entrou correndo, a porta do carro ficou aberta. No quarto, a mãe nas mãos dos enfermeiros. Lábios arroxeados, a pele pálida. O coração de Sofia saltava a cada choque que eles imprimiam no peito dela. A brutalidade dos procedimentos de reanimação sacudia também as entranhas da filha. Os enfermeiros a instaram a chamar a mãe pelo nome. Luisa! Luisa! Sofia disse e, de repente, entendeu que ela nunca mais a ouviria. Nunca mais. Mãe! Mãe! gritou, sem reconhecer a própria voz.
Luisa foi carregada em uma maca e Sofia entrou na ambulância com ela, sem saber se ela reagira ou não. Mais tarde, a dor de cabeça, sob as luzes fortes do hospital. Só então se permitiu chorar, um choro convulso e forte, de criança. Sedativos, sono, quando talvez tivesse que estar acordada. Depois, a impressão de assistir a si mesma, num pesadelo, no velório e na cerimônia de cremação.
Somente semanas depois conseguiu retornar para arrumar as coisas, ver o que iria guardar e o que iria doar, desmontar tudo, enfim, para que a casa pudesse ser vendida. Os móveis cobertos com lençóis. Nada restaria que pudesse contar o que havia acontecido entre aquelas paredes. A mãe se foi, logo seria a vez dela, Sofia.
Estou sozinha, pensou. E reagiu: Não, tenho meus amigos. Tenho Marcos. De repente, compreendeu a importância que Marcos tinha para ela. A constatação deu-lhe um suave sentimento de liberdade.
E foi esse pensamento reconfortante que a fez voltar a si e ser capaz de ler, enfim, o texto que a tinha surpreendido e intrigado, ao encontrá-lo preso à máquina de escrever de Luisa. A página amarelada indicava que ele tinha sido escrito há muito tempo.
Então, a mãe o tinha colocado na máquina de propósito, para que Sofia o lesse: “A porta bate e me viro, a respiração suspensa. A cortina ondula na janela. Mais uma vez tenho a impressão de que você entrou, certamente no banheiro. Escondeu-se para me dar um susto, como fazia quando criança? Eu fingia que não estava te vendo debaixo da mesa, ou atrás do tapete. Procurava, chamando seu nome. Como faço agora, num murmúrio que cresce e se transforma em pergunta. Pressinto sua presença. Sei que você está aqui. A certeza me perturba, o coração bate, o rubor me sobe às faces. Meu corpo se prepara para esse abraço que irá me tirar do chão.
Ficarei tonta quando você me girar no ar, os braços mais fortes agora, homem feito. A barba irá roçar meu rosto? Não, você iria querer chegar com o rosto escanhoado, medo de que, depois de tantos anos, eu não mais te reconhecesse. Fosse possível não te reconhecer! Você, que saiu do meu ventre. Por que tantos anos sem notícias? A quem deseja punir com sua falta? A seu pai? Você teria medo do retorno? Não imagina quantas vezes ouvi seu pai chorar sozinho, a porta do banheiro fechada, para que eu não percebesse. Não posso chorar, filho. Não choro nunca, só vou chorar quando tiver certeza de que você não voltará mais.
“Ouço um ruído na direção da cozinha. O cachorro sentiu seu cheiro, levanta o focinho, late. Uma, duas, três vezes. Somos dois, agora, em expectativa. Quase vejo seu vulto, oculto no umbral da cozinha. Entro, de repente, quero te surpreender. Você me olha, ao mesmo tempo assustado e excitado. Leva à boca o dedo com o creme roubado da cobertura do bolo. Repreendo, um tapinha na mão, sem força. Seu rosto se ilumina. Sinto uma vontade momentânea de te bater de verdade, mas, no fundo, estou feliz. Daria o bolo inteiro a você, se não soubesse que prefere assim. A travessura te encanta, aumenta seu prazer. Você sempre fez o que quis. Nada te detinha. Ninguém podia te impedir de ser você mesmo. Arrumo a mesa para o café, coloco sua xícara preferida, aquela da asa quebrada. A avó te de u e você nunca me deixou jogar fora. Nunca deixei que ninguém sentasse em seu lugar, meu filho, nem as visitas, ninguém.
“Tenho tantas perguntas a te fazer! Não, primeiro, vou explodir em choro, junto a seu peito. Da mais pura alegria. As lágrimas que jamais derramei. Vejo seus olhos sorrindo. Também marejados. E o abraço? O abraço que me tira o fôlego. Desfaleço em seus braços. Consumi todas as forças nessa espera. Quantas tentativas de encontrar seu paradeiro! Por que você precisou se esconder, meu filho? A quantas fugas te obrigaram! Mas não te farei recriminações. Não precisa explicar nada. Tudo é passado. Podemos começar outra vida. Há tanto a contar um ao outro! Você sabe o que aconteceu nesse tempo? Quem morreu, os presidentes que sucederam, as mudanças de moeda? Esteve tão longe de casa… Leio relatos de exilados. Procuro seu rosto nas fotos de homens de sobretudo, em paisagens cobertas de neve. Imagino te encontrar vagando no escuro dos metrôs, esfomeado e sem emprego. Sem documentos, em algum país onde será sempre estrangeiro. Errante, com medo de voltar e não encontrar o que deixou. Medo de não encontrar mais a si mesmo. Mas agora… Agora tudo acabou, meu filho! “Repito esse ritual todas as manhãs, e sigo seus passos invisíveis pela sala. Entro na cozinha, abro armários, num gesto sem sentido. Como a te convencer de que entrei nesse jogo de esconde-esconde.
“Fecho-os, rápido, quero que acabe logo, já não tenho forças para continuar. Vivo apenas a sua volta, seu retorno se repete em meus sonhos. Acordo com a sensação de que, finalmente, aconteceu: você está dormindo no quarto ao lado. Levanto no meio da noite, pé ante pé, abro a porta, na expectativa de escutar sua respiração. Chego junto à cama vazia e ajeito os lençóis sobre o corpo que não está ali. Como fazia quando você era menino, e dormia sem se lavar, me fazendo despi-lo e vestir seu pijama com dificuldade, você já mergulhado no sono. Tenho vontade de te meter dormindo sob o chuveiro, mas não quero perturbar o sono pesado, depois de tantas brincadeiras. Seu abandono, ressonando, me comove.
Eduardo Jardim-PUC – Rio.
O circuito dos afetos – SAFATLE (AF)
SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016). Resenha de: FILHO, Sílvio Rosa. Do corpo latente do texto. Um pressentimento de manifesto 1. Artefilosofia, Ouro Preto, n.20, 2016.
Eu gostaria de propor minha leitura d’ O circuito dos afetos, assinalando que se trata de uma proposta elaborada em circunstâncias adversas, porque contemporâneas, e supondo que o modo de ler tenha-se dado a partir de um ângulo de abordagem específico, peculiar o bastante para trazer consigo implicações, ao menos, na releitura do livro. Hoje estou menos interessado em situar Vladimir Safatle na divisão social do trabalho intelectual no Brasil, visto ora como polemista ora como colunista, ou publicista ou ensaísta ou compositor ou professor ou historiador d a filosofia. O autor que me interessa está em contraste com aquele que vai aparecendo logo na quarta capa do livro, o proponente da filosofia necessária para uma teoria política da transformação, ambas solidárias de transformações sociais efetivas. Encampa das a ambição filosófica e a ousadia política, tampouco me interessa hoje o jogo técnico de contrapartidas, muito engenhoso ao seu modo, por exemplo, entre Hobbes e Espinosa, Hegel e Adorno, Freud e Lacan, Foucault e Canguilhem, entre tantos outros.
Eu me voltaria então, principalmente, para os lados que flertam com alguns pontos de fuga do livro, aqueles que talvez permitam enxergar O circuito dos afetos não como publicação que constitui algum bloco de teor normativo, mas antes – esta é a minha proposta – como livro que estaria a instituir o próprio corpo latente de um texto. Se esta leitura faz sentido, é porque ali se funda algo assim como um circuito “híbrido”. Digamos que, junto ao circuito impresso do livro, o próprio corpo latente do texto se abre para as contingências de um corpo outro. Mas então, simplesmente, um corpo a corpo? Ou ainda: passagem iminente do corpo latente do texto ao corpo outro enquanto corpo manifesto? Esta é a minha primeira, em certo sentido, a minha única questão, mas ficando b em entendido que “outro”, aqui entre aspas, antes de tudo não é uma propriedade, não é um atributo nem um predicado desses corpos.
Quero crer que a rigor há uma certa compatibilidade entre a questão e o problema central do livro. Este último, expresso à queima roupa, é o seguinte: que afetos criam novos sujeitos? Não haveria incompatibilidade, mas exigência de certos descentramentos, pois, se a natureza da experiência política propriamente dita significa “desbloqueio do novo” (como em Paulo Arantes, por exemplo, desde A ordem do tempo), e, no caso, vale como abertura para alteridades impensadas (como em Michel Foucault) e para alteridades incomensuráveis (como em Jacques Lacan), então não será com os mesmos corpos que haveremos de construir realidades políticas tão transformadoras quanto mais impensadas e incomensuráveis. A certa altura do texto impresso, trecho passível de acender a imaginação do leitor nos começos do século XXI, diz Vladimir: “mais do que novas ideias, precisamos de outro corpo, pois não haverá nova política com os mesmos sentimentos de sempre”.
Deixo de lado quem nessas frases só tiver ouvidos para ouvir algum tipo de anti-intelectualismo, caso de regressão que não vou comentar. Mas há quem tenha ouvidos para captar nessas frases, menos os ecos de Beckett, e mais, as ressonâncias de Artaud. Não digo que não; afinal, neste último caso, o teatro e o seu duplo não precisam ficar reservados ao campo do silêncio; o debate sobre o livro, com efeito, não é de hoje. De todo modo eu diria que a reverberação das formas argumentativas dá a ver uma geopolítica dos afetos e dá a ouvir um diálogo do corpo latente do texto com os corpos – individuais e coletivos – pois são os corpos que leem. E, depois de tudo, os corpos é que haverão de se entende r, mudando o patamar dos consensos ou reconfigurando a plataforma do dissenso com-sentido. Daí um desdobramento neoespinosano que, coetâneo à questão inicial, põe em jogo o problema da intercorporeidade e poderia ser reformulado como segue: o que pode o corpo que lê no limite tenso de um tempo presente que se desnaturaliza, tempo presente do corpo que cria ou inventa ou institui as suas próprias possibilidades de ampliação?
De modo um pouco mais específico, não havendo política sem afetos, o circuito já instituído é literalmente um circuito fechado, apenas constituinte, não ainda instituinte. No entanto é possível imaginar que nem todo ambiente institucional é ambiente institucionalmente consolidado, ainda mais nos tempos que correm, com gestões aceleradas de desinstitucionalização, catástases, catástrofes e assim por diante. Ademais, a mobilização conceitual da contingência, no texto impresso, vem contrariar impossibilidades presumidas na contemporaneidade. Remanescendo um ímpeto para 203 contrariar inclinações estruturais ao famigerado fatalismo brasileiro, mais a recusa do luto pontilhado ao infinito por corpos tantos e melancolizados, depois da leitura d’ O circuito dos afetos, o impossível está posto em suspeita. Nesse passo pode servir de contraexemplo um trio de figuras do “absoluto”, nem tanto em Hegel quanto em Derrida, ou seja, figuras do absolutamente impossível nos dias que correm: a figura da hospitalidade em ato (incomensurável com o cosmopolitismo); a figura do dom em ato (incomensurável com a reciprocidade); a figura do perdão em ato (incomensurável com a justiça).
Mas a ser assim, em ambiências institucionais incipientes, pergunta-se: a intercorporeidade política não haveria de irromper como circuito instituinte ? Quando se explicita a finitude de uma instituição específica, longe de nos lamentarmos pela perda ou pela falta que ela parece fazer ou alardear, vale a constatação: não é toda e qualquer institucionalidade que efetivamente desmorona, problema de formação do discernimento, portanto, no campo aparentemente adverso dos indiscerníveis. Resumindo a minha segunda questão: por aproximação do corpo manifesto, sem perder de vista o propósito da política transformadora, o circuito dos afetos latente estaria proibi do de se apresentar afinal como circuito instituinte dos afetos ?
Ainda por aproximações, acompanhando esses halos expansivos a partir do circuito latente, há toda uma série de negatividades revisitadas no circuito impresso: nem o medo nem sua irmã gêmea, a esperança; nem uma confirmação dos predicados do sujeito, nem as heteronomias que sujeitam; nem assinatura de contrato ficto nem pactuação com a recta ratio. À primeira vista, mas à segunda vista também, o leitor parece estar às voltas com um corpo destituído, esfoliado no estranhamento, totalmente desamparado. Nonada. Nonada, entretanto, com um olho posto n’ O futuro de uma ilusão e com o outro num não sei quê de Félix Guatary. Pois que, nesse novo regime de visibilidades proposto, não dá no mesmo manter Freud de pernas pro ar, confinar-se na dispersão das diferenças apenas abstratas ou perseverar na luta por universalidades não abstratas. E visto que, ao horizonte de expectativas decrescentes, vem contrapor-se um horizonte antipredicativo de reconhecimento, o que parece insinuar-se é a promessa de um corpo coletivo “restituído”. À terceira vista, contudo, um campo outro de visibilidades se deixa entrever. A questão agora passou a ser: o que pode o corpo desamparado na relação com o corpo latente do texto político? O que pode o corpo em desamparo na relação com o corpo manifesto do texto político? À margem do texto, cheguei a notar que muitas vezes Vladimir procede como se estivesse glosando em prosa – e com um grão de sal – alguns versos de Manuel Bandeira e sua “Arte de Amar”, quando o poeta diz mais ou menos assim:
As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.
À terceira vista, portanto, porque o corpo turbulento requer um tempo próprio a ponto de radicar sua existência fora do tempo do Capital, não o livro, mas a coisa mesma; porque a vida apresenta uma mobilidade tão soberana quanto insubmissa a ponto de encontrar a sua própria maneira de resolver problemas ontológicos; porque, em suma, novas formas de ser e de vivermos juntos estão na força de acontecimentos que começam novamente a se fazer sentir – é a contingência que unifica o que se mostra como possível e o que se manifesta como realmente efetivo. Assim – nessa política que fará jus ao conceito de política da suspensão se efetivamente ela tomar corpo; nessa política da síntese não normativa que já não temera dizer o seu nome como política de esquerda e sempre se quis transformadora – a cena se produz pelo reconhecimento da contingência.
Na medida em que a exposição do desamparado irrompe à contraluz de uma desindividuação irredutivelmente singular, na medida em que supõe um aumento na potência de agir no fundo do mais fundo desamparo, a visada ético-política desse circuito de afetos parece ao menos tão exigente quanto as perversões acadêmicas que outrora insistiam no avesso da dialética. Está claro, porém: colocando perversões acadêmicas à parte. À parte, igualmente, a realização do fantasma sádico que Vladimir já estudou na figura de Justine, tomada então como vítima por excelência, analisada sob o prisma dessa angústia de gozar com aquilo mesmo que lhe causa horror (ver Um limite tenso, ensaio intitulado “O ato para além da lei”).
*
Para terminar, vou me permitir o acréscimo de uma pequena nota sentimental no rodapé de uma conversa que se vai fazendo de vida inteira, tentativa de resumir a leitura proposta e apontar para o que vem por aí, implicado, suponho, na sua própria síntese. A nota sentimental talvez explique, embora não justifique, as camadas e camadas de 205 latência necessariamente cifrada numa fala de vinte minutos. Camadas, por exemplo, como as contidas em aulas anotadas de Merleau-Ponty (Institution, passivité), antes das camadas póstumas de Claude Lefort, sem com isso querer complicar mais do que o necessário a já considerável complexidade safatleana; mas querendo, de algum modo, intervir no andamento de um projeto que nunca se poderá reduzir a um corpo só.
É que as minhas conversas com Vladimir remontam a um tempo em que muitos dos que se acham aqui, hoje, estavam nascendo ou por nascer. É igualmente esse o c aso da moça a quem o livro é dedicado; dedicatória, aliás, onde se diz: “Para Valentina, que saberá viver sem medo”. Em 1997, quando Vladimir apresentou sua dissertação de mestrado, eu era uma das duas pessoas que assistiram à defesa de “O amor pela superfície: Jacques Lacan e o aparecimento do sujeito descentrado”. Nos anos seguintes, entre 1998 e 2000, lemos juntos com Ruy Fausto algumas obras de Freud e de Lacan, num grupo de estudos composto por nós três e às vezes na companhia de Jean-Pierre Marcos, em Paris; apresentamos alternadamente alguns seminários no curso de pós-graduação de Paris-VIII, sobre Adorno e a Dialética negativa ; principalmente, passamos noites em claro discutindo as charneiras entre a Fenomenologia do espírito e a Ciência da lógica, o papel do “prefácio” na primeira, o alcance da “realidade efetiva” e a instabilidade das essências, nesta última. Hoje o que os franceses chamavam de nuit blanche, tornou-se Nuit Debout. A noite em claro, nestes dias intermináveis, tornou-se noite em pé.
Por isso mesmo, a minha fala não poderia ser mais do que a miniatura de uma conversa – sempre recomeçada, às vezes silenciada pela força das coisas – há vinte anos.
O que pode o corpo latente do texto? A inverter-se a passagem dos conteúdos (de manifesto s a latentes), do pesadelo acordado a uma rêverie em que se passeia nas cadências de Sigmund Freud, resume-se: corpo manifesto ? Numa palavra: corpo instituinte ? Resumindo à mínima, por fim, a pequena variação sobre o tema: a intercorporeidade – esses corpo s aquém do medo da morte violenta, abandonados de toda esperança, desamparados, desindividualizados, e, contudo, vivos, essa intersubjetividade com indivíduos findos parece implicar um circuito outro do sujeito político que, ingressando num campo em disputa, eu tenderia a designar com um ou dois neologismos: como interobjetividade instituinte, como transobjetividade manifesta. E para além dos nomes (parce que je ne voudrais ici disputer ni sur les mots ni sur les choses: intersubjetividade com indivíduos findos, interobjetividade instituinte, transobjetividade manifesta), o que importa perguntar-se é o seguinte: esses corpos políticos não implicam uma entidade literária inteiramente outra, nova, um corpo de um texto político manifesto?
Se assim for, eu m e atrevo a dizer que o próximo livro de Vladimir Safatle não será algo voltado para ilusões históricas e socialmente necessárias da intercorporeidade dos afetos. Será, afinal, um manifesto.
Nota
1 Este texto foi apresentado originalmente no dia 20/06/2016, em Debate com o autor, evento organizado pelo Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, sobre o livro de Vladimir Safatle, O Circuito dos afetos (Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016).
Sílvio Rosa Filho-Professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo, autor de Eclipse da moral: Kant, Hegel e o nascimento do cinismo contemporâneo (Barcarolla/Discurso Editorial-USP, 2009) e de Hegel na sala de aula (Fundação Joaquim Nabuco/Unesco, 2009).
Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos | Fátima Regina Fernandes
A obra Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos é fruto do longo trajeto investigativo de Fátima Regina Fernandes, professora de História Medieval da Universidade Federal do Paraná e pesquisadora membro do NEMED – Núcleo de Estudos Mediterrânicos. Enquanto medievalista, lança seu olhar sobre a Idade Média portuguesa, seus atores sociais e relações políticas no âmbito do Ocidente Medieval, com maior relevância para temas que giram em torno da dinâmica entre os poderes régio e nobiliárquico no espaço da Península Ibérica.
Antes de propriamente adentrar na resenha daquela obra, é preciso um esclarecimento. Toda publicação demarca um ponto no trajeto de pesquisa do historiador, seja ele graduando, pós-graduando ou historiador de carreira consolidada. Contudo, Do pacto e seus rompimentos se constitui por excelência como posição de chegada do percurso investigativo de Fátima Regina Fernandes, pois se trata da tese apresentada pela autora para obtenção do grau de professor titular do magistério superior, portanto, voltado à comprovação dos méritos da pesquisadora em ocupar tal posição, demonstrados por via da pesquisa que compõe as páginas do livro em questão. Assim sendo, foi a partir desta peculiaridade intrínseca a pesquisa que originou essa obra de onde partiu a análise contida nas linhas abaixo.
O livro objeto dessa resenha apresenta uma divisão em dois capítulos de desenvolvimento da problemática, aos quais se soma uma terceira sessão composta pelos anexos, que não devem ser menosprezados ou tratados como mero apêndice, tanto por oferecerem esquemas visuais – árvores genealógicas e mapas – facilitadores da compreensão do dinâmico contexto abordado por Fátima Regina Fernandes, quanto por conter a transcrição dos tratados2 utilizados pela autora para construir a argumentação central de sua tese, além de proporcionar o acesso a documentos por vezes difíceis de serem obtidos ao historiador brasileiro.
O primeiro capítulo é dedicado à abordagem contextual da segunda metade do século XIV, período marcado por fluidas relações políticas, rapidamente remodeladas pelo estabelecimento de pactos e tratados entre os monarcas ibéricos, franceses e ingleses; jogo de interesses que não poupou os nobres, dentre eles aqueles que acompanharam Fernando de Castro – os chamados emperegilados – ao reino de Portugal após a morte de Pedro I de Castela, também conhecido como o Cruel, pelas mães de Henrique de Trastâmara, seu meio irmão – pois bastardo –, tomando para si o trono castelhano.
Recebidos em Portugal, os Castros Galegos passaram à condição de vassalos do rei Fernando I, apoiando-o em suas ambições de domínio sobre o reino de Castela. Contudo, os planos dos nobres castelhanos foram malogrados pela aproximação entre o rei português e o aragonês – por meio de acordo que previa a divisão do território castelhano entre ambos –, mas principalmente pelo avanço da Guerra dos Cem Anos, que fez da Península Ibérica um palco de disputas políticas entre Inglaterra e França.
O objetivo de Fátima Regina Fernandes não é fazer uma revisão bibliográfica acerca dos pormenores que marcaram o irromper da Guerra dos Cem Anos e o desenvolvimento desse conflito a partir de uma narrativa centrada nas ações entre França e Inglaterra. Busca, antes, demonstrar como essa contenda se alastrou para além das disputas entre reino insular e o de além-Pirineus fazendo da Península Ibérica um ambiente sobre o qual se estenderam os interesses dos reis franceses e ingleses. Dessa maneira, a medievalista brasileira rompe com a centralidade de abordagens historiográficas focadas tão somente nos embates sustentados por França e Inglaterra ao longo da Guerra dos Cem anos e logra oferecer uma perspectiva de análise que enquadra esse fenômeno histórico enquanto pano de fundo capaz de envolver atores sociais inseridos no âmbito peninsular e os tencionar a tomadas de posição no campo político ibérico.
O ambiente de relações sócio-políticas da segunda metade do século XIV não é novidade nos trabalhos de Fátima Regina Fernandes, intimidade contextual que possibilita à autora o estabelecimento de vinculações de interesses entre o poder régio e o nobiliárquico, exercício facilitado por sua larga experiência no emprego do método prosopográfico – cujo uso se faz patente em sua tese de doutoramento (FERNANDES, 2003) e em tantos outros artigos, com destaque para as abordagens da trajetória de Nuno Alvares Pereira (FERNANDES, 2006; 2009) –, e que se revela, em Do pacto e seus rompimentos, no mapeamento das alterações experimentadas pelas relações políticas entre os Castros Galegos e os reis de Portugal e Castela, mas também entre esses últimos e os monarcas de Aragão, França e Inglaterra.
No que toca o tratamento dispensado por Fátima Regina Fernandes aos Castros Galegos, deve-se considerar que a autora os analisa enquanto grupo, nomeando tão somente a figura de Fernando Peres de Castro, enquanto os demais aparecem sob a sombra deste e escondidos sob o anonimato de seus nomes. A ausência do tratamento acerca da linhagem de Castro deve ser entendida sob a perspectiva de oferecer uma tese vertical, objetivando acima de tudo o debate em torno do estatuto social, político e jurídico experimento pelos emperegilados ao longo das vicissitudes que marcaram os finais da década de sessenta do século XIV e o início do decênio seguinte, compreendendo-os a partir da cultura política nobiliárquica castelhana, sustentada por uma nobreza cindida em dois perfis: a velha e a nova, conforme tipologia defendida por MOXÓ (2000) – importante referencial adotado por Fernandes. A supressão do processo de formação linhagística dos de Castro nessa tese deve sem entendido, para além do imperativo da almejada objetivo, pelo fato de que o tema já foi foco de pesquisas anteriormente publicadas pela medievalista (FERNANDES, 2000; 2008).
A abordagem do labirinto de relações sócio-políticas que marca o primeiro capítulo de Do pacto e seus rompimentos, característica que faz com que a leitura dessa primeira sessão da obra seja uma prática por vezes truncada e exigente de uma profunda acuidade por parte do leitor – a fim de que não se perda entre os nomes e as rápidas mudanças na direção dos pactos políticos –, oferece as referências contextuais necessárias para a devida compreensão do debate concernente ao segundo capítulo da obra, ao longo do qual a autora desenvolve o cerne de sua argumentação: o debate em torno da condição de traidores e, posteriormente, de degredados, imputada sobre o grupo de nobres castelhanos abrigados em Portugal.
Para atingir seu objetivo, Fernandes recupera os pactos e rompimentos políticos abordados no primeiro capítulo da obra para analisá-los a partir dos tratados firmados no desenvolvimento das relações entre França, Inglaterra, Aragão, Castela e Portugal, sendo o Tratado de Santarém, estabelecido entre os monarcas desses dois últimos reinos em 1373, crucial para o entendimento da condição sócio-política e jurídica dos Castros Galegos em território português.
Assim, a medievalista recorre ao exercício de crítica documental, heurística e diplomática para analisar o Tratado de Santarém, por meio do qual se estabeleceu a vassalidade de Fernando I de Portugal a Henrique II de Castela, o Trastâmara, lançando Fernando de Castro e os nobres que o acompanhavam no reino português na condição de traidores. Gozando desse estatuto, foram expulsos pelo rei português, rumando para Aragão e depois para a Inglaterra, onde passaram a viver como degredados sob a proteção do rei inglês.
Dessa maneira, “[…] a condição de traidor seria vista à luz da relação vassálica e identificada com o infiel, o que rompe unilateral e ilegitimamente o laço com o seu senhor” (FERNANDES, 2016, p. 85), rompimento este que deve ser entendido sob a perspectiva da natureza, compreendida enquanto “[…] relação artificial estabelecida voluntariamente entre os homens a fim de manter o bem comum, o consenso universal, a concordia ordinem” (FERNANDES, 2016, p. 97). Sob o imperativo de elucidar esses dois estatutos sociais – traidor e natureza –, Fátima Regina Fernandes recorre a um debate jurídico – traço também característico da autora e já demonstrado desde sua dissertação de mestrado acerca da legislação de Afonso III de Portugal (FERNANDES, 2001) –, problemática transpassada pelo do avanço das concepções do Direito emanadas a partir de Bolonha e do fortalecimento da ideia das fronteiras, fenômenos históricos que exerceram influência determinante no ideário político da Baixa Idade Média.
Ao enveredar pela discussão em torno da natureza e da noção de pertencimento à terra – questões atreladas à definição dos limites fronteiriços dos reinos medievais –, Fernandes toca no debate historiográfico concernente ao tema que pode ser sintetizado pelo título da obra de Joseph Strayer, As origens medievais do Estado Moderno, viés interpretativo que, tomando o Estado como ponto de chegada, relegou a Idade Média o lugar de berço, momento de gestação das instituições que posteriormente chegariam a sua maturidade no período histórico posterior ao da Idade Média.
Rompendo com as explicações teleológicas, característica da escrita de STRAYER (1969), Do pacto e seus rompimentos tem o mérito de inserir a análise acerca das instituições medievais no contexto próprio de sua dinâmica, fazendo perceber que o sentimento de pertencimento ao reino nutrido por aquelas pessoas surgiu a partir da base municipal, assim como instituições cujo funcionamento se pautava em uma relação mais impessoal entre o poder régio e o local; diferentemente da vinculação entre reis e nobres, haja vista que estes, preocupados com a manutenção de seu poder nobiliárquico, negligenciavam os limites fronteiriços, transitando mais livremente entre os reinos ao sabor das possibilidades oferecidas pelos pactos políticos – problemática que a autora já havia apontado ao estudar a trajetória de Gil Fernandes, um homem de fronteira (FERNANDES, 2013).
Os méritos da obra de Fátima Regina Fernandes podem ser estendidos para além da perspectiva de análise das problemáticas medievais supracitadas. Duas guerras mundiais. Conflitos armados no Leste Europeu e Oriente Médio – ainda hoje em chamas. Governos ditatoriais na América Latina. Todos esses embates político-militares impeliram, e seguem obrigando, extensa quantidade de pessoas ao abandono sua terra natal em pronta fuga aos horrores gerados pela violência daqueles embates. A proximidade temporal que envolve o observador contemporâneo a esses fatos pode levá-lo a concluir de maneira apressada que o exílio foi fenômeno nascido no século XX e vivo ainda na segunda década do XXI, entendimento equivocado que também se deve a escassez que a problemática experimenta no espaço dos debates historiográficas dos medievalistas.
Embora a circulação de nobres entre os reinos ibéricos possa ser largamente constatada ao longo da medievalidade ibérica, os medievalistas tendem a se ater ao contexto social e a equação de forças políticas que atuaram para a mobilidade nobiliárquica, muitas vezes dedicando pouca atenção aos conceitos que definem a extraterritorialidade desses atores sociais. A tese de Fátima Regina Fernandes alcança esse espaço de discussão pouco explorado, sem deixar de lado o rigor no trato contextual próprio desse período histórico, contribuindo não apenas para a compreensão da Idade Média, assim como o de nossa contemporaneidade, lembrando-nos que não apenas os indivíduos do século XX e XXI estavam sujeitos à necessidade do exílio, mas também os viventes do medievo.
Expostas essas ponderações, tem-se uma visão geral que torna possível a compreensão geral dessa obra. Enquanto tese de professora titular, a publicação cumpre a função de demonstrar o ponto de chegada das pesquisas desenvolvidas por Fátima Regina Fernandes ao longo de sua carreira de professora e pesquisadora no campo da História Medieval, motivo pelo qual estão presentes nessa obra, problemáticas pertinentes ao percurso dessa medievalista brasileira e que aparecem sintetizadas nas no desenvolvimento de suas interpretações em Do pacto e seus rompimentos.
Este não é, contudo, um trabalho de síntese do fim de um caminho de pesquisa. Ora, ainda há muito a ser feito! É antes um ponto de chegada, de onde partem outras problemáticas a serem elucidadas, como fica demonstrado por Fátima Regina Fernandes ao avançar com o debate acerca da condição de traidor e degredado no âmbito da Baixa Idade Média, cumprindo assim com o objetivo central dessa tese. A pesquisa que gerou a publicação de Do pacto e seus rompimentos ainda confirma o mérito que levou a medievalista a obtenção do grau de titular, elogiosamente reconhecido pelos membros que formaram a banca examinadora e registrado em prefácios preenchem as primeiras páginas de Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos.
Notas
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná sob a orientação da Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes. Membro do NEMED – Núcleo de Estudos Mediterrânicos. Bolsista CAPES. E-mail: carloszlatic@hotmail.com
2 Os documentos contidos no sessão de anexos são: Tratado luso-aragonês (1370), Tratado de Alcoutim (1371), Tratado de Tuy (1372), Tratado de Tagilde (1372) e o Tratado de Santarém (1373).
Referências
FERNANDES, Fátima Regina. A construção da sociedade política de Avis à luz da trajetória de Nuno Álvares Pereira. A guerra e a sociedade na Idade Média: Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, s.l., p. 421-446, 2009.
FERNANDES, Fátima Regina. A fronteira luso-castelhana medieval, os homens que nela vivem e o seu papel na construção de uma identidade portuguesa. In: FERNANDES, Fátima Regina (Coord.) Identidades e fronteiras no medievo ibérico. Curitiba: Juruá, 2013. p. 13- 47.
FERNANDES, Fátima Regina. Comentários à legislação medieval portuguesa de Afonso III. Curitiba: Juruá, 2000.
FERNANDES, Fátima Regina. Estratégias de legitimação linhagística em Portugal nos séculos XIV e XV. Revista da Faculdade de Letras-História, Porto, v. 7 (série III), p. 263- 284, 2006.
FERNANDES, Fátima Regina. Os Castro galegos em Portugal: um perfil de nobreza itinerante. Actas de las Primeras Jornadas de Historia de España, Buenos Aires, v. II, p. 135-154, 2000.
FERNANDES, Fátima Regina. Os exílios da linhagem dos Pacheco e sua relação com a natureza de suas vinculações aos Castro (segunda metade do século XIV). Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, v. LXXXII, p. 31-54, 2008.
FERNANDES, Fátima Regina. Sociedade portuguesa e poder na Baixa Idade Média Portuguesa. Dos Azevedo aos Vilhena: as famílias da nobreza medieval portuguesa. Curitiba: Editora UFPR, 2003.
MOXÓ, Salvador. De la nobleza vieja a la nobleza nueva. In: MOXÓ, Salvador. Feudalismo, senorío y nobleza en la Castilla medieval. Madrid: Real Academia de la Historia, 2000. p. 311-345.
STRAYER, J.R. As Origens Medievais do Estado Moderno. Lisboa: Gradiva, 1969.
Carlos Eduardo Zlatic – Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná sob a orientação da Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes. Membro do NEMED – Núcleo de Estudos Mediterrânicos. Bolsista CAPES. E-mail: carloszlatic@hotmail.com
FERNANDES, Fátima Regina. Do pacto e seus rompimentos: os Castros Galegos e a condição de traidor na Guerra dos Cem Anos. Curitiba: Editora Prismas, 2016. Resenha de: ZLATIC, Carlos Eduardo. Vozes, Pretérito & Devir. Piauí, v.6, n.1, p. 279 – 284, 2016. Acessar publicação original [DR]
Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro | Edgar Morin
Para a educação do futuro exige-se enfrentar os problemas que para o autor, “são ignorados ou esquecidos”. Para os educadores, há a preocupação de como transmitir conhecimentos dentro de uma estrutura social hierarquizada e em permanente transformação. É um desafio para eles lidar com os novos saberes que a sociedade moderna exige e que contribuição terá estes novos saberes na educação do futuro.
Em sua análise, o autor evidencia a sociedade contemporânea e como as diferentes maneiras de articular dentro do universo escolar uma formação mais humana, vinculando os conhecimentos antigos, modernos e contemporâneos não excluindo os aparelhos eletrônicos, que tantas benesses trouxeram para a formação intelectual do homem deste novo século. O autor expõe também, nesta obra, a velocidade e a eficiência com que as informações são divulgadas aos quatro cantos do continente e como são dimensionados os processos de controle e articulação de bases sólidas na transmissão de conhecimentos que seriam universais com interesses da maioria. Leia Mais
El ala rota – ALTARRIBA; PUIGARNAO (I-DCSGH)
ALTARRIBA, A.; PUIGARNAO, Aubert (KIM), Carmen. El ala rota. Barcelona: Norma Editorial, 2016. Resenha de: ALAMEDA ARAUS, Maria Carmen. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.86, p.82-83, ene., 2016.
Esta interesante novela gráfica del novelista, ensayista y reputado guionista Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) y del dibujante y miembro fundador de la revista El Jueves Joaquim Aubert Puigarnao (Barcelona, 1941), más conocido como Kim, se puede considerar la segunda parte de El arte de volar (Premio Nacional de Cómic 2010). Si bien se trata de dos obras independientes entre sí, el nexo común es que en ésta que nos ocupa se narra la vida de la madre de Altarriba y, en la anterior, la de su padre. De este modo, dos vidas reales sirven de hilo conductor para describir la historia política y social de la España del siglo xx.
El punto inicial de la difícil existencia de la madre de Altarriba es el descubrimiento por parte de Antonio, su hijo, incluido como un personaje más en la novela, de que su progenitora ha tenido siempre el brazo inmóvil y que nadie se ha dado cuenta. A partir de esta anécdota los lectores somos testigos del clima político-social de la España de esos años: la caída de la monarquía y la llegada de la Segunda República, la Guerra Civil, los duros años de la posguerra y la dictadura franquista. El tema femenino está muy presente, viéndose cómo las mujeres de ese período de nuestra historia –un país dominado por el machismo en todos los ámbitos: político, religioso y social– compartían unas características comunes: eran devotas, sufridoras, obedientes y muchas veces sufrían maltrato.
Debido a la multiplicidad de temas relacionados con la historia de España que se abordan, es una novela gráfica muy útil, de lectura recomendada tanto para profesores como para alumnos, especialmente para aquellos que estén cursando 4.º de ESO o 2.º de bachillerato (en este caso, en relación con las unidades didácticas que marca el temario oficial). En este sentido, El ala rota se divide en cuatro partes que, intituladas con los nombres de los varones que marcaron la vida de Petra, la madre del autor, van unidas, a su vez, con los distintos momentos históricos mencionados anteriormente.
A modo de breve comentario la primera parte, «Damián» (1918- 1942), aborda cómo el nacimiento de Petra trae consigo la muerte de su madre durante el parto (ésta se desangra) y la consiguiente locura de su padre, que le lleva a querer asesinarla sin razón. Estos hechos nos pueden servir para explicar a los alumnos la pobreza que se padecía en el medio rural en aquellos primeros años del siglo xx, así como los escasos adelantos médicos que existían.
También se puede comentar el ambiente social, muy sacralizado, en donde la Iglesia tenía un papel fundamental que influía en el modo de pensar y sentir de las personas; el pluriempleo y la difícil situación de los actores y del teatro en el mundo rural analfabeto; o el embarazo «deshonroso» de la hermana soltera de Petra, que ejemplifica la ardua situación de las mujeres y su continua dependencia con respecto a los hombres.
Otros temas que aparecen reflejados y que se pueden estudiar y tratar en las aulas son, en el ámbito político, la proclamación de la Segunda República, la aparición de la Falange y los sindicatos y el estallido de la Guerra Civil, y, en el social, la vida en los pueblos y el analfabetismo, el trabajo rural infantil, el maltrato de los niños y niñas, o el lugar de la mujer (limitado prácticamente a las tareas propias del hogar) y su indefensión, así como el alcoholismo y la figura del sereno.
Bajo el título de «Juan Bautista» (1942-1950), la segunda parte se desarrolla dentro del contexto del éxodo rural, pues Petra va a trabajar a la ciudad a casa de un alto mando militar. Es ahí en donde conoce al que será su marido.
Observamos aquí los siguientes temas político-sociales, todos ellos interesantes desde un punto de vista didáctico: las diversas facciones políticas, el estamento militar, las conspiraciones para derrocar a Franco, los principales símbolos franquistas (como la izada de banderas, las insignias y los himnos); así como el mundo de las «chachas », el lujo de la ciudad frente a la pobreza del pueblo o la educación en manos de la Iglesia.
En el tercer apartado, «Antonio» (1950-1985), los padres de Altarriba se casan y tiene lugar el nacimiento de Antonio. Con el paso de los años, el matrimonio acaba separándose. Los temas más destacados y útiles para su estudio en el aula son la violencia de género, las miserias de la vida en la ciudad, las nuevas clases sociales, las diferencias entre pobres y ricos en el hogar, las radionovelas y la llegada de la televisión, la censura, el estraperlo y los nuevos transportes.
La última parte de la novela, titulada «Emilio» (1985-1998), narra el ingreso de Petra en una residencia de ancianos dirigida por monjas y su posterior muerte. En este apartado merecen destacarse dos temas: el de las mujeres repudiadas y el de la vida de los ancianos en las residencias, este último muy actual.
Como puede observarse, el número de temas susceptibles de ser utilizados para ejemplificar el estudio de la historia de España en estos años es múltiple. Igualmente, también se puede hacer uso de distintos caminos en el modo de estudiarlos: lectura del cómic, comentarios de partes de la obra que más interesen, averiguar historias parecidas dentro de la familia del alumnado y posteriormente dibujar lo más destacado, investigación por parte de los estudiantes de los temas que aparecen… Por todos estos motivos, la lectura tanto de El ala rota como del libro anterior es pedagógicamente muy sugestiva porque permite visualizar un amplio espectro temporal de nuestra historia de una manera sencilla y entretenida. ¡Adelante, hagan la prueba!
M.ª Carmen Alameda Araus – E-mail: mamenalar73@gmail.com
[IF]Teoria do romance I: a estilística – BAKHTIN (B-RED)
BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: a estilística. Tradução, prefácio, notas e glossário de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. 256p. Resenha de: FARIA E SILVA, Adriana Pucci Penteado de. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.11 n.1 São Paulo Jan./Apr. 2016.
Serguei Botcharov (1929) e Vadim Kójinov (1930-2001) herdaram os direitos autorais da obra de Bakhtin. No início da década de 1960, quando ainda eram jovens estudantes em Moscou, foram responsáveis, com outro colega, Géorgui Gachev, pelo fenômeno da redescoberta de Bakhtin. Isso se deveu ao empenho dos jovens em editar os trabalhos do autor, cujos textos conheceram em seminários da pós-graduação.
A redescoberta, de certa forma, continua até hoje. Empenhado em recuperar os originais de Bakhtin, Botcharov foi um dos protagonistas do projeto da nova edição russa de suas Obras reunidas1. Dentre os resultados desse projeto, há uma nova edição do trabalho A teoria do romance, escrito por Bakhtin nos anos 1930. Essa edição corresponde ao terceiro tomo das Obras reunidas e foi publicada na Rússia apenas em 2012, mas tanto Kójinov como Botcharov trabalharam em sua organização.
Em relação à edição anterior, de 1975, intitulada Vopróssi literaturi e estétiki, traduzida no Brasil como Questões de literatura e de estética. A teoria do romance2, em primeira edição de 1988, há significativas diferenças no volume publicado em russo, em 2012.
Uma alteração visível apenas por via da comparação dos sumários é a supressão do ensaio que constitui o capítulo inicial de Questões de literatura e de estética, ou seja, O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária, de 1924. Tal ensaio, nas Obras reunidas em russo, está no Tomo 1, de 2003, que reúne trabalhos sobre filosofia e estética publicados majoritariamente na década de 1920.
Mais significativa diferença, porém, reside na base do novo volume, que é o original datilografado por Bakhtin, recuperado pelos já citados organizadores. A nova edição russa incorpora, como notas de rodapé, todas as anotações feitas à mão pelo pensador russo, além de trazer também, com clara distinção sobre a natureza de cada inserção, as notas do texto original que já eram conhecidas dos leitores da publicação anterior.
Ao leitor brasileiro ainda cabe o privilégio de ter mais uma tradução diretamente do russo da obra bakhtiniana Teoria do romance. Nosso Questões de literatura e de estética. A teoria do romance3 também veio de forma direta da língua russa e sua tradução foi realizada por uma equipe liderada pela pesquisadora Aurora Fornoni Bernardini. É um trabalho de qualidade incontestável, que ganha, em 2015, a possibilidade do diálogo com a tradução de Paulo Bezerra, nome de destaque no cenário da recepção das obras de Bakhtin no Brasil.
Paulo Bezerra, de fato, é um dos expoentes dos estudos bakhtinianos no Brasil. Sua carreira docente estendeu-se pela Universidade de São Paulo/USP, onde defendeu a livre-docência, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UFRJ e pela Universidade Federal Fluminense/UFF, na qual, já aposentado, continua a atuar como professor de crítica literária. Na página 253 de Teoria do romance I: a estilística, a seção identificada como Sobre o tradutor traz mais detalhes de sua carreira, além de listar algumas das mais de quarenta obras que Paulo já traduziu do russo, com destaque para títulos assinados por Dostoiévski.
Paulo Bezerra é também responsável pelas edições traduzidas diretamente do russo de importantes obras de Bakhtin, como Estética da criação verbal4 e Problemas da poética de Dostoiévski5. Seu conhecimento profundo do horizonte cultural da Rússia e seu empenho por sua divulgação foram reconhecidos pelo governo daquele país, que lhe concedeu, em 2012, a Medalha Púchkin. É, portanto, o mediador ideal para que o leitor brasileiro estabeleça um diálogo com a voz de Bakhtin em Teoria do romance I. A estilística.
As badanas do livro trazem uma apresentação de Cristóvão Tezza, que ressalta, como leitor apaixonado, a importância do trabalho de Bakhtin que o leitor tem em mão.
No prefácio, Bezerra contextualiza a nova tradução, explica algumas decisões dos organizadores e narra a gestação do trabalho Teoria do romance por Bakhtin. Também apresenta a decisão, que atribui a si e à editora, de publicar no Brasil a nova e definitiva versão de Teoria do romance em três volumes. Na última subseção, intitulada Esta tradução, Bezerra aponta, com elegância, para lacunas ou incoerências que afetam algumas edições em português da obra de Bakhtin e questiona as consequências que elas podem gerar na apreensão do pensamento bakhtiniano. Um destaque nesta discussão é a justificativa de sua escolha pelo termo heterodiscurso para o conceito anteriormente traduzido como heteroglossia ouplurilinguismo.
No corpo do texto, nesse primeiro volume, apresenta-se, em comparação com a tradução anterior, apenas o capítulo O discurso no Romance. Estão ausentes, portanto, capítulos nomeados em Questões de literatura e de estética como Formas de Tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica) e suas subdivisões, bem como Da pré-história do discurso romanesco; Epos e romance (sobre a metodologia do estudo do romance) e Rabelais e Gógol (Arte do discurso e cultura cômica popular).
O leitor que conhece Questões de literatura e de estética: a teoria do romance6 notará, ainda, a inclusão de um subtítulo para a introdução do único capítulo presente na nova tradução: As questões da estilística do romance. Na edição anterior, apenas dois parágrafos, reunidos em uma única página, (p.71, na edição de 1993), constituíam tal introdução. Na edição nova, além de ganhar um subtítulo, a introdução, de nove parágrafos divididos em três páginas e meia, tem acréscimos importantes de considerações de Bakhtin sobre os desafios de se elaborar um estudo sobre a linguagem do romance “à luz das ideias do realismo socialista” (BAKHTIN, 2015, p.19).
Nos demais subtítulos do capítulo O discurso no romance, há importantes alterações, já que na edição anterior as anotações manuscritas de Bakhtin haviam sido ora suprimidas, ora inclusas no corpo do texto, e não como notas de rodapé.
Veja-se, por exemplo, a nota que indica uma anotação manuscrita de Bakhtin na página 42 de Teoria do romance I: a estilística: “A comunhão de cada enunciado com um ‘língua única’ […] e, ao mesmo tempo, com o heterodiscurso social e histórico (forças centrífugas, estratificadoras)”. Em Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, essa nota foi incorporada ao texto, fechando o segundo parágrafo que se inicia na página 82 (edição de 1993).
O mesmo se observa em diversos outros pontos, como a nota correspondente a um trecho manuscrito de Bakhtin na página 137 da nova tradução, sobre a palavra autoritária: “A zona do contexto moldurador também deve ser distante, aí, o contato familiar é impossível O descendente distante percebe e interpreta; a discussão é impossível”. Tal nota, na edição anterior, estava incorporada ao texto, aparecendo no terceiro parágrafo da página 144 (edição de 1993).
Perceber o que estava à margem, como reflexão ainda não incorporada ao texto, leva o leitor a compreender que, por vezes, o que pode parecer uma ideia truncada ou circular não estava, na verdade, inserido por Bakhtin no fio de seu discurso. Essa é uma das grandes contribuições da nova edição russa e do novo trabalho de tradução de Bezerra.
Voltando às diferenças no sumário, os subtítulos do capítulo O discurso no romance, na tradução anterior, eram os seguintes: I A estilística contemporânea e o romance; II O discurso na poesia e o discurso no romance; III O plurilinguismo no romance; IV A pessoa que fala no romance e V Duas linhas estilísticas do romance europeu. Na nova tradução, encontramos: 1. A estilística atual e o romance; 2. O discurso na poesia e o discurso no romance; 3. O heterodiscurso no romance; 4. O falante no romance e 5. As duas linhas estilísticas do romance europeu.
Notas do tradutor explicam a maioria das escolhas que acarretaram as mudanças mais significativas em termos lexicais. O leitor ainda tem à disposição, no final do livro, a seção Breve glossário de alguns conceitos-chave, em que Bezerra traz muitos termos no original russo, em alfabeto cirílico, sua transliteração para o alfabeto latino, uma breve explanação do conceito e a justificativa das escolhas de tradução.
A obra Teoria do romance I: a estilística é o inicio de um novo diálogo com um dos textos de Bakhtin mais conhecidos pelos pesquisadores brasileiros. Conhecer uma forma que se aproxima mais do original datilografado não poderia deixar de ser, para bakhtinianos, a entrada num novo mundo de sentidos e de conteúdos por essa forma gerados.
Haverá, talvez, a concorrência de termos advindos de traduções diferentes para tratar de mesmos conceitos. É difícil prever se o termo heterodiscurso, talvez contaminado pela forma que remete a questões de gênero em embate com a heteronorma, substituirá o já consagrado termo plurilinguismo nos trabalhos dos pesquisadores brasileiros que se debruçam sobre o pensamento bakhtiniano, ou se a expressão “a pessoa que fala no romance” será naturalmente substituída por “o falante no romance”. Esses termos estiveram à nossa disposição por vinte e dois anos e povoam uma infinidade de publicações sobre os mais diversos tópicos de pesquisa à luz dos estudos bakhtinianos.
No entanto, a contribuição da nova tradução não pode, de maneira nenhuma, ser reduzida a uma maior precisão terminológica. Trata-se de um texto que se aproxima da voz de seu autor, do próprio acabamento estético que Bakhtin deu à sua obra. E contemplar esse trabalho na companhia de Paulo Bezerra é, indubitavelmente, um grande privilégio.
1Sobre essa edição, ver a resenha de Sheila Grillo em Bakhtiniana, São Paulo, v. 1, n. 1, p.170-174, 1º sem. 2009. A autora gentilmente nos cedeu as seguintes informações: o projeto inicial previa a publicação dos sete tomos citados na resenha, mas o sétimo, que traria as obras de autoria disputada, não será realizado. Os demais tomos foram publicados e o projeto está concluído.
2BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernadini et al. 5 ed. São Paulo: Editora da UNESP e HUCITEC, 1993.
3Ver nota anterior para referências.
4BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
5BAKHTIN, M.M. Problemas da poética de Dostoiévski. 5. ed. revista. Trad. Paulo Bezerra. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2010.
6Ver nota 2.
Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva – Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, Bahia, Brasil; appucci@ufba.br.