Global philosophy: What philosophy ought to be? – MAXWELL (ARF)
MAXWELL, N. Global philosophy: What philosophy ought to be? Exeter. UK: Imprint Academic, Societas – Essays in Political & Cultural Criticism, 2014. Resenha de: CHOKR, Nader N. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.2, n.1, p. 175-186, jan./jun., 2016.
In his recent book, Nicholas Maxwell revisits for the most part ideas, arguments, and positions he has been defending quite forcefully for the past 40 years or so. These include his conceptions of what philosophy ought to be, about the nature of science and its progressmaking features, how to best construe empiricism and rationality, his take on the history and philosophy of science, on philosophy and the history of philosophy, the nature of (academic) inquiry, and finally, his position about the role of education and the university more generally in view of his rather pessimistic yet compellingly realistic diagnosis of the problems and challenges confronting our world at this point in our history.
And the question that comes immediately to mind is this: Why is Maxwell repeating himself over and over, in a desperate attempt to convey what he deems to be an urgent message, given the alarming and worrisome state of affairs currently prevailing in the world as we know it today? The obvious answer is, as he himself laments occasionally in his work, that he has so far failed to get the attention of the academic and philosophical community that he believes his work deserves. It behooves us therefore to inquire in a more focused manner into the possible reasons for such a failure in getting the recognition and support of the academic community. Are his ideas and proposals wrong or untenable and must therefore be rejected? Are they unoriginal and uncontroversial, and therefore not deserving of further attention? Or is the philosophical and academic community at fault in some ways for failing to recognize the validity and relevance of his ideas and proposals?
More generally, why do the ideas and proposals of some philosophers fail to gather the expected focus and attention in a timely manner, even though they are right and valid in so many respects? Does philosophy (in its institutional incarnation in the modern era) always come late to the party, so to speak? If the Owl of Minerva (philosophy) only takes its flight at dusk, as many philosophers have come to believe after Hegel, what are we to make of a new philosophy that claims instead that the Owl of Minerva must take its flight at dawn?
From the start, I must confess that when I first looked into Maxwell’s work, I was inclined (possibly like some of his readers) to think that his ideas may be more accepted and widespread than he seems to be realizing. Perhaps even part of conventional wisdom and commonsense. Progressively however, I began to see the qualitatively distinctive features of his proposal. He sets out, it now seems to me, an earlyrising and forwardlooking proposal about how humans can best save themselves from themselves, encapsulated in his call for a paradigmshift in (academic) inquiry from knowledge to wisdom (1984, 2007). I hope merely to convey this reading to some extent in the brief compass of this review. Establishing its correctness in a definitive and conclusive manner is obviously beyond the present scope.
The five essays collected in the present volume are intended (once more) as an invitation to abandon our established and entrenched conceptions and transform our institutions of learning from primary school to university so that they devote themselves to helping us all create and bring about a better and wiser world. Because they have all been published previously in different contexts, they inevitably and unfortunately contain far too many repetitions which can be distracting and even appear annoyingly preachy. For this reason, and by virtue of my application of the principle of charity to interpretation (Davidson), my review proceeds in a slightly different way than usual conventions require. I single out a crucial thread in Maxwell’s work which enables me to give a fair and accurate account of the main point in each essay (even if at times short), while hopefully laying the ground through and through for an overall critical evaluation of his work, especially with regards to the question raised earlier.
In due course, I consider a number of objections that could be made against Maxwell having to do with (1) his idealism, (2) his scientism, (3) the ‘disciplinary matrix’ of his work, and (4) the form and style of his writings, the idiosyncrasies of his philosophical temperament, as opposed to the content and substance of the work. I also examine (5) the apparently unfashionable characteristics of his project, and (6) the clash or dissonance between its politically radical dimension prima facie and its more sober or analytical formulation, as further possible hypotheses. Finally, I consider briefly (7) the often posthumous character of philosophical vindication, and (8) the possibly paradoxical nature of Maxwell’s project.
Though Maxwell discusses a broad and diverse range of issues and topics, there is, he claims in the preface, one common underlying theme, and that is education (vii). For Maxwell, ‘education ought to be devoted, much more than it is, to the exploration of reallife, open problems; it ought not to be restricted to learning up solutions to already solved problems – especially if nothing is said about the problems that provoked the solutions in the first place’ (vii). [This is consistent, as we shall see, withhis main argument about inquiry].
Given the widely acknowledged and growing yawninggap between education,as it is currently dispensed (for the most part), and the realworld, it is hard to see howone could object to such a view. Maxwell is urging a reduction or an elimination of thisgap. Furthermore, he is recommending that greater emphasis be placed as early aspossible on learning how to engage in cooperatively rational and imaginativeexplorations of such reallife, open problems.
In Chapter 1, he points out that ‘even fiveyear olds could begin to learn how todo this’ (vii) through appropriately designed and tailored philosophy seminars in whichthe use of ‘play’ as an effective pedagogical device is demonstrated. Maxwell iscertainly not the first or only philosopher to make a case for the pedagogical use of‘play’ in education or even in ‘philosophy for children’ (see Lipman’s project, Institutefor the Advancement of Philosophy for Children, 1974). But perhaps taken in thecontext of his wider claim about academic inquiry, it becomes qualitatively distinctive.He writes:
[A]cademic inquiry ought to be the outcome of all our efforts to discover what isof value in existence and toshare our discoveries with others. At its mostimportant and fundamental, inquiry is the thinking we engage inas we live,as we strive to realize what is of value to us in our life. All of us ought both tocontribute to andlearn from interpersonal public inquiry. This twowaytraffic of teaching and learning ought to start at theoutset, when we firstattend school (2).What is often not appreciated enough, in his view, is ‘the central and unifyingrole of philosophy in all of education’ (3). Pursued as the cooperative, imaginative andrational exploration of fundamental problems of living, it could much more readilyserve to ‘bridge the gulf between science and art, science and the humanities’ (3).
One may be tempted to object at this point that hardly anyone in academia or inthe humanities would reject such a call to build bridges between disciplines, or even hisview about the central and unifying role of philosophy. This objection would bepremature however, and possibly unsustainable given that he puts forward as we shallsee a different conception of science, philosophy, and inquiry more generally.
In Chapter 2, Maxwell turns to what is perhaps one of his most important andlongstanding contentions: the fundamental failure of academic philosophy to properlyconceive its main task. According to him:
The proper task of philosophy is to keep alive awareness of what our mostfundamental, important, urgentproblems are, what our best attempts are at solvingthem and, if possible, what needs to be done to improvethese attempts (11).
In his view, academic philosophy has failed disastrously to even conceive of itstask in these terms. And the consequence is that it has not made any serious attempt toensure that universities are devoted to tackling ‘global’ problems –in the double senseof the term i.e., ‘global’ intellectually, and ‘global’ in the sense of concerning the futureof Earth and humanity.
Maxwell also claims that academic philosophy has failed to focus as it should onour most fundamental problem of all, encompassing all others:
How can our human world – and the world of sentient life more generally –imbued with the experiential, consciousness, free will, meaning, and value,exist and best flourish embedded as it is in the physical universe? (13, 41, 48, 157-8).
This is, according to Maxwell, both our fundamental intellectual problem andour fundamental problem of living.
In Chapter 3, he goes to show how one could begin to address this problem, in asimulationletter to an applicant for a new Liberal Studies Course. The fundamentalcharacter of the open, unsolved problem provides the opportunity to examine andexplore a broad range of issues and related problems:
What does physics tell us about the universe and ourselves? How do we accountfor everything physics leaves out? How can living brains be conscious? Ifeverything occurs in accordance with physical law, what becomes of free will?How does Darwin’s theory of evolution contribute to the solution of thefundamental problem? What is the history of thought about this problem? What isof most value associated with human life? What kind of civilized world shouldwe seek to help create? Why is the fundamental problem not a part of standardeducation in schools and universities? What are the most serious global problemsconfronting humanity? Can humanity learn to make progress towards as good aworld as possible? (47-48).
The course as conceived would be run as a seminar, driven for the most part bystudents’ questions and proposals, with the teacher in the role of a facilitator or mentor.It would invite a sustained questioning of our current conceptions of education and itsgoals, science and its aim, as well as empiricism and rationality.
If, by philosophy, one means either (a) exploration and investigation offundamental problems or (b) explorations or investigations of the aims, methods, tools,and techniques of diverse worthwhile but problematic or unconventional endeavors – aswell as the philosophy of these endeavors, then in some real sense, students would bedoing philosophy, and not just talking about philosophy and past philosophers, andinterpreting the commentaries of commentaries, or commenting the interpretations ofinterpretations (64). But, according to Maxwell, academic philosophy today, on thewhole, neglects scandalously to do either of these things, (a) or (b), in a clear andstraightforward manner.
Suppose, to paint a picture in broad strokes, one could categorize some of themain proposals about the main task of philosophy as defending either one of thefollowing positions: (1) Philosophy consists essentially in ‘creating new concepts andconceptual persona’ [French continental philosophy, e.g., Deleuze & Guattari (1994)].(2) Philosophy consists essentially in the ‘analysis of concepts’ [AngloAmericananalytic philosophy]. Then one could argue that Maxwell’s conception does not fall ineither category: neither (1) nor (2) is strictly speaking and effectively doing either (a) or(b), even though Maxwell can’t obviously avoid creating and analyzing concepts, as hepursues (a) and (b), and his primary focus on solving reallife, open problems.Obviously, proponents of both (1) and (2) could object that they too are interested in theend in bringing to bear their respective approach on the solutions of problems. Butunlike Maxwell, they arguably seem to subordinate the latter to something else, deemedmore important. In contrast Maxwell considers the latter as the primary task of philosophy.
Besides, while analytic philosophy is increasingly specialized and dominated byesoteric and arcane discussions of technical puzzles and language games (not just inWittgenstein’s sense) accessible to the initiated few, continental philosophyis, for itspart, far too prone to speculative flights, jargonfilled obscurantism and mystification,antirationalism, antiscientific or antiscientistic proclivities. In some sense, one could argue that they are both ‘forms of antiphilosophy’ (64). What the theoretical andspeculative approaches to philosophy often neglect are the vital, existential, andpractical dimensions of living.
In fact, if Maxwell’s conception has any affinities, it seems to be with the branchof contemporary philosophy that in recent decades has come to be known as ‘appliedphilosophy’ (in some of its incarnations). Such an approach is primarily concerned withbringing to bear on a wide range of contemporary problems and issues all the tools andinsights of philosophy broadly conceived in a nondoctrinaire fashion. After an initialbad reputation, such a field of inquiry has now come to be recognized and accepted forits contributions. It may have even contributed to the rehabilitation of the practicalrelevance of philosophy in the world today.
Concerning Maxwell’s formulation of what he deems to be the single mostfundamental problem confronting us, as selfconscious, evolved creatures in a physicaluniverse, what could one possibly object? Unless one is more receptive to theological,metaphysical or pataphysical speculations about ‘who and what we are’, and whatconstitutes our predicament as humansintheworld, one must concur. In fact he is notthe only philosopher to have discussed it (Whitehead), or who thinks so (far too manyto list here). As for its being fundamental, from which a slew of other problems can bederived, it should be obvious, especially if we situate ourselves, as I presume Maxwelldoes, within the current scientific, biologicalevolutionary framework that is ours today.Such a framework is admittedly defeasible and subject to possible corrections, and evenoutright subversions, but it is arguably the best we have so far. His originality, if any,lies perhaps in the claim that it ought to be placed at the center of (academic)philosophy’s preoccupations.
In Chapter 4, he considers what he believes went wrong with the History andPhilosophy of Science (HPS) as well as Science and Technology Studies (STS), underthe misguided influences of various postmodernist trends, represented among others bythe ‘Strong Programme’ and ‘Social Constructivism’. Countering the often excessiveand untenable relativistic, subjectivist and antirational interpretations and conclusionsof proponents laboring under these trends, Maxwell seeks to correct the widespreadmisrepresentations of science and its basic aim (i.e., truthper se, factual truth andappeal to evidence, according to the standard conception of empiricism) and to promotea broader and richer conception of science and its basic aim (i.e., truth presupposed tobe unified or explanatory), one that puts in practice an aimsoriented empiricism andrationality, that is at once more objective and capable of making progress in itsapprehension of the real world (or parts thereof). He even seeks to find a way togeneralize over the progressmaking features of science (its aims, methods, tools, andtechniques) to the entire social field and human world.
Under his conception, as I understand it, science (no differently than philosophy)would more readily be prepared to acknowledge, disclose, and critically evaluate theassumptions that it may be making implicitly or explicitly (e.g., metaphysical,epistemological, social, cultural, and even political assumptions) about its aims andmethods. In addition, it would be committed to applying consistently what he calls the‘four elementary rules of reason’:
(1) Articulate, and try to improve the articulation of, the basic problem to besolved.
(2) Propose and critically assess possible solutions.
(3) If the basic problem we are trying to solve proves to be especially difficult tosolve, specialize. Break the problem up into subordinate problems. Tackle analogous,easier to solve problems in an attempt to work gradually towards the solution to the basic problem.
(4) But if do specialize in this way, make sure specialized and basic problemsolving stay in touch with one another, so each influences the other (99101).Furthermore, such a conception of science would arguably make adistinction between ‘constitutive and progressmaking features’ and‘contextual and possibly obstaclegenerating factors.’First, one must getclear on the progressmaking features of science (aims and methods). Second, one mustcorrectly generalize these features so that they are potentially applicable to anyworthwhile, problematic human endeavor. Third, the correctly generalized progressmaking features must be extended to the entire social and human world.
In Maxwell’s view, in order to get to step one, one needs to adopt an aimoriented empiricism (AOE), and in order to get to step two, we need to generalize AOEso that it can be applicable in a potentially fruitful way to any problematic, yetworthwhile human endeavor, and not just science. In this way, we would also endorse arationality that helps to improve aims especially when they are problematic. Thisiswhat he calls aimsoriented rationality (AOR). Finally, in order to get to stepthree, weneed to apply AOR, arrived at by generalizing AOE, i.e., the progressmaking featuresof science, to all other worthwhile, problematic human endeavors, besides science (1045, 120124, 164175).
All of these features would enable inquiry (into the natural or social & humanworld) to acquire a selfcorrective mechanism, a kind of positive feedback loop,through which obstacles and contextual factors can be identified and neutralized,failures can be turned into successes and successes into even greater achievements, andthereby achieve in the long run relative yet substantial progress.
It is in this context that one could perhaps best understand Maxwell’s call for aparadigm shift in inquiry –namely, from the established and dominant knowledgeinquiry pervasive in Universities around the world since the 18thcentury to a new andmore enlightened wisdominquiry. Obviously, such a shift has yet to take root andspread widely in the academic world, even though there are here and there hopefulclusters with such a focus (see for example Sternberg, 2001; Ferrari and Potworowski,2008 ̧ Mengel, 2010; Wisdom Initiative at University College London, Maxwell’s owninstitutional affiliation). Maxwell’s proposal could have benefitted over the years fromacknowledgement of and interaction with the works of likeminded scholars around theacademic world, and beyond.
While we may all readily grasp what is meant by knowledgeinquiry, this maynot be so with regards to wisdominquiry. Here is how Maxwell characterizes the contrast:
Knowledgeinquiry has two quite distinct fundamental aims: the intellectual aimof knowledge, and the social or humanitarian aim of helping to promote humanwelfare. There is a sense in which wisdominquiry fuses these together in the onebasic aim of seeking and promoting wisdom – wisdom being the capacity, andperhaps the active desire, to realize what is of value in life, for oneself and forothers; wisdom thus including knowledge and technological knowhow but muchelse besides (103).
It might also help to know how Maxwell defined ‘wisdom’ when he firstintroduced his ‘great idea’ (118) in 1984:
[Wisdom is] is the desire, the active endeavor, and the capacity to discover andachieve what is desirable and of value in life, both for oneself and for others.Wisdom includes knowledge and understanding but goes beyond them in also including: the desire, and active striving for what is of value, the ability to seewhat is of value, actually and potentially, in the circumstances of life, the abilityto experience value, the capacity to use and develop knowledge, technology andunderstanding as needed for the realization of value. Wisdom, like knowledge,can be conceived of, not only in personal terms, but also in institutional or socialterms. We can thus interpret [wisdominquiry] as asserting: the basic task ofrational inquiry is to help us develop wiser ways of living, wiser institutions,customs and social relations, a wiser world (118, 1984: 66; 2007: 79).
One may think, as I have initially, that the use of the term ‘wisdom’ tocharacterize what should be of primary concern in inquiry in his view diminishessomehow the novelty, or radical nature of his proposal as it evokes readily varioustraditional conceptions and connotations associated with the term itself. It is perhapsbest to take his construal as a redefinition of the term for our times.
In order to motivate and justify his call, Maxwell revisits a crucial turningpointin the history of Modern Philosophy, and that is, the socalled Enlightenment in the 18thcentury, especially the French variety. According to Maxwell,les philosopheshad amagnificent and correct idea: it should be possible to learn from the progressmakingfeatures of science and acquire actionable knowledge about how to make socialprogress and bring about a better and more enlightened world. However, they made aserious and consequential mistake in the implication they drew from their brilliant idea.Rather than ascertaining and confirming the progressmaking features (aims, methods& methodologies, protocols, tools, and techniques) of science and seeking to generalizethem over the entire social field and human world, they mistakenly assumed that thetask incumbent upon them was ‘to develop the social sciences alongside the naturalsciences’. And of course, it is this assumption which has been institutionalizedandentrenched within a knowledgeinquiry paradigm throughout the 19thand 20th centuries, up until the present.
A properly construed genealogical history of this period could probably providethe greyongrey, finegrained details and multifactorial reconstruction of how arguablythis process unfolded. And admittedly, there may be room here for competing and evenclashing perspectives. But it seems plausible to assume, as Maxwell does, that anopportunity was crucially missed by the Enlightenment philosophers, that we must seekto recapture now more than ever, and that is, the opportunity to embrace wisdominquiry – instead of knowledgeinquiry as we have done for the past couple ofcenturies. One in which ‘our capacity and active desire to seek and promote what is ofvalue in (or to) life, for oneself and others’ (103) becomes the main drivingforce ofinquiry, now conceived very broadly as social inquiry, in that ‘it is intellectually morefundamental than natural science itself’ (102).
In Chapter 5, titled ‘Arguing for Wisdom in the University’, Maxwell undertakes‘an intellectual autobiography’ (108) in which he seeks to tell the story of how he cameto argue for ‘such a vast, wildly ambitious intellectual revolution’ (108), namely, thatwe urgently need to bring about a revolution in academia so that the basic task ofinquiry becomes to seek and promote wisdom, rather than knowledge.
I have always found such an exercise to be very tricky and treacherous, indeed:how could or should one talk about oneself, in what language, and to what degree ofintimate disclosure? How selfconscious could or should one be? How selfcritical ornot? How selfaggrandizing could or should one be? How much selfdeprecating humorto engage in or not? How could or should one strike a balance between all suchconsiderations? Etc.
Regardless of his success or failure in these regards, I have found his reconstruction of his intellectual odyssey (from ‘genius child’ to ‘emeritus professor’)as he sees it from his current vantage point to be illuminating in many respects, if onlyas a window into the mind of a philosopher (peering into himself) assiduously andstubbornly pursuing his quest and inquiry into the human predicament. I cannevertheless understand those who might feel irked or bothered for some reason by hisnarcissistic and selfaggrandizing tendencies tempered by selfdeprecating humor.Maxwell concludes his account by stating what he finally realized:
Every branch and aspect of academic inquiry needs to change () if it is to be whatit is supposed to be: rationally organized and devoted to helping humanity achievewhat is of value in life. I was then confronted by five revolutions (that needed tohappen before my program could become a reality). First, a revolution in thephilosophy of science, from standard to aimoriented empiricism. Second, arevolution in science itself, so that it comes to put aimoriented empiricismexplicitly into scientific practice. Third, a revolution in social inquiry and thehumanities, so that they come to give intellectual priority to problems of living,themselves put aimoriented rationality into practice and take, as a basic, longterm task, to help humanity feed aimoriented rationality into the social world.Fourth, a revolution in academia as a whole, so that it takes up its proper task ofhelping humanity realize what is of value in life. And fifth, the revolution thatreally matters: transforming the human world so that it puts cooperative problemsolving rationality and aimoriented rationality into practice in life, so that wemay all realize what is of value as we live insofar as this is possible (1712, additions in parentheses).
Needless to say, Maxwell’s proposal is wildly ambitious and idealistic, ashe ishimself ready to admit. It is hard enough bringing about one revolution, let alone five(comprising disciplinary, institutional, social and political revolutions). Besides, apartfrom specifying some of the necessary conditions for such revolutions, he does not fullyarticulate the practical guidelines we could follow to make them happen. As a result,one may fail to see how Maxwell believes that they can be achieved in practice andwhat we should actually do in order to facilitate their realization. In short, Maxwelldoes not seem to give us much advice about how these revolutions can actually beachieved in real life and how we should go about restructuring the university andresearch in order to accomplish his objectives. Perhaps the best place to look for suchdetails would be the Wisdom Initiative implemented under his leadership at UniversityCollege London, his alma mater.
But that a program is idealistic and ambitious (and even still highly unspecified)does not entail that it is not desirable and to be desired, does it? In fact, it may wellbebased on very cogent and compelling analyses and solid arguments, which make it notonly tenable and desirable but correct and relevant.
What philosophical program, worthits salt, is not more or less idealistic, seeking to bring about what should be, ratherthanperpetuating what is? It is more often than not a multigenerational, collective andcollaborative effort that is required to bridge or close the gap between the latter and theformer.What other possible objection could one readily make to Maxwell’s proposal?Obviously, one could argue that Maxwell is somehow committed to some kind of‘scientism’ (i.e., the assumption or belief that science and only science (and itsprogressmaking features, properly identified, assessed and generalized) can provide uswith the best possible explanations and problemsolving tools required to bring about abetter world. Maxwell would, I believe, bite the bullet in this regard, and admit to someform of scientism, as long as it is understood that his proposal countenances a much broader and corrected conception of science than the one commonly held. It is, let’srecall, underwritten by aimsoriented empiricism and rationality, properly inscribedwithin wisdominquiry, in which there would not be much of a distinction left betweenscience and philosophy (as in the ‘natural philosophy’ of yesteryears), and naturalscience is itself subsumed under a broader and much more encompassing social inquiry.
Maxwell is not however committed to a naïve form of scientism. He recognizesthat most if not all of our global problems have come about in large part because wehave been able through the extensive application of science and technology over thepast couple of centuries to pursue goals with great success that seem highly desirable inthe short term, but quite disastrous in the long term. It is for this reason that he thinks‘we urgently need to learn how to improve our aims and methods in life, at personal,social, institutional, and global levels’ (612). And for that, he argues, we need a newconception of rationality – aimsoriented rationality – specifically designed tofacilitatethe improvement of problematic aims and the progressive resolution of problemsassociated with partly good, partly bad aims at all levels, in all human endeavors(62).
Suppose that one believes, as Simon Critchley recently put it in an essay with acatchy title “There is no Theory of Everything” (2015) that there is a fundamental andirreducible gap between nature and society, that while the former lends itself toexplanations, the latter may not, and may only require descriptions, clarifications, orelucidations, and furthermore that the mistake, for which “scientism” is the name, is thebelief that the gap can or should be filled. He also characterizes it as a risk, i.e., thebelief that natural science can explain everything, right down to the detail of oursubjective and social lives. All we would need then is a better form of science, amorecomplete theory, a theory of everything. He concludes however that there is no theoryof everything, nor should there be. Critchley adds that one huge problem with scientismis that it invites, as an almost allergic reaction, the total rejection of science, and oftenleads to obscurantism (e.g., among climate change deniers, flatearthers, and religiousfundamentalists). We need not however run into the arms of scientism in order toconfront the challenge of obscurantism, he argues. Yet surprisingly, he seems to viewthe task of philosophy as merely consisting in “scratching our itches,” over and overagain, to paraphrase Wittgenstein. “Philosophy, he writes, scratches at the various itcheswe have, not in order that we might find some cure for what ails us, but in order toscratch in the right place and begin to understand why we engage in such apparentlyirritating activity.” Further, he adds: “What we need are multifarious descriptions ofmany things, further descriptions of phenomena that change the aspect under whichthey are seen, that light them up and let us see them anew.”
It should be clear by now that Maxwell would take issue vehemently with such aconception of philosophy and its primary task, not to mention the dubious and certainlyquestionable assumptions made by Critchley in his tirade against a particular (strawman) construal of scientism, beginning obviously with the underlying conception of‘science’ at work in his remarks which is radically different from Maxwell’s. It is alsoworth pointing out that the irreducible gap discussed by Critchley is one big assumptionfor which more argumentation is required, and that Maxwell, as a matter of fact,discusses at length (in reference to “our single most fundamental problem”). In Maxwell’s conception, ‘science’ could yield explanations (causal or probabilistic, andotherwise, say, functional, teleological explanations) as well as descriptions,clarifications, and elucidations, and thereby lead to different forms and degrees ofvalidation or rather falsification. Furthermore it would be subsumed along withphilosophy, as mentioned earlier, under a broader and richer conception of inquiry, i.e., wisdom-inquiry. It need not however be a complete theory, a theory of everything, asCritchley presumes. Those who reject science totally, rather than constructively andcritically on specific problems and issues, do so at their own risks and perils,obscurantism being the least of them of all. Those who embrace science in any formblindly, irrationally, and uncritically also do so at their own risks and perils, scientismbeing the least of them.
What other reasons could one possibly give or consider for why Maxwell’sviews and proposals has so far failed to get the attention and recognition they deserve?Suppose for the sake of argument that one can draw meaningfully a distinction betweenform and content, i.e., between (1) the manner in which Maxwell presents his ideas anddefends his views, his writing style and rhetorical flourishes, and all thoseidiosyncrasies having to do with the ‘philosophical temperament’ of the author and (2)the actual substance of his statements and arguments, i.e., the proposals he is actuallyputting forth and defending. Can we make the case that one or the other is to be blamedfor the relative of lack of attention and recognition of his work?
So, for example, can we plausibly argue, as some of his critics have done onoccasions, that his narcissistic and selfcentered tendencies, albeit tempered by hints ofselfdeprecating humor (Chapter 5), or his disposition to make absolutist andcategorical judgments, especially when criticizing and dismissing other philosophers’views (Chapters 3, 4 & 5) help to explain why his work did not have the “explosiveimpact” he had hoped and expected in the philosophical and academic community atlarge? I doubt it. First of all, it is our job to be able to sort out the wheat from the chaff,and to disregard or put aside those elements that may distract and prevent us fromgrasping and appreciating the coresubstance of the work. Besides, these tendencies anddispositions seem to have characterized more or less acutely the socalled philosophicaltemperament over the ages. What philosopher of any weight and importance does notseem to think that his or her work constitutes a crucial hinge in the history of thought,delineating thereby a before and after?
I am more inclined to consider a number of other hypotheses, focusing on thecontent, his ideas and proposals, as to why his work has so far not met with the kind ofreception and recognition it deserves. Given the radical and unfashionablecharacteristics of Maxwell’s propositions and views, it is not surprising that they haverun against various trends and fashions in philosophy (dominant schools of thought andmovements, as well as institutional elevations of some approaches over others inphilosophy). In this case, they have run counter to the established AngloAmericananalytic approach, whose focus on the arcane, esoteric and technical analysis ofconcepts has all but rendered it useless in the eyes of Maxwell. They have also runcounter to the establisheddoxain history and philosophy of Science, to thepostmodernist trends which had come to dominate the field of Science & TechnologyStudies, as well as the various approaches in Continental (French) philosophy whichhad taken certain quarters of academia by storm (e.g., Phenomenology, Hermeneutics,Structuralism, Poststructuralism, Deconstructionism, Archeology of Knowledge,Genealogy of Power/Knowledge, Critical Theory, NeoMarxism, Speculative Realism,Dialectical Materialism, Hedonism, etc.).
In this context, could a more likely explanation for the relative neglect ofMaxwell’s work be due to the institutional inertia and entrenched (disciplinary)conservatism of the academic world and the philosophical community in particular? Is it possible that too many bad habits of thought and entrenched prejudices prevent mostacademics and philosophers from escaping the very coordinates of the frameworks andsets of assumptions under which they labor, making it difficult for them to appreciate the bold and innovative character of his proposals? Is it possible that, before we canlearn how to do what Maxwell proposes, we may have to engage first and as aprecondition in some fair amount of unlearning, so as to throw off our conceptual and theoretical shackles, so to speak? If this were to be case, then his proposal wouldcertainly qualify as original and controversial. The readers would have to decide forthemselves on these questions.
Could the ‘disciplinary matrix’ within which Maxwell’s articulated anddeveloped his views and proposals also serve to explain at least in part why his workhas so far failed to get across? As we know, his views and proposals are squarelysituated within the History and Philosophy of Science at the intersection with Science &Technologies Studies. Both of these fields are characterized by a specialized technicaljargon in addition to the already challenging philosophical one. This may arguablymake Maxwell’s views difficult to access and perhaps impenetrable, or in any case helpto explain his failure to reach a larger audience or readership –even within the fieldofphilosophy. But such considerations are hardly convincing given that his writings arefor the most part straightforward and clear, rigorous and pedagogical when need be.They should therefore be accessible to anyone (moderately educated and literate) whowishes to read through them and ponder their merits for themselves.
Perhaps a more compelling explanation can be found in the clash or dissonancebetween the politically radical dimension of his proposals and their more sober andanalytical formulations due to his original ‘disciplinary matrix.’ Can this factorcondemn his work to a posthumous recognition, as is unfortunately often the case in philosophy? Ideas may be recognized as true and valid, relevant and worthwhile, butacting on them (to turn them into reality) is beyond what can be countenanced by thecurrent system in place. Perhaps we are here confronted with a paradox in that hisfailure may be due to his success: his ideas and proposals are in fact more widelyaccepted (at least in principle, theoretically) than he seems to realize. Are we more Maxwellian than we think we are?
Whatever the case may be in the final analysis, Maxwell’s latest book as wellasin his work for the past 40 years (see detailed bibliography, 1804) are certainly relevantto our efforts in successfully confronting and solving some of the major(global/glocal/local) problems afflicting our world. And philosophy, properly reconstrued and reconstructed, has a crucial role to play in bringing about the necessarychanges in the university, in education more generally, in society, and in the world atlarge.
Referências
CIOFFI, F. (1998) Wittgenstein on Freud and Frazer.Cambridge: Cambridge University Press.
CRITCHLEY, S. (2015) ‘There is no theory of everything’. The Stone (New York Times), September12, 2015.
DELEUZE, G. And F. Guattari (1994) What is philosophy?London: Verso Books.
FERRARI, M. And G. Potworowski (2008) Teaching for wisdom: Crosscultural perspectives onfostering wisdom. Springer: Science & Business Media, Philosophy.
LIPMAN, M. (1974). Harry Stottlemeier’s discovery. New Jersey: Institute for the Advancement ofPhilosophy for Children.
LONGINO, H. (1990) Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry.NJ: Princeton University Press.
MAXWELL, N. (1984) From knowledge to wisdom: A revolution in the aims and methods of science. Oxford: Blackwell.
MAXWELL, N. (2007) From knowledge to wisdom: A revolution for science and the humanities(Expanded 2ndEd). London: Pentire Press.
MENGEL, T. (2010) ‘Learning that matters – Discovery of meaning and development of wisdom inundergraduate education’.Collected Essays on Learning and Teaching(CELT), Vol. III,pp.119123.
STERNBERG, R.J. (2001). ‘Why schools should teach for wisdom: The balance theory of wisdom ineducational settings’.Educational Psychologist 36(4): 227245.
Nader N. Chokr
[DR]Ontologia e dramma: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre a confronto – ALOI (ARF)
ALOI, Luca. Ontologia e dramma: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre a confronto. Prefácio de Franco Riva. Milano: Albo Versorio, 2014. Resenha de: SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. Ontologia e drama: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre em tête-à tête. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.3, n.1, p.171-174, Jan./jun. 2016.
Se há dois autores em que, filosofia e teatro harmoniosamente se mesclam, é Gabriel Marcel (18891973) e Jean Paul Sartre (19051980). Ambos transfiguram, no cenário da cultura contemporânea, um estilo realmente único para não dizer paradigmático de interrogação da condição humana. E isso, seja ao advogar as próprias teses, seja ao dar vida aos seus personagens. Partilham, em grande medida, das questões candentes que, peremptoriamente, assolariam, de maneira crucial, um momento decisivo na história do século passado: o período entreguerras. Aliás, para eles, a guerra jamais fora um evento geopolítico circunscrito, apenas, numa escala de interesses macroeconômica. Ao contrário, a guerra assume, do ponto de vista, sobretudo, fenomenológico, um agenciamento próprio como questão, o que se torna ,pois, evidente, tanto em virtude da atividade filosófica quanto da multifaceta da produção estética (dramatúrgica, literária, musical) que um e outro dão vazão em suas reflexões. Nesse contexto, o legado deixado por suas obras é, indiscutivelmente, de um valor teórico-literário emblemático. Fato é que, muito embora Sartre tenha sido uma figura que “roubara a cena” intelectual de então (sem falar de sua carismática personalidade política que, midiaticamente, passa cobrir parte expressiva da segunda metade de século), nem por isso, a presença de Marcel deixa de ocupar um espaço pujante e decisivo. Este último é um autor que também terá o seu público e os seus leitores. Cabe atentar, antes de tudo, que ele é um mestre de cuja inspiração afeta toda uma geração de intelectuais do porte de Merleau- Ponty, Ricœur, Lévinas, e, é claro, o próprio Sartre. É Marcel, por exemplo, quem põe na ordem do dia, pela primeira vez, a noção de engajamento como signo de um debate que marcaria, para sempre, o espírito da época; espírito este encarnado numa nova forma de se fazer filosofia: uma filosofia “militante” embebida no “concreto”. Trata-se de um modus operandi que toma corpo como estilo único de reflexão instituindo, pois, em solo francês, uma nova tradição de pensamento: a tradição fenomenológicoexistencial.
É esse panorama mais geral que Luca Aloi abre emOntologia e dramma:Gabriel Marcel e JeanPaul Sartre a confronto. Com Prefácio de Franco Riva, editado em 2014 pela Albo Versorio de Milão, o livro transcende qualquer quadro meramente comparativo ou descritivo. Ele se propõe, antes, como incisivamente provocativo. O autor traz à cena as figuras de Marcel e Sartre como expressões de um alquímico experimento na seara da tradição em questão. Partindo de tal registro, Aloi põe na balança, dois pesos e duas medidas dessa viva e fértil cultura intelectual do século XX: uma herança, ainda, por ser mais bem inventariada. Nessa retrospectiva, o trabalho de Aloi reaviva o caloroso colóquio entre os dois pensadores travado num momento efervescente das mais variantes posições.
Em regra, malgrado a complexa análise de conjuntura balanceada nesse trabalho de fôlego, Aloi incita, no calor da discussão, um verdadeiro “fogo cruzado” que se propaga em múltiplas “labaredas”. Cada capítulo do livro é como uma “lenha na fogueira” a mais … A primeira chama já é acesa com a insidiosa polêmica de O Existencialismo é um Humanismo?, de 1946; conferência em que Sartre, deliberadamente, alcunha o termo existencialismo não só à própria obra, mas a um circuito mais amplo de autores. A repercussão do texto que simbolicamente ressoa mais como um manifesto tem, de imediato, uma recepção nada simpática por parte daqueles que são associados à signatária terminologia como Jaspers, Heidegger e o próprio Marcel. Este, veementemente, protesta, julgando que “o pensamento existencial degenera em existencialismo” (Marcel, La dignité humaine. Paris: Aubier, 1964, p. 10), tomando ainda partido, ao lado de Heidegger, contra o professo “humanismo” sartriano. Isso tudo, sem falar de sua indiscreta ojeriza a certas aderências lexicais como é o caso dos “ismos” comumente sufixados em muitas posições teóricas ou ideológicas. No fundo, essa querela deflagraria apenas a ponta de um iceberg cuja camada contém, por certo, dimensões maiores. Aloi “quebra o gelo” ao situar Marcel e Sartre como autores, em radical dissenso, o que desde já, também sela o que será a tônica do pensamento concreto em curso: seu caráter dissidente, multiforme e, por isso mesmo, heterodoxo.
Não há, portanto, como permanecer indiferente, retrata Eloi, a essa “constante frequentação polêmica com Sartre” (2014, p. 17). A próxima lenha na fogueira agora é o solipsismo. Será que Sartre realmente o supera? Ora, a sua posição tem sido, por vezes, manifesta: “meu pecado original é a existência do outro”, escreve em L’ Être et le Néant.Paris: Gallimard, 1943, p. 321. O outro, enquanto olhar, se torna “minha transcendência transcendida” (Ibidem) sendo, pois, a própria “morte oculta de minhas possibilidades” (Idem, 1943, p. 323). Ele é, ao mesmo tempo, “como todos os utensílios, um obstáculo e um meio. Obstáculo, porque o obrigará, certamente, a nova sações (avançar sobre mim, acender sua lanterna). Meio, porque, uma vez descoberto em um beco sem saída, ‘sou capturado’” (Ibidem). Em tais condições, “já não sou dono dasituação” (Ibidem): a aparição do outro desvela um aspecto não desejado por mim. É esta contingência que constitui, horrorosamente, “a parte do diabo” (Idem, 1943, p.324): ela me expõe à angústia inalienável, diante da qual, “o inferno são os outros” (Idem,Huis Clos. Paris: Gallimard, 1945, p. 122). Desse modo, “pelo olhar do outro, eu vivo como que fixado no meio do mundo, como em perigo, numa situação irremediável” (Idem, 1943, p. 327). Trata-se de um “perigo” que me ronda perpetuamente: “o outro está presente agora por toda parte, debaixo e acima de mim” (Idem, 1943, p. 336). Em face dessa incômoda presença, será preciso, diversamente de Husserl, que “o outro não deve ser procurado primeiro no mundo, mas, sim, do lado da consciência” (Idem, 1943, p. 332). Ora, uma vez posto nessa relação lateral, cartesianamente imputada, “é curioso observar o quanto o pensamento de Sartre tende a fechar-se num perfeito solipsismo”, avalia Marcel (Le déclin de la sagesse. Paris, 1954, p. 67). Nessa doutrina, outrem se reduz ao nível de um problema: a alteridade é captada sob o olhar medusado de um ego nadificante, objetivante. É preciso avançar para além dessa premissa monolítica e petrificante, realocando, pois, a intersubjetividade para outro plano, abdicado por Sartre: o da situação humana, in concreto. Marcel, então, inflama o debate: a possibilidade da percepção de outrem se transfigura como mistério. Outrem é mistério porque nele e com ele estou inexoravelmente engajado, numa só participação ontológica. Disso resulta a premente necessidade de despaginar o luciférico capítulo sartriano, parodiando-a inversamente: “o inferno é o eu” (Aloi, 2014, p. 110). Afinal, “ser é ‘ser com’, existir é ‘co-existir’” (Apud Aloi, 2014, p. 139); coexistência que atesta “o mundo como dimensão intersubjetiva originária” (Aloi,2014, p. 142).
É partindo desse argumento que o tema da liberdade toma forte impulso. Tal como uma brasa viva, a lenha da liberdade inflama outro confronto à queima-roupa entre os filósofos. No frigir dos ovos, qual o problema? O ideal sartriano da liberdade como negatividade. Esse ideal, solipsista por princípio, é o que assenta a radical impermeabilidade entre o ser e o nada, deflagrada pelo caráter inerentemente negativo da existência. Disso emana uma noção niilista de liberdade, sintomaticamente cara a Sartre: o homem está, em absoluto, condenado a ser livre. Eis, em prima facie, o “mito central do sartrismo: uma liberdade edificada no nada” (Aloi, 2014, p. 46). É que, para Sartre, “estamos condenados a ser livres; a liberdade é o nosso destino, é a nossa servidão, mais que a nossa conquista […]. Ela é aqui concebida a partir de uma falta, não de uma plenitude” (Marcel,Homo viator. Paris: Association Présence de GabrielMarcel, 1998, p. 231). Trata-se de uma “falta” que, “do ponto de vista do cogito, é consciência (de) falta” (Ibidem). Assim, mais uma vez, chega-se a outro beco sem saída, como nota Aloi (2014, p. 40): “A minha liberdade se encontra com outra liberdade no signo da negação e da limitação recíproca: a natureza das relações entre eu e outrem se revela como intrinsecamente conflituosa”. O que esperar, para além dessa teoria do conflito? Outro modo de existência livre, ou seja, uma liberdade situada, imersa, originariamente, na própria abertura ao mundo e a outrem. Por isso, a referida “liberdade que defendemos in extremis, não é uma liberdade prometeica, não é a liberdade de um ser que seria ou que pretendia ser para si” (Marcel, Les hommes contrel’humain. Paris: Editions Universitaires, 1991, p. 151), mas “uma liberdade que seinsere na trama mesma de nossa existência” (Idem, 1964, p. 183).
Posto isso, o ponto de fricção com Sartre mal parece ainda ter fim. Ademais, é a candente questão do engajamento que passa a arder em chamas. Em sua produção literário-dramatúrgica, Sartre acentua o caráter infundado e absurdo da existência. Como em A Náusea, a contingência radical permanece um ideal irrealizável, um objetivo completamente fora de alcance. Na contramão dessa tese, Marcel, uma vez mais, toma partido, optando por outra via: a de uma “fenomenologia da esperança”. Oque é a esperança? Ela é interrogada a partir de seu enraizamento e transcendência. “A esperança não tem, portanto, nada a ver com um otimismo de matriz ‘iluminista’”(Aloi, 2014, p. 101), ou, o que é pior, uma atitude passivamente estática. Ela é “tensão contínua”, “exposição, risco, impulso” (Aloi, 2014, p. 109), inflamando-se, pois, na militância do concreto, isto é, em meio à itinerância humana; aquela do homo viator conforme metaforiza Marcel pondo a nu, visceralmente, o que o discurso filosófico é incapaz, de per se, expor. Aqui, sem maiores cerimônias, a criação dramática e a práxisfilosófica se solicitam. O ontológico se fenomenaliza. Entre o “ser” e o “aparecer” desconstrói-se qualquer distinção ou sobreposição. Como na ágora grega, o discurso se inflama tragicamente, maieuticamente. O teatro se torna o solo, o húmus desde onde a reflexão se prepara e se cultiva. O drama é esse experimento, por excelência, que perfaza comunhão viva na qual se radica toda participação, todo engajamento, toda ação. Sartre avançara em seu projeto, mas, em virtude do recalcitrante cartesianismo, permanecera ainda prisioneiro de uma forma de humanismo, egologicamente, centrada. Ora, é tal humanismo que põe em risco a própria noção de engajamento, deixando ao sabor dos acontecimentos o sentido último da ação, imputada por certa cartilha ou plataforma político-ideológica. Marcel vira o jogo: é preciso fazer a passagem do “espírito de abstração” (excludente, por princípio) para outro nível: o da participação ontológica (em rigor, inclusiva).
Afora essas discrepâncias teóricas, um dos aspectos retratados pelo livro de Aloi é o fator de impacto da produção dramatúrgica tanto de Marcel quanto de Sartre. A projeção sartriana, nesse quesito, é, sem dúvida, patente, o que, por outro lado, cabe observar que “Marcel realiza uma intensa atividade de leitor e crítico teatral […] sem jamais deixar de reconhecer os méritos de Sartre como dramaturgo de quem, inclusive, elogia um talento extraordinário” (Aloi, 2014, p. 71). Se Marcel poupa a arte dramática de ser dogmática, apologética ou um “teatro de tese”, é para salvaguardar o que de mais reside nesta de real e de concreto. Um teatro de tamanho peso jamais se furta ao trágico. É essa lição que a criação estética de ambos revela, extraordinariamente, de catártico. O drama desvela o seu ardil: via o personagem, toca-nos intimamente, ontologicamente. Atrama dramática inflama profundamente, pondo o dedo na ferida de nossos personalismos, narcisismos, misticismos. Essa é a razão pela qual o trabalho de Aloi também não ignora o lugar do dramaturgo como tema constante da reflexão de Marcel. O intérprete italiano mostra o quanto, para o pensador francês, o autor deve-se cuidar para não intervir de maneira invasiva em seus personagens. Ao diretor, digno desse nome, convém manter, tão somente, certa “presença de ausência”, sem deixar de ser perspectivista ou de promover pontos de vista múltiplos.
Afinal, se o livro de Aloi é “incendiário” é porque, no fundo, ele também seja, propositivamente, heraclitiano. Como a filosofia, o teatro também enuncia um logos, um fogo vivo que não se apaga. O que o leitor presencia aí é um fogo ateado, a quatro mãos sem, no entanto, prescindir de suas origens gregas. Sob esse prisma, longe de ser uma simples aventura piromaníaca, Ontologia e drama exerce, com primor, uma práxis paradoxal: ao mesmo tempo em que tudo consome, como no fogo de Heráclito, tudo renova. A noção de “confronto” cotejada no subtítulo da proposta exprime bem não só uma dissonância, mas uma consonância digna de audiência. Como bem adverte seu autor, “esse confronto não fornece da relação Marcel Sartre uma interpretação excessivamente rígida e esquemática […] haja vista a sua complexidade interna” (Aloi,2014, p. 100); complexidade que, para além de uma “guerra dos opostos”, põe em cena uma harmonia essencial que faz do filosofar e da dramaturgia dois gestos concêntricos.
Claudinei Aparecido de Freitas da Silva – PósDoutor em Filosofia. Professor dos Cursos de Graduação e de PósGraduação (Stricto Sensu) em Filosofia da UNIOESTE – Campus Toledo, com Estágio PósDoutoral pela Université Paris 1 – PanthéonSorbonne (2011/2012). Escreveu “A carnalidade da reflexão: ipseidade e alteridade em Merleau-Ponty” (São Leopoldo, RS, Nova Harmonia, 2009) e “A natureza primordial: Merleau-Ponty e o ‘logos do mundo estético’” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2010). Organizou “Encarnação e transcendência: Gabriel Marcel, 40 anos depois” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2013), “MerleauPonty em Florianópolis” (Porto Alegre, FI, 2015) e “Kurt Goldstein: psiquiatria e fenomenologia” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2015). E-mail: m@itlo: cafsilva@uol.com.br
[DR]A Clio Tucidideana entre Maquiavel e Hobbes: os olhares da história e as figurações do historiador – PIRES (HP)
A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II) – CALAFATE (FU)
CALAFATE, P. A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II). Coimbra: Edições Almedina, 2015. Resenha de: NASCIMENTO1, Marlo do. Os mestres da Escola Ibérica da Paz. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.1, p.81-84, jan./abr., 2016.
A publicação da obra A Escola Ibérica da Paz vem a ser um resgate de textos latinos manuscritos e impressos de alguns professores renascentistas das Universidades de Coimbra e Évora. Os dois volumes da referida obra foram publicados sob a direção de Pedro Calafate, professor da Universidade de Lisboa, e são fruto do trabalho de uma equipe interdisciplinar que realizou suas atividades via projeto Corpus Lusitanorum de Pace: o contributo das Universidades de Coimbra e Évora para a Escola Ibérica da Paz2. Este grupo de pesquisadores tratou de investigar, transcrever e traduzir manuscritos e textos latinos impressos de autores como Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez, Martín de Azpilcueta, Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
O volume I tem por título A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI), com direção de Pedro Calafate e coordenação de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Este volume contém dois estudos introdutórios, apresentação dos textos e, em seguida, a transcrição e tradução de textos de Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez (todos em versão bilíngue latim/português) e ainda, em anexo, um texto transcrito de autor anônimo. Os temas abordados versam sobre questões da guerra e da paz, relacionando-as a temáticas que implicam problemáticas de cunho ético, político e jurídico. Conforme aponta Pedro Calafate, est es textos não deixam de ser verdadeiros manifest os sobre o valor da paz e o respeito pela soberania dos povos.
O Estudo introdutório – I, escrito por Pedro Calafate, tem por título “A Guerra Justa e a igualdade natural dos povos: os debates ético-jurídicos sobre os direitos da pessoa humana”. Nest a introdução, o autor aborda várias temáticas desenvolvidas pela Escola Ibérica da Paz, entre elas: o limite do poder papal e do imperador, a legitimidade das soberanias indígenas, a noção de que o poder dos príncipes pagãos não difere daquele dos príncipes cristãos, a compreensão de que a rudeza dos povos não lhes impede a liberdade nem o direito de domínio e de posse. Discute ainda as punições de crimes contra o gênero humano (sacrifícios humanos, morte de seres humanos inocentes) e apresenta a compreensão de que o cumprimento de ordens superiores não deve justificar o ato de um soldado cometer um crime contra o gênero humano. Ressalta ainda a importância do respeito ao direito natural de sociedade e comunicação, e ainda o direito ao comércio, sendo justa causa de guerra o caso de haver impedimentos violentos contra est es direitos.
No Estudo introdutório – II, escrito por Miguel Nogueira de Brito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o qual versa sobre “A primeira fundação do Direito Internacional Moderno”, ressalta o autor a relevância dos escritos dos teólogos-juristas da segunda escolástica para a fundação do direito internacional moderno. Para isso, ele apresenta o contraste entre as doutrinas dos autores da segunda escolástica (primeira fundação do direito internacional) e os autores da “segunda” fundação do direito internacional público, com destaque para Grócio e Pufendorf. Assim, expõe que os da primeira fundação entendem o direito internacional como direito dos povos e os da segunda assumem que a comunidade é como um instrumento de proteção do indivíduo. Compreender o direto internacional a partir do direito dos povos conduz o autor a relacionar o pensamento dos autores da segunda escolástica com o pensamento de John Rawls. Isso porque a obra de Rawls A Lei dos Povos (1999) é alvo de muitas críticas justamente porque ele aborda as relações internacionais na perspectiva dos povos havendo uma grande semelhança com o pensamento dos autores da segunda escolástica. Por fim, enaltece a importância das ideias destes escolásticos para as discussões sobre o direito internacional mais recente.
Antes de adentrar propriamente os textos transcritos e traduzidos, Ricardo Ventura, da Universidade de Lisboa, tece uma apresentação dos textos, o que muito auxilia na posterior leitura. A apreciação destes textos não só traz à tona a cultura presente nas universidades portuguesas do século XVI, como também mostra o que se tem de mais original no pensamento português, fruto de uma extensão da influência da Escola de Salamanca.
Como primeiro texto temos o escrito de Luís Molina intitulado Da fé – Artigo 8 Se os infiéis devem ser forçados a abraçar a fé (p. 76-105), transcrito e traduzido por Luís Machado de Abreu. A primeira conclusão que se tem é que não é lícito obrigar nenhum dos infiéis a abraçar o batismo e tampouco a fé, e que não é lícito fazer guerra contra eles por est a razão ou subjugá-los. Como uma segunda conclusão se tem que é lícito atrair aqueles que são infiéis com favores, dinheiro e afabilidade, para que desta forma possam ser levados a prestar culto a Deus. A terceira conclusão é que qualquer pessoa tem o direito de anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Quarta conclusão: é lícito fazer guerra, se for necessário, contra aqueles que impedem a pregação do Evangelho como forma de vingar alguma ofensa, com a devida proporcionalidade. Mostra-se lícito forçar os hereges e apóstatas a conservar a fé que receberam no batismo ou fazê-los abraçá-la novamente, porque a ideia é que a Igreja tem poder sobre aqueles que receberam o batismo.
Em seguida, temos o texto chamado Notas sobre a Matéria acerca da Guerra, lecionadas pelo Reverendo Padre Pedro Simões no ano de 1575 (p. 106-209). Este teve a transcrição de Joana Serafim, tradução e anotação de Ana Maria Tarrío e Mariana Costa Castanho, com o estabelecimento do texto e revisão final de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Pouco se sabe sobre Pedro Simões: apenas que em 1557 ingressou na Companhia de Jesus e em 1569 foi professor da Universidade de Évora. Nest e escrito, o autor trata da questão da guerra em três momentos. Além da referência tomista, o texto tem como inspiração as cinco questões sobre a guerra apresentadas na suma de Caetano. Os três momentos abordados por Pedro Simões são: (i) Acerca das condições da guerra justa; (ii) acerca dos soldados e dos restantes que cooperam na guerra; e (iii) acerca do que é lícito fazer em uma guerra justa. Uma das temáticas que permeia est es momentos e vale ser destacada é a importante discussão sobre os títulos que legitimam o poder português nas Índias.
Em seu escrito, António de São Domingos também discute sobre a matéria da guerra. Este autor nasceu em Coimbra em 1531 e professou em 1547 no convento de São Domingos em Lisboa. Assumiu a cadeira prima na Universidade de Coimbra em 1574 e veio a falecer entre 1596 e 1598. Seu texto De bello. Questio 40 (p. 210-341) tem a mesma estruturação feita por São Tomás ao tratar do tema em sua Suma Teológica, ques ão 40, que a estrutura em quatro artigos. Este escrito teve a transcrição e o estabelecimento do texto feitos por Ricardo Ventura e contou com a revisão final da transcrição, tradução do latim e notas de António Guimarães Pinto. Os quatro artigos são assim apresentados: no Artigo 1º, a questão é se fazer guerra é sempre pecado; no artigo 2º, se é lícito aos clérigos combater; no artigo 3º, se numa guerra justa é lícito usar de ciladas; e no artigo 4º, se é lícito combater nos dias santos. É importante destacar, deste manuscrito, que Frei António, ao elencar os títulos que dão direito à guerra justa, diverge de Francisco de Vitória e seus discípulos que defendiam que o direito que Cristo concedeu aos apóstolos de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura (Mc 16,15) era um direito natural. Para Frei António de São Domingos não era assim, pois est e direito concedido por Cristo não poderia ser confundido com um direito natural. Além disso, salienta (f. 68) que o Evangelho deve ser pregado com mansidão e não por força das armas. Desta maneira, é possível revelar o reconhecido respeito que o autor possuía por quem ainda não era conhecedor da revelação cristã.
Temos ainda o escrito de 1588 intitulado Sobre a Matéria da Guerra (p. 342-497), de Fernando Pérez. A transcrição e o estabelecimento do texto são de Filipa Roldão e Ricardo Ventura, e ele teve como revisor final da transcrição e tradutor António Guimarães Pinto. Fernando Pérez, nascido em Córdoba por volta de 1530, foi professor da Universidade de Évora, ocupando a cadeira prima nesta Universidade de 1567 a 1572. In materiam de Bello a Patre Doctore Ferdinandus Perez é um texto inspirado, principalmente, na questão 40 da II-II da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Desta forma, o autor também desenvolve sua temática por meio de quatro artigos a partir das questões levantadas por São Tomás. Cabe lembrar que o texto de Pérez é semelhante em estruturação ao De Bello de António de São Domingos. Talvez a novidade apresentada neste texto seja justamente a relação que Pérez faz das questões levantadas por Tomás com questões pertinentes à sua época, como, por exemplo, reflexões sobre a questão da soberania dos hispânicos sobre as Índias, sobre a guerra contra mouros e turcos, sobre o poder papal, se o mesmo se estende para fora da Igreja, sobre a defesa do direito natural no caso de matar inocentes, sobre a legitimidade de subjugar povos considerados bárbaros (africanos, indígenas do Brasil e outros).
No final deste primeiro volume, também podemos encontrar a minuta de uma carta dirigida a D. João III, de autor anônimo, de 1556 (?), e nela se encontram as causas pelas quais se poderia mover guerra justa contra infiéis. A minuta desta carta tem a transcrição paleográfica de João G. Ramalho Fialho. Este texto carece de um pouco mais de atenção do leitor pelo fato da grafia ser um pouco distinta daquela com que est amos acostumados.
É possível dizer que este primeiro volume é um convite a pensar o direito internacional e seus vários desdobramentos, principalmente no diz respeito a questões de guerra e de paz. O que fica muito claro nestes escritos é a preocupação dos autores em pensar a guerra em função da paz, e est a relação é um dos motivos que tornam seus escritos fascinantes. Por fim, imagino que seja preciso ressaltar uma pequena falha do volume I, que é a falta do Índice Onomástico, o que se pode encontrar no Volume II, que em seguida abordaremos. Ressalto a falta deste tipo de índice porque est a é uma obra com uma da gama de autores importantes citados e a busca dos mesmos se torna um pouco mais difícil sem est a ferramenta.
Ao adentrar o Volume II, deparamo-nos com escritos sobre a justiça, o poder e a escravatura. Sob a direção e coordenação de Pedro Calafate, est e volume é estruturado em duas partes. A primeira parte contém uma introdução à Relectio C. Novit de Iudiciis de Martín de Azpilcueta, de autoria de Pedro Calafate. Em seguida, temos o texto propriamente dito e, no final dest a primeira parte, em anexo o Novit Ille de Inocêncio III. A segunda parte também possui uma nota introdutória elaborada por Pedro Calafate. Na sequência temos três capítulos, nos quais encontramos, respectivamente, a tradução dos escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
Inicialmente, é importante ressaltar que a introdução à Relectio de Martín de Azpilcueta, feita pelo Pedro Calafate, é muito válida, pois ela cumpre o intuito de realmente introduzir o leitor no escrito de Azpilcueta que vem em seguida. Nela, Pedro Calafate apresenta claramente o contexto em que o escrito se insere, além de destacar as principais questões discutidas nele. O escrito Sobre o Poder Supremo (p. 23-181), propriamente dito, de Martín de Azpilcueta, tem a tradução do latim e anotação realizada por António Guimarães Pinto. Martín de Azpilcueta, que foi professor da Universidade de Coimbra, aborda em sua Relectio C. Novit de Iudiciis variados temas, porém a discussão central gira em torno do poder supremo dos reis e dos papas, uma temática um tanto delicada de ser trabalhada, pois o que est á em pauta são os limites do poder temporal e do poder espiritual, questões que envolvem a relação de soberania do Estado e da Igreja.
A Relectio é estruturada em forma de anotações, seis no total. Elas foram desenvolvidas a partir da reflexão sobre o texto de Inocêncio III Novit Ille (1204), que pode ser encontrado em anexo à Parte I deste volume, logo após o escrito de Azpilcueta. Nas duas primeiras anotações, encontramos discussões de questões referentes à onisciência divina à sua relação com o livre-arbítrio, e a crítica à astrologia supersticiosa e às práticas de adivinhação, pelo fato de que elas interferem no âmbito da ciência divina. Porém, é nas anotações III a VI que podemos encontrar o centro do escrito, que versa mais propriamente sobre a questão do poder supremo dos monarcas supremos (tanto reis como papas). Cabe ainda ressaltar que Azpilcueta, fazendo jus à Escola Ibérica da Paz, trata da defesa da soberania legítima dos povos do Novo Mundo, defendendo, no âmbito jurídico, que nem o papa nem o imperador possuíam direito sobre o território e a soberania indígena do Novo Mundo.
Na segunda parte deste volume, podemos encontrar uma nota introdutória seguida de três capítulos onde temos, respectivamente, a tradução de escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
A nota introdutória desta parte, de autoria de Pedro Calafate, apresenta a relevância do conjunto de textos escolhidos dos professores das Universidades de Évora e Coimbra, que tratam de questões como: origem e natureza do poder civil, a escravatura, as relações entre infiéis e cristãos no período entre os séculos XVI e XVII.
No primeiro capítulo, encontraremos excertos de Martín de Ledesma, professor na Universidade de Coimbra entre os anos de 1540-1562, tendo como título Secunda Quartae (p. 197-202). A seleção de textos e a tradução do latim são de Leonel Ribeiro dos Santos a partir da edição príncipe (Coimbra, 1560). São seis excertos intitulados pelo próprio tradutor. Neles são tratados temas que envolvem a defesa da soberania dos povos e do direito natural, o combate do argumento de que a inferioridade civilizacional justifica a guerra e a escravatura, condenando, assim, a escravatura e declarando-a ilegítima quando se tem como pretexto tornar cristãos os escravos. Também discorre sobre o poder papal, destacando que o mesmo não é senhor das coisas temporais e que o poder civil não está sujeito ao poder temporal do papa.
No segundo capítulo, temos o texto de Fernão Rebelo, nascido em 1547, que foi professor da Universidade de Évora. Este escrito tem por título Opus de Obligationibus, Justitiae, Religionis et Caritatis3 (p. 203-241), cuja tradução do latim é de António Guimarães, a partir da edição príncipe (Lyon, 1608). A opção por traduzir apenas algumas questões desta obra se deve à escolha temática. Pelo fato deste escrito possuir uma gama variada de temas, explica Calafate (p. 194), optou-se traduzir apenas as questões relativas à escravatura. E é dentro dessa temática que Fernão Rebelo discorre sobre algumas questões como: quando é legítimo um homem tornar-se escravo de outro, o que legitima a posse de escravos, que tipo de poder tem o senhor sobre o escravo e quais os limites desse poder, quais direitos possui um escravo, quando é lícita a fuga de um escravo e quando est e deve tornar-se livre.
No terceiro e último capítulo deste volume, encontramos o texto de Francisco Suárez chamado Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae Adversus Anglicanae Sectae Errores4 (p. 243-301). Suárez é movido a escrever est a obra no intuito de combater a teses jusdivinistas do rei Jaime I de Inglaterra. A tradução destes capítulos do livro III, cujo título Principatus Politicus se justifica pelo fato deles incidirem mais especificamente sobre a questão da fundamentação da doutrina democrática de Francisco Suárez, conforme explica em nota o tradutor do texto, André Santos Campos (p. 245). Já o capítulo IV do livro VI, que tem por título De Iuramento Fidelitatis, vem de certa forma complementar o que foi exposto no livro III, porém com destaque para o direito à resistência ativa e a discussão em torno do poder indireto do papa ao tratar de questões de ordem temporal.
Cabe ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II) é importante por vários motivos. Dentre eles, pode-se destacar que est a obra é válida por resgatar o pensamento destes autores do Renascimento através de seus escritos, pensamento est e que ilumina de maneira crítica vários acontecimentos históricos dos séculos XVI e XVII referentes às questões de guerra e paz, justiça, poder e escravatura. Ela também resgata uma memória histórica que nos auxilia e influencia a pensar o presente e o futuro sob uma nova perspectiva, ou seja, sob a perspectiva de quem compreende o direito como algo inclusivo, do qual todos fazem parte, não distinguindo as pessoas por raça, credo, classe social, costumes, etc. Além disso, é importante ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II), que pode ser adquirida através do site da Editora Almedina, permite o contato, de maneira mais fácil, com textos de autores que, de outra forma, seriam de difícil acesso ao público menos especializado.
Notas
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950, Cristo Rei, 93022-750, São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com 2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
3 Desta obra foram traduzidas as questões 9, 10, 11, 12, 13 do livro I.
4 Traduziram-se do latim, a partir da edição príncipe (Coimbra, 1613), apenas os capítulos II, III e IV do livro III, que possui em sua totalidade nove capítulos, e o capítulo IV do livro VI, que possui em sua totalidade 12 capítulos.
Marlo do Nascimento – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com
[DR]
Velas ao Mar. U.S. Exploring Expedition (1838-1842) | Mary Anne Junqueira
Abarcar a complexidade analítica de uma viagem de circum-navegação no século XIX é um esforço monumental. Mary Anne Junqueira o empreendeu e foi muito bem-sucedida. Sua obra dá conta dos múltiplos aspectos envolvidos na jornada marítima de quatro anos, seis veleiros e 346 homens comandados pelo capitão Charles Wilkes. A viagem frutificou em um relatório de 23 volumes (cinco dos quais concentraram as narrativas do capitão), material que serviu como fonte para a pesquisa histórica.
Para além da grande dimensão da expedição, os interesses com que percorreu o globo foram variados e abrangeram os de investigação científica (em diversos ramos da ciência tais como a biologia e a cartografia), geopolíticos, simbólicos e estratégicos, que foram examinados com perspicácia pela autora. O trabalho, ademais, veio suprir uma lacuna historiográfica a respeito da U.S. Exploring Expedition, ausente mesmo da literatura estadunidense. Leia Mais
Especialistas na Migração: Luteranos na Amazônia (1967-1997) | Rogério Sávio Link
Desenvolvido como um trabalho acadêmico, uma tese de Doutoramento, o livro de Rogério Link, deve encontrar leitores para além do espaço universitário, por vários aspectos: a narrativa, mesmo quando trata de questões teóricas, não é hermética; os temas tratados dizem respeito a indivíduos e grupos que estão enfrentando circunstâncias que são apresentadas com clareza pelo autor, muitas vezes com as palavras dos próprios protagonistas; o livro é bem organizado, com bastantes subdivisões, permitindo facilmente a releitura de parte da obra. Eventualmente, algumas subdivisões, como 4.1.7 e a 4.2.7, poderiam ser unificadas em um rearranjo diferente, mas o importante é o texto ter sua lógica e coerência. Acrescente-se também a presença do índice remissivo, que é muito importante em um estudo que perpassou tantos agentes, indivíduos e entidades, pois, afinal, a pesquisa abrangeu luteranos vinculados àIgreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e parte do Mato Grosso num período de três décadas. Por outro lado, aextensa bibliografia, as inúmeras fontes documentais, a par das entrevistas, as discussões conceituais e de campos acadêmicos, sinalizam uma obra de reconhecido perfil científico. Leia Mais
Didáticas da História – entre filósofos e historiadores (1690-1907) | Itamar Freitas
Itamar Freitas (2015) não se furta a dar resposta à questão motivadora e espinal desta obra, mesmo que a faça com certa dose de anacronismo, como alerta durante o texto. Aliás, o que poderia representar para muitos historiadores como uma falha estrutural na urdidura da sua hipótese, levando ao esfacelamento e descrédito dos argumentos, Freitas vale-se do “bicho papão” dos historiadores, o anacronismo, para construir uma interpretação ousada e coerente para questão: “o que é pensar historicamente em…?”. O autor indaga a questão a cinco filósofos e historiadores que entre os séculos XVIII e XX, trataram de alguma forma dos usos da história na formação de pessoas em uma duração conjuntural.
O historiador nos informa que a opção por autores com vivência na Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra está justificada pelos nos nossos modos de ensinar história, que estiveram ancorados em epistemologias de fundo dominantemente empirista (nos casos de J. Lock e F. Herbart) e empirista/evolucionista (J. Dewey), panorama esse, que somente se alteraria no início do século XX, momento em que tais suportes são, em parte, substituídos por uma epistemologia histórica, ainda empirista, embora não positivista (R. Altamira e C.-V. Seignobos). Leia Mais
Como fazer relatórios de pesquisa | investigações sobre ensino e formação do professor de língua materna | Wagner Rodrigues Silva
O livro “Como fazer relatórios de pesquisa investigações sobre ensino e formação do professor de língua materna”1, de Wagner Rodrigues e Silva e Luiza Helena de Oliveira da Silva, aborda um tema importante para os alunos de licenciaturas, por que, nesses cursos, vários professores pedem relatórios de pesquisa ou de estágio, porém nenhum deles deixa bem claro como eles querem que esses sejam construídos, nem tampouco nos dá modelos para que possamos segui-lo. Esse livro de Wagner e Luiza trazem exemplos bem didáticos e cristalinos para que possamos nos espelhar, facilitando assim nossa vida acadêmica.
Os organizadores desse livro são professores adjuntos da Universidade Federal de Tocantins, no Campus Universitário de Araguaína. Ambos lecionam a Linguística Aplicada na graduação e pós-graduação em Letras. Os dois já publicaram alguns capítulos de livros e artigos em periódicos importantes. As colaboradoras do livro são: Lucia Teixeira, que é professora da Universidade Federal de Tocantins; Elcia Tavares, Geovana Dias Lima e Nadizenilda Sobrinho que são professoras de Educação Básica e fazem ou fizeram parte dos grupos de pesquisas PIBID e CNPq na Universidade Federal de Tocantins, na época da publicação do livro, aos quais os autores também estavam ligados.
Teixeira faz uma avaliação bastante positiva no prefácio do livro Ela ressalta que essa obra tem o intuito de mostrar, de forma clara, que é possível construir um relatório prazeroso de se ler. Para tal, a obra apresenta resultados de três pesquisas científicas. Na criativa apresentação chamada Demandas de Relatório de Pesquisa na Formação do Professor, a autora afirma que o objetivo de apresentar os modelos de relatórios de pesquisas é ajudar o leitor a ficar íntimo dos trabalhos específicos desse gênero, suas características, compreensões e limitações. Esses modelos de relatórios podem ser feitos nos mais distintos campos acadêmicos.
Após apresentação, os três capítulos que compõe a obra são, na verdade, três relatórios de pesquisa. Os autores Silva e Tavares apresentam no primeiro relatório intitulado Práticas de Análise Linguística em Abordagens Didáticas Interdisciplinares, abordando em um primeiro momento que a gramática tradicional tem passado por conflitos e tensões, porque há estudiosos nessa área que estão tentando inovar o ensino gramatical nas escolas. Pesquisadores junto à escola tiveram como objetivos claros investigar as dificuldades encontradas no trabalho interdisciplinar pelos estagiários supervisionados em língua portuguesa, examinar as práticas pedagógicas, colaborar para o ensino da gramática e ajudar o professor a organizar suas aulas na perspectiva de projetos didáticos.
Em seguida os autores mostram de forma relevante que a análise linguística tem sido agraciada cientificamente em suas práticas na Educação Básica escolar, ao começar a estudar o letramento e a interdisciplinaridade. Por fim, os professores citam que a abordagem transdisciplinar está correlacionada com a Linguística Aplicada. A discussão teórica dos professores mostra de forma objetiva os conceitos estudados para orientar e refletir as teorias utilizadas no livro.
O segundo relatório de pesquisa, cujo título é Leituras de Textos Pluricódigos Mediadas por Professores em Formação, de autoria de Silva e Lima, de forma bem didática e inteligente, analisa alguns ensaios de práticas pedagógicas dos estagiários de Língua Portuguesa. Tais práticas utilizam diversos gêneros textuais, textos pluricódigos, assim como também o fazem os docentes atuantes, que precisam de subsídios teóricos que os auxiliem na leitura dos mais diversos tipos de gêneros. Os gêneros são organizados por intermédio do movimento das linguagens verbal (textos de jornais, gráficos, entre outros) e não verbal, música (rap, samba, MPB) e visual (quadrinhos, reportagens, charges). As autoras defendem que os docentes necessitam aprender a relacionar as leituras verbais e não verbais entre si.
A preocupação das autoras nesse trabalho foi “apontar possibilidades de tratamento do texto na escola a partir de pressupostos da semiótica discursiva” (p.50). Nesse contexto, os sentidos são produzidos “de uma construção do sujeito em sua relação sensível e inteligível com o objeto” (p.51).
As professoras definiram a seguir os objetivos da pesquisa, os quais foram refletir teoricamente a respeito da leitura semiótica de textos com estruturas de linguagem verbal e não verbal; observar os estagiários e analisar como esses estudantes procedem seu trabalho com a leitura de textos de múltiplos gêneros. Essa pesquisa teve como embasamento teórico os sistemas semióticos do discurso e seus benefícios para a leitura de textos compostos por diferentes linguagens. Como resultado observou-se que os estagiários, seguindo o PCN (BRASIL, 1999) e estando de acordo com as teorias do Estágio Supervisionado, estão procurando usar novas estratégias ao livro didático, para que com isso possam encontrar outras formas mais eficientes para uma aprendizagem significativa do aluno.
No relatório da terceira e última pesquisa, cujo nome é: Práticas de Escrita em Situações Didáticas produzidas por Professores em Formação, Silva e Rego, de forma objetiva, ressaltam que se interessam por investigar como os acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras estão conduzindo seus saberes didáticos sobre a escrita em um contexto interdisciplinar e, finalizando, mostram quais resultados refletem na escrita dos alunos da educação básica.
Os objetivos dessa pesquisa foram, primeiramente, saber como o graduando aprende os diversos saberes da Língua Portuguesa durante suas aulas presenciais em disciplinas de estágio supervisionado; em seguida, identificar e descrever a forma como esses se apropriam de saberes sobre a escrita em cenas de aulas gravadas em vídeos e, por último, fazer uma análise dos dois resultados anteriores, comparando-os. Para tal, foram utilizados os dados obtidos nas observações de aula da Língua Materna: anotações de campo, relatos ponderados dos estagiários da área, atividades didáticas escritas, transcrições das aulas em vídeos e outras atividades propostas pelos professores supervisores. A discussão teórica e análise dos dados pesquisados ficaram em torno dos “Gêneros como elementos mediadores numa didática diferenciada” (p. 86).
Os autores, prudentemente, finalizam o relatório informando que eles não tiveram a pretensão de mostrar conclusões ou soluções fixas para as questões da pesquisa. Porém, desejaram conhecer e entender as inumeráveis dificuldades enfrentadas em sala de aula, para, com isso, colaborar com o professor na superação dos problemas de sua laboriosa tarefa e, ao superá-los, que os docentes possam fortalecer os discentes que, por razões diversas, estão em situações críticas diante da sociedade. Os autores retomam a escrita como eixo da pesquisa e findam com essa paráfrase de Stubs: (2005) “uma competência na língua escrita pode ser claramente uma chave na educação e no sistema social(…) do cidadão que deveria se formar crítico.” (p.2)
Essa obra se destina aos graduandos e pós-graduados, que participam de grupos de pesquisa e necessitam fazer seu relatório no final de cada pesquisa, com o intuito de o publicar em algum periódico científico. Recomendamos a leitura do livro Como Fazer Relatórios de Pesquisa Investigações Sobre Ensino e Formação do Professor de Língua Materna em que os autores trazem, de forma objetiva e didática, modelos práticos e essenciais que auxiliam na construção de relatórios coerentes, coesos, convincentes e agradáveis de se ler.
Nota
1. Esta resenha foi produzida na disciplina Práticas textuais II, do curso de Pedagogia da UFJF, que tem o objetivo de abordar gêneros acadêmicos (2º semestre de 2014).
Referência
SILVA, Wagner Rodrigues e SILVA, L. H. O. Como fazer relatórios de pesquisa: investigações sobre ensino e formação do professor de língua materna. Campinas: Mercado de Letras, 2010.
Resenhista
Helena Martins de Paiva – Graduada em Pedagogia pela Universidade de Juiz de Fora (2016). E-mail: helenamartins3003@yahoo.com.br
Referências desta resenha
SILVA, Wagner Rodrigues; SILVA, Luiza Helena Oliveira da. Como fazer relatórios de pesquisa: investigações sobre ensino e formação do professor de língua materna. Campinas: Mercado de Letras, 2010. Resenha de: PAIVA, Helena Martins de. Revista Práticas de Linguagem. Juiz de Fora, v.6 especial, p.135-137, 2016. Acessar publicação original [DR]
Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação | Brian Street
Tomando como base os conceitos e concepções acerca dos estudos sobre letramento e suas implicações para as práticas sociais dos sujeitos, estudos revelam que esse termo vem sofrendo ressignificações devido às mudanças sociais ocorridas nos últimos tempos, bem como às pesquisas realizadas em diversos campos que se dedicam ao estudo da escrita e seus impactos na sociedade. Tais ressignificações mostram, entre outros, que o papel da escola é ampliar o letramento dos alunos, para que estes possam desenvolver capacidades de leitura e escrita em diversos contextos sociais, com vistas à participação ativa na sociedade.
A produção de estudos e pesquisas no Brasil sobre letramento, desde a década de 90, é bastante vasta. Autoras de referência que pesquisam o tema, como Magda Soares, Roxane Rojo, Ângela Kleiman, têm como referencial também os trabalhos de Brian Street, o que mostra a importância da tradução desta obra para a nossa realidade. O livro Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação vem contribuir com a comunidade acadêmica brasileira, sendo mais um dos trabalhos de Street traduzidos para a língua portuguesa [1]. Escrito originalmente em inglês por Brian Street, e traduzido por Marcos Bagno em 2014, a obra propõe uma reflexão sobre o letramento como prática social e ressalta a natureza social e cultural da leitura e da escrita, considerando o caráter múltiplo das práticas letradas. Para isso, o livro se divide em cinco seções, estas subdividas em capítulos, nas quais o autor discute alguns conceitos e concepções sobre o letramento. Leia Mais
Estado e sociedade no Alto Império Romano: um estudo das obras de Sêneca | Fábio Faversani
Como estudar a Roma Antiga, através de um único modelo teórico, no intuito de compreender o funcionamento desta civilização que, embora tenha experimentado três formas distintas de governo (a saber, a Monarquia, a República e o Império) e de ter englobado em seu interior identidades tão diversas, conseguiu existir como uma unidade política por tanto tempo? Afinal, basta apenas o olhar de um bom curioso atentar para esta cronologia e perceber que do ano 709 a.C. até 476 d.C., datas que reconhecidamente marcam a fundação de Roma e o fim do Império ocidental, compreendem um espaço de treze séculos e este tempo todo não pode ser algo uniforme. Sobre isso, é preciso dizer que todos esses longos anos também podem ser vistos através das mais diversas óticas, porque compreendem acontecimentos dos mais diversos. Ou seja, ao falarmos da história da Roma antiga, podemos fazer isso através do estudo de reis, imperadores, oligarquias, lutas e questões sociais, escravidão, reformas agrárias, literatura, religião, rumores, eleições, casamento, família e etc. Sendo assim, o que fica desta reflexão inicial é que os modelos de análise empregados – embora necessários ao historiador – todos são arbitrários e não conseguem dar cabo aos mais diversos aspectos desta grande civilização. Leia Mais
El capital en el siglo XXI – PIKETTY (CSS)
PIKETTY, Thomas. El capital en el siglo XXI. Madrid: FCE, 2014, 663p. Resenha de: CUESTA, Raimundo. “El capital en el siglo XXI”. Pasado y presente de la desigualdad en la era del capitalismo. Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, Salamanca, n.20, p.121-126, 2016.
“El capital no es una cosa, sino determinada relación de producción social, correspondiente a determinada formación social histórica”. (Karl Marx, 1973, p. 10)
“Capitalismo”: un concepto recurrente
El “capitalismo” es, y ha sido, un concepto estratégico de primer orden en las guerras semánticas por el dominio del mundo simbólico.
En efecto, desde sus orígenes esta noción ha demostrado una entidad fluida y recurrente, y ha experimentado múltiples representaciones (a menudo peyorativas) en la conciencia colectiva de los grupos humanos, conforme la cambiante temperatura de los movimientos sociales marca el auge o declive de las expectativas de emancipación en las sociedades industriales de la modernidad.
Empero, en sus orígenes, “capital” y “capitalista” traslucían una concepción espontánea y simplista equivalente a dinero o a riqueza genérica y a sus poseedores.
Como señala F. Braudel (1984), la mutación semántica de estas dos palabras se opera en el tramo temporal que lleva de Turgot a Marx, que abarca desde la Ilustración hasta la crítica del nuevo sistema económico forjado en la modernidad, época paroxística que presencia la gestación y aceleración del cambio conceptual, ocurrido entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX.
En ese lapso se erige el edificio de categorías del que todavía nos valemos. Entonces “capital” empieza a absorber una función más amplia que la de la mera acumulación de bienes pecuniarios y así pasa a entenderse como aquella parte de la riqueza que se pone a disposición de producir más riqueza.
El capital, de este modo, deviene en un medio de producción y, más tarde, el vocablo “capitalismo” acabaría aludiendo al régimen económico general que se basa en el movimiento del capital para la ampliación sin límites de sí mismo.
Thomas Piketty, el autor del libro que comentamos (El capital en el siglo XXI), opta por llevar a la cabecera de su texto el vocablo “capital”, quizás en un inconsciente y vano intento de emular la obra magna de Marx (que solo ocasional y tardíamente empleó el término “capitalismo”). A pesar de que la problemática de la desigualdad social ha sido y es el núcleo común de las tradiciones ideológicas izquierdistas, los supuestos teóricos y las categorías económicas empleadas por Piketty poseen una cercanía muy notoria a la norma categorial de la ciencia económica estándar.
Con todo, es muy poco frecuente que un libro de economía de 663 páginas, publicado originariamente por la editorial Seuil en francés en 2013, se convierta en un rotundo y clamoroso éxito transnacional. El texto de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, ha aparecido en plena vorágine de las consecuencias de la crisis de 2008. Todo un síntoma del renacido interés actual por el capitalismo como sistema y por algunas de sus secuelas más dañinas. Que alguien trate de desentrañar los mecanismos ocultos que generan desigualdades de ingresos y patrimonios, y que su argumentación (muy consistente) sea recibida con avidez, no exenta de polémica, es un hecho expresivo del descontento reinante en nuestros días, desazón que afortunadamente ha ido erosionando el legado mental de la “revolución conservadora y neoliberal en ascenso desde los años ochenta del siglo pasado. Por ejemplo, sintagmas como “gran divergencia” de Paul Krugman o “gran brecha” de Joseph E. Stiglitz, ofrecen pistas del nuevo interés por las desigualdades socioeconómicas, que para estos autores, como para el propio Piketty, ponen en peligro la supervivencia del propio capitalismo.1 Así pues, la obra del joven, brillante y afamado economista francés se inscribe en un cierto giro, dentro de un sector del campo académico de los economistas, hacia posiciones críticas respecto a las consecuencias más negativas del capitalismo, aunque sin ánimo de enmendar la totalidad el modelo económico vigente. Más bien su libro se une a la opinión de aquellos que piensan que “el capitalismo es tal vez el mejor sistema económico que ha inventado el ser humano, pero nadie ha dicho nunca que vaya a crear estabilidad” (Stiglitz, 2015, p. 83). Este tipo de opiniones “progresistas” distinguen un buen capitalismo de otro malo e incluso a veces, Stiglitz dixit, se alude a “capitalismo de pacotilla”, expresión engañosa semejante al “capitalismo de amiguetes” con la que en España se llenan la boca los regeneracionistas de derechas. Sea como fuere, la implacable hegemonía conservadora ha sufrido en los últimos años un cierto retroceso en el campo de la economía profesional, merced al surgimiento de una porción de economistas renuentes a la ortodoxia neoliberal.
Desde luego, Piketty se aleja muchas millas del significado que otorgara Marx (1973, p. 11) al término en El capital (“El capital no es una cosa, sino una relación social mediada por cosas”). En su caso, empequeñece su alcance: “El capital no humano, al que llamaremos simplemente ‘capital’ en el marco de este libro, reúne pues todas las formas de riqueza que, a priori, pueden ser poseídas por individuos (o grupos de individuos) y transmitidas o intercambiadas en un mercado de modo permanente” (Piketty, 2014, p.
61). Esta simplista equivalencia entre capital y riqueza preside, sin embargo, una muy sugerente obra que no pretende problematizar las categorías analítico-conceptuales de la ciencia económica estándar (la norma conceptual imperante). No busque, pues, el lector o lectora una enmienda a la totalidad del sistema económico. Eso no lo encontrará pero sí hallará un magnífico arsenal de ideas, datos, información histórica, comparaciones espaciales, etc., que facilitan extremadamente la labor de quienes, más proclives a la radicalidad del pensamiento crítico, pueden nutrirse del material empírico que se exhibe a lo largo del texto.
Anatomía panorámica de la desigualdad en la era del capitalismo
Thomas Piketty publica su obra cumbre en 2013, cuando apenas superaba los cuarenta años de edad. Habían transcurrido por entonces dos décadas desde que diera a la luz su tesis académica sobre la distribución de la riqueza. Aquel joven y brillante investigador llegaría a rector de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales y a ejercer la docencia en la École de Économie de Paris. Hijo de sesentayochistas, su sólida formación es la quintaesencia de la elite francesa, la que su compatriota Pierre Bourdieu diseccionó y calificó como “nobleza de Estado”.
Tras cursar el bachillerato, fue normalien (ENS, de calle Ulm) de sólida formación matemática y económica y, con experiencia como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, renunció a hacer carrera en Estados Unidos. Admirador del pensamiento social francés, apostó por la solvente tradición de historia económica serial (al estilo de F. Simiand o E. Labrousse). Su celebridad pública ha alcanzado cotas muy altas y también ha sido evidente su proximidad a la izquierda, aunque el joven viera caer el Muro de Berlín sin añoranza alguna. Su objeto se circunscribe a los aspectos socialmente más repudiables del capitalismo. Pero su tesis subyacente, al fin y a la postre, postula que dentro de ese sistema hay salvación siempre y cuando se garantice más democracia y más control del mercado. Siguiendo los ecos de la excelente y ya clásica obra de Polanyi (La gran transformación), argumenta que si el sistema económico se deja al albur del libre mercado, camina hacia una situación caótica de desigualdades inasimilables y quizás hacia su propia destrucción. En consecuencia, este razonamiento genérico no se aparta demasiado de la tradición socialdemócrata, no en vano él mismo ha asesorado experiencias gubernamentales de signo socialista en Francia. Claro que el mérito de El capital en el siglo XXI va mucho más allá de las inclinaciones políticas de su autor.
En efecto, el libro ofrece una gama diversificada y muy rica de herramientas analíticas para el estudio actual del capitalismo y su historia, en la perspectiva de la larga duración (desde el primer capitalismo industrial hasta el actual). Trata de cómo el sistema económico vigente hoy ha generado en el curso de su historia (no siempre en el mismo grado y con semejante intensidad), y sigue ocasionando, desigualdad entre los poseedores de capital y el resto, entre el ingreso total de la sociedad y las rentas y patrimonios provenientes del capital. Su tesis central se formula como una contradicción persistente entre el rendimiento del capital y el crecimiento total de la economía. Cuando la tasa de aumento del rendimiento del capital es superior a la tasa de crecimiento del conjunto de la economía (r > g), nos encontramos ante la primera y principal ley del capitalismo. Frente a la visión pesimista de los economistas clásicos, o de Marx, contrapone las posibilidades de mejora real y colectiva dentro del actual modo de producción, porque históricamente ha proporcionado los cambios tecnológicos y educativos que han asegurado un crecimiento de la productividad y una progresiva movilidad social. Pero tal posición dista de comulgar con las tesis de optimistas recalcitrantes como las de Simon Kuznets, premio Nobel de Economía en 1971. Este economista fue pionero de los análisis de la riqueza a largo plazo en Estados Unidos, senda que, a otra escala espacial más ambiciosa y con pretensiones ideológicas diferentes, prosigue Piketty. En plena Guerra Fría y en mitad de la espectacular expansión capitalista de posguerra (Los “Treinta gloriosos” años de crecimiento), se pasaría de los apologistas de la catástrofe (Malthus, Ricardo, Marx) al “cuento de hadas” que anunciaba la “curva de Kuznets”, según la cual la desigualdad describiría una forma de campana (empezaría creciendo con la revolución industrial pero acabaría descendiendo). En cambio, el economista francés señala cómo la desigualdad no es un fenómeno natural ni está sometida a ninguna ley del progreso (como parece sugerir la célebre curva), sino que son las condiciones sociales y políticas las que la frenan o la aceleran: “La dinámica de la distribución de la riqueza pone en juego poderosos mecanismos que empujan alternativamente en sentido de la convergencia y de la divergencia” (Piketty, 2104, p. 36).
Según sus estimaciones, hoy estaríamos experimentando el regreso a unas cotas de desigualdad anteriores a la Primera Guerra Mundial cuando el mundo capitalista estaba dominado, como refleja la novelística del XIX (a la que acude nuestro autor como fuente literaria para dibujar la cara del capitalismo entonces existente), por una burguesía patrimonialista profundamente rentista y escindida por un abismo de desigualdad del resto de la sociedad. Las guerras mundiales y la Gran Depresión rompieron esta situación de forma que, después de 1945, se consolida una era de convergencia de ingresos solo rota en el último tercio del siglo XX merced al triunfo del capitalismo global y a la voluntad de destrucción del Estado social, lo que no ha hecho más que agravarse con la crisis de 2008.
Son, pues, prácticas humanas las que actúan imprimiendo una dirección convergente o divergente. De ello se infiere que para nuestro autor la desigualdad no es una maldición divina ni un destino ciego, es, en cambio, efecto de circunstancias históricas susceptibles de ser cambiadas (aunque no de cualquier manera). Para él, la equidad es factible dentro de las reglas de una sociedad democrática avanzada y en el marco del llamado Estado de derecho. Como ya podrá suponer el lector o lectora, si el capitalismo, como demuestra el economista francés, ha sido y es fuente insaciable de desequilibrios entre el capital y el trabajo, solo queda recurrir al sistema fiscal y a la educación para enderezar lo que el propio sistema tiende a torcer. El remedio, nada original, residiría en diseñar un esquema fiscal pronunciadamente progresivo sobre ingresos y patrimonios, bajo el control democrático del Estado nacional, pero también amparado por una disciplina internacional que evitara el riesgo de opacidades y fugas de capitales a paraísos fiscales.
Precisamente sería misión de la economía como ciencia social, siempre atenta a la historicidad de los fenómenos económicos, dar a conocer los mecanismos que hacen más menos desiguales a las sociedades de ayer o de hoy. La dimensión histórica aparece, pues, como inseparable del análisis propiamente económico, no en vano el autor se muestra heredero agradecido de la historiografía económica francesa. Y así es como Piketty, a pesar de la complejidad de algunas partes de su libro, de lectura difícil para no iniciados, y de la extraordinaria aportación de datos y cálculos económicos, no cae nunca en el formalismo retórico habitual dentro del campo académico de referencia.
Por el contrario, a partir de una multitud de fuentes estadísticas (principalmente fiscales) realiza una reconstrucción histórica de los ritmos de crecimiento y de desigualdad desde el siglo XVIII hasta hoy, aportando una serie de información relevante en el tiempo largo de la historia del capitalismo.
De ahí que el mérito de su libro resida en el impresionante esfuerzo de elaboración y tratamiento de fuentes, y, como él mismo afirma, “la novedad del trabajo propuesto aquí es que se trata, a nuestro entender, de la primera tentativa de volver a situar en un contexto histórico más amplio la cuestión del reparto capital-trabajo y la reciente alza de la participación del capital, subrayando la evolución de la relación capital/ingreso desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XXI” (Piketty, 2014, p. 243). Con todas las reservas que puedan hacerse a una reconstrucción tan larga y a veces referidas a periodos pre-estadísticos muy poco fiables, el resultado es muy valioso y digno de encomio.
Otra cosa es que, desde una perspectiva crítica, se puedan compartir (o no) sus supuestos analíticos y conceptuales. Como ya se dijo, y como el libro exhibe desde de la primera parte, los conceptos de “capital”, “ingreso nacional”, “riqueza”, “ahorro”, “trabajo”, etc. quedan presos dentro de la malla discursiva heredera de los economistas clásicos y neoclásicos. En efecto, el autor da por naturales y ahistóricas esas nociones convencionales hoy hegemónicas dentro de la ciencia económica estándar. Pero un afán crítico más profundo demandaría evitar esta clase de método conceptual, en virtud del cual para analizar la variable desigualdad se mantienen como constantes válidas las categorías clásicas y neoclásicas, convirtiéndolas en una especie de a priori irrefutable. De esta forma el brillante quehacer de Piketty se encierra voluntariamente en una cárcel categorial impermeable a la impugnación profunda de su utillaje terminológico. Encierro que resulta asaz llamativo cuando observamos que pasa de puntillas sobre temas tan relevantes como la dimensión ecológica de la economía o sobre el legado de K. Marx.
Por eso mismo no cabe mostrar asombro de que, desde la tradición marxista y la nueva economía ecológica, el libro haya recibido más de un dardo envenenado. Por ejemplo, las reacciones del geógrafo marxista David Harvey (2014) son muy significativas. Este considera poco presentable la parca o nula atención que el economista francés presta a la lucha de clases o a las teorías del valortrabajo.
A pesar de reconocerle sus muchos méritos, sostiene que Piketty no ha ideado un modelo alternativo de explicación del capitalismo al que pergeñara Marx en el siglo XIX, por lo que para este todavía es necesario recurrir a la obra marxiana.2 Ciertamente, el economista francés elude las causas sociopolíticas y las luchas de poder que podrían dar mayor sentido a las series económicas que tan brillante y trabajosamente ha construido. Sin embargo, la vuelta a Marx en el siglo XXI, es un viaje problemático, multifacético y con riesgos, que dista de ser tarea fácil.3 Sin duda, la lucha de clases o la teoría del valor-trabajo poseen una morfología muy distinta hoy a la que tenían en el siglo XIX. La reactualización de Marx en los últimos tiempos coincide con la enésima crisis del capitalismo, pero su obra no ha de enarbolarse como un monumento arqueológico ni como un texto sagrado del pensamiento económico, porque “el Marx del siglo XXI sin lugar a dudas será muy distinto del Marx del siglo XX” (Hobsbawm, 2011, p. 404).4 En realidad, si reparamos en la hondura del asunto, un enfoque crítico del capitalismo de nuestro tiempo desde posiciones de izquierda conllevaría al menos tres opciones:
aceptar como casi inmutables las categorías económicas de Marx (algo parecido a lo que propone Harvey); reinterpretarlas haciéndolas solo válidas para el análisis del capitalismo (incluido el capitalismo de Estado a la soviética), tal como sugiere Moishe Postone (2006); o, finalmente, negarlas radicalmente como un subproducto de la economía política burguesa, tal como mantiene José Manuel Naredo (2015), quien propone una alternativa ecointegradora (una suerte de ciencia de ciencias), una “economía ecológica”.
También cabe, desde luego, adelgazar la crítica e ignorar estas disquisiciones radicales y tirar por la vía del socialismo reformista. Esta última elección es la que practica Piketty.5
Recapitulando: el capitalismo en el laberinto
En ocasiones, una buena imagen alumbra y suscita un camino reflexivo fructífero.
Yanis Varoufakis, que fuera ministro de asuntos económicos en la Grecia del primer Gobierno de Tsipras y, todavía hoy, figura como cabeza visible de la pugna contra la política de austeridad extrema de la troika, acuñó el término Minotauro global (Varoukakis, 2013) para referirse al modelo de dominio americano hasta la crisis actual. En realidad, la imagen del laberinto global (donde el Minotauro capitalista reside y domina) es la que conviene todavía al mundo económico vigente. Hasta cierto punto, persiste el laberinto intelectual, político y social acerca del presente y del futuro del capitalismo.
Piketty nos ofrece datos enormemente útiles sobre el capitalismo como sistema necesariamente generador de desigualdad, aunque la principal debilidad de su aportación reside en dar por sentada, como si fuera una verdad revelada, natural e inmutable, la trama conceptual hegemónica en el campo de los economistas. Por añadidura, el horizonte práctico-político que se desprende de su libro aboga por una simple remodelación cosmética del actual modo de producción mediante la política fiscal progresiva y redistributiva.
Lo cierto es que el pensamiento de izquierdas sigue debatiéndose en una encrucijada de ideas que oscila entre el pragmatismo de corte socialdemócrata y la relectura de la realidad desde posiciones radicales.
Estas no son “la alternativa”, sino una vía creativa y sustantiva, no incompatible con reformas sociales de carácter parcial, para pensar de otra manera y alumbrar futuros movimientos emancipadores. En la tomentosa y paradójica dialéctica de ambos polos nos seguimos encontrando.
[Referências]
PIKETTY, Thomas (2014). El capital en el siglo XXI. Madrid: FCE, 663 págs.
BRAUDEL, F. (1984). Civilización material, economía y capitalismo. Los juegos del intercambio. Tomo II. Madrid: Alianza Editorial.
CUESTA, R. (2015). El capitalismo, una vez más: el retorno cíclico de una cuestión controvertida y molesta. Rebelion. <http://www.rebelion. org/noticia.php?id=206676>. (Consultado el 20 de enero de 2016).
HARVEY, D. (2014). Afterthoughts on Piketty´s Capital in the Twenty-First Century. Challenge, 57 (5), 81-86.
HOBSBAWM, E. (2011). Cómo cambiar el mundo. Barcelona: Crítica.
MARX, K. (1973). El capital. Libro primero, capítulo VI (inédito). Madrid: Siglo XXI.
MILANOVIC, B. (2012). Los que tienen o no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad mundial. Madrid: Alianza.
NAREDO, J.M. (2015). La economía en evolución. Historia y perspectivas básicas del pensamiento económico. Madrid: Siglo XXI.
NAVARRO, V. (2015). Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Barcelona: Anagrama.
POSTONE, M. (2006). Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx. Madrid: Marcial Pons.
STIGLITZ, J.E. (2015). La gran brecha. Qué hacer con las desigualdades. Madrid: Taurus.
VAROUFAKIS, Y. (2013). El Minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial. Madrid: Capitán Swing.
[Notas]1. Por su parte, B. Milanovic (2012), ex presidente del departamento de estudios del Banco Mundial, opina que hoy la desigualdad es un peligro para todos, una verdadera plaga sin parangón en la historia.
2. En la misma línea “ortodoxa”, Vicenç Navarro (2015, pp. 183-193) dedica todo el capítulo V a enmendar la plana a Piketty por ignorar en su análisis la lucha de clases.
3. Como demuestra la compleja y muy recomendable obra de Moishe Postone (2006), hay muchas maneras de comprender las categorías básicas de la economía política de Marx. Una es la del marxismo tradicional dentro del que se encuadra la interpretación de Harvey y otra muy distinta es la de Postone. Este último niega la cualidad transhistórica (más allá del capitalismo) de las nociones económicas de Marx.
4. Valga como ejemplo de este retorno, el interesante monográfico de la revista Isegoría, 50 (2014) dedicado a La vuelta de Marx.
5. Para una lectura triangular y comparativa de Piketty (2014), Postone (2006) y Naredo (2015), véase mi trabajo (Cuesta, 2015).
Raimundo Cuesta – Fedicaria-Salamanca.
[IF]¿Dónde estás amarilla?: un recorrido por la historia del arte en la región de Valparaíso | Macarena Ruíz Balart
Este libro escrito por Macarena Ruíz Balart constituye una novedad en este tipo de publicaciones, dado que aborda un aspecto siempre difícil de referir de una manera didáctica y amena: la enseñanza de la Historia del Arte.
El texto se articula en torno a los siguientes ejes:
- El viaje.
- Parte del patrimonio artístico de la Quinta Región.
- La contextualización histórico cultural, que enmarca las obras de arte presentes en el texto a través de una línea de tiempo.
A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII | Guilherme Galhegos Felippe
O trabalho ora resenhado, de autoria de Guilherme Galhegos Felippe, é fruto de uma pesquisa de doutorado defendida em 2014 no Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). A pesquisa ganhou o Prêmio Capes de Tese em 2014 na área de História e foi publicada pela editora Paco Editorial, de Jundiaí, em São Paulo.
A pesquisa insere-se no campo da História Indígena e promove um profícuo diálogo entre as disciplinas de Antropologia e História para compreender o processo de colonização da região do Chaco2 na perspectiva dos nativos que habitavam esta região. Assim, o trabalho desafia-se a analisar um conjunto de fontes sobre os nativos do Chaco escritas, em sua maioria, pelos colonizadores e, por isso, sobrecarregadas de preconceitos em relação às culturas que descreviam. Leia Mais
Santos imaginários, santos reais: a literatura hagiográfica como fonte histórica | Ronaldo Amaral
O livro Santos imaginários, santos reais. A literatura hagiográfica como fonte histórica que aqui nos propomos a resenhar levanta problemáticas que concernem a relação entre hagiografia como fonte histórica e o Imaginário. O autor almeja no âmbito das manifestações maravilhosas do imaginário a mesma relevância histórica nas esferas referentes às expressões sociais, econômicas e políticas. À vista disso, Ronaldo Amaral nos propõe reflexões acerca das relações entre a História, a Literatura e o Imaginário, cuidando em seu livro de reafirmar a importância das hagiografias para que possamos vislumbra-las à luz do passado tardo-antigo e medieval, bem como mostrar alguns caminhos para que os historiadores possam recair sobre elas seus olhares e se atentar às riquezas socioculturais que esses escritos compartilham acerca de um imaginário, que bem nos conta o autor, é sempre coletivo.
Portanto, na introdução e no capítulo um intitulado A hagiografia como fonte histórica. O imaginário relegado nos é apresentada, e somos levados a entender, as discussões teóricas no campo da história e do imaginário onde ele se torna, por excelência, em ferramenta teórico-metodológico para análise da História. Os embates que concernem ao uso da literatura, em especifico a literatura sagrada, como fonte histórica foram propiciados pela descoberta de novos métodos e teorias, nesse sentido seria uma heresia não mencionarmos a importância dos bolandistas, que por sua vez, compilavam erudições críticas de textos dedicados a santos, mesmo que naquela instância almejavam dados concretos que afirmassem uma existência real. Amaral também trata neste capítulo a importância de Hippolyte Delehaye ao ampliar os métodos bolandistas em que impunham problemas ao histórico da vida dos santos e buscava fatos verdadeiramente históricos, ou seja, para além do “fictício”. Todavia, já teria esse autor chamado a atenção para a hagiografia como fonte histórica, mesmo que seus métodos o levassem para um viés positivista em almejar a verdade objetiva, por consequência, separando o histórico do imaginário, o que Amaral em seu livro não propõe a separação da vida sociomaterial do imaginário. No entanto, é impreterível analisarmos as inovações de Delehaye a sua época, possibilitando assim entender à hagiografia como fonte histórica.
Ainda neste capítulo o autor trata que a partir do imaginário surgem hábitos, costumes e comportamentos capazes de apresentar a razão humana para o homem medieval onde suas bases fundantes estão arraigadas nas sensibilidades, nas estruturas do pensamento simbólico e analógico ao invés de pensamentos idiossincráticos forjados. Nesse sentido, nos é apresentado críticas por parte do autor aos métodos de tratamento dos santos de existência literária como não históricos. No que tange ao refutamento dos santos criados pelo imaginário dos hagiográficos o autor rebate isso afirmando que todo santo fictício é um santo por excelência, pois cumpre sua razão a ausência que viria a responder, assim sendo, muitas vezes os santos são personagens ideais no caráter personificado da santidade e que os hagiógrafos não puderam lhe escolher, foram assim, impostos por suas circunstâncias espaço-temporais próprias buscando atender as necessidades materiais e mentais de seu período histórico. Desta forma, fica evidente para o autor que sua historicidade concreta pouco importa, mas sim os atributos supra-humanos do santo.
No capítulo dois A emergência do imaginário nas fontes hagiográficas o autor menciona a hagiografia como texto literário capaz de interessar ao historiador por lhe oferecer uma fonte ordenada, cujo estudo linguístico facilita o trabalho que contempla seu contexto dentro do fenômeno histórico. Amaral, tanto neste capítulo como em outros, irá inaugurar um debate historiográfico onde contrapõe historiadores que afirmam o sincero não ser histórico, mas sim o verdadeiro ser histórico. Nessa acepção o autor levará algumas páginas discutindo o que seria a verdade, sobretudo a verdade histórica, e defende que a “realidade” apresentada pelas hagiografias não devem ser julgadas por métodos, mas sim serem entendidas na categoria do verossímil ao invés do sincero e verdadeiro. Assim sendo, por tratar a hagiografia de uma história sagrada seu teor de verdade também não deve ser buscado nas circunstancias e ideários no lugar daquele que fala, senão no lugar do qual se fala. Como afirmação de seus entendimentos o autor nos diz que as realidades fundadas em imagens e situações maravilhosas concebidas pelo imaginário são uma realidade tão verdadeira como a histórica.
Amaral continua por acentuar que à hagiografia interessa ao historiador enquanto o ajude na compreensão da vida social de sua época, embora sempre esteja atrelada a um processo histórico mais amplo, visto que a hagiografia é sempre um “recriar”, no entanto, devem ser vistas para além das estruturas econômicas e políticas, ou seja, deve ser concebida pelo imaginário. No discorrer do capítulo encontramos novas críticas, tanto benévolas como nefastas, a renomados historiadores, como Peter Brown e Santiago Castellanos a exemplo, sendo este último mais questionado, pois é partidário que a hagiografia não atende ao caráter de documento histórico, mas, apenas, pode ser tratada como fonte marginal e ser “desmentida” a partir de documentos ditos “oficiais”. Para isso, o autor nos ensinou que o que se almeja nas hagiografias é uma realidade menos precisa do que a dos documentos oficiais, visto que é menos carregada de ideologias do que tais documentos. Por meio dessas considerações o autor entende que a hagiografia é uma realidade construída e constitutiva por seus autores, uma vez que o autor é sempre o porta-voz de seu meio, concretizando assim a função do imaginário coletivo e dos ideais da comunidade. Após direcionar seus entendimentos, Amaral defende que o imaginário é um modo de apresentar a História.
No capítulo Hagiografia, biografia e história o autor irá questionar em conjunto com Jacques Le Goff, Loriga, Schwob, Pierre Bourdieu e outros autores a realização das biografias antes da modernidade, pois essas não são capazes de apresentar significações históricas gerais no que concerne uma vida individual, nesse viés, o autor nos propõe utilizarmos para investigar o período medieval não a biografia, mas sim intentos biográficos. Assim, no que diz respeito ao “processo biográfico” da vitae dos santos, esse se ocupa mais com as pródigas realizações sagradas do que com o teor laico e a exatidão espaço-temporal, no entanto, Amaral não despreza que as vitae tragam informações de uma existência mais factível dos santos, porém toda informação “factível” nas hagiografias está mergulhada no imaginário, em circunstâncias fundamentadas e objetivadas no fabuloso, milagres, aparições demoníacas, curas e lugares estão ligadas por uma função simbólica que se remete mais a uma realidade transcendente do que factível. É ressaltado por Amaral que a inconsistência histórica acerca do personagem hagiográfico, quando se deseja a biografia, não está na fonte mesma, mas sim na abordagem do historiador, desta forma, a hagiografia trata de homens que deixam de sê-lo ao se tornarem, por sua escrita, santos, ou nas palavras do autor:
“O hagiógrafo cria o santo e para tanto recria sua personalidade histórica, ou seja, aquela, talvez a única, dada a conhecer pela história; assim, haverá na hagiografia sobretudo um santo e, portanto, um homem cuja história ficará, em grande medida, identificada mais com uma existência fabulosa que eminentemente profana” (p.75).
Seguindo esse pensamento, nos é apresentado uma crítica do autor acerca da pretensão da hagiografia como biografia, pois entende que seria algo faltoso, visto que é inviável “resgatar” uma personalidade histórica factível e dá-la a conhecer posteriormente, mesmo munido de fontes. É muito latente no livro a questão de quando nos referimos a vida dos santos devemos nos ater mais ao espírito do discurso do que em sua letra, pois é neste que se emerge significados mais precisos da escrita e é ainda mais arraigado quando investigado pela ótica do imaginário.
O autor utiliza esse capítulo terceiro para assentar seu modus cogitare em que à hagiografia é constituída por verdade, sinceridade e realidade, isso porque, suas narrações se assentam em tempos, lugares e acontecimentos que antes de tudo são representações, portanto, as hagiografias são constituídas de lugares e situações ideais apresentadas por signos de transcendência, estruturas simbólicas e espaços do mítico e não por meros dados factíveis e positivos. Outro ponto fulcral tratado neste livro é quando o hagiógrafo é hagiografado, ou seja, quando descreve a si mesmo, para isso o autor traz exemplos de Valério do Bierzo, monge eremita que atribuía a si virtudes das vidas de outros padres do deserto. Para Amaral, esses eremitas mostravam tanta admiração por aqueles santos de sua mesma profissão monástica que imitá-los seria algo grandioso. Há também que se considerar a apropriação literária no âmbito hagiográfico na Idade Média, que seria mais do que uma subtração de textos e palavras das fontes, seria o que o autor chama de “aggiornamento” com adequações do lido e apropriado pelo autor vivido.
Referente ao capítulo quatro A natureza do tempo e do espaço na hagiografia, é explicitado a percepção do tempo e espaço profano/sagrado no imaginário de monges primitivos onde as noções de espaço geográfico – deserto, árido ou floresta – é mais do que um lugar, é um não lugar, isto é, um lugar que rompe com lugares humanos e seu próprio mundo temporal. Desta forma, os lugares assentados nas hagiografias sempre se remetem a imagens de caráter divino transcendental do que propriamente em espaços geográficos materiais. Portanto, o autor vislumbra que os lugares mais importantes nas hagiografias são os lugares da santidade, os lugares se tornavam santos pela presença do santo propriamente dito que não carregava consigo pecados e por essa sua santidade tornava os lugares sagrados. Nesse intento, somos levados a entender que os lugares apresentados pelas hagiografias são mais do que descrições de lugares concretos passam a ser símbolos que revertem significantes profanos os tornando sagrados com efetiva participação dos santos, como os desertos.
Nos é apresentado ainda neste capítulo o quão os espaços geográficos de desconhecimento dos homens medievais eram concebidos por uma dimensão mítica e fabulosa, com isso, o autor quer ressaltar em sua obra que o espaço era pensado mais em totalidade do que parcialidade. Amaral diz ser “auspicioso” buscar nas hagiografias um estrito espaço geográfico exato, visto que na Antiguidade Cristã os espaços serviam para separar o eremita da sociedade, portanto essa cisão de espaços dentro das hagiografias é interpretada como uma cisão para com a realidade cósmica. Nesse sentido, Amaral defende neste capítulo que os santos conseguem romper com o tempo ordinário ao se transportar miraculosamente no tempo e no espaço presenciando assim lugares distintos e longínquos em tempo curto. Desta forma, cabe ao escritor da vida do santo solitário demonstrar o lugar que ele não está, ou seja, extramundano, longe da sociedade e do pecado. O autor encerra este capítulo com a reflexão em que a vida e feitos de santos se desenvolvem em uma temporalidade da santidade, e não obedecem uma dinâmica aberta, portanto, os santos estão acima e além do espaço mundano.
No que concerne ao quinto e último capítulo Hagiografia: a tradição da escrita, a escrita da tradição, o autor nos coloca como latente a perícia que historiador tem para fazer emergir de um texto uma realidade, todavia, isso é possibilitado, e Amaral defende essa possibilidade, por meio de uma interpretação hermenêutica dos textos onde se objetiva atingir e extrair o espírito do texto, ou seja, a “vivência subjetiva do autor” que corresponderia ao seu meio sociocultural e mental. Nesse sentido, entendemos que para compreensão de um texto ou uma fonte deve-se levar em consideração todas as suas possibilidades de interpretação, ou seja, a intenção do leitor, a do próprio texto e a do autor. Outro pródigo ponto do capítulo são os apontamentos acerca da dificuldade de apreender o fato histórico em si, ou seja, compreende-lo em sua essência, pois cada apreensão, seja do leitor ou do autor, deforma-o, modela-o. Em consonância a isso é discorrido pelo autor que a realidade hagiográfica tem menos uma visão positiva e materialista da história, pois não almeja suas análises dos fenômenos religiosos por meio historicista, mas sim por meio de seus símbolos, metáforas, alegorias e outros meios que constituem a linguagem religiosa.
Ainda no que diz respeito a este capítulo quinto nos é explicitado que todo santo recriado por uma nova hagiografia, antes mesmo disso, já era um santo consagrado pela tradição, todavia ao ser recriado ganha um novo corpo individual e social ao se inserir em um outro homem histórico e o hagiógrafo fica responsável por inseri-lo em um novo espaço-temporal. Esse processo, segundo o autor, se desemboca por um produto da imaginação que busca alicerçar insuficiências mundanas do presente. Esse modelo de santidade que se almeja é sempre uma construção baseada no coletivo, pois a imaginação é o ato de um ser social e obedece a esquemas de reorganização que são comuns a um grupo. O autor enfatiza que o imaginário gesta as hagiografias e exerce sobre elas um poder de realização, o poder da retomada. Amaral nos conta que todo modelo de santidade, seja qual for, partirá de Cristo, dessa forma a fonte de seu trabalho será as Sagradas Escrituras, portanto, ressalta que na Antiguidade Cristã havia interesses ideológicos, e que os seus contemporâneos leram as Sagradas Escrituras impelidos pelos acontecimentos da época, sobretudo em visões de mundo que estavam permeadas pelo maligno e influídas pela filosofia antiga – neoplatônica e escatológica.
Levando-se em conta o que foi observado, podemos entender o quão profícuo é considerar o imaginário como pedra angular de um entendimento mais pleno acerca da Antiguidade Cristã, visto que o imaginário é interdisciplinar e compreende a vida humana em seu sentido mais amplo e profundo, pois tece seu entendimento no simbólico. Portanto, essa obra de Ronaldo Amaral enalteceu as considerações, maneiras de pensar, críticas e novas caminhos para pesquisas no campo da História. Nesse sentido, sua obra torna-se por si só uma ferramenta teórica aos interessados em vislumbrar as razões sensíveis dos homens nas hagiografias, sobretudo vistas à luz do imaginário.
José Walter Cracco Junior – Graduando do curso de História da UFMS-CPTL, bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID).
AMARAL, Ronaldo. Santos imaginários, santos reais: a literatura hagiográfica como fonte histórica. São Paulo: Intermeios, 2013. Resenha de: CRACCO JUNIOR, José Walter. Cadernos de Clio. Curitiba, v.7, n.1, p.129-138, 2016. Acessar publicação original [DR]
Plutarco e Roma: O mundo Grego no Império | Maria Aparecida de Oliveira Silva
Maria Aparecida de Oliveira Silva – historiadora ligada à Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora no campo da História Clássica, língua e literatura da Grécia antiga, autora de outra obra sobre o autor em questão denominada Plutarco Historiador: Análise das Biografias Espartanas, de 2006, pela Edusp – expõe o papel de ligação e distanciamento entre as culturas grega e romana, desempenhado por Plutarco e sua obra, isto a partir de um extenso trabalho de doutoramento em História Social, desenvolvido entre 2003 e 2007, na Universidade de São Paulo. Trabalho este, amparado por amplas pesquisas em fontes primárias e correntes historiográficas. Assim, o livro Plutarco e Roma: o Mundo Grego no Império, de 2014, publicado pela Edusp, nasce como resultado da já citada pesquisa, abordando a forma como Plutarco (45 d.C. – 120 d.C.), um grego de Queronéia, trata a função da cultura grega e seus desdobramentos, durante o Principado, no Império Romano.
Entre os eixos em pauta, divididos em três partes, inicia-se, no capítulo I, a tratativa da relação entre Plutarco, Roma e os romanos; a partir da historiografia moderna, ressalta-se a conjuntura do período, a qual os gregos tinham um status positivamente diferenciado em relação a outros povos sob domínio romano. Desse modo, Plutarco surge com um discurso integrador entre ambos os povos, criando, principalmente em territórios helenizados, ou seja, em regiões a oriente do império, uma visão estabilizadora que converge para uma sociedade greco-romana. A autora, entretanto, observa o caráter de superiorização do pensamento e conceito de civilização grego em relação a Roma, perceptível na obra plutarquiana, como, também, a influência grega nas políticas imperiais e na questão identitária do império eram fundamentais . Por outro lado, a afirmação pode ser exagerada, pois a Prof.ª Maria Aparecida enfatiza, de modo perspicaz que “[…] outros povos também exerceram influência nas decisões tomadas pelo imperador” (p.41).
Ainda assim, a relação entre Grécia e Roma é tema de diversos estudos por parte de especialistas que pesquisam Plutarco. Não obstante, é comum a tais estudos acabarem por reforçar uma ideia de cooptação da elite grega, por parte do império, com o intuito de sustentar o poder romano por meio da intelectualidade local, , ponto relativizado pela autora. Porquanto, segundo ela, é improvável um processo de domínio cultural ter ocorrido sem alguma resistência.
Para compreender o pensamento plutarquiano é necessário ressaltar a questão literária, pois a importância de Plutarco se propagou pelo império por influência de sua obra, cujo acesso a sua literatura era possível, em especial, para a elite. Com efeito, os romanos estavam habituados desde o século III a. C. “[…] com temas e estilos literários dos gregos”. “Ainda que no primeiro século antes de nossa era a tradição literária grega tenha passado por uma época de rupturas […]”,manteve-se viva através da intelectualidade romana (p. 53). Essa manutenção da tradição literária, mesmo em período de afastamento oficial, permitiu um ressurgimento literário durante o principado, o qual foi chamado de Segunda Sofística, já que a primeira havia surgido há séculos, durante a Grécia clássica. O período, ainda, é colocado como a Renascença grega, isso porque intelectuais gregos encontraram um modo de evocar seu passado mesmo estando sob domínio romano.
Ainda sobre a Segunda Sofística, termo cunhado por Filóstrato décadas após a morte de Plutarco, a autora considera plausível reputar ao movimento certo exagero historiográfico e literário, pois tal enquadramento nasceu da necessidade de construir um conceito de continuidade nos acontecimentos históricos.
Silva expõe a ocorrência de um movimento de retorno à tradição literária grega, a Segunda Sofística, composta por um grupo de intelectuais, inclusive Plutarco, que convivia e participava da administração imperial acrescido o fato de possuírem, também, a cidadania romana. Assim, a literatura grega não seria apenas um modo de promover o conhecimento e a habilidade retórica helênica, mas principalmente para que Roma reconhecesse nos gregos a têmpera diferenciada, elemento imprescindível para a manutenção política e cultural romana. Desse modo, o povo desprovido “[…] (p.78), de pátria no sentido geográfico e político[…]”, poderia manter-se vivo por uma unidade consolidada em sua literatura.
A obra de Plutarco é analisada ou tida como […] uma manifestação cultural-identitária de um grego no império (p.79), revelando, assim, um sentimento de pertencimento ao período, outrora glorioso, da Grécia clássica.
Outra característica de Plutarco, apontada a partir do capítulo II, foi sua fundamentação da cultura grega em uma estrutura monolítica, na qual as variações se davam por diferenças de habilidades técnicas de cada cidade-estado. Por outro lado, as diferenças perceptíveis na variação geográfica grega – a Grécia ia além da Ática e do Peloponeso – eram relativizadas, sendo que identidade convergia para o plano linguístico-cultural.
Não obstante, a Grécia era parte do império e por mais que sua cultura estivesse presente no mundo romano, os gregos ainda estariam subordinados ao poder imperial. Nesse âmbito, Plutarco teria reestruturado a história de seu povo. Como colocado pela autora, a obra plutarquiana traça um paralelo entre a história grega e a romana, buscando pontos comuns em seus mitos fundadores, Teseu e Rômulo, ligando o último genealogicamente aos gregos. Também procura explicar a absorção do mundo grego por Roma e a maneira como os padrões helênicos ajudaram a construir a própria civilização nascida no Lácio. Assim, segundo Silva, Plutarco destaca que as duas civilizações estão em um nível à parte, no qual os gregos são a sabedoria do império e os romanos a força bruta e militar, relegando ao restante dos povos ligados a Roma um papel dispensável em termos contributivos. Haveria uma constituição cultural de povos irmãos, mas, discretamente, ressalta que os romanos não se aprofundavam em suas práticas como os gregos. Sintetizando, a autora traça, na página 130, o contexto acima citado como uma relação de proteção dos romanos das práticas culturais gregas, utilizando-as para fortalecer as suas tradições e organização, bem como para diferenciarem-se dos bárbaros presentes no império.
Ainda no capítulo II, como forma de demonstrar o verdadeiro motivo da derrocada grega, a autora cita a alusão de Plutarco sobre a Grécia clássica e as causas que levaram à sua fragilidade e dominação por parte de Roma. Dentre os fatores explicitados, ele aborda as guerras citadinas, tendo como expoente máximo o conflito do Peloponeso e a corrupção e suborno personificados na figura de Alcibíades. Porém, algo ainda mais grave no discurso plutarquiano é a não manutenção da tradição, principalmente no tocante à questão étnica, ligada ao discurso filosófico. Por ter um pensamento higienista e eugênico, ele considerava a participação de estrangeiros ou mestiços um risco à sociedade grega, e imputa a Alcibíades, um homem de linhagem desconhecida, a desgraça ateniense e espartana. Além de relacionar a origem desse líder grego ao seu desvio de caráter, segundo os preceitos plutarquianos regidos por normas amparadas na tradição, Silva destaca que “O julgamento moral que Plutarco induz o leitor a fazer é inevitável, pois ele usa a história para mostrar o quanto a recusa pela disciplina filosófica guia os homens para acontecimentos funestos” (p.170).
Para a autora, Plutarco é diacrônico, ou seja, busca entender os fatos históricos de acordo com a evolução dos mesmos. Com tal visão, desenvolve uma narrativa esclarecedora para todo o período clássico grego e seus conflitos até a conquista macedônica – partindo sempre da obra do pensador objeto central de seu livro e autores diversos que tratam sobre a temática –, chegando, por fim, ao “quadro de debilidade que surgem os romanos, fortes e vigorosos, a destruir e dominar a combalida Grécia” (p.199). Lembra, sempre, que o conceito de Grécia antiga não é baseado em um estado-nação e sim em cidades-estados agregadas em pequenas ligas que tinham em comum uma consistente matriz linguística, religiosa e cultural.
No capítulo III, ao tratar do mundo grego no império, Silva descreve o próprio conceito de Grécia antiga como uma criação moderna, ao passo que na Antiguidade a região consistia em várias cidades-estado agregadas em ligas. Embora haja essa fragmentação, o conceito de ser grego era existente, de modo que rechaça uma ideia bem difundida e defendida, inclusive, pela renomada Susan Alcock (1994), de que o triunfo romano teria criado a Grécia. “A noção de Grécia, portanto, não nasceu após a conquista romana; já havia entre os escritores gregos a necessidade de estabelecer traços característicos e distintivos dela.” (p.208).
Outro ponto que leva a distinguir as culturas em questão é o próprio início de uma realidade greco-romana, principiada no século III a. C., quando os gregos influenciam a organização institucional da Sicília e Magna Grécia com a adoção de um calendário comum, sistema de pesos e medidas e festas à moda grega, como descrito no terceiro capítulo. A autora sublinha tais elementos como alguns dos responsáveis pela familiaridade dos romanos com as práticas helênicas.
Em contrapartida, é destacado na pesquisa que os gregos que ocupam a antiga Grécia conservam suas práticas afastadas do modo de vida dos romanos, recusando-se a absorver algo do império. Um ponto interessante, pois a autora expõe que a maior ferramenta de helenização do império, por parte dos romanos, é o latim.
A dominação, porém, é relativa se analisada a partir de Plutarco, de modo que o mesmo aponta: “o quadro político romano não apenas expõe ao romano o que é ser grego, como ainda aponta o que há de grego nos romanos” (p.224).
Mesmo traçando paralelos diversos entre Grécia e Roma, como a analogia entre a Guerra do Peloponeso e as Guerras Púnicas, a obra plutarquiana também critica, mesmo que veladamente, o que a seu ver são distorções da sabedoria helênica, como o uso romano da geometria, destinado a construção de artefatos e máquinas bélicas. Ou então, ao evidenciar a dificuldade de Roma em aceitar o pensamento político grego ao mesmo tempo em que o exalta, como observado nas páginas 233 e 234.
Outra maneira, de se observar a resistência da cultura grega em pleno principado, apontada pela Prof.ª Maria Aparecida, é a manutenção do idioma em territórios helenizados, mesmo com a concessão de cidadania romana aos gregos.
Ao caminhar para o final do capítulo III, e consequentemente do livro, a autora destaca que Plutarco tenta demonstrar o quanto os romanos são devedores da filosofia e de Platão, pois ao buscar latinizar territórios conquistados, não se define um sistema pedagógico, além do mos maiorum, cabendo a paidea a responsabilidade de educação no império, em geral. Assim, a filosofia assumia no mediterrâneo, segundo a autora, um papel preponderante, coroado pela escola de Platão. Vale ressaltar que o próprio Plutarco convergia ideologicamente com Platão.
Em síntese, o desafio de Plutarco é relacionar-se com Roma sem comprometer sua identidade grega (p.289), ao passo que o ressurgir da tradição literária beneficiou os romanos que acabaram por encontrar em seus dominados a preservação de parte importante de sua memória. Assim, ao tratar da contribuição grega na formação de Roma, a autora ressalta o caráter híbrido na composição do próprio império romano.
Em relação ao livro de Maria Aparecida de Oliveira Silva, salienta-se, como considerações finais, o rico conteúdo que sua pesquisa sobre Plutarco traz à tona. A partir desta, vislumbra-se as relações que permeavam a multifacetada ligação entre romanos e gregos, isto a partir da percepção de um erudito grego, que além de ser cidadão romano, possui certo prestígio no império do qual sua terra natal depende política e economicamente. Para mais, é possível compreender como um povo sitiado foi capaz de manter sua cultura e influenciar os costumes de seu dominador de forma decisiva.
Ressalva-se que o período do Principado Romano é extenso e com muitas peculiaridades que vão além das relações entre Grécia e Roma, incluindo a participação de diversos povos com distintas condições culturais. Acrescenta-se a isso que a obra em questão é um estudo do discurso e do olhar de um grego sobre seu conquistador. O texto de Silva é cativante e insere o leitor no monumental legado helênico e na formação de uma matriz greco-romana na Antiguidade.
Hélio Gustavo da Silva Andrade – Formado em jornalismo pela Universidade do Oeste Paulista e aluno do curso de História e da especialização em História, Cultura e Poder na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru/SP. Atua profissionalmente na área da educação em uma escola Waldorf.
SILVA, Maria Aparecida de Oliveira. Plutarco e Roma: O mundo Grego no Império. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. Resenha de: ANDRADE, Hélio Gustavo da Silva. Cadernos de Clio. Curitiba, v.7, n.1, p.139-147, 2016. Acessar publicação original [DR]
La venganza de la memoria y las paradojas de la historia – CUESTA (CCS)
CUESTA, Raimundo. La venganza de la memoria y las paradojas de la historia. Lulu.com, 2015.136p. Resenha de: LÓPEZ FACAL, Ramón. La “historia con memoria” como herramienta de futuro. Com-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, Salamanca, n.20, p.151-155. 2016.
“En un país gana el futuro quien llene el recuerdo, acuñe los conceptos y explique el pasado.” (Michael Stürmer; citado por Reyes Mate en el prólogo del libro de Noufuri, 1999)
La lectura de la reciente obra de Raimundo Cuesta La venganza de la memoria y las paradojas de la historia (2015) me ha traído a la cabeza la cita de Michael Stürmer, formulada durante la conocida disputa de los historiadores alemanes (Historikerstreit) y que Reyes Mate ha reproducido en diversas ocasiones.
Para construir el futuro que se desea es necesario ser capaces de explicar el pasado, de manera que permita acuñar conceptos, construir imágenes mentales, que nos ayuden a interpretar el mundo que nos rodea.
Hace muchos años que conozco y admiro la ácida lucidez de Raimundo Cuesta y sus análisis, poco complacientes, sobre prácticas y colectivos que suelen serlo en exceso.
Sus escritos a veces me han deslumbrado, otras me han hecho dudar y alguna vez me han suscitado incomodidad o desaprobación. Pero nunca me han dejado indiferente.
Entre sus aportaciones más recientes me han interesado especialmente las referidas a memoria e historia.1 Esta perspectiva en la investigación y análisis del uso público del cierta medida, una nueva y fértil línea respecto al camino iniciado hace ya años sobre la genealogía de la historia como disciplina escolar, un campo en el que sus aportaciones han sido y son fundamentales. La facilidad de acceder a la mayor parte de sus publicaciones, que están disponibles en abierto, me exime de detallar aquí la extensa bibliografía de la que es autor.
La venganza de la memoria y las paradojas de la historia se estructura en 14 capítulos breves. En la primera mitad se realiza una genealogía de la memoria (De potencia del alma a facultad psíquica) excelentemente documentada, incluso erudita, que sirve de preámbulo a las complejas relaciones entre historia y memoria a partir del siglo XX.
La segunda parte de la obra es, en mi opinión, la más interesante. Tras resumir, en el capítulo 7, la resistencia a la irrupción de la memoria por parte de historiadores tan prestigiosos como Pierre Nora, Tony Judt y Margaret MacMillan, que “se han erigido en defensores corporativos del territorio y jurisdicción de la memoria para tratar el pasado” (p. 60) y de contraponerlos a un uso público de la historia, que supere la posición gremial de los historiadores (posición de Habermas durante la polémica de los historiadores alemanes), recurre a Burke quien, desde la historia cultural, supera las concepciones gremialistas y abre nuevos caminos para una historia con memoria:
“Tanto la historia como la memoria parecen cada vez más problemáticas. Recordar el pasado y escribir sobre él ya no se consideran actividades inocentes. Ni los recuerdos ni las historias parecen ya objetivos. En ambos casos los historiadores están aprendiendo a tener en cuenta la selección consciente o inconsciente, la interpretación y la deformación. En ambos casos están empezando a ver la selección, la interpretación y la deformación como un proceso condicionado por grupos sociales o, al menos, influidos por ellos. No es obra de individuos únicamente.” (Burke, 2000, p. 66).2
Se realiza un seguimiento esclarecedor de los orígenes de la recuperación de la memoria como instrumento necesario para explicar el pasado, desde Halbwachs a Habermas y Traverso, pasando por Walter Benjamin y Horkheimer y, en España, Reyes Mate o Emilio Lledó.
“Hasta cierto punto se diría que el nuevo imperativo categórico enunciado por Adorno (‘la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas la que hay que plantear a la educación’) se trasmuta y convierte en una guía para educar contra la barbarie y por la emancipación, lo que conduce a cultivar y propugnar unos determinados deberes de memoria.” (p. 80).
La filosofía de la memoria emerge de, y asume, la solidaridad con las víctimas, con el dolor ajeno, con el rechazo de la razón instrumental: “la razón [que] encuentra en la ciencia y en el beneficio material una ultima ratio por encima del ideal de un justo bienestar humano” (p. 79). La memoria así considerada no es solo, ni fundamentalmente, un instrumento de conocer lo que ha sucedido en el pasado sino que es un proyecto de futuro: la herramienta de liberación para construirlo que necesita comprender cómo se percibieron los sufrimientos y el dolor de las víctimas.
La aportación más relevante de la obra es un nuevo concepto para desarrollar una historia con memoria:
“La combinación de ‘exactitud positivista’ y atención al sufrimiento debe ser motivo principal de nueva alianza de memoria e historia bajo el signo del pensamiento crítico. Rigor ‘científico’ e interés emancipatorio son estrictamente necesarios y quedan soldados a los supuestos de una historia con memoria, tal como la que defendemos en este ensayo. Esto es, se propone una pesquisa genealógica de nuestros problemas sociales de hoy.” (p. 100).
La venganza de la memoria y las paradojas de la historia es un libro necesario que deja al lector, al menos al lector preocupado por construir una didáctica crítica, con ganas de más, porque…
“(…) los acontecimientos más brutales de la civilización moderna (desde el genocidio colonialista hasta la destrucción masiva de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial) tienen dificultad de enca jar en la estrecha horma perceptiva de la historiografía convencional, porque no cabe concebirlos neutralmente como distantes acontecimientos observables con fría objetividad. El acercamiento a esos fenómenos de violencia extrema hace inevitable un cierto compromiso ético desde el presente hacia el pasado, lo que conlleva una evocación difícilmente neutral o meramente ‘científica’.” (pp. 126-127).
Partiendo de una concepción más amplia del uso público habermasiano “que extienda el concepto, por ejemplo, al mundo de la educación escolar y de las instituciones culturales no formales, en tanto que espacios civiles deliberativos donde se confrontan memorias sociales” (p. 103), hubiera deseado, al menos, un epílogo en esta dirección.
Aunque espero que Raimundo Cuesta aborde esta tarea en el futuro.
El conocimiento histórico, y el uso público que se haga de él, constituyen una preocupación de primer orden para quienes pretendemos promover una educación orientada a la comprensión de los problemas sociales como base o herramienta para construir un futuro mejor. Por ejemplo, María Auxiliadora Schmidt (2015), quien asume las tesis de Jörn Rüsen sobre la didáctica de la historia, explica por qué la preocupación por un conocimiento del pasado que sea de utilidad para construir un futuro, desde el conocimiento informado, ha sido excluida de las reflexiones de los historiadores sobre su propia profesión, siendo sustituida por la metodología de la investigación histórica (Rüsen, 2010, p.27). El resultado ha sido un divorcio entre enseñanza e investigación. La educación histórica se ha considerado una actividad menor, secundaria, sin estatus “científico”, limitada a la mera reproducción del saber académico para contribuir a las finalidades que, desde el poder, se esperaba de la escolarización: fundamentalmente la de formar patriotas.
Esa separación, continúa Schmidt, acabó dejando un vacío en el conocimiento histórico académico, el vacío de su función, pues desde el siglo diecinueve, “cuando los historiadores constituyeron su disciplina, empezaron a perder de vista un principio importante, como es que la historia necesita estar conectada con la necesidad social de orientar para la vida dentro de una estructura temporal” (Rüsen, 2010, p. 31). Se ha justificado la existencia del conocimiento histórico erudito como base para la enseñanza, pero no se justificaba la enseñanza de la historia, porque su función para la vida práctica se había perdido. Esa desconexión de la asignatura de historia y el sentido práctico, si por una parte ofreció a la historia el status de disciplina erudita, por otro generó un vacío sobre su función en la escuela. Este punto de vista llegó al culmen a mediados del siglo XX, momento en el que la historia formal no se orientó directamente a la esencia del conocimiento histórico escolar. Los historiadores consideraron que su disciplina podía legitimarse por su mera existencia. Los estudios históricos y su producción serían como un árbol que produce hojas: “El árbol vive con tal que tenga hojas, es su destino vivir y tener hojas. Se prescindió de dar a la historia cualquier uso práctico o función real en las áreas culturales donde puede servir como un medio para suministrar explícitamente una identidad colectiva y una orientación para la vida” (Rüsen, 2010, p. 34).
En este contexto es en el que, en mi opinión, adquiere especial relevancia la reconceptualización de la memoria para un nuevo uso social de la historia realizada por Raimundo Cuesta. Se trata de una apuesta muy enriquecedora para un debate necesario en el que tan solo echo de menos que no se ocupe explícitamente de la dimensión didáctica en este libro. Es cierto que sobre eso ha escrito ya en numerosas ocasiones (por ejemplo, en esta misma revista: Cuesta, 2011b y Cuesta et al. 2005, entre otros) proponiendo una didáctica crítica basada en la crítica de la didáctica, no solo de aquella asentada en rutinas y tradiciones profesionales sino también de las propuestas alternativas a las que no reconoce su dimensión crítica. Este enfoque es el que más dudas me plantea en las posiciones que viene manteniendo Raimundo Cuesta (y Fedicaria), que, como indico, no están presentes en esta obra al no ocuparse específicamente de la dimensión educativa.
Coincido con Cuesta en que “la didáctica crítica que sugerimos implica una crítica de la didáctica (de la enseñanza escolar en su estado actual) y postula, a modo de principios de procedimiento, ‘problematizar el presente’ y ‘pensar históricamente’, ambos enunciados López Facal consustanciales a esa mirada de tinte genea
Referencia principal
Cuesta, Raimundo (2015). La venganza de la memoria y las paradojas de la historia. Lulu.com. 136 pp.
Referencias
BARTON, K.C. (2009). The denial of desire: How to make history education meaningless. En Symcox, L. y Wilschut, A. (Eds.). National History Standars. The problem of the canon and the future of teaching History. Charlotte, NC: Information Age Publishing, pp. 265-282.
BARTON, K.C.; LEVSTIK, L. (2004). Teaching History for the Common Good. Nueva York-Londres: Routledge.
BURKE. P. (2000). La historia como memoria colectiva.
Cap. 3 de Burke, P. Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, pp. 65-85.
CUESTA, R. (2007). Los deberes de la memoria en la educación. Barcelona: Octaedro.
CUESTA, R. (2011a). Memoria historia y educación.
Genealogía de una singular alianza. En Lomas, C. (coord.). Lecciones contra el olvido: memoria de la educación y educación de la memoria. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp.163-195.
CUESTA, R. (2011b). Historia con memoria y didáctica crítica. Con-Ciencia Social, 15, 85-92.
CUESTA, R. (2014). Genealogía y cambio conceptual: Educación, historia y memoria. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, vol. 22, pdf 23. <htpp://epaa.asu.edu/ojs/article/ download/1527/1226>. (Consultado el 15 de enero de 2016).
CUESTA, R.; MAINER, J.; MATEOS, J.; MERCHÁN. F.J. (2015). Didáctica crítica: allí donde se encuentran la necesidad y el deseo. Con- Ciencia Social, 9, 17-54.
DOMÍNGUEZ ALMANSA, A. y LÓPEZ FACAL, R. (2015). Paisajes invisibles, patrimonios en conflicto: experiencias en la formación del profesorado y la educación primaria. En Hernández Carretero, A.M., García Ruiz, C R., De la Montaña Conchiña, J.L. (Eds.). Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas. Cáceres: Universidad de Extremadura-AUPDCS, pp 713-720. <http://didactica-ciencias-sociales.org/ wp-content/uploads/2013/07/2015-caceresR. pdf>. (Consultado el 11 de noviembre de 2015).
LEVSTIK, L.; BARTON, K.C. (2008). Researching History Education: Theory, Method, and Context. Nueva York- Londres: Routledge.
NOUFURI, H. (1999). Tinieblas del crisol de razas. Buenos Aires: Cálamo.
RÜSEN, J. (2004). Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function and Ontogenetic Development. En Seixas, P. (Ed.). Theorizing historical consciousness. Toronto: University of Toronto Press, pp.63-85.
RÜSEN, J. (2005). History: Narration, Interpretation, Orientation. Nueva York: Berghahn.
RÜSEN, J. (2010): Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. En Schmidt, M.A., Barca, I., Martins, E.R. (org.). Jörn Rüsen e o ensino de História. Curitiba: Editora da UFPR, pp. 23-40.
SCHMIDT, M.A. (2015). Globalización y la política de formación del profesor de historia en Brasil. Revista Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 55 (1), 38-50. <http:// www.perspectivaeducacional.cl/index.php/ peducacional/article/view/357>. (Consultado el 5 de noviembre de 2015).
SEIXAS, P. (2013). The Big Six Historical Thinking Concepts. Boston: Cengange Learning.
[Notas]1 Raimundo Cuesta se ha ocupado de este tema en trabajos anteriores: Cuesta 2007, 2011a, 2011b y 2014.
Merece la pena destacar el último apartado del artículo publicado en 2014, en el que vincula la “memoria con historia” con la didáctica crítica, y que no desarrolla ahora en esta obra.
2 Citado por Cuesta, p. 61.
3 <http://www.proyectos.cchs.csic.es/integracion/es/content/grupo-eleuterio-quintanilla>; o también <http://educacion.gijon.es/page/13152-grupo-eleuterio-quintanilla> (Consultado el 20 de enero de 2016).
Ramón López Facal – Universidad de Santiago de Compost.
[IF]Historia. Las últimas cosas antes de las últimas – KRACAUER (CCS)
KRACAUER, Siegfried. Historia. Las últimas cosas antes de las últimas. Buenos Aires: Las Cuarenta. 2010. Resenha de: GURPEGUI VIDAL, F. Javier. Una epistemología del fragmento. El pensamiento histórico de S. Kracauer. Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, Salamanca, n.20, p.165-170, 2016.
Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía/ la Historia y las Ciencias Sociales (CCS)
En esta publicación, con frecuencia hemos trabajado con los autores de la “Escuela de Fráncfort”, pero nunca nos detuvimos en Siegfried Kracauer (Fráncfort, 1889 – New York, 1966), mentor y amigo personal de Adorno, personaje marginal y compañero de viaje, recurrente interlocutor crítico de los planteamientos del grupo. Durante mucho tiempo, en el entorno español su figura estuvo casi exclusivamente vinculada al cine, a raíz de la publicación de dos estudios relativamente tardíos: el relativo al expresionismo alemán, De Caligari a Hitler (1947), así como su Teoría del Cine. La redención de la realidad física (1960). Sin embargo, su obra significativa arranca a comienzos de los veinte, cuando publica en el diario liberal Frankfurter Zeitung una serie de crónicas culturales y sociológicas (1921-30), de donde surgen libros como La novela policial. Un tratado filosófico (1925), Los empleados (1930) o la recopilación El ornamento de la masa (1963). Tras escribir en París su “biografía social” Jacques Offenbach o el secreto del Segundo Imperio (1937), se traslada a Estados Unidos. Todo ello aparte de dos novelas y otros trabajos académicos.
Estas obras han sido traducidas, con un cierto desorden, entre España y Latinoamérica, al castellano. A ellas habría que añadir la publicación argentina de un texto póstumo, Historia. Las últimas cosas antes de las últimas (Kracauer, 2010), a partir de la edición preparada por Paul Oskar Kristeller en 1969, que partía de unos apuntes fragmentarios, especialmente dispersos en tres de los ocho capítulos del libro. Y precisamente en la reflexión histórica de Kracauer se centra una publicación reciente, Historia y teoría crítica.
Lectura de Siegfried Kracauer (Díaz, 2015), que recoge los trabajos presentados en el seminario del mismo título, mantenido en 2013 en la sede valenciana de la Menéndez Pelayo. Se trata del segundo estudio editado en España sobre el escritor, después de la biografía de Enzo Traverso Siegfried Kracauer, itinerario de un intelectual nómada (1998). Como suele ocurrir en los libros de autoría colectiva, sus capítulos ostentan un desigual calado, produciéndose frecuentes solapamientos, y, sin embargo, constituye una llave valiosa para acercarse al universo histórico del autor.
En un autor como Kracauer, que concede gran importancia cognitiva al fragmento y al detalle, resumir sistemáticamente los planteamientos de Historia (2010) constituye una especie de traición, pero resulta inevitable para aprehender su enfoque general. El primer eje expositivo de Kracauer se corresponde con los ámbitos del conocimiento.
Sitúa en el siglo XIX el nacimiento de la historia moderna, en un movimiento de emancipación respecto a las especulaciones filosófico- teológicas sobre el pasado. El relato tradicional debía sustituirse por un discurso objetivamente científico, aun admitiendo las especificidades del conocimiento histórico.
Mientras las leyes científicas se basan en el establecimiento de predicciones, las ciencias de la conducta aspiran a la comprensión de los fenómenos humanos y sociales. Ahora bien, aun así, la historia moderna no deja de atribuir a los hechos históricos rasgos de los acontecimientos naturales. Incurren los historiadores así en dos errores: identificar “historia” y “naturaleza” y confiar en el tiempo como continuo homogéneo. Pero la historia se revela impermeable a las leyes longitudinales, de manera que el historiador se ve abocado a explorar las cualidades específicas de los hechos.
Al hilo de esta explicación, la obra resalta los paralelismos entre historia y fotografía (asimilando a esta última también otro medio, el cine). Para Kracauer, la realidad de la cámara posee los rasgos distintivos del “mundo de la vida”, ya que está destinada a retratar el flujo heterogéneo de la vida. Los planteamientos del autor, relativos tanto a la historia como a la teoría del cine comparten la misma perspectiva epistemológica.
Un segundo eje se corresponde con la dialéctica entre pasado y presente. Se considera al historiador un hijo exclusivo de su tiempo, de manera que la verdad histórica se convierte en una mera variable del interés del presente. Sin embargo, el contexto histórico y social del historiador no es un todo autosuficiente, sino un flujo frágil y heterogéneo.
Pensar que todas las evidencias históricas van a cuadrar en un sistema cerrado del presente se corresponde con el sueño imposible de una razón liberada. Ni el presente es la llave que abre las puertas del pasado, ni la perspectiva del historiador se agota en términos de influencias contemporáneas. El historiador está condenado, por consiguiente, a reconocer el carácter dinámico de su “yo”, alterando la disposición de su mente para llegar al núcleo de las cosas, sin por ello desprenderse de todas las categorías de origen. La realidad histórica se convierte así en un palimpsesto, que superpone las capas del pasado y del presente. Lo cual nos lleva a una concepción no homogénea del mundo y del tiempo histórico.
El mundo histórico tiene una estructura heterogénea porque lo macro y lo micro, lo general y lo particular, no son categorías mecánicamente reconciliables. Cuanta más generalidad se alcanza, se incrementa la inteligibilidad, pero disminuye la densidad de la realidad histórica. Moverse entre los dos niveles implica el reconocimiento de dos principios. Según la ley de perspectiva, el avance hacia lo macro conlleva la ocultación o priorización de circunstancias concretas.
Según la ley de los niveles, la heterogeneidad de universo histórico siempre impedirá la fusión completa entre la perspectiva del pájaro y de la mosca.
La fascinación de las fechas, propia del tiempo cronológico, ayuda a dar sentido a los acontecimientos, provocando además un hechizo de homogeneidad que desencadena la tentación de concebir el pasado histórico como un “todo”, vinculado muchas veces a la idea de progreso. Así se configura el pretencioso fantasma de esa historia universal, que cuestiona fuertemente la obra. Sin embargo, cada secuencia de acontecimientos tiene su propia agenda, según su pertenencia a diferentes “áreas” (arte, literatura, política, economía…), porque cada hecho es significativo en función de una magnitud. El concepto de periodo histórico tampoco será homogéneo, sino que será el punto de encuentro para cruces casuales, algo así como la sala de espera de una estación.
La historia, como la fotografía, ocupa un espacio provisional, situado entre la ciencia y la mera opinión. Si la ciencia no sirve como modelo para la historia, tampoco la filosofía, discurso que apunta al estudio de las “cosas últimas”, desde una perspectiva general y aspirando a una validez objetiva.
El radicalismo y la rigidez de las ideas filosóficas no se adecuan bien al conocimiento histórico. La historia constituye un pensamiento de antesala, situado entre el “mundo de la vida” y la filosofía, alimentado de la heterogeneidad inherente al mundo intelectual, pues ni el histórico ni el intelectual son universos homogéneos.
Este resumen no hace justicia a la obra, porque es fragmentaria por inacabada, pero también por situar en el centro de su reflexión el fragmento que se resiste a pertenecer a una totalidad. No en vano en uno de los trabajos de Historia y teoría crítica (2015, pp. 101-21), Miguel Ángel Cabrera señala que la de Kracauer es una lectura convencional de teoría de la historia. Quizá por ello Cabrera lo instrumentaliza al servicio de su propio discurso, sin respetar su entidad.
Sin embargo, lo interesante del libro del escritor alemán reside en los intersticios que deja entrever la estructura, quizá excesivamente académica, de algunos capítulos. ¿De qué nos habla esta “tierra de nadie”?
Por lo pronto, aspectos de una corriente de pensamiento considerada “central” como la Escuela de Fráncfort pueden resultar más claros a la luz de un personaje marginal como Kracauer.
Es significativo en este sentido el vínculo teórico con otro marginal, como Walter Benjamin, cuestión estudiada por Carlos Marzán (ob. cit., pp. 167-87), especialmente en relación con la famosa introducción a El origen del Drama Barroco alemán (1925) y las Tesis de Filosofía de la Historia (1940). Ambos autores parten de un diálogo con Husserl, y ambos rechazan el historicismo, el cientifismo y la especulación filosófica en historia, que les conduce a un giro epistemológico donde lo concreto y fragmentario viene a representar el testimonio de las víctimas de la historia. Otro colaborador del libro, Sergio Sevilla (ob. cit., pp. 57-59), insiste en la importancia para Kracauer de la mencionada introducción al Drama Barroco, “Algunas cuestiones preliminares de crítica del conocimiento”, según la cual el conocimiento se relacionaría con las ciencias positivas, y la verdad se manifiesta otorgando un sentido a los conceptos, con los que operan las ciencias.
El conocimiento es la posesión conceptual de fenómenos, mientras que la verdad, interpretación y símbolo.
Prosigue su discurso Marzán, ahondando en las diferencias entre los dos autores: mientras el benjaminiano “ángel de la historia” reivindica un anhelo de justicia que desquicia el presente, inclinándolo hacia una acción revolucionaria, el judío errante de Kracauer es identificado con un melancólico “ángel de la duda” (en palabras del cuentista Andersen), más compasivo y sereno que realmente reivindicativo. Con todo, nosotros entendemos que no hay que sacar excesiva punta teórica a estas alegorías de carácter ensayístico, frecuentes en estos autores, y que el “aire de familia” entre los dos es evidente. Aunque Kracauer plantea su reflexión histórica en lo epistemológico, tiene consecuencias éticas y políticas evidentes.
Su llamada a que ningún hecho histórico se pierda por criterios macro es una forma de piedad por los muertos (2010, pp. 141-171).
Dos trabajos clarifican la relación de Kracauer con el grueso de la Escuela de Fráncfort.
Para Hernández i Dobon (Díaz, 2015, pp. 147-65), hacia 1931, el autor ejerce sobre el “Instituto de Investigación Social” una intensa influencia dialógica, que activa un juego de mutuas influencias, que se cruzan a menudo con el pie cambiado. Lleva algún tiempo trabajando sobre las manifestaciones culturales como exponentes de las tendencias inconscientes de la sociedad. La idea de ratio, acuñada en su estudio sobre el relato policial, constituye un importante antecedente de la razón instrumental, mientras que sus trabajos sobre los empleados contradicen las profecías de Marx sobre la progresiva dualización de las clases sociales, en una perspectiva dialéctica sobre lo social característica del grupo. Cuando llega a Estados Unidos, Kracauer ha profundizado en la necesidad de estudios empíricos, justamente cuando Adorno se encuentra de vuelta de ellos. En Historia Kracauer parece dirigirse hacia el horizonte de una “empiria sin teoría” (valga la expresión figurada, no literal, del mismo Hernández), en un intento de pensar a través de las cosas, no por encima de ellas (2010, p. 220).
En este contexto, añadimos nosotros, es imposible ignorar las consecuencias de la famosa “disputa del positivismo” en la sociología alemana, que a lo largo precisamente de los años sesenta estaba enfrentando a autores como Habermas o Adorno, representantes de la teoría crítica de la sociedad, con otros como Karl Popper o Hans Albert, identificables con el llamado “racionalismo crítico”. La desconfianza respecto a lo empírico (vinculado a la razón instrumental) que se derivó de estas posturas ha teñido medio siglo de pensamiento de la izquierda, de modo que lo teórico y abstracto se ha consolidado como la forma por excelencia del pensamiento crítico, capaz de desnaturalizar las prácticas sociales, mientras que la empiria es un instrumento naturalizador del poder. De alguna forma, seguimos con el “pie cambiado” respecto a Kracauer.
Pero sigamos. Para Jiménez Redondo (ob.cit., pp. 123-46) las discusiones con Adorno explicitan una cuestión medular para la Escuela.
En su artículo del Frankfurter “El ornamento de la masa” (1928), Kracauer explica cómo el pensamiento abstracto procede a desmitologizar la naturaleza, pero a su vez no puede sobrepasar los límites que él mismo se ha impuesto, al configurarse al servicio de un sistema económico que lo limita. Dicho de otra forma, al nacer bajo una lógica de dominio capitalista, el pensamiento abstracto paraliza el alcance de la razón, y se acaba convirtiendo a su vez en una mitología.
Años más tarde, en su discurso radiofónico de 1964, retratando a Kracauer, Adorno sería plenamente consciente de la deuda de la Dialéctica de la Ilustración (1944) con estas ideas.
En la paradójica relación que ambos mantenían, Kracauer siempre cuestionó en Adorno la falta de referencias positivas para el ejercicio de una razón crítica tanto en la mencionada Dialéctica de la Ilustración como en la Dialéctica Negativa (1966). Para Antonio Aguilera (ob. cit., pp. 78-79), se cuestiona la existencia de una “dialéctica sin suelo”, el libre vuelo de un pensamiento sin nada que se le resista, que acabe fagocitando lo fáctico.
En el otro extremo, el escritor defiende un proceder filosófico que se entregue a la cosa, para lo cual le será útil un concepto heredado de Husserl, el “mundo de la vida” (Lebenswelt), mediador entre lo abstractosistémico y lo concreto-vivido. El trabajo más importante del libro, a cargo de Sergio Sevilla (ob. cit., pp. 51-75), profundiza en esta construcción.
Para Sevilla, ante la necesidad de hacer inteligible la heterogeneidad de las evidencias empíricas, las ciencias idealizan las experiencias humanas. Para evitar esto, y satisfacer la necesidad de atender a lo particular por parte de la historia, Kracauer recurre al “mundo de la vida”, que para Husserl es un entorno de experiencias y vivencias prerreflexivas que da sentido al discurso, y que debe ser trascendido a través del pensamiento científico. Kracauer reelabora el concepto como una instancia que otorga sentido a un mundo de particulares, evitando que el historiador se diluya en la multiplicidad.
La historia limitaría de esta forma tanto con el “mundo de la vida” como con la “filosofía”.
El “mundo de la vida” articula así una pluralidad de ámbitos, proponiendo para el mundo histórico una lógica semejante al sentido común de la vida cotidiana. Desde el “mundo de la vida”, la historia mantiene una continuidad con el historiador, lo cual tiene dos consecuencias: la historia trasciende el status de “objeto”, para provocar la iluminación de un ámbito de la experiencia social y el historiador deja de ser mero sujeto de conocimiento, ya que el sujeto se distancia de la experiencia y excluye formas de acción ubicada. Por ello está llamado a ser respecto al mundo histórico un exiliado o un nómada.
En el contexto del “mundo de la vida” se entiende la opción de Kracauer por el empirismo.
En su trabajo, Pedro Ruiz Torres (ob.cit., pp. 213-38) señala el distanciamiento del autor respecto al “empirismo ingenuo”, propio de los historicistas y positivistas del XIX, que pretenden inducir a partir de los datos las leyes generales de la historia. Pero también respecto a algunas perspectivas críticas (la escuela de los Annales, la historiografía marxista…), que parten de la puesta en marcha de procesos deductivos, que parten de preguntas e hipótesis. Sin embargo, ambos empirismos parten de la misma base:
más que del culto al dato positivo, de considerar el conocimiento de lo general como la clave para la comprensión del mundo. A este respecto, Ruiz Torres llama la atención sobre la obra de dos autores, Charles V. Langlois y Charles Seignobos, a los que no hay constancia de que Kracauer conociera, que en 1898 alertaron contra los historiadores que, influidos por su formación filosófica, introducían “conceptos trascendentes” en la organización de la historia.
Pero Kracauer no renuncia al uso de generalizaciones. Así, configura un concepto de periodo histórico (2010, pp. 173-94) semejante a la mónada benjaminiana, entendido como el punto en que se entrecruzan tensiones históricas diversas, más que como un periodo de tiempo homogéneo. También acuña una variante especial de “idea histórica”, el resultado de intuiciones del historiador, surgida a raíz de los hechos, pero que deriva en algo distinto a ellos. No dejaría de ser una generalización, pero más producto de una intuición basada en criterios prácticos que de un proceso de abstracción lógica.
Diríase que Kracauer busca perfilar un concepto de “idea histórica” vinculado al “mundo de la vida”, más que basado en procesos académicos; sin embargo, justamente esa intención genera una ambigüedad que dificulta la eficacia del concepto. Por un lado, a pesar de sus reticencias respecto a la filosofía, Kracauer se está moviendo en el terreno de la filosofía de la historia y de la epistemología.
Para él, hay un punto en el que lo general y lo concreto son irreductibles, es decir, lo general es solo general, y lo concreto solo concreto. Solo entonces es posible una dialéctica que nunca se clausure, añadimos nosotros. Kracauer desconfía de la abstracción porque se encuentra demasiado cerca de la lógica del sistema. Al mismo tiempo, su opción por el empirismo (o, mejor dicho, “lo concreto”) trasciende lo académico para convertirse en una propuesta que debe ser concretada en el mundo de la vida, donde nuestros razonamientos se entremezclan con nuestra percepción e intuición ante las cosas.
Todo lo cual es perfectamente coherente con sus formas expositivas. Kracauer se reafirma en el uso de una narración como un dispositivo literario apropiado para el discurso histórico. Sin embargo, la cualidad artística de esta modalidad textual narrativa es un subproducto del planteamiento, no un objetivo central (Kracauer, 2010, pp.195-218). En una línea semejante a la defendida por Adorno en “El ensayo como forma” (1954-58), el gusto por lo concreto, la flexibilidad y la capacidad de sugerencia propias de un género literario hacen que el relato sea el más adecuado para mostrar el fluir heterogéneo de la realidad. Esta actitud cristaliza en distintas metáforas, resaltadas por Miguel Ángel Cabrera (2015, pp. 101- 103): en su reseña a Los empleados, titulada “La politización de los intelectuales”, Benjamin denominó a Kracauer como un trapero al amanecer del día de la revolución, que recoge jirones lingüísticos y trapos discursivos para confeccionar un tejido polícromo de retazos, como es el calicó, claro equivalente del caleidoscopio, imagen de raigambre proustiana que alude a la catarata de tiempos históricos, imposible de homogeneizar.
La insistencia de Kracauer en lo inmediato e intuitivo está estrechamente relacionada con su reflexión sobre la imagen. Sobre dos trabajos de la compilación no vamos a ahondar: el que viene a ser un adecuado artículo introductorio a Kracauer, a cargo de su biógrafo Enzo Traverso (ob. cit., pp. 39-50), así como un útil resumen crítico del libro Historia, escrito por Sabina Loriga (ob. cit., pp. 239-62). Y aludiremos ahora a los tres artículos específicos sobre lo visual.
Por su parte, Anacleto Ferrer (ob. cit., pp.192-195) hace especial hincapié en los 499 textos para Frankfurter Zeitung (1921-1930), que establecen un canon crítico que concede importancia a la cultura de masas, como un instrumento para el desvelamiento de las ideologías sociales, a pesar de su fragmentariedad, y con una autonomía estética instransferible.
Subraya Ferrer la idea de que el realismo estético del cine es consecuencia de su realismo técnico. Justamente poco más tarde, publicaba Benjamin “Pequeña historia de la fotografía” (1931), estudiado por Antonio Aguilera (ob. cit., pp. 77-100), que también vinculaba la productividad estética del medio a sus dimensiones técnicas.
Ese mismo año, Kracauer también publicará “La fotografía” (1931), trabajo que para Susana Díaz (ob. cit., pp. 11-37), configura algunas ideas que determinarán su enfoque sobre historia. Al constituirse la foto, a diferencia de la pintura, como un producto relativamente independiente de las intenciones últimas del fotógrafo, se convierte en testimonio objetivo de una época.
Desde este punto de vista, cualquier intento de practicar la fotografía artística se alineará con las fuerzas sociales defensoras del orden establecido. Para la autora, este planteamiento se perfilará en el posterior Teoría del cine (1960), donde a partir de “la naturaleza fotográfica” del medio, se reivindicará su capacidad para “captar al vuelo” la realidad física. La publicación de Teoría del cine en España sugirió en la crítica una cierta relación con el cine inmediatamente anterior, es decir, con el neorrealismo italiano y algunas modalidades del estilo clásico.
El cine, frente a formas artísticas basadas en el pleno dominio del lenguaje por parte del autor, constituye un reducto que el pensamiento abstracto no debe colonizar.
Mirar la imagen en la pantalla proporciona una sensación de extrañamiento respecto a la realidad preexistente a la filmación. Como Jasón percibe el rostro de la Gorgona desde su reflejo en el escudo (para no quedar petrificado con su mirada), contemplar el cine proporciona una mirada más distanciada sobre el contexto cotidiano. De esta manera, deducimos que el cine facilita un constante ejercicio de aprender a mirar y volver a mirar las cosas desde distintas perspectivas.
Más que de un empirismo propiamente filosófico, o inserto en el método científico, la opción de Kracauer por lo concreto parte de la inmersión del individuo en la sensorialidad visual intuitiva del “mundo de la vida”.
Aunque tan solo sea esa sensorialidad vicaria que nos facilita el cine. Desde esta perspectiva, la mera insistencia en que el cine construye la realidad, y no la “refleja”, se ha convertido en un callejón sin salida, si no entramos a detallar cómo es esa construcción.
Referencias pricipales
DÍAZ, Susana (Ed.) (2015). Historia y teoría crítica. Lectura de Siegfried Kracauer. Madrid: Biblioteca Nueva.
KRACAUER, Siegfried. (2010). Historia. Las últimas cosas antes de las últimas. Buenos Aires: Las Cuarenta.
Javier Gurpegui Vidal – I.E.S. “Pirámide”, Huesca.
[IF]Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y servidores del estado en el Río de la Plata (Montevideo 1806- 1860) | Mario Etchechury
En las últimas dos décadas la historiografía rioplatense ha dado cuenta de resultados de investigación que abordan la construcción estatal decimonónica como una problemática de análisis. Trabajos como los de Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin, Alejandro Rabinovich, Diego Galeano, Magdalena Candioti, Lila Caimari, Ana Frega, Eduardo Zimmermann, Ricardo Salvatore, solo por mencionar algunos autores con variadas perspectivas y campos de análisis (la justicia, la policía, la prisión, el ejército, los expertos), han permitido, por un lado, la realización de investigaciones que descomponen ese ente “Estado” en políticas, instituciones, actores y prácticas, y por otro, romper con la idea homogeneizante que se oculta detrás de la categoría. El último libro de Mario Etchechury, que sintetiza parte de su tesis doctoral realizada en la Universitat Pompeau Fabra de Barcelona y sus actividades de investigación en el proyecto State Building in Latin America, se inscribe en esa línea de reflexión. La participación en un proyecto latinoamericano no puede ser un dato menor, ya que el trabajo que evidencia la faceta oriental del fenómeno, tiene su contraparte en otras regiones latinoamericanas que permiten reconocer similitudes y diferencias que surgen de la confrontación de distintos estudios de caso. Leia Mais
Despertar en Petrópolis. Andrés Lamas y la influencia de Brasil en la Historia de los Estados de la Cuenca del Plata en el siglo XIX | Tmás Sansón Corbo
Sin duda, se trata de un buen libro, virtuosamente escrito, pleno de saberes, que refleja muchas de las características personales de su autor, un docente e investigador consumado, especialista en abordajes historiográficos. Parte de un proyecto mucho más amplio, constituye una interesante y abarcadora mirada regional a la historiografía rioplatense durante el siglo XIX. Es posible advertir en él una permanente búsqueda de la esencia y de lo esencial, configurándose una aproximación rigurosa a la acción específica de un actor omnipresente.
Dentro de un seguimiento puntual y meticuloso de la temática propuesta, destacan la exactitud y la transparencia informativa, a través de un trabajo artesanal, de paciente zurcido. Se suceden las consideraciones de corte historiográfico, incluidas polémicas y réplicas que Sansón califica críticamente, a través de juicios tan sobrios como contundentes. Es esta una historia sin huecos, pues los mismos han sido cubiertos incansablementea través de sucesivas comprobaciones en las fuentes más diversas. Por su solvencia expositiva y metodológica se alza como un ejemplo claro de “buen hacer”, pergeñado sin prisas, atendiendo a cada requerimiento con ostensible profundidad. Al admitir que se trata de un “tema poco estudiado”, el firmante está indicando entre tanto que su libro cubre dignamente la cuota de originalidad e innovación exigible a una obra con justas aspiraciones de excelencia. Leia Mais
Construyendo un sujeto criminal. Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XX | Marco Antonio León León
Asistimos desde los años noventa a un creciente interés por la historia del delito y el castigo en América Latina. Objeto hasta entonces infrecuente en la historiografía latinoamericana, muchas veces pensado y asumido como un tema propio del mundo del derecho, han ido progresando los trabajos que ponen la atención en las transformaciones en la criminalidad y el castigo. Es así, por ejemplo, que son notorios los avances en los estudios sobre las prisiones en el continente, especialmente en el último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX. Sin dudas se ha convertido en un referente en esta materia el estudio de Marco Antonio León León sobre las cárceles chilenas “Encierro y corrección. La configuración de un sistema de prisiones en Chile, 1800 – 1911” publicado en el año 2003. De alguna manera, la aparición del libro “Construyendo un sujeto criminal. Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XX” de este investigador da continuidad a esta obra confirmando la idea de Ricardo Salvatore que es desde la punición que metodológicamente debe partir cualquier indagatoria sobre la historia del delito. Leia Mais
Locura y crimen. Nacimiento de la intersección entre los dispositivos penal y psiquiátrico | Máximo Sozzo
Máximo Sozzo, es abogado de formación y actualmente dirige la Maestría de Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y el Programa Delito y Sociedad de la misma Universidad. El libro que se reseña –fruto de su investigación doctoral– parte de una preocupación del presente por la situación que atraviesan los ciudadanos privados de su libertad –cuyo número no se conoce– tras haber sido clasificados como “locosdelincuentes”. ¿Cómo se gestó históricamente esa realidad? ¿Quiénes y sobre qué bases se decidía el destino de un loco-criminal? ¿Qué estrategias argumentales vinculadas con la presunción de locura se ponían en juego en los procesos judiciales para lograr el sobresimiento/condena de los acusados? El autor se propuso responder a estos interrogantes indagando en torno al nacimiento de la intersección entre el dispositivo psiquiátrico y el dispositivo penal en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX, más precisamente entre 1820 y 1890.
El problema que plantea la asociación entre locura y crimen ha sido tratado, para el caso argentino, principalmente de la mano del positivismo criminológico desde fines del siglo XIX y hacia el siglo XX (de la mano de trabajos ya clásicos como el de José Ingenieros y Hugo Vezzetti, o más renovados como los aportes de José Daniel Cesano). En este marco, el recorte temporal seleccionado por Sozzo representó un desafío heurístico por la falta de material abundante para tratar el tema, al menos hasta los años 1860. Contando con pocos expedientes criminales, la mayoría de los casos trabajados fueron renconstruidos a partir de piezas diversas, en algunos casos por haberse convertido en “causas célebres”: informes periciales publicados en revistas médicas y fallos publicados en recopilaciones de sentencias (a partir de los años 1880). Leia Mais
Discutir la cárcel, pensar la sociedad. Contra el sentido común punitivo | Gianella Bardazzano, Aníbal Corti, Nicolás Duffau e Nicolás Trajtenberg
Discutir la cárcel, pensar la sociedad es una reciente contribución al estudio social de las instituciones de reclusión uruguayas. Se trata de una obra colectiva multidisciplinaria en la que se entrecruzan historia, derecho, criminología, sociología y filosofía. Respecto a la cuestión de las representaciones sociales sobre la cárcel en el Uruguay contemporáneo, los coordinadores de este libro proponen un abordaje múltiple que integra diversas miradas, métodos investigativos y enfoques teóricos. El propósito central, explicitado en la introducción, es sopesar la realidad carcelaria uruguaya y aportar al debate existente sobre el castigo y el encarcelamiento. En su conjunto, el libro intenta demostrar que existe un predominio –y al mismo tiempo busca terminar con él–de una visión lineal en la academia uruguaya en lo que refiere a “las temáticas relativas a la ley penal, las instituciones judiciales o penitenciarias”. La coordinación de este trabajo colectivo estuvo a cargo de Gianella Bardazzano, especialista en Filosofía y Teoría del Derecho; Aníbal Corti, del campo de la Filosofía ; el historiador Nicolás Duffau y Nicolás Trajtenberg, especialista en Criminología. Leia Mais
La trama autoritaria. Derechas y violencias en Uruguay (1958-1966) | Magdalena Broquetas
En los últimos años distintos trabajos sobre la violencia política en el Uruguay del siglo XX han reconsiderado períodos de nuestra historia escasamente abordados. Como parte de estos esfuerzos el trabajo de la historiadora Magdalena Broquetas, fruto de su tesis de doctorado, analiza el discurso y reconstruye el accionar de un conjunto de agrupaciones derechistas que durante los gobiernos colegiados blancos (1958-1966) promovieron modificaciones al marco institucional para combatir e impedir lo que a su entender eran la influencia cada vez más peligrosa del comunismo en la sociedad uruguaya.
Para ello la autora revisa los clásicos marcos conceptuales con los que la historiografía uruguaya abordó este espectro del sistema político y social del país. Partiendo de los planteos académicos que han renovado la temática en la región, entiende por “derechas” una categoría en la que se incluyen a una amplia “constelación social sumamente plural” y un universo vasto de organizaciones con diferencias ideológicas y programáticas, las cuales varían según el periodo histórico analizado. El elemento en común y que permite identificar a estos grupos es su reacción ante la percepción de una amenaza inminente al sistema democrático y los valores tradicionales de la sociedad uruguaya por la expansión del comunismo en el continente americano (a diferencia de la primera mitad del siglo XX, cuando los sectores conservadores reaccionaron ante el reformismo batllista). Posteriormente, analiza sus discursos y definiciones ideológicas y reconstruye su accionar, destacándose la legitimación de la violencia política como forma de frenar la infiltración de elementos “foráneos”. Leia Mais
L’imprimé dans la construction de la vie politique. Brésil, Europe, Amériques, XVIIIe-XXe siècle – MOLLIER; DUTRA (RHXIX)
MOLLIER, Jean-Yves; DUTRA, Eliana de Freitas (Eds). L’imprimé dans la construction de la vie politique. Brésil, Europe, Amériques, XVIIIe-XXe siècle, Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015. Resenha de: ROZEAUX, Sébastien. Revue d’histoire du XIXe siècle, v.53, 2016.
Jean-Yves MOLLIER et Eliana de FREITAS DUTRA [dir.], L’imprimé dans la construction de la vie politique. Brésil, Europe, Amériques, XVIIIe-XXe siècle Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection « Des Amériques », 2015.
La publication de ces actes fait suite à un colloque organisé par le département d’histoire de l’université fédérale de Minas Gerais, au Brésil, et le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. La plupart des 28 articles traitent de la question de l’imprimé dans la vie politique au Brésil, sur le temps long et dans une perspective résolument atlantique. En introduction, Eliana de Freitas Dutra et Jean-Yves Mollier soulignent l’importance de l’imprimé dans les processus historiques de construction nationale et défendent les vertus d’une histoire croisée – politique, sociale et culturelle – de l’imprimé, compte tenu de son « rôle irremplaçable […] dans la formation et l’évolution des opinions publiques » (p. 14). Ce volume de 500 pages se divise en dix sections : un tel émiettement peine selon nous à rendre pleinement justice à la grande qualité de la plupart des contributions, faute d’en dégager les principales lignes de force. D’où notre choix ici de mettre en exergue trois axes problématiques qui illustrent la richesse du renouvellement de l’historiographie au Brésil, notamment sur son versant culturel. Notre attention se concentrera ici sur les articles portant sur le « long XIXe siècle ».
Le principal mérite de cet ouvrage réside sans nul doute dans les nombreuses réflexions portant sur les politiques publiques de l’imprimé dans l’espace impérial portugais. Ainsi, Lilia Moritz Schwarcz étudie l’histoire chaotique de la bibliothèque royale au Portugal ; bibliothèque que Dom João V (1706-1750) érige en symbole de la puissance impériale, à l’heure où l’or de Minas Gerais fait la richesse de Lisbonne et de sa cour. Or, le tremblement de terre de 1755 détruit la quasi-totalité de cette prestigieuse collection. La reconstitution d’un fond passe alors par l’acquisition de collections privées. En 1808, cette Bibliothèque royale gagne Rio de Janeiro afin d’échapper à l’emprise des troupes napoléoniennes. En 1825, lors de la négociation du traité d’Amitié et d’Alliance entre le Portugal et le Brésil, le nouvel Empire du Brésil accepte de payer le prix lourd pour conserver « la meilleure et la plus grande bibliothèque des Amériques : un trophée pour la nouvelle nation et une garantie d’assurance pour le monarque » (p. 41). Plus largement, et en étudiant les archives des organes de la censure entre 1769 et 1821, Luiz Carlos Villalta a pu faire état de la circulation croisée des imprimés entre le royaume du Portugal et l’Amérique portugaise. Malgré les nombreuses réformes de la censure, l’État colonial semble agir de façon pérenne en vue de « la défense, en dernier recours, de l’unité de la nation portugaise », dont la figure du roi et la religion catholique sont les deux attributs principaux (p. 81). Villalta s’intéresse en particulier aux Livros de Santa Bárbara, livres d’oraison dont plus de 100 000 exemplaires sont débarqués à Rio de Janeiro entre 1795 et 1799. De tels chiffres permettent de relativiser le cliché désormais daté d’une Amérique portugaise analphabète, coupée de tout contact avec les savoirs véhiculés par l’imprimé. À cet égard, Eduardo França Paiva témoigne de l’essor des pratiques de la lecture au sein des populations serviles ou affranchies du Minas Gerais, au XVIIIe siècle. Malgré la censure, de nombreux ouvrages interdits faisaient l’objet d’un commerce de contrebande dynamique et profitable dans l’espace atlantique. L’étude de la bibliothèque du naturaliste José Vieira Couto par Júnia Ferreira Furtado témoigne de la capacité de ces élites brésiliennes formées à l’université de Coimbra à faire fi des interdits en vigueur. Sa bibliothèque, riche de 601 volumes, témoigne de la circulation des idées des Lumières en Amérique portugaise et éclaire la participation de Couto à la Conjuration de Minas Gerais (1789). La carrière de Couto entre Lisbonne et le Brésil reflète également la présence des lettrés lusobrésiliens dans les premiers cercles du pouvoir au début du XIXe siècle, notamment dans l’entourage du ministre Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Caio César Boschi traite dans son article de la présence des « Luso-brésiliens » dans les ateliers d’Arco do Cego à Lisbonne, un cercle littéraire et une maison d’édition dont la brève existence incarne alors « la mentalité et les pratiques de gouvernance du réformisme éclairé lusobrésilien » (p. 385).
Une autre ligne de force réside dans l’attention accordée aux liens entre l’imprimé politique et le processus de constitution d’une première opinion publique au Brésil. La naissance de la presse au Brésil est contemporaine de l’arrivée de la cour des Bragance à Rio de Janeiro, en 1808. Toutefois, c’est depuis Londres que le premier titre « brésilien » apparaît, à l’initiative d’Hipólito da Costa. Ce dernier s’est formé à Coimbra avant d’être envoyé en mission aux États-Unis pour le compte du royaume. C’est là qu’il est initié à la franc-maçonnerie, qu’il promeut à son retour au Portugal, en 1800, malgré l’interdit. Emprisonné, il s’enfuit à Londres où il fonde, comme nous l’explique Isabel Lustosa, le Correio Braziliense (1808-1822). Ce mensuel tiré à moins de 500 exemplaires se destinait d’abord à ses abonnés au Brésil, où il circulait sous le manteau afin d’échapper à la censure. En effet, Costa n’a de cesse d’y dénoncer la mauvaise gestion du royaume, l’institution servile et les monopoles commerciaux. Il soutient l’œuvre des Libertadores sudaméricains, à l’instar de Simon Bolivar, tout en vantant pour le Brésil les vertus d’un régime monarchique libéral et éclairé. Cette publication se fait aussi le relais de la légende noire de l’empereur Napoléon Bonaparte : Lúcia Maria Bastos P. Neves étudie la profonde empreinte laissée par cette légende noire dans les sociétés portugaise et brésilienne du début du XIXe siècle. Celle-ci reflète la persistance de croyances de type eschatologique et de « croyances traditionnelles du monde de l’Ancien Régime » (p. 470), avant que n’émerge une première sphère publique politique, à compter des années 1820. C’est ce dont rend compte Marcello Basile, en étudiant la presse de Rio de Janeiro pendant la Régence (1831-1840). Cette période marquée par une forte instabilité politique est aussi un « grand laboratoire politique et social dans lequel des formules diverses et originales furent élaborées et différentes expériences testées, couvrant de larges strates sociales » (p. 492). La presse politique contribue alors, malgré la virulence des débats, à promouvoir dans l’opinion publique la nécessité d’œuvrer à la consolidation de la nation brésilienne et de son État.
Enfin, le troisième mérite de cet ouvrage est d’offrir quelques brillantes réflexions quant au rôle déterminant de la circulation atlantique de l’imprimé, et de l’image en particulier, dans les processus de construction nationale en Amérique au XIXe siècle. Laura Suárez de la Torre illustre à partir du cas mexicain le fait que la construction de représentations nationales s’inscrit dans une circulation internationale des idées et des pratiques culturelles. Verónica Zárate Toscano, quant à elle, explore plus particulièrement la question de la circulation des images à Mexico pour aborder la question de la construction de l’identité nationale. Márcia Abreu nous propose une étude comparée des représentations iconographiques des « Brésiliens » par des artistes étrangers et nationaux au début du XIXe siècle. Alors que les premiers semblent prompts à mettre en lumière l’exotisme des paysages et le métissage de la société brésilienne, ces derniers préfèrent souligner la dimension civilisée, européenne des élites lettrées impériales. C’est ce dont témoigne également l’étude de Celeste Zenha consacrée à un album de lithogravures, Rio de Janeiro pitoresco (1845), dans la mesure où cet album érige la capitale en symbole de la civilisation impériale, au prix de l’invisibilisation de la présence africaine. C’est à cet idéal que répond aussi, pour une part, la publication du premier Atlas do Império do Brazil (1868), destiné aux élèves du collège impérial Pedro II, étudié ici par Maria Eliza Linhares Borges. Enfin, Antônio Augusto Gomes Batista consacre son étude aux usages des livres scolaires portugais au Brésil ; livres dont la présence permet de défendre la « norme linguistique lusitanienne », alors que la question de la nationalisation de la langue agite une partie des élites impériales.
Capital/ power/ and inequality in Latin America and the Caribbean | R. L. Harris e J. Nef
A América Latina e Caribe são amplamente discutidos neste livro clássico para o pensamento social internacionalista, por meio de uma compreensiva e integrada coletânea de capítulos comparativos que ilustram de maneira sistemática três temas que são transversais, capital, poder e a desigualdade, os quais são forças estruturantes de longa duração na região.
Ao longo desta nova edição alicerçada em teorias críticas trazidas, principalmente, por premissas marxistas, uma profunda investigação de problemas atuais desvela a história cristalizada, ao longo do tempo, de muitos dos países da América Latina e Caribe, revelando o ritmo e o espaço das mais recentes forças de globalização que incidem sobre a região em sua inserção na integração do sistema-mundo. Leia Mais
Semiperiferia: Uma revisitação | Antônio José Escobar Brussi
O livro que estamos resenhando pode ser considerado uma obra pioneira no Brasil e como tal será de grande utilidade para quem se interessa pela Economia Política dos Sistemas-Mundo (EPSM)1. A contribuição do Prof. Antônio Brussi examina um conceito ao mesmo tempo fundamental e difícil da EPSM. Um conceito que usamos frequentemente – inclusive porque o Brasil parece se enquadrar muito bem como parte da semiperiferia – mas sem a preocupação de problematizar o conceito, que como Brussi procura demonstrar, tem lá seus problemas.
Immanuel Wallerstein, que prefacia o livro de Antonio Brussi, lançou a noção de semiperiferia já no primeiro volume de O Moderno Sistema-Mundo. E o fez por constatar que a economia-mundo capitalista apresentava uma zona intermediária entre os dois polos (centro e periferia), já identificados por Raúl Prebisch em 1949. Correndo o risco de não fazer justiça ao gênio de Wallerstein, nos arriscaríamos a dizer que ao apontar essa região ou posição intermediária, ele estava transplantando para a o sistema social mundial algo perceptível ou constatado em qualquer esforço de classificação ou de ordenação de uma amostra: um grupo bem afinado com o critério de classificação, outro claramente divergente dele e um terceiro que o atende parcialmente. Leia Mais
The Status Quo Crisis – Global Financial Governance After the 2008 Financial Meltdow | Eric Helleiner
Originada no setor subprime do mercado imobiliário norte-americano, a crise de 2007/2008 motivou indagações quanto ao futuro do sistema monetário e financeiro internacional. Não foram poucos a apontar o fortalecimento da regulação financeira, o alargamento da governança financeira global e até possíveis ameaças ao dólar como moeda internacional. Contudo, o fenômeno que podemos observar atualmente é o da manutenção das estruturas e funcionamento do sistema.
Nesse sentido, “Por que as expectativas de transformação da governança financeira global não se confirmaram?” (Helleiner, 2014: 9). Essa é a pergunta que Eric Helleiner busca responder no livro The Status Quo Crisis, lançado em 2014 pela Oxford University Press. Leia Mais
Antologia do pensamento crítico contemporâneo | Antologias do Pensamento Social Latino-Americano e Caribenho
Apesar dos avanços recentes boa parte da sociedade brasileira desconhece ou ignora a América Latina. Apesar da (suposta) especificidade brasileira, tal desconhecimento se relaciona ao distanciamento histórico de nosso país em relação à região, alicerçado em diversas causas (políticas, econômicas, culturais, geopolíticas, …), determinado pelo que Francisco de Oliveira chamou de “Fronteiras Invisíveis” que sempre foram mais sutis, profundas e eficazes que as fronteiras oficiais1.
Da mesma forma ao longo dos últimos dois séculos surgiram importantes pensadores que buscaram a produção e o desenvolvimento próprio (latino-americano) e adquiriram relevância mundial (Mariátegui, Dussel, Quijano, entre outros). Apesar disto, tal pensamento continua, apesar de raríssimas exceções, desconhecido ou ignorado pelo pensamento social e a academia brasileira. Leia Mais
Festas Chilenas. Sociabilidade e política no Rio de Janeiro no Ocaso do Império | Jurandir Malerba, Cláudia B. Heyneman e Maria do Carmo T. Rainho
Entre 09 de outubro e 19 de dezembro de 1889, o Brasil recebeu a visita diplomática chilena a bordo do encouraçado Almirante Cochrane. Este fato, além de ter causado um grande alvoroço político, econômico, social e cultural no país, e em especial na cidade do Rio de Janeiro, coincidiu com a transição do regime político imperial para república.
Atentos aos espaços visitados pelos chilenos, às comidas e bebidas servidas/degustadas, à programação destinada aos ilustres hóspedes, às práticas desportivas praticadas em sua homenagem, aos sons, bailes, músicas que deram o tom cordial entre os dois países, e toda a indumentária que acolheu os convidados, os organizadores de “Festas Chilenas. Sociabilidade e política no Rio de Janeiro no Ocaso do Império” – Jurandir Malerba, Cláudia B. Heyneman e Maria C. T. Rainho – tiveram a felicidade de reunir em oito capítulos, os diversos modos de sociabilidade existentes na cidade do Rio de Janeiro durante estes dois meses. Leia Mais
O Belo Perigo | Michel Foucalt
Uma pergunta sempre me intrigou ao tratar de Foucault em qualquer ocasião que eu tivesse a oportunidade: como rotular um autor como este dentro de caixas de conhecimento tão fechadas em si? Do que eu deveria chamar Michel Foucault? Historiador? Filósofo? Pensador?
Esta não é uma questão das mais fundamentais, mas é uma dessas questões que intriga alguém que mergulha sem medo na obra, na vida e no estilo de um determinado autor. Fica, inegavelmente, a curiosidade. Leia Mais
The philosophy of gesture. Completing pragmatists’ incomplete revolution – MADDALENA (C-RF)
MADDALENA, Giovanni. The philosophy of gesture. Completing pragmatists’ incomplete revolution. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2015, p. 195. Resenha de: BAGGIO, Guido. Cognitio: Revista de Filosofia, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 149-158, jan./jun. 2016.
With this well written book Maddalena proposes, in a compelling prose, a new coup d’etat similar to Kant’s “coup d’etat on philosophical mentality and reasoning” (p. 3), pushing the philosophical inquiry toward a complete synthetic pattern. The Philosophy of Gesture presents in fact a new paradigm of synthetic reasoning that considers gestures as the ordinary way in which we carry on meaning of identity through change. The word “gesture” is here taken from its Latin origin “gero” whose etymology is “I bear”, “I carry on” (but also “I produce”, “I show”, “I represent”). As Maddalena puts it, gesture is “[…] any performed act with a beginning and an end that carries a meaning […] pragmatically understood as the cluster of conceivable effects of an experience” (p. 69-70). Through a new understanding of the pragmatist tradition, the author attempts to foster “[…] a new, richer way to look at experience as a unity of theory and practice, and a profound realist view of knowledge open to metaphysics” (p. 28), that overhauls the Kantian distinctions between synthetic and analytic reasoning as well as between subject and object.
In the first chapter Maddalena puts the basis for his philosophical pragmatist revolution. In what can be considered the pars destruens of the work he exposes the critiques moved by pragmatism to the transcendental philosophy at the basis of the three Kantian key moves: 1) the grounding of Enlightment’s “[…] speculative building on a rationalist pattern of necessity composed by the hierarchical relationship between parts and whole” (p. 4-5); 2) the view of morality according to which true morals is self-consistent autonomous; and 3) the separation between sciences and humanities, mirroring that between phronesis and episteme. I shall sum up here Peirce’s critiques only, for they play the most important in the book.
Maddalena highlights Peirce’s four attacks to Kant philosophy: 1) to be nominalist, due to Kant’s affirming an unbridgeable gap between reality and reason as well as to his misconception of the continuity; 2) Kant’s preference for the unity of the logical subject (the “I think”) instead of the object, which if recognized would have led Kant to a robust realism; 3) the weakness of the “I think” as guarantee of the unity of the object because of the lack of continuity between cognitive processes and reality; and 4) the separation of the fields of Ethics, Aesthetics and Logic, as opposed to their unification.
The author thence traces the three main topics pragmatists opposed to Kant’s philosophy, which are also the philosophical tools of the pars construens of the innovative theoretical proposal. The first topic is the sign, introduced by Peirce as the tool of a new form of representation centered on the analysis of the relationship between the triad composed of the “object” of reference, the “representamen” (namely, the sign itself), and the “interpretant” (the function of interpretation). Most important is the double characteristic of “[…] hard objectivity and total interpretation” (p. 21). On the one hand there is the distinction, under the name “object”, between the dynamic object deep in the flux of reality, and the immediate object—namely, the common object of our representations. According to the author, in this distinction lies the core of Peirce’s realism. In fact, our knowledge “[…] always stems from and arrives at the dynamic object, an almost incomprehensible object which is at the beginning of our knowledge and at the end of our complete representation” (Idem).
On the other hand, immediate, dynamical, and final interpretants are “[…] those signs that permit representaments to foster and finish their representative work” (Ibidem).
Interpretation is therefore part of the sign with respect to an interpretant, and the final interpretant coincides with a “[…] habit of action.” Strictly intertwined to the sign is the topic of continuity, namely “[…] the ontological texture of experience and knowledge, according to the profound unity that defines the concept of pragmatist experience” (p. 23). The third topic is common sense, which is logically justified in its grounding on “vagueness,” namely in “[…] a state in which the object is indeterminate and would require a further determination by the utterer” (p. 26) and in which the principle of contradiction simply does not hold. “Vague,” as opposed to something that is “determinate,” “actual” and “general”, is a determination through which a “nascent” idea passes from vagueness to generality. Common sense is then the “sensitivity to vagueness” that rational beings have to have.
In the second chapter, the author faces the problematic Kantian distinction between analytic and synthetic judgments, in particular with the question about the kind of necessity featuring synthetic judgments built on intuition. Analytic judgments, in fact, are necessary by definition, for they express the principle of identity and are not subject to the principle of contradiction. On the contrary, the uniqueness of space and time “recreates with singular intuitions the schema part-whole” preserving “necessity within the same part-whole scheme that is at work in analytic judgments” (p. 37-38). Kant used therefore analytic tools to define the steps through which we arrive at a synthetic representation of reality, founding again his idea of knowledge upon an analytic pattern.
Maddalena argues that in order to overcome analyticity, a different path of reasoning is needed: namely, a concrete, synthetic way of thinking. In particular, the very possibility of synthetic judgment is provided by Peirce’s distinction between mathematical/synthetic (necessary) method and logical/analytic method, through which he tried to find out how necessary and probable inferences are composed, supplemented by “[…] a kind of synthesis in which universals are known in the particulars” (p. 41).
After a propaedeutic exposition of the status questionis to justify the innovative but incomplete pragmatists’ epistemological revolution and an explanation of the conceptual tools to be used in the new paradigm, in the third chapter Maddalena presents his theoretical proposal, exposing three new definitions for synthetic, analytic, and vague judgments, which he characterizes as follows: “A synthetic judgment (and reasoning) is a judgment (and reasoning) that recognizes identity through changes” (p. 43); “An analytic judgment (and reasoning) is a judgment (and reasoning) that loses identity through changes” (Idem); “A vague judgment (and reasoning) is a judgment (and reasoning) that is blind to identity through changes” (Ibidem). Maddalena justifies the new set of definitions arguing that they allow to understand and demonstrate sintheticity of reasoning in accordance with the fundamental hypothesis of continuity. In particular, he points out two aspects of the definitions of the new paradigm: 1) any synthetic judgment “[…] coincides with the operation we have to perform in order to get at it” (p. 46); and 2) synthesis coincides with “recognizing an identity” between two parts of a transitional experience in which judgment is the substantive part (distinguished from the transitive parts as James would hold). The process that leads to the proposition links the initial vague experience to the generalized one of the proposition through a singular action with that determinate part of experience that we call “body.” The identity is always between two experiences of the same relationship(s). Occasionally, the second experience can be formulated by a proposition, but a proposition is only one of its possible realizations that can be more or less complete as any other synthetic action (p. 47).
Maddalena goes on specifying that not just any action is synthetic, and that there are several degrees of synthesis and different kinds of actions which have to be identified through a process of inquiry at the basis of which there are three assumptions based on three pragmatists affirmation: namely, that research is in fact always tied to problem solving and the main problem to solve is the “vagueness of the experience” to determine; our inquiries aim at reaching the core of a belief which involves the establishment of a habit of action; and no proposition can be absolutely final because of its grounding in experience (which is itself never final). Following these definitions and assumptions, the main questions are then: what is “change” and how can it be studied? To reply to these questions Maddalena refers to the notion of “continuity” approached from both mathematical and logical perspectives, as Peirce did. Continuity is then “[…] a possibility, namely a model that may be realized” (p. 49). Change in continuity is interpreted accordingly “[…] as a perfect continuity of possibilities of which any actual occurrence is a realization” (Idem), it is a law (general) “[…] whose internal regularity is “an immediate connection” that we can understand as the condition of every possible realization” (Ibidem).
Change is thus not a property but rather a reality to which existent things belong.
Maddalena defines the continuum by four characteristics, already elaborated by Fernando Zalamea (2001), to whom Maddalena refers: generality, that is “[…] the law of cohesiveness among parts beyond any individual and any possibility of metrically measuring it” (p. 50); modality, “[…] the fact that a continuum is not tied only to actualities but involves also possibility and necessity” (Idem); transitivity, “[…] the internal passage between modalities” as possibility, actuality, and general necessity (Ibidem); and reflexivity, “[…] any part shall have the same properties of the whole to which it belongs” (Ibidem).
The first approach to study the change in real continuity is through the logical modalities of possibility, actuality, and necessity accounting for transition within the continuum itself. As Maddalena sums up, possibility is “the may be’s”, namely “[…] the mode of reality in which the principle of contradiction does not hold” (p.51); actuality is the existence, namely “[…] the mode of reality in which both the principle of contradiction and the excluded third hold” (p. 51-52); necessity is “[…] the mode of reality in which the principle of the excluded third does not hold, namely “[…] the state of things that “would be” true, if certain conditions happened” (p. 52). Logical modalities describe reality through the transition in determination from vagueness (that is something “particular”) to determination (“singular”) and generality (“universal”). Vagueness is, according to this approach, the main character of our beliefs and acritical inferences. Abductive inferences have often to rely upon vague characters, and vague characters are the first degree of clarity, distinguished from “determination” which is match with definition, and from “generality” which is match with the pragmatic maxim. Thus, “change” as well as “changing something” is “[…] a continuous reality in continuous transition among modalities” (p. 54), whereas our synthetic reasoning is about recognizing identity through change.
The second approach to “change” is the existential graphs. It is important to note that according to Peirce, and to the synthetic way of reasoning, “working” is the necessary and sufficient condition of reality. And since in mathematics we deal with universals in particulars, “doing mathematics” through scribing graphs and diagrams, that is to perform “mathematical gestures” through which imagining hypothesis and drawing from them necessary conclusions, means already dealing with the reality of universals. Generally speaking, existential graphs are the basic iconic level of relationship with the dynamic reality and it is accordingly the original “evidence” of change through continuity for their being moving pictures of thought which represent “[…] the creation of explanatory conjectures” (p. 56). The basic idea is that the conclusion of a synthetic reasoning is perceived in all its generality, and that the existential graphs are synthetically conveying universals into singulars.
The generalization is the analytic result of the diagrams which are “[…] the synthetic happening of generals” (p. 57). The process of “re-cognizing” the identity through changes is part of this happening, and coincides with the drawing of the line which is the acceptance of the original identity of two points that are distant but the same.
Identity therefore means no longer A=A, but a non-purely-symbolizable iconic identity passing from A to B. This implies a switch to scribing the line of identity upon a multidimensional continuum, transforming the identity in a teridentity, which is a line representing two relations of co-identity. Identity is thence “[…] the continuity of possibilities of an individual considered to be a changing object in its becoming” (p. 61). Now, according to Maddalena, who follows in this Peirce, the line of teridentity is a “perfect continuum” along with the multidimensional continuum of assertion. Identity means identity of an aspect of an individual, which is a “[…] variety of presentation and representation” (MS 300:46-47), whose time and space are just two of the possibilities. A line of identity is a “perfect sign” all parts of which “[…] are possibilities that might be realized according to a general law” (p.
65), becoming more and more determinate (and thus, in the long run, necessary) within the continuum in which they are inscribed. What has to be noted is that the iconic level of teridentity is the most important for it shows the Forms and Feelings of the synthesis of the elements of thought as a continuum of dots. And the identity seen under two aspects “[…] consists merely in the continuity of being passing from one apparition to another” (CP 4.448).
In the fourth chapter the notion of “complete gesture” is introduced. A gesture is, as said at the beginning of this review, a performed act with a beginning and an end that carries a meaning pragmatically understood. Maddalena specifies that “gesture” has to be considered in a much broader than as a mere bodily articulation, that is as “[…] a completion of reasoning and communication in which words can cooperate” (p. 171n). In such completion, which is the performing of the synthetic reasoning and the “[…] original form of comprehension/communication” (p. 75) from which any other form can be derived, we transform our vague comprehension into a habit of action. He distinguishes between complete (namely perfect) and incomplete gestures, for not just any gesture is synthetic but only those respecting the characters of evidence, generalization, continuity, and “[…] an equal blending of kinds of signs” as well as of phenomena (p. 70). From a semiotic perspective a complete gesture has to have a general meaning so as to be a general law for replicas (symbol); actual (index) when indicates singular object; expressing different possibilities of forms and feelings (icon). These semiotic characters of gesture need to be reflected in the phenomenological relations of firstness, namely a pure idea or a pure feeling, secondness (a physical act involving reactions of two objects or subjects), and thirdness (generality). Examples of complete gestures are liturgies, rites, artistic performances and hypothesizing experiments. What Maddalena wants to point out here is the internal telos that the phenomenological and semiotic paths reveal (at pain of making continuity unintelligible), namely “[…] the tendency to generalize that every gesture requires as such for the dynamic of its elements (thirdness and symbols)” (p. 73). A singular person who performs a singular act is embodying a general rule according to certain interpretation, creating a “necessary” habit of action which will be fostered in a re-performance involving “a replica of the feelings” (p. 80). The gesture becomes actual only insomuch as a person is actualizing it. That singular action modifies the generality proposing new habits (or new ways of old habits). Generalization is granted by the possibility that a complete gesture is “accomplished by many”.
The fifth chapter titled “Gestures and Creativity” specifies the kind of function the complete gestures have in our knowledge. Synthetic reasoning is always a creative form of reasoning, however the creative synthetic blending of semiotic elements has some necessary conditions, first of all, a “sub-creation”, namely an author who puts the complete gesture into existence. The second element is “assent” which coincides with the interpretant, namely “[…] the outcome of the sign in a determination of the interpreter’s mind (including all non-human minds)” (p. 96). Assent is thence “[…] the condition through which our complete gesture becomes operatively meaningful” (Idem). The third element is the “normative appeal”, namely the ethical dimension involved in assent. A hypothesis might be possible but not plausible, that is not convenient to realize because it lies outside the range of effective possibility. If so, then the ethical statement is “[…] something that has to deal with the effective world” (p. 98). The voluntary act at the basis of ethics judgment is related to the knowledge of the end of the act. This knowledge, however, has not to be found within ethics but rather in aesthetics: it must be an admirable ideal “[…] into which our complete gestures, like our analytic reasoning, have to fit and with which they cooperate to propose, to enhance, and to foster” (p. 100). The ultimate immutable aim is an aim consistent with human freedom and “concrete reasonableness”, namely the human reason in its “embodiment”. What Maddalena foresees in the apex of Peirce’s doctrine of “embodiment” is what a complete synthetic pattern would be, namely the emerging of concrete reasonableness as the order that any sort of reality must have to be understood. This means, pragmatically, a progressive approach to a final recognition, to the “truth” understood as the result of inquiry in the long run. Now, the problem is that Peirce did not explain what concrete reasonableness consists in. However, as Maddalena argues in the final chapter, even if pragmatists see ethics as normative, they also understand this normativity as linked to a posteriori knowledge. And knowledge is always tied up with complete gestures (p. 138).
In the sixth and seventh chapters Maddalena tries to derive solutions to such classic theoretical topics as personal identity and artistic creativity from the complete synthetic pattern and gesture. The first characteristic of the recognition of identity is that multidimensional continuum and the line of identity expressed in the existential graphs are lodged within the person’s experience. To find out the possibility to connect one complete gesture to another Maddalena refers to Auerbach’s notion of “figurality” derived from Latin “figura”, namely “[…] something real and historical which announces something else that is also real and historical” (p. 114). Working with the idea of a “[…] recognition of identity through changes” we can see the figure as the form of the object at an iconic level and its actualization at an indexical level (examples of the latter level are proper names and pronouns). Figurality among complete gestures, that is not a mere similarity between two figures, seems to describe what happens with memory, and establishes also a path of future realization, which will be another figure in our ongoing process.
The last chapter is dedicated to tackle the Kantian legacy regarding the conception of morality. Maddalena refers again to vagueness and common sense, arguing that common sense is the kind of reality that we receive or in which we are immersed, it is applied to fundamental ways of thinking and enters in any “reconstruction” of reality: common sense is our first acknowledgment of experience, it is our inherited morality which is vague, although its vagueness is a proof of its importance and reality. Now, as synthetic gestures transform themselves into habits of actions, giving rise to new interpretations, tradition and reconstruction are two poles of the same developing whole. As Maddalena argues, “[…] any action, bad action included, can be moral insofar as it embodies its vague initial idea and its general final ideal” (p. 145). Thence, if meaning is increased and modified by complete gestures, can general aims change during the process of performing gestures? The problem concerns the subject of the ethical judgment. To respond to this question Maddalena indicates in the “rational instinct” the esthetical-ethical-logical function of the faculty of judgment at the core of the complete gesture. However he does not succeed to link the function of judgment to an ontological self, because, as he argues, the question about the ontological self “[…] goes beyond the limit of the complete gesture tool and the model of reasoning based on it” (p. 149).
With The Philosophy of Gesture Maddalena depicts an innovative epistemic tool for our everyday reasoning, opening a whole new horizon of research in various fields, from theoretical philosophy to ethics, from psychology to the social sciences.
The potentialities are really vast: think for example of the interesting application of this tool to the hypothesis about the ways in which individuals develop their “choice process” in various fields of conduct (e.g., politics, economics, laws, ethics, etc.).
There are, however, some critical comments that I hope would be productive to foster the debate about the new paradigm proposed. First of all, Maddalena refers to Dewey and Mead as the pragmatists who used the notion of gesture before him.
It is however questionable to refer to those authors for they did not use the word “gesture” in the same way Maddalena does in his book. According to Mead gestures are truncated acts representing in their original forms the first overt phases in social acts that stimulate certain response. The function of gesture is then the mutual adjustment of changing social response to changing social stimulation. On the contrary, the gesture in Maddalena’s proposal assumes a more complex function, namely that of representing a synthetic reasoning which creates new habits. What is partially common to the two different perspectives is the social function that gestures have in the changing evolution of dispositions to act at the basis of the changing of complex habits. However, in my opinion it would be better to distinguish more clearly the word “gesture” that Maddalena uses from Mead’s and Dewey’s “gesture” to avoid misunderstandings and false comparisons.
There are also some doubts that could be raised about the way in which, in the third chapter of his book, Maddalena refers to the iconic level of teridentity as the level that shows the Forms and Feelings of the synthesis of elements of thought consisting merely in the continuity of being passing from one apparition to another. One of such doubts being that to refer to representation and presentation as “aspects”, and to different aspects as two “apparitions” reintroduce in the paradigm Kantian distinction between phenomenon and noumenon. As Maddalena highlights, there is a permanence of something, “[…] a part of experience lingers while its representation evolves” (p. 66). However, in speaking about reality as something changing in aspects only, Maddalena seems to conflate the phenomenon/noumenon distinction with the substantive/transitive distinction.
The second doubt is strictly related to the first and concerns the reference to the “Forms of the synthesis” and to the analytic composition of gesture synthesis. In my opinion, in referring to such forms Maddalena revokes through singular gestures (instead of Kantian intuitions) the schema part/whole, preserving necessity within the same part/whole scheme that is at work in analytic judgments, hence referring again to analyticity. Moreover, regarding the changing of aspects, the continuity of being as “passing from one apparition to another” has to be considered as the passage from a discrete to another discrete, which is possible to define only analytically. To sum up, it seems to me that as Kant uses analytic tools to define the steps through which we arrive to a synthetic representation of reality, Maddalena uses analytic tools to expose the steps through which we recognize a synthetic reasoning. So, if the gesture is the synthetic performance of continuity, the latter can be known only a posteriori through an analytic process. Even if we accept synthetic reasoning through the tool of gesture as the core of new knowing processes, we need analyticity to re-cognize and comprehend that gesture as synthetic reasoning.
In other words, in exposing and describing the elements that compose the synthetic reasoning expressed through logical modalities and mathematical gesture Maddalena is repeating the same analytic process Kant sketched in his Critique of Pure Reason. We therefore witness a reconstruction of both the analytic/synthetic and phenomenon/noumenon distinctions as two essential parts of the experience processes.
It is possible to partially respond to these doubts by arguing that the analysis of elements composing the synthetic reasoning is always a posteriori, differently from Kant’s affirmation that analytic judgments are always a priori. And as there is no primum cognitum—as Peirce stated in the context of his criticism of intuition— we have to conclude that synthetic and analytic reasoning are two sides of the same process: namely, experience. Maddalena’s pragmatist proposal aims for the unity of experience, as it “[…] stems from experience and aims to another more general and embodied experience” (p. 67). This approach shows that gestures as “[…] the embodied way to represent or recognize identity are different from the two main representations of identity: identity as permanence of attributes and identity as dialectic” (p. 113). Moreover, Maddalena argues about the clarity of knowledge that to know “[…] something in a vague way […] is the beginning of any definition and any gesture” (p. 82). This means that our reasoning is like a “swinging pendulum”, with the extreme syntheticity of complete gesture on the one side, and the extreme analysis of formal logic on the other. Vague reasoning is “[…] an intermediate kind of reasoning through which we pass from one extreme to the other” (p. 83). However, even if in Maddalena’s view analiticity is always a posteriori, in my opinion the question remains and needs further analysis.
A last doubt concerns the problem of the nature of the subject of ethical judgment. Even though Maddalena refers to “rational instinct” as the estheticalethical- logical function of the faculty of judgment at the core of the complete gesture, the question with the ontological self is here related to that of personal identity. And even though Maddalena admits that the question “[…] goes beyond the limit of the complete gesture tool and the model of reasoning based on it” (p.
149), it remains an open question which according to me calls for an idea of the subject that cannot be considered only as function, for otherwise we fall back into the distinction between phenomenon and noumenon. I think that gesture, by being related to the way reasoning functions, can indeed offer the solution. Interpreting the final aim as reasonableness calls out the postulation of a final aim of Nature (similar to what Kant did in the Critique of the Power of Judgment) in which the subject plays a crucial part. Here a metaphysical background is called for to make the aesthetic the first normative science. However, to presuppose a metaphysical background implies also to partially define the subject legitimated to interpret a gesture as complete or incomplete and to understand the admirableness of “the ultimate aim” through a “transcendental” scheme. However, who or what can be legitimated as the final interpretant of a plausible gesture? Is it really possible to define a “normative” schema through which determine the plausibility of gesture, even a posteriori? Peirce’s and Maddalena’s referring to Summum Bonum is paradigmatic to the response they give. From their perspective any performed gesture would be seen at the end, from the “ultimate aim’s” perspective, namely the “admirable ideal” as a sign of a final cosmological order, in which human reasonableness will be totally “unfolded”. The problem to face with is, however: how can free will act as the source of singular creative synthetic reasoning in this framework? Have we to judge it only a posteriori, which is analytically? I think that a possible furthering of inquiries in the new theoretical paradigm proposed by Maddalena would need to pay attention to the nature of synthetic reflective judgment Kant tackles in his third Critique. In particular it would help to develop Peirce’s aesthetics, whose comments are brief and inconsistent (a first attempt has been made by Atkins 2008 in Cognitio). I think it would be a good starting point to reach a new definition of a broader judgment than the logical judgment, one involving the relationship of a gesture to the realm of existence, which would help to understand whether a particular complete gesture is worthwhile. Strictly related to this new way of considering judgment would be a renewed attention to the Kantian’s sensus communis, which would help thinking the distinction between synthetic and analytic in new light. Obviously, this new attention would call for a rejection of the Kantian confinement of common sense to aesthetic judgments and a broader attention to what Kant called sensus communis logicus, namely the sense affecting the judgments of the intellect. Common sense as the a priori principle of the possibility of judgment on experience in general is also closely linked to the notion of finality, which in Kant assumes the meaning of a “purpose of nature”, but could also be declined pragmatistically in the teleological perspective of synthetic gestures.
References
ATKINS, R. K. The pleasure of goodness: Peircean aesthetics in light of Kant’s Critique of the Power of Judgment. In: Cognitio: revista de filosofia. São Paulo, v. 9, n. 1, p. 13-25, 2008.
ZALAMEA, F. El continuo Peirceano. Facultad de Ciencias, Bogotà: Universidad Nacional de Colombia. 2001.
Guido Baggio – Pontifical Salesian University Roma Tre University. guidobaggio@hotmail.com
War, states, and contention: A comparative historical study – TARROW (CSS)
Sidney Tarrow. Foto: WRVO /
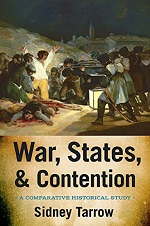 TARROW, S. War, states, and contention: A comparative historical study. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015. Resenha de: MUSHTAQ, Sabah. Canadian Social Studies, v.48, n.2, p., 2016.
TARROW, S. War, states, and contention: A comparative historical study. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015. Resenha de: MUSHTAQ, Sabah. Canadian Social Studies, v.48, n.2, p., 2016.
Sidney Tarrow is Maxwell Upson Emeritus Professor of Government and Visiting Professor of Law at Cornell University. He is the writer of numerous books, including The Language of Contention: Revolutions in Words, 1688–2012 and Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics. His book, War, States and Contention. A Comparative Historical Study, is a splendid and ground-breaking contribution to the comprehension of how war and states converge with contentious political issues.
Through a double accentuation on the structural foundations of war and dispute, from one perspective, and actor mobilization and repertories of contentious political issues from the other perspective, Sidney Tarrow addresses issues that lie at the heart of contemporary investigation on the restructuring of the state and on the obscuring of territories between internal and external politics. Beginning from the famous contention progressed by Charles Tilly that “states make war, war also makes states,” the book adds contentious politics to the equation. This adjunction provides further understandings of the relationship between states and war; contentious politics clarifies why and how states participate in wars, and the impacts of war on states. But the book additionally reveals insight into a second, less known equation of Tilly’s, which builds up a relationship between war and natives’ rights. Tarrow talks about how war prompts the employment of emergency measures that lessen rights, regardless of whether they are reinstated later. In other words, when a state rolls out war this involves changes in: the nature of internal contentious politics, the state’s reactions to conflict, and in state organization.
Tarrow examines these issues through a comparative historical study that uncovers how current structural changes in states, fighting, and types of contentious politics alter what we might see in the time of Western state-building. Drawing on these mechanisms connected to the formation and union of Western European states, Tarrow acknowledges two pivotal upturns. On the one hand, it puts contention between war and the state, considering both opposition from within national boundaries and from outside. Through this, he also studies the various forms through which domestic and international conflict stand in relation to each other. On the other hand, Tarrow updates these issues to the present in the analysis of the U.S. state and the War on Terror. He reveals how structural changes linked to globalisation and internationalisation alter the relationships between states, warfare, and forms of contention.
The author’s argument is built around a triptych—war, state, and contention—and bridges the gap between social movement studies, comparative historical sociology studies, and international relations. The relevance of this approach relies not only on placing three usually separate strands of literature in dialogue with one another, but also on the major results that the book offers. Powerful hypotheses for further research are provided. The present discussion engages with the book’s arguments on three intertwined topics, which constitute some of its major results: the relation between war and citizens’ rights; the transformation of the territoriality of war, states and contention; and the relation between war and the state. The inclusion of contention between war and rights reveals itself to be crucial for clarifying the relationship between the two. This is needed given that the issue seems not entirely solved by the historical sociology of the state, and is almost left unaddressed by research on contemporary wars and social movements. In this respect, one of the most striking results of the book is to reveal at what point the modern state is characterised by periods of restriction of citizens’ rights in wartime. In Tilly’s argument about war, states and rights, the relation between the three elements has a positive effect on rights. Because he looks at contentious politics, Tarrow demonstrates that the shrinkage of rights in times of war is a recurrent and understudied feature of the state as a specific political system. The advent of this “emergency script” is unveiled through a detailed historical account.
Chapters about U.S. politics after 9/11 shed light on a major transformation related to the use of legal instruments to modify the limits of the legally accepted boundaries of states’ interventions on bodies and limitations of individual liberties. The “rule by law” argument provides key understandings of how liberal democracies combine their foundational creeds with increasingly illiberal policies. Instead of despotic emergency rule, what is observed is a creeper process. Formally and procedurally, the U.S. state did not roll back liberal constitutionalism; however, in its content, the latter has been partially reshaped by the transformation of legally accepted boundaries on crucial issues such as the right to a fair trial or to individual integrity. In addition, both the increasing duration of wars and the undefined boundaries between times of war and peace have created a new hybrid status that seems to facilitate the perpetuation of these measures. By showing how the U.S. state deals with composite and long wars, and analyzing the interplay between contention, war, and states’ activities, Tarrow provides a critical contribution for the study of the blurred boundaries between domestic and international politics. The study of how international movements engage with states and vice versa sheds light on a major restructuring of the spatial dimension of power, while Tarrow also points out recurrent mechanisms of diffusion from policies for war to civilian policies.
In his book, Tarrow provides a stimulating perspective on the restructuring of state territoriality and its effects. In doing so, he echoes the questions raised by scholars who start from the idea that territoriality—bounded political authority—is a fundamental principle of modern political systems, and are interested in current processes of unbundling territoriality.
Sidney Tarrow’s investigation gives valuable insight in to the notion new territorialities in politics, and could engage more straightforwardly with these writers and with his own particular past contributions on these issues. Indeed, Tarrow has two fundamental arguments to make in this regard. This first is that he draws on the state-building literature, he indicates how the territorial restructuring of both war and contention influences the state, whose organization is as a matter of first importance territorial. Along these lines, Tarrow puts war back into the examination of state territorial restructuring. While most research sheds light on economics as a main thrust, contentious politics and composite wars additionally involve new types of state intervention and institutional arrangements. The second argument of Tarrow is that the unbundling of political power and rights are mutually related. The historical backdrop of the state and rights is a matter of territorial infiltration, confinement within boundaries, and the definition of the criteria that consider the privileges of political and social rights. A third set of comments highlights war and the transformation of the state in terms of power and bureaucracy. The preparation for war and the state of war opens up new opportunities for state authority in terms of the repression of opponents, as well as for the strengthening of both tax and repressive apparatus.
Tarrow’s main consequence for the U.S. state in relation to these issues is fascinating.
Indeed, there is an expansion of the structure of government; for example, the scope of the FBI and the Pentagon, as well as the multiplication of new agencies and joint-government organisations. Both the scope and the size of the U.S. state have expanded, despite a strong anti-state tradition. In the War on Terror, the contradiction between the expansion of the national security state and the anti-state movement has been somewhat resolved through increased outsourcing to private firms for the delivery of military and intelligence services.
This form of “government though contracts” allows for the preservation of existing budgets in the security sector, while increasing side-expenditure which is more difficult to track and control. The quick and poorly coordinated multiplication of contracts has created a much more intrusive U.S. state, but also a state more vulnerable to penetration from civil society and to regulatory capturing from firms. The writer conceptualizes this transformation of state power through Michael Mann’s distinction: there is in this manner a double extension of both the hierarchical and the infrastructural force of the U.S. state in connection to the War on Terror. This point, which is significant to the argument, is to a great degree stimulating.
Sabah Mushtaq – History Department. Quaid-i- azam University Islamabad, Pakistan sabahshah82@gmail.com.
[IF]Ensino médio integrado: travessias – SILVA (RHH)
Monica Ribeiro da Silva é doutora em Educação pela PUC-SP e professora na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Tem vasta produção sobre a Educação Profissional e 14 livros publicados como autora ou organizadora, em sua maioria, com temas sobre o ensino médio integrado, a Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e Currículo.
O livro resenhado inicia com uma excelente apresentação que informa o leitor sobre as temáticas abordadas nos seus oito capítulos. Toda a discussão gira em torno do Decreto nº 5.154/04,1 e o objetivo geral do livro é compreender o processo de institucionalização e implementação do ensino médio integrado. Leia Mais
Teoria da História: uma teoria da história como ciência – RÜSEN (RHH)
Importante autor na área da teoria da história e da didática histórica, Jörn Rüsen, professor emérito da Universidade de Witten/Herdecke na Alemanha, procura, neste livro, retomar e somar novas perspectivas e reflexões à teoria da história estabelecida em sua obra, especialmente na trilogia publicada no Brasil com os títulos Razão histórica (2001), Reconstrução do passado (2007) e História viva (2007). Segundo Rüsen, a história é parte do cotidiano social e individual, em sua formatação tanto científica quanto não científica. Procurar alguma realização por meio do pensamento histórico é um esforço antropológico, uma constante humana – o saber histórico auxilia na relação com as dimensões do tempo, buscando explicar, compreender e planejar. Os seres humanos vivem no tempo e o pensamento histórico se relaciona com a administração da experiência temporal: sempre há carências de orientação. A partir destas noções o autor procura fundamentar e articular a importância do conhecimento histórico científico, especializado e profissional, na perspectiva existencial do ser humano frente a outros saberes, históricos ou não. Leia Mais
Para que(m) se avalia? Livros Didáticos e Avaliações (Brasil, Chile, Espanha, Japão, México e Portugal) – OLIVEIRA; COSTA (RHH)
O livro didático é um instrumento importante na “transposição didática” dos saberes de referência, tornando-se um dos principais recursos utilizados por professores e alunos nas salas de aula. Inúmeros pesquisadores têm se debruçado sobre esse objeto cultural, reconhecendo a sua centralidade no processo de ensino-aprendizagem. Nas últimas décadas, com a renovação do Ensino de História ampliaram-se as perspectivas da análise do livro didático. As pesquisas mais recentes, ainda que se dediquem à análise dos conteúdos, buscam investigar os múltiplos agentes que interferem no processo de produção dos livros didáticos; as políticas públicas; a relação entre historiografia e a historiografia didática; a conexão entre textos e imagens; o papel das atividades; os usos e apropriações que alunos e professores fazem dos livros no seu cotidiano (Rocha, 2009; Caimi, 2009; Miranda; Luca, 2004).
O livro Para que(m) se avalia? Livros Didáticos e Avaliações (Brasil, Chile, Espanha, Japão, México e Portugal) organizado por Margarida Maria Dias de Oliveira e Aryana Costa, insere-se nesse lugar de renovação das pesquisas sobre o livro didático. A obra composta por seis capítulos é dedicada às políticas de avaliação dos livros didáticos em diferentes países. Um dos méritos do livro é a possibilidade de conhecermos outros processos de avaliação e, por comparação, observar as semelhanças e diferenças entre as políticas públicas brasileiras e as dos demais países, favorecendo a visualização da qualidade e complexidade do nosso modelo avaliativo. Leia Mais
Aprender del cine: narrativa y didáctica – ALVES et al (RHH)
ALVES, Luís Alberto; GARCÍA GARCÍA, Francisco; ALVES, Pedro (Coord.). Aprender del cine: narrativa y didáctica. Madrid: Icono14 Editorial; Porto: CITCEM, 2014. 232p. * Resenha de: LIMA, Rui Guimarães. A didática do cinema nos processos de ensino-aprendizagem: teoria e práxis educativa. Revista História Hoje, v. 5, nº 9, p. 249-251 – 2016.
Publicada com a chancela editorial da associação científica “Icono14”, na sua coleção Estudios de Narrativa, em coedição com a Unidade de Investigação CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto), a obra Aprender del cine: narrativa y didáctica reúne um importante conjunto de estudos académicos assinados por conceituados especialistas dos dois países ibéricos, orbitando em torno de temas como a produção e narrativa cinematográficas, a receção fílmica, a sua pragmática e o estudo da sua aplicação em contextos educacionais, consubstanciando-se num relevante labor teórico e empírico, de caráter transdisciplinar, ao delimitar o seu objeto de estudo e perspetivar ainda futuras linhas de investigação e desenvolvimento.
Deste modo, podemos dividir em três partes o livro em análise. A primeira das quais, a qual designaremos das questões introdutórias, contém, além da “Nota de abertura” deste que é considerado, por Pedro Alves, como “o primeiro resultado impresso de um projeto internacional … que visa explorar teórica e empiricamente o potencial narrativo e fílmico no âmbito de contextos educativos” (p.11), um resumo biográfico dos nove autores que assinam os seus diversos capítulos. Na segunda parte, a obra desenvolve-se ao longo de seis capítulos nucleares, dois dos quais, nomeadamente os da autoria de Francisco García García (“El cine como ágora: saber y compartir las imágenes de um relato fílmico”) e de Mario Rajas (“Estrategias del discurso narrativo: participación activa del espectador en el relato cinematográfico”), centrando a sua análise a nível da produção cinematográfica, da sua linguagem específica e dos seus respetivos impactos; paralelamente, o texto deste último autor, juntamente com o capítulo redigido por Pedro Alves (“Pragmática del espectador en las narrativas fílmicas”), abordam, sob um ponto de vista teórico, as problemáticas associadas à receção cinematográfica do espetador; e ainda outros três capítulos, respetivamente da autoria de Pérez García e Muñoz Ruíz (“Análisis didáctico de narrativa audiovisual”), de Cláudia Ribeiro e Luís Alberto Alves (“Uso do Cinema na didática da História”), e de Tiago Reigada (“Relato de uma experiencia didática com o Cinema”) que, num prisma teórico-empírico e versando especificamente a disciplina de História, ilustram um rol de experiências de aplicação pedagógico-didática do cinema, bem como a sua origem e evolução histórica ao longo do século XX, designadamente em Portugal.
Por fim, a terceira e última parte da publicação, que apelidaremos de reflexões conclusivas, é constituída pelas “Notas conclusivas”, da responsabilidade de João Teixeira Lopes, proporcionando-nos um peculiar enfoque tendo por base a sociologia da arte, bem como pela “Contextualização histórica e prospetiva do projeto” que, integrado num programa de investigação internacional e considerando o cinema como um poderoso recurso ou ferramenta didática, incide sobre as potencialidades e as orientações relativas à sua utilização pedagógica em contexto de sala de aula, projeto científico esse que foi catapultado e tem vindo a ser dinamizado e implementado, em Portugal, pela Unidade de Investigação CITCEM, em parceria com a supracitada Associação Científica “Icono14”, com sede na capital espanhola.
Efetivamente, culminando na sua forma impressa um projeto já iniciado em 2012, então com a designação de “Cinema, Didática e Cultura”, esta publicação, ainda de acordo com Pedro Alves, um dos coordenadores desta edição, surge na sequência lógica da dinamização e produção de “vários seminários de reflexão … artigos científicos e teses de doutoramento centradas no objeto de estudo” (Alves, 2015, p.11). Em boa verdade, e sob um ponto de vista estritamente teórico, as referências bibliográficas elencadas no labor dos investigadores que participaram na produção deste livro acaba por constituir-se numa compilação extremamente atual do “estado da arte” neste campo de pesquisa, patenteando-se, numa apropriação da terminologia da “sétima arte”, como um autêntico “plano de pormenor” para a comunidade científica, para o público especializado ou para todos aqueles que nutrem particular interesse nas temáticas nele aportadas.
Portanto, e numa constante ao longo dos diversos capítulos da obra, os autores procedem à articulação teórico-prática do cinema como recurso didático, quer seja com base numa problematização de cariz mais teórico (Cf. García; Ruíz), quer seja através do debate histórico (Cf. Ribeiro; Alves) ou ainda da discussão com um cunho mais pragmático (por exemplo, através da descrição sumária de um estudo de caso, no âmbito da disciplina de História; Cf. Reigada).
Por conseguinte, a pesquisa e a investigação científica de variáveis que se correlacionem com a introdução, exploração e maximização da “sétima arte” em contextos educativos e enquanto recurso pedagógico-didático é, nos nossos dias, tanto mais premente quanto mais abundante é a proliferação da produção cinematográfica.
Em última análise, e como muito apropriadamente assinala outro dos coordenadores editoriais desta publicação, Luís Alberto Alves (2015, p.227), O desiderato é transformar o distanciamento que essa gramática e vocabulário próprios podem criar, num processo de aproximação gradual, sistemático, informado, didático, possível quando os ‘especialistas’ estão conscientes da realidade e quando o simples passatempo se pode transformar num verdadeiro espaço de aprendizagem.
Por fim, digno de registo é ainda o facto de esta publicação representar inequivocamente um marco na “luta contra o estigma da marginalização das investigações no domínio das ciências humanas e sociais, constituindo, por isso, uma prova evidente do ‘espirito de sobrevivência’ da vontade de investigar, contra os muros de natureza financeira que são erguidos de forma (in) esperada” (Alves, 2015, p.13).
Concluindo, e como brilhantemente sintetiza Pereira (2015, p.450), Fragmentos de investigações doutorais em conclusão ou repositórios de longas experiências de investigação académica sobre o tema, consoante os respectivos autores, cada artigo constitui um campo denso de problematização que, como em qualquer programa científico, desdobra cada resposta que encontra num novo nicho de perguntas e questões que se ergue.
Rui Guimarães Lima – Doutor em Ciências da Educação. Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM). Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Porto, Portugal. rglima@letras.up.pt.
A escravidão no Brasil | Jaime Pinsky
Diversos são os trabalhos que abordam a escravidão imposta aos africanos no Brasil. Tal temática tem sido objeto de estudo tanto dos historiadores como também dos profissionais vinculados a outras áreas como, por exemplo, Sociólogos, Antropólogos e estudiosos de disciplinas afins que, por sua vez, se debruçaram e estão debruçando-se sobre o referido assunto. Com o intuito de trazer uma nova contribuição para o estudo relacionado à escravidão africana no país tropical foi lançada, em 2011, pela editora contexto, a 21ª edição da obra, “A Escravidão no Brasil”, de Jaime Pinsky.
Doutor e livre-docente pela USP e professor titular da UNICAMP, Pinsky revisou a obra em análise e, após sucessivas edições e os mais de cinquenta mil exemplares vendidos, relançou-a incluindo os recentes resultados inerentes às pesquisas feitas sobre o assunto. Além do prefácio à nova edição, o livro é composto por quatro capítulos os quais recebem as seguintes denominações: Ser escravo; O escravo indígena; O escravo negro e Vida de escravo. Sendo que, ao final da obra, o autor oferece algumas sugestões de leituras inerentes ao tema. Leia Mais
Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea | André L. Resente
“Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea” é a obra do economista neoclássico André Lara Rezende, publicada em 2015 pela editora Companhia das Letras. O filho do escritor Otto Lara Rezende participou da elaboração do Plano Real, foi presidente do BNDES no governo FHC e fez parte da última campanha de Marina Silva à presidência da República. O livro dispõe de uma coletânea de trabalhos selecionados ao longo dos últimos anos distribuído em três capítulos, tendo como eixo central a desvalorização da política e a necessidade de repensar o Estado em prol da revalorização da vida pública. Entrelaçada com esta questão o leitor encontra uma aguda discussão sobre o crescimento econômico enquanto elemento associativo ao bem-estar social.
Para o autor o Estado precisa urgentemente caminhar devagar e (re) pensar os seus ápices de crescimento acelerado, porque talvez a simplicidade de dar um passo de cada vez possibilite o caminho mais seguro para uma sociedade cujo bem-estar seja ao menos vislumbrado para todos. Dentro deste escopo indica ainda a necessidade de usarmos da lógica cartesiana, não para sabermos o que é real, mas por meio da experimentação racional descobrirmos o que é falso: que o avanço científico aliado a um crescimento econômico acelerado não se apresenta como o único caminho para o bem-estar da civilização. Leia Mais
Do outro lado: A história do sobrenatural e do espiritismo | Mary Del Priore
Sobre a autora
Mary Del Priore é ex-professora de história da USP e da PUC/RJ, pós-doutora na École dês Hautes Études em Sciences Sociales, de Paris. Possui mais de 40 livros publicados e é vencedora de vários prêmios literários nacionais e internacionais, como Jabuti, Casa Grande e Senzala, APCA e Ars Latina, entre outros. É sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, do P.E.N. Club do Brasil, da Real Academia de La Historia de Espanha e da Academia Portuguesa da História. Atualmente, leciona na pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro.
Resenha
Mary Del Priore em seu livro Do outro lado: A história do sobrenatural e do espiritismo nos faz mergulhar na história do sobrenatural nas sociedades, nos incita a pensar como as pessoas no decorrer de vários séculos encaravam a morte. A autora destaca, a influência do espiritual na vida das pessoas, desde o nascimento até a morte, e as transformações na forma das pessoas encaram o mundo. Leia Mais
Golpe midiático-civil-militar | Juremir Machado da Silva
O ano de 2014 foi marcado por uma efeméride: os cinquenta anos do golpe que depôs o presidente João Goulart. O simbolismo da data foi responsável por uma série de eventos e publicações que debateram e refletiram a história recente do Brasil. Paralelamente aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, criada para apurar crimes contra os Direitos Humanos no Brasil, em um lapso temporal que perpassava a Ditadura Militar, muitos outros foram produzidos para refletir o período. Entre as obras que vieram à lume está “1964: Golpe midiático-civil-militar”, de Juremir Machado da Silva, que, em menos de um ano, está na sua quinta edição.
Formado em jornalismo e história pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com mestrado e doutorado em sociologia da cultura pela Universidade René Descartes, em Paris, Juremir Machado da Silva tem uma produção de caráter interdisciplinar e alguns trabalhos caracteristicamente na área da História, como “Jango, vida e morte no exílio”, publicado em 2013. Em sua mais recente pesquisa o autor se propõe analisar o papel da mídia, mais particularmente o papel da imprensa, no contexto do 31 de março de 1964. Trata-se de uma obra que, ao analisar a atuação da mídia no golpe militar, abre uma seara de oportunidades para que novos estudos possam se debruçar sobre o tema. Leia Mais
A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964 | Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti e Rodrigo Patto Sá Motta
A obra A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964 traz uma compilação de artigos escritos por profissionais de diversas áreas do conhecimento, tais como História, Sociologia, Economia, Ciência Política e Relações Internacionais, a respeito da ditadura civil-militar (1964 a 1985). Seu lançamento ocorreu em 2014, há exatos cinquenta anos do golpe militar acorrido em 1964. O ano de 2014 foi marcado por inúmeros eventos organizados por universidades e outras instituições em que se buscou refletir sobre o período do regime militar no Brasil e seus impactos na formação da moderna sociedade brasileira, em termos políticos, culturais, econômicos e sociais2.
Em meio a todo esse contexto de debate e reflexão sobre a ditadura civil-militar foram publicados vários trabalhos sobre o tema, entre eles, a obra do jornalista Carlos Chagas, A ditadura militar e os golpes dentro do golpe: 1964-19693 e a coletânea de artigos Ditadura: o que resta da transição, organizada pelo sociólogo Milton Pinheiro4. Leia Mais
Medo, reverência, terror: Quatro ensaios de iconografia política – GINZBURG (FH)
GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: Quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: LINO, Raphael Cesar. Faces da História, Assis, v.3, n.1, p.211-215, jan./jun., 2016.
O historiador italiano Carlo Ginzburg, nascido no ano de 1939, em Turim, é uma referência indispensável dentro dos estudos de história cultural e reconhecido por seus trabalhos sobre crenças populares, heresias e processos inquisitoriais, sendo muitas vezes associado ao surgimento da micro-história, especialmente devido à publicação do livro O queijo e os vermes (1976) e por sua participação na coleção Microstorie, publicada na Itália entre os anos de 1981 e 1993. No entanto, sua produção é bastante eclética no que tange à sua autoria sobre muitas reflexões teóricas e metodológicas, além de trabalhos relacionados à História da Arte.
A obra aqui apresentada, Medo, reverência, terror: quatro ensaios de iconografia política (2014) traz a marca de uma das principais características da produção intelectual de Ginzburg: ser um historiador da inovação, da experimentação. Seu estilo de pesquisa e escrita foi o que Henrique Lima conceituou como método de “deslocamento”, que consiste na transferência de questionamentos e ferramentas de um lugar ao outro, “filologia textual aplicada a textos não literários, problemas de História Social aplicados à História da Arte, análise iconológica recolocada diante dos mitos, morfologia empregada para análise de materiais históricos” (LIMA, 2006, p. 281).
O livro é composto de quatro capítulos independentes, que, em conjunto, se preocupam em evidenciar a conexão entre a produção iconográfica e a política, o que tampouco quer dizer que uma responderia à outra mecanicamente. O destaque para este trabalho é justamente evitar este tipo de relação causal. A análise é construída a partir do estudo das trajetórias individuais, das redes de relações pessoais, bem como do conjunto de referências e escolhas que se constituem e precedem as iconografias.
O primeiro capítulo, Medo, reverência, terror: reler Hobbes hoje, consiste em uma análise de Thomas Hobbes, partindo do livro O Leviatã e sua ilustração mais conhecida2.
Na interpretação de Ginzburg, o pensamento hobbesiano se baseia na constatação de que o medo, juntamente com a sujeição, legitimado pela religião cristã, são os fatoreschave para a formação do Estado. O desenvolvimento dessa afirmação é uma busca na trajetória intelectual e nas vivências pessoais de Hobbes.
Dessa forma, as obras De Cive e, posteriormente, O Leviatã, não buscam somente esboçar uma teoria política, são também resultado da experiência vivenciada em seu contexto histórico. Ao mesmo tempo em que assistia a disputa entre o rei e o parlamento Inglês, Hobbes se exilou na França, em meados do século XVII, após o início da Revolução Inglesa e foi nessa época em que realizou uma tradução de A guerra do Peloponeso de Tucídides.
Em uma das passagens deste trabalho, Hobbes concluiu que o medo dos deuses guiava as leis e os limites da sociedade grega. Com a proliferação da peste em Atenas este medo perdera seu sentido e, desse modo, também toda a coesão social. Na sociedade ocidental, o medo de seu semelhante obriga os homens a cederem seus direitos naturais ao monarca3. A ênfase no medo é colocada em evidência por Ginzburg por um desvio de Hobbes em sua tradução de Tucídides: apeirgein (em grego) “manter sob controle” é transformado em to awe (em inglês) – “amedrontar”.
Ao desenvolver esta teoria, Hobbes realizava uma variação de vocabulário, o que quer dizer que suas leituras foram readaptadas, palavras foram traduzidas com um sentido distinto daquele que teriam em outros idiomas, fato que, para Ginzburg, não tem outra explicação senão o de transformar o medo em algo útil. Hobbes faz dele a própria base do Estado.
Ginzburg finaliza o capítulo estabelecendo uma relação com a geopolítica atual, em que as disputas entre os Estados se assemelham ao estado natural do homem, e, na busca pela hegemonia, medo e terror são duas armas utilizadas amplamente nessa disputa, com objetivos hobbesianos como a submissão e renúncia às liberdades individuais, criando um mundo cada vez mais globalmente controlado.
O segundo capítulo, David, Marat: Arte, política, religião, trata sobre uma análise do quadro Marat em seu último suspiro, do pintor francês Jacques-Louis David (1793).
Não é uma descrição feita a partir do ponto de vista artístico, mas das correspondências políticas com as quais a obra dialoga, pois foi elaborada em um momento decisivo da república proclamada na Revolução Francesa.
Como sabemos, a Revolução foi uma tentativa de ruptura com o Antigo Regime, contra a monarquia e contra o cristianismo. A ruptura com a primeira foi decidida na guilhotina, no caso da religião foram elaborados um conjunto de novos símbolos “republicanos” para substituí-la.
Marat, assassinado e retratado, foi visto como um mártir da República, mas permeado por elementos da tradição cristã. Por exemplo, seus objetos de trabalho, que foram expostos como relíquias sagradas, assim como disputa pela posse de seu coração, retirado de seu corpo antes de ser sepultado, criaram um verdadeiro culto a Marat. Este descompasso entre as intenções e as ações foi comentado por Ginzburg: “Marat falava numa língua clássica, mas com sotaque cristão” (GINZBURG, 2014, p. 44).
David teve uma carreira política dentro da revolução, fora deputado, secretário e depois presidente da Convenção. Ao mesmo tempo, sua carreira artística foi impulsionada, tornando-se uma espécie de cenógrafo político. Seu quadro em homenagem a Marat foi um ato político e com responsabilidades políticas. Obra esta que acabou considerada como marginal no decorrer dos acontecimentos na França naqueles anos, e que, mesmo anos depois da morte de David (1825), continuou vista como fruto dos excessos do Terror.
Ginzburg procura desvendar a história do quadro pelo conjunto de influências artísticas que David acumulara em sua formação e em sua vida. Uma obra anterior a Marat teria semelhanças inegáveis com o quadro francês, Stanislas Kostka, de Pierre Legros (sem data). David a teria conhecido durante seus anos de formação artística, em Roma (entre 1775 e 1778). Stanislas teria elementos indiscutivelmente similares a Marat, a posição do corpo, as mãos, o sorriso dado na hora da morte.
Além desta constatação, entretecem tradições no quadro de David: a clássica greco-romana e a cristã. Esta escolha para representar um mártir republicano seria inconciliável com o ideal de república, o cristianismo era considerado propício à tirania.
A derrubada da monarquia, sustentada pelo direito divino, necessitava de legitimidade e invadia a esfera do sagrado, até então monopolizado pela religião.
Finalizando esta passagem, do mesmo modo que a religião se apropriava dos mais variados elementos para se transformar e assim sobreviver, a arte também se apropriava de outros elementos, mas com o objetivo de criar algo oposto. Marat ilustrava essa tendência.
No terceiro capítulo, Seu país precisa de você: Um estudo de caso em iconografia política, Ginzburg se utiliza do conceito do historiador alemão Aby Warburg, “fórmulas de emoções” (Pathosformeln, em alemão), para pensar a iconografia, cujo foco é a representação de um olhar que cria a impressão de acompanhar o espectador a partir de qualquer ângulo.
O ponto de partida deste capítulo é o cartaz inglês de recrutamento feito durante a Primeira Guerra Mundial, que trazia o General Lord Kitchener estampado, com seu bigode espesso e que, apontando imperativamente com sua mão direita, convocava os jovens a se alistarem como voluntários no exército. Expectadores contemporâneos ao cartaz dão uma percepção sobre como se sentiam observados: “de qualquer ângulo que se observassem, os olhos se encontravam aos do espectador e nunca o deixavam” (DAVRAY, H.D. 1962, p. 55 apud GINZBURG, 2014, p. 77).
Ginzburg traça uma digressão histórica, remontando alguns comentários artísticos sobre a representação de rostos, como, por exemplo, Alexandre, o Grande, ou os santos na Idade Média. O chamado de Kitchener seria uma versão atualizada e contextualizada do gesto de Jesus nas pinturas medievais, cujo efeito do olhar se baseia na mesma técnica de representação, fazendo um chamado religioso. No cartaz inglês, o chamado seria às armas, evocando autoridade e submissão. Ademais, o cartaz de recrutamento é fortalecido pela linguagem publicitária, difundindo numericamente o chamado de general aos ingleses.
Biógrafos do general associam sua imagem ao Grande Irmão de George Orwell (1949). Tal referência não é despropositada, pois a descrição de Orwell sobre a imagem do Grande Irmão traz uma frase próxima à descrição do referido cartaz: “o grande irmão está de olho em você” (ORWELL, 2009, p.11-12). Como sempre, atento à trajetória biográfica de seus interlocutores, Ginzburg associa à descrição de Orwell a uma possível lembrança de sua infância na Inglaterra, para onde se mudara em 1907. George Orwell publicara aos 11 anos um primeiro poema em um jornal fazendo apelo ao chamado de Kitchener.
Da descrição do quadro de Alexandre, o Grande (montado em um cavalo e segurando um raio – de Zeus) ao Grande Irmão de George Orwell, a imagem como elemento de interferência na realidade e na percepção das pessoas ressurge historicamente.
O último capítulo, A espada e a lâmpada, é uma leitura de Guernica, de Pablo Picasso, elaborada e exibida em 1937 em uma exposição em Paris. Nesta ocasião, a exposição era dominada pela apresentação de obras de arte dos países totalitários, Alemanha, Itália e URSS, marcados pela utilização de elementos clássicos e neoclássicos em suas composições. A arte moderna seria uma contraposição aos regimes totalitários, o que fez da exposição uma arena ideológica.
Guernica era um manifesto contra Franco que na época, liderando o exército insurgente contra a recente república espanhola, com ajuda da Alemanha, bombardeou a cidade espanhola de Guernica. O grande número de fotografias e anotações existentes, feitos durante a pintura, a tornam a mais bem documentada obra de arte do mundo ocidental.
Inicialmente, Picasso escolhera como tema “o pintor e seu modelo”, mas após a notícia sobre o bombardeio de Guernica o artista alterou seu projeto. Os esboços iniciais realizados para a pintura do quadro mostram que quase não houve alterações do primeiro desenho feito por Picasso. Quase. Este quase é enfatizado por Ginzburg, que parte dele para as próximas considerações e pelo estudo dos esboços reconstitui seu desenvolvimento até chegar à obra final. Guernica é analisada segundo uma trajetória evolutiva das opções artísticas do pintor, variando de elementos clássicos a modernos, que se mesclaram na versão final. Processo que envolveu incertezas, explorações e escolhas.
Pela leitura de trabalhos que comentam Picasso, Ginzburg coloca em destaque um comentário pouco conhecido de Marcel Proust, que olhava atentamente as trocas artísticas de Picasso com o francês Cocteau. Havia referências aos gregos nessa relação e que apareciam em alguns esboços iniciais do quadro.
Enquanto os Estados totalitários detinham nas mãos a arte que se utilizava de antigos mitos clássicos em suas composições, Picasso transmutava esses mitos pela sua estética artística, cuja origem seria o irracionalismo que, ao mesmo tempo, distorcia a realidade e permitia novos olhares sobre ela. O mito presente na arte deveria ser retirado do Fascismo e este foi o grande triunfo do pintor espanhol.
Os esboços que anteciparam a elaboração de Guernica permitem entrar no estúdio-laboratório de Picasso. Seguindo suas intuições ao estilo de Morelli, Ginzburg retraça os caminhos da arte neoclássica que se desenvolveu no mundo cristão e ocidental e, por meio de semelhanças e repetições encontra uma série de relações entre diversos pintores: a posição dos corpos, distribuição da imagem e referências a símbolos mitológicos, reconhecendo “citações” de outros artistas em diversas pinturas (GINZBURG, 1989).
Os temas clássicos se repetem na história, como, por exemplo, a representação da morte de Caio Graco (reformador romano), pintada no século XVIII em homenagem a um jacobino guilhotinado por tentar derrubar o Diretório, pintado por Topino-Lebrun (também guilhotinado posteriormente em 1800).
Essa descrição entra como hipótese, mas não conclusiva, das possíveis influências que Picasso teria ao pintar Guernica, especialmente pela presença de Picasso em Paris em 1912 em companhia de Georges Braque. O quadro Estúdio com cabeça de gesso seria a antecipação de Guernica que combinava o cubismo com referências da Antiguidade Clássica.
Guernica foi uma obra de resistência ao fascismo, e, dentro do plano ideológico estabelecido na arena da exposição, marcou bem sua posição, não se sujeitando as inclinações dos países totalitários. O fascismo deveria ser derrotado na esfera das artes, o que remete à Guernica e à arte moderna.
Concluindo esta pequena apresentação do livro, vemos que a relação entre iconografia e política é pensada por diferentes dimensões, centrada na trajetória individual de cada uma, de sua autoria aos seus interlocutores. Estas interlocuções também estão em consonância com a própria marca de Carlo Ginzburg, cuja formação intelectual o faz um historiador capaz de intensos diálogos com diferentes disciplinas.
Medo, reverência, terror é mais um resultado desta característica, que o torna um importante ícone na história da historiografia, especialmente para temas culturais.
Notas
2. A primeira imagem ilustrativa d’O Leviatã foi uma homenagem ao rei Carlos II (GINZBURG, 2014, p.26).
3. O estado natural para Hobbes seria a “luta de todos contra todos”: Bellum omnium contra omnes (GINZBURG, 2014, p. 14).
Referências
GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: Quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
______. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas, sinais – morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana: Escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
Raphael Cesar Lino – 1. Mestrando em História – Programa de Pós-graduação em História – Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP – Univ. Estadual Paulista, Campus de Assis – Av. Dom Antonio, 2100, CEP: 19806-900, Assis, São Paulo – Brasil. Bolsista CNPq. E-mail: rph_lino@yahoo.com.br.
[IF]Lugares para a história – FARGE (RHR)
FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Resenha de: ESTACHESKI, Dulceli de Loures Tonet. Relações de gênero nos lugares para a história. Revista de História Regional n.21 v.2, p.735-739, 2016.
Uma das características dos estudos de gênero é a pluralidade teórica, metodológica e temática. São diversas possibilidades reflexivas que refletem a própria essência de tais estudos, que visam não apenas produções acadêmicas consistentes, mas principalmente, objetivam reflexões que possibilitem transformações nas práticas sociais. O intuito é a construção de um mundo mais justo que, como os estudos de gênero, valorize a diversidade. Teorias e metodologias diversas para pensar práticas diversas de pessoas diversas, essa é a essência.
Arlette Farge é uma historiadora francesa que se dedica aos estudos do século XVIII. No Brasil temos duas de suas importantes obras publicadas, o primeiro, ‘O sabor do arquivo’, de 20091 é uma escrita quase poética sobre a pesquisa arquivística. Trata do contato com o documento, do encantamento pela descoberta na pesquisa histórica que utiliza como fontes os documentos judiciais. Pessoas, queixas, delinquência, vigilância, controle, narrativas, são elementos que constituem tais documentos e revelam histórias, costumes, o cotidiano de pessoas que não queriam suas vidas expostas de tal forma, mas que por terem sido assim documentadas, ajudam a pensar sobre as relações de poder. Os arquivos judiciários expressam os ajustes e os impasses nas relações do sujeito com seu grupo social e com os poderes estabelecidos. E quando pensamos em relações de poder, pensamos em gênero, que “é um primeiro modo de dar significado”2 a elas e, mesmo que a autora não cite especificamente o termo, ela salienta que as mulheres são encontradas nesses arquivos que, para ela, desvendam também “o funcionamento do confronto do masculino e do feminino”3. A segunda obra, mais recente, publicada em 2015, é ‘Lugares para a História’4 e novamente ela não escreve especificamente sobre gênero, mas então, como sua obra pode ser importante para as pesquisas na área? Afinal, de que ela trata? Em sua introdução Farge ressalta que a historiografia precisa ocupar-se de escritas que interessem à comunidade social e que confrontem o passado e o presente. Quando pesquisamos as relações hierárquicas de gênero por uma perspectiva histórica, é isso que fazemos, é o que queremos, confrontar o passado, as formas como foram constituídas essas relações para melhor argumentar em nossas problematizações em relação ao presente. As questões de gênero são essenciais para a comunidade social e por isso devem ser escritas, lidas e refletidas.
Em sete capítulos a autora apresenta o que chama de ‘lugares para história’, que são situações que encontram eco na atualidade, como o sofrimento, a violência e a guerra, ou que consideram sujeitos e experiências singulares, como a fala, o acontecimento, a opinião e a diferença dos sexos. Para ela Esses dois conjuntos se religam pela presença hoje de configurações sociais violentas e sofridas, e de dificuldades sociais que desqualificam o conjunto das relações entre o um e o coletivo, entre o homem e a mulher, o ser singular e sua – ou suas – comunidade social, entre o separado e sua história.5 No primeiro capítulo, ‘Do sofrimento’, Farge questiona se a historiografia pode dar conta do sofrimento humano. O sofrer pode ser um tema para a história ou o sofrimento um lugar para ela? A história tem dado conta de grandes “catástrofes humanas” fazendo com que a dor que elas causam nos sujeitos seja pensada como se fosse apenas fatalidade, consequência de eventos maiores que merecem a total atenção. Dificilmente a história se volta para os “ditos do sofrimento”, para as palavras de dor, à exceção, como aponta a autora, da história do tempo presente que valoriza os relatos de pessoas que vivenciaram momentos históricos tensos e apresentam as suas percepções sobre eles. Um bom exemplo disso é o texto de Wollf6 que analisa relatos de familiares de desaparecidos políticos da América Latina, evidenciando que os apelos aos sentimentos da opinião pública foram utilizados para fins políticos, para desacreditar regimes militares e fortalecer a luta por direitos humanos.
Para Farge é possível e preciso entender que “a dor significa, e a maneira como a sociedade a capta ou a reusa é extremamente importante”.7 Os grandes eventos como guerras e revoluções afetam a vida das pessoas de formas muito distintas, dependendo do lugar social que elas ocupam. Farge salienta a necessidade de se pensar na tristeza de mulheres que sofrem em um mundo caracteristicamente masculino e de pobres que vivem em sociedades tão desiguais. Ela enfatiza que há racionalidade nessas distorções, nessas diferenciações que causam dor e pesquisar sobre isso, escrever a partir desse entendimento, é uma forma de buscar erradicar o sofrimento dos que hoje são atingidos pelos ecos dessas situações históricas. Para Wolff8 emoções e gênero se entrelaçam, pois fazem parte da experiência humana. É sobre essa experiência, essencialmente a que causa sofrimento, que Farge nos convida a escrever e é por isso que sua obra é tão importante para pensar as relações de gênero. A racionalização do sofrimento nessas relações sendo historicamente analisados pode explicar os dispositivos que fizeram surgir tais sentimentos e práticas, podendo “fornecer os meios intelectuais de suprimi-los ou de evitá-los”9 Há uma insatisfação em relação aos discursos históricos sobre a violência.
“A interpretação histórica da violência, dos massacres passados, dos conflitos e das crueldades, praticamente não permite, na hora atual, ‘captar’ em sua desorientadora atualidade o que se passa sob nossos olhos”10. Em seu capítulo ‘Da violência’, a autora convida a não nos dobrarmos ao sentimento de fatalidade ou impotência diante da violência e ressalta que é legítimo buscar outras interpretações históricas, como o fazem as pesquisas sobre as emoções que destacam sujeitos, gestos e falas. Para ela, a historiografia pode, não apenas, apresentar o conhecimento, mas indicar caminhos para a luta, para o enfrentamento à violência.
A violência tem racionalidade. A violência de gênero é pautada numa racionalidade em relação a uma sociedade hierarquizada na qual homens devem ser dominadores e mulheres submissas, contrariar essa lógica pode levar ao ato violento. Entender a racionalidade da violência, para Farge, é um caminho para evitá-la, transformando a realidade com outras formas de racionalização.
‘Da guerra’ problematiza a ideia de que a guerra é inevitável e questiona a “estranha disposição que nos fez considerar esse fenômeno como normal”11.
No capítulo seguinte, ‘Da fala’, Farge afirma que o/a historiador/a dá sentido à fala para que o passado se torne inteligível ao leitor e alerta para o fato de que “a história pode ser dita rápido demais”12 e dessa forma invisibilizar as pessoas que a fazem. A escrita da história pode dar lugar aos sujeitos, como Foucault o fez em ‘A vida dos homens infames’13 ou em ‘Eu, Pierre Riviere…’14, como Davis fez com Martin Guerre15, Esteves com as ‘meninas perdidas’16 e Wolff com as mães de desaparecidos políticos17.
A história pode pensar a resistência pelas vozes de quem transgride a ordem. Estas percepções são apresentadas nos capítulos seguintes, ‘Do acontecimento’ e ‘Da opinião’. Em seguida, a autora dedica um capítulo para pensar a ‘diferença dos sexos’ como um lugar para a história. Como salientado acima, Farge não parte dos estudos de gênero, então não se ocupa em pensar as categorias de análise sexo e gênero e suas problematizações. Ela parte de discussões propostas por uma história das mulheres da França, para acusá-la de pessimista, marcada por uma inércia que apresenta as diferenças entre homens e mulheres como algo estável, não tendo como intuito mover o leitor a pensar a necessidade de mudança. A autora critica, assim como o fazem os estudos de gênero, esse caráter fixo das coisas. A ordem hierárquica, desigual, deve ser pensada pelas transgressões que sofre, pois “reconstituir os momentos em que a instabilidade, o desequilíbrio, as recusas”18, ocorrem pode demonstrar a possibilidade de novas estruturas.
Farge conclui que “buscando conhecer outro tempo, não escapamos do nosso, e, se este último, como o faz hoje, se arranca brutalmente do passado, a história se engaja também nessa ‘realidade’ para encontrar seu sentido”.19 Ao propor uma reflexão histórica que dê conta das dores humanas, sem entendê-las apenas como fatalidades, mas embrenhando-se pelo que move as ações, os sentimentos, as inquietações e os desejos, que transformam as pessoas, fazem sofrer ou lutar, submeter-se ou transgredir, ‘Lugares para História’ ajuda a pensar a categoria gênero como essencial para as reflexões históricas, mesmo que não a cite. Os estudos de gênero possibilitam compreensões que podem gerar mudança social, que se configuram em uma história engajada, como almeja a autora.
Notas
1 FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: EDUSP, 2009.
2 SCOTT, Joan. Gênero uma categoria útil para análise histórica. Educação e realidade. Porto Alegre. Vol. 20. N. 2. Jul/dez, 1995. p. 14.
3 FARGE, op. cit.,p. 43.
4 FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
5 FARGE, Lugares… Op. cit. p. 9-10.
6 WOLFF, Cristina Scheibe. Pedaços da alma: emoções e gênero nos discursos da resistência. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, 23(3), setembro/dezembro, 2015.
7 Ibidem. p. 19.
8 WOLFF, op. cit.
9 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 23.
10 Ibidem. p. 25.
11 Ibidem. p. 43.
12 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 61.
13 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2006.
14 FOUCAULT, Michel. Eu, Pierre Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
15 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
16 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: Os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
17 WOLFF, op. cit.
18 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 114.
19 Ibidem, p. 129.
Dulceli de Loures Tonet Estacheski – Doutoranda em História pela UFSC. Professora do curso de História da UNESPAR, campus de União da Vitória. E-mail: dulce_tonet@yahoo.com.br.
Rousey – my fight/your fight | Ronda Rousey e Maria Burns Ortiz
As artes marciais mistas (MMA) têm se tornado um assunto em pauta nos mais variados meios de comunicação. Dessa forma, as produções bibliográficas e cinematográficas explorando tal temática têm seguido um curso crescente, principalmente nos últimos dez anos.
O gênero mais explorado em livros relacionados ao MMA tem sido a biografia/autobiografia. Destacam-se no território norte-americano os livros do referido gênero em que protagoniza-se os lutadores estadunidenses BJ Penn, Brian Stann, Brock Lesnar, Chael Sonnen, Chuck Liddell, Forrest Griffin, Jens Pulver, Ken Shamrock, Matt Hughes, Pat Miletich, Randy Couture e Urijah Faber e o lutador canadense Georges St. Pierre, bem como demais figuras do meio do MMA, como o árbitro ‘Big’ John McCarthy, o anunciador Bruce Buffer, o cutman Jacob ‘Stitch’ Duran e, em biografia não autorizada, o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White. Leia Mais
Economía Y Política em la Argentina Kirchnerista | Adrián Piva
Adrián Piva é sociólogo, docente na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (UBA), e docente e pesquisador nos Departamentos de Economia, Administração e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Quilmes. O livro tem como questionamento central o chamado período da pós-convertibilidade na Argentina (pós-2001), sob a óptica de como se procedeu à reestruturação da acumulação de capital dentro das novas configurações de blocos de poder, tendo o papel do Estado como agente reagrupador de forças, pelas mãos do kirchnerismo. Leia Mais
Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos | IPHAN
Dividido em cinco partes, o livro Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos descortina, de maneira resumida e pontual, o desenvolvimento da ideia de educação voltada para o patrimônio no Brasil. Procura enfatizar, assim, as ações e concepções pedagógicas exercidas e adotadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ao longo de sua história.
Na primeira parte do livro, intitulada “Percurso histórico”, é apresentado um panorama sobre as atividades educativas. São discutidas, nesse capítulo, as políticas e formas da educação sobre as questões patrimoniais, compreendidas e conduzidas desde 1936 até 2013. Observa-se que já na criação do IPHAN, em 1937 – ainda que este se chamasse SPHAN – o órgão manifestava a relevância das ações educativas como forma tanto de proteção quanto preservação do patrimônio. Leia Mais
História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840) | Matías M. Molina
Em 1863, Manuel Duarte Moreira de Azevedo, bacharel em letras, doutor em medicina, membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e mais conhecido por Dr. Moreira de Azevedo, publicou, na revista do IHGB, o texto Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio de Janeiro, um dos primeiros, senão, o primeiro, que explorou detalhadamente as publicações da imprensa carioca daquele tempo. O escrito, que, muito provavelmente, foi o único do Oitocentos que se dedicou a tal empreitada, teve como principal objetivo elencar e comentar os periódicos publicados na capital imperial pela tipografia da Impressão Régia ou pelas tipografias particulares instaladas na corte, entre os anos de 1808 e 1863. Depois dele, apenas o historiador Alfredo de Carvalho, aproveitando-se da comemoração do centenário da imprensa no país, publicou, em 1908, Gênese e Progressos da Imprensa Periódica do Brasil, também na revista do IHGB. Diferentemente do Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio de Janeiro que se ocupou apenas dos periódicos da cidade do Rio de Janeiro, o estudo de Carvalho foi, e continua sendo considerado pela historiografia brasileira como o primeiro estudo que se comprometeu com a audaciosa tarefa de listar todos os periódicos produzidos no Brasil naqueles primeiros cem anos de impressos, independentemente da região em que foram publicados.
Trabalhos abrangentes como o pretendido por Alfredo de Carvalho no começo do século XX ocuparam pouco espaço na historiografia brasileira. No decorrer do século XX e no início do século XXI, a maior parte das obras teve como objeto apenas um determinado periódico, como os estudos de Nelson Dimas Filhos, Jornal do Comércio: a notícia dia a dia (1827-1887), de 1972, e de Maria Beatriz Nizza da Silva, A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), de 2007, ou se dedicaram aos periódicos publicados de uma certa região, como o de Gondim da Fonseca, Biografia do jornalismo carioca, de 1947, e o de José de Freitas Nobre, História da imprensa de São Paulo, de 1950.
Ressalva-se nesse habitual da historiografia, todavia, o estudo de Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil, publicado em 1966. A obra, além de listar um grande número de periódicos publicados no país desde a época colonial até meados do século XX, realiza uma análise do desenvolvimento e da produção dos impressos sob a “óptica da luta de classes”, isto é, por um viés marxista. A imprensa, na visão de Sodré, sempre teria sido utilizada como um meio de comunicação de massas e, assim, sempre funcionou como um aparelho de sujeição dos trabalhadores. Na época de seu lançamento a obra ocupou uma lacuna da historiografia brasileira, que desde o início do século não tinha trabalhos dedicados a tentar realizar uma história mais completa dos impressos produzidos no Brasil. A História da Imprensa no Brasil de Sodré, nesse sentido, foi muito bem recebida por aqueles estudiosos da segunda metade do século XX e foi considerada por muitos pesquisadores, durante um bom tempo – e por alguns até hoje –, o principal trabalho sobre a história da imprensa do Brasil, principalmente em razão do grande levantamento de Sodré acerca dos títulos produzidos. Contudo, o estudo de Sodré encontra-se, de certo modo, datado dentro da atual historiografia brasileira e a necessidade de uma história da imprensa do Brasil, que contemple os aspectos culturais e sociais mais abrangentes, permanece sob demanda.
A historiografia brasileira, em vista disso, desde a década de sessenta do século passado carecia de uma obra que se propusesse a realizar um estudo sobre os impressos publicados no Brasil, da colônia à contemporaneidade, a partir de um viés mais cultural e social. É nesse espaço desabitado, pois, que se insere o estudo do jornalista Matías M. Molina,[1] História dos Jornais no Brasil. Dada à ambição do trabalho, Molina propôs dividir o estudo em três volumes, pois, segundo ele mesmo justificou, dar conta dos impressos publicados nesse longo espaço de tempo é uma tarefa que requer muitas páginas escritas. Este alto número de impressos, aliás, interferiu diretamente na estrutura de seu projeto, que precisou ser repensado e dividido diversas vezes. Por esse motivo, o estudo de Molina se concentrou “apenas nos jornais de informação geral. Ficaram de fora os diários especializados, como os esportivos e econômicos, e os jornais em língua estrangeira […]”.
Outro fator que, segundo o jornalista, também contribuiu para a estrutura de seu projeto, foi o livro do professor da universidade norte-americana de Princeton, Paul Starr, The Creation of the Media. O livro do americano pretende mostrar “de que maneira algumas instituições como o Correios, a expansão do ensino, a introdução do telégrafo e outras tecnologias” foram importantes para a criação e a evolução dos meios de comunicação nos Estados Unidos. Inspirado por este trabalho, Molina adaptou “a maneira de Starr ver a criação da mídia em seu país para tentar compreender melhor as condições em que nasceram e desenvolveram os jornais brasileiros”. Por meio de uma pesquisa minuciosa, Molina tem como objetivo realizar uma história dos jornais brasileiros, ou seja, seu estudo “não tenta adivinhar” o futuro de um jornal, “não antecipa seu fim nem assegura que terão vida eterna. Limita-se a contar a história dos jornais no contexto de uma época. Dezenas deles”. Não se encaminha, portanto, no sentido de discutir o destino dos jornais, ou melhor, no sentido de discorrer sobre uma história dos jornais para desnudar o futuro dos impressos.
O primeiro livro, do que promete ser um vasto estudo, História dos Jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840), foi publicado no início de 2015 e analisa, de maneira geral, a chegada das primeiras tipografias, os primeiros impressos publicados e alguns homens das letras que se envolveram com as artes gráficas. A obra se encontra dividida em quatro partes. Intitulada A era colonial, a primeira parte do estudo destaca a tipografia e a imprensa da colônia com intuito de, segundo o autor, compreender melhor os porquês de o Brasil só ter conseguido firmar uma imprensa nacional apenas no século XIX. Na segunda, A corte no Brasil, Molina explora o recorte que ele chamou como o “período de transição”, ou seja, o momento marcado pela vinda da Corte portuguesa, pela instalação da Impressão Régia e pela produção dos primeiros impressos. Jornais na independência e na regência é o título da terceira parte deste volume e, como sugere, tem como proposta investigar o envolvimento e o posicionamento de algumas folhas diante do governo, em tempos, vale lembrar, de conturbados debates que tomavam as ruas, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, e tinha os jornais como principal veículo de informação. A quarta e última parte, Infraestrutura, discute a respeito dos “fatores que condicionaram o desenvolvimento da imprensa e ajuda a explicar a baixa penetração dos jornais no Brasil”, nos séculos XVI, XVII, XVIII até meados do XIX, mais especificamente até 1840.
Molina abre espaço, neste primeiro volume, para uma reflexão a respeito da história dos impressos do Brasil na época colonial. Não por achar que a colônia teve uma importante produção de impressos, mas para tentar refletir sobre os porquês de o país não ter uma imprensa, ou mesmo, uma tipografia, nos seus primeiros séculos de vida – uma vez que o Brasil, “três séculos e meio depois das primeiras obras estampadas por Gutemberg”, só desempenhou tal atividade a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa. Destaca Molina que não foi proibida oficialmente no Brasil a instalação de tipografias nem a produção de impressos durante a colônia, mas o fato – simples até – foi que as terras brasileiras não eram propícias para o desenvolvimento das artes gráficas. Com uma minguada população, praticamente toda analfabeta, e um grande território, a colônia de Portugal não recebia incentivos nem para a produção de pequenos folhetos. No período inicial, destarte, a instalação de uma tipografia poderia, de acordo com Molina, “ser considerada supérflua”, mas com o aumento da população e o aumento da dependência dos portugueses em relação ao Brasil, a ideia passou a ser aceita e, aos poucos, ganhou corpo.
Logo na primeira década do século XVII, quando as capitanias do Norte ficaram nas mãos dos holandeses, isto é, da Companhia das Índias Ocidentais, e diferentes povos imigraram para essa região, o plano para a existência aqui no Brasil de uma tipografia passou a ser concreto. O principal governante deste domínio, o conde João Maurício de Nassau pediu, várias vezes durante seu governo, que fosse instalada uma tipografia naquela região com o argumento de que a impressão de documentos naquelas terras seria benéfica para a sua administração e, consequentemente, para a manutenção do domínio. Todavia, com a expulsão dos holandeses e a retomada do território pelos portugueses, em 1654, o projeto de Maurício de Nassau não foi executado. Os portugueses, como era de se esperar, e dado seu posicionamento frente a esse assunto, engavetaram rapidamente a iniciativa do conde. Outra tentativa de se instalar uma tipografia no Brasil foi a do português Antônio Isidoro da Fonseca que, em meados do século XVIII, se acomodou no Rio de Janeiro com seus equipamentos e até chegou a imprimir algumas obras. A Corte de Lisboa, infelizmente, não aprovou a ação e, além de determinar o retorno de Isidoro da Fonseca para Portugal em razão desse episódio, passou a proibir a instalação de tipografias bem como a produção dos impressos na colônia. Nota-se, nesse sentido, segundo Molina, que na colônia a não existência de uma lei que proibisse a impressão não significava que ela era permitida, pois sempre que existia alguma iniciativa de impressão ela era rapidamente coibida pelos portugueses.
A vinda da corte portuguesa para as terras do Brasil ocasionou variadas mudanças na administração dos portugueses e a instauração de determinados órgãos até então inexistentes na colônia, como a imprensa. Com a instalação, em 1808, da Impressão Régia no Brasil, a proibição de fabricação de impressos na colônia foi deixada de lado e substituída por investimentos do governo português: nessa época, o Brasil recebeu um variado maquinário para que fossem desenvolvidas as artes gráficas em suas terras. Molina, levando em consideração tais mudanças ocasionadas com a presença da corte no Brasil, mapeou os principais jornais que começaram a ser publicados pela Impressão Régia ou por tipografias particulares, que tinham a autorização do governo.
Destacou, assim, impressos variados, tais como a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), a publicar artigos que se posicionavam de forma favorável ou contrária ao governo de Portugal no Brasil.
Todavia, os jornais voltados para as discussões nos momentos da Independência ou da Regência tiveram um destaque especial na terceira parte deste volume. Foram apresentados primeiramente os jornais do Rio de Janeiro contrários à Independência, como o Conciliador do Reino Unido (1821) de José da Silva Lisboa, que, segundo Molina, não se omitia em defender a união entre os reinos de Portugal e Brasil. E, em seguida, um dos jornais que mais debateram sobre a possibilidade de o Brasil ser ou não um Império: O Republico, que começou a ser publicado durante um ano antes do início das regências, em 1830, mas que saiu por diversas vezes até 1855. Outros jornais publicados na cidade do Rio de Janeiro, que tiveram importante participação na história da imprensa do Brasil receberam igual atenção nesta parte do livro, tais como: o Correio do Rio de Janeiro (1822-1823), o Diário do Rio de Janeiro (1821-1959/1860- 1878), o Jornal do Commercio (1827-atual) e A Aurora Fluminense (1827-1835). Destacase, ainda, a presença de alguns jornais baianos, pernambucanos e, também, de outras províncias do país como, por exemplo, os do Rio de Grande do Sul.
O problema de maior relevo na história da imprensa nesse período apontado por Molina, na última parte de seu livro, foi a contradição entre os jornais terem sido importantes instrumentos na redefinição da vida social e política do país, mas, ao mesmo tempo, pouco lidos pelos brasileiros. Molina pontua, desse modo, as dificuldades da produção dos impressos: o maquinário ultrapassado, o grande número de analfabetos da população brasileira, as dificuldades de transportes, o valor elevado dos impressos, entre outros. Molina evidencia que as adversidades encontradas na fabricação das folhas periódicas fizeram que a mesma elite letrada que produzia os impressos era também quem os comprava.
Molina oferece nesse volume que, como mencionado, integrará futuramente um estudo de maior fôlego, uma análise minuciosa sobre o que a presença ou ausência de impressos pode revelar sobre história da imprensa brasileira. Destaca, sobretudo, as dificuldades de se manter a publicação dos jornais e a importante participação que eles tiveram na vida política e social do Brasil, independentemente de sua duração ou de sua posição ideológica. Em suma, com uma escrita agradável, uma leitura rigorosa das fontes e uma análise que inclui diferentes aspectos, a obra de Molina contribui para diminuir a falta desse tipo de estudo na historiografia brasileira e deixa estudiosos e interessados à espera dos próximos volumes.
Notas
1. Matías M. Molina também é autor de Os melhores jornais do mundo: uma visão da imprensa nacional (2007), de vários artigos publicados no Valor Econômico, entre outros.
Referências
AZEVEDO, Dr. Moreira de. Origem e desenvolvimento da imprensa no Rio de Janeiro.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: B. L.
Garnier, t. XXVIII, v. 2, 1865, p. 169-224.
CARVALHO, Alfredo de. Gênese e progressos da imprensa periódica no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, parte I, 1908.
DIMAS FILHO, Nélson. Jornal do Commercio: A notícia dia a dia (1827-1987). Rio de Janeiro: Fundação Assis Chateaubriand; Jornal do Commercio, 1987.
FONSECA, Manuel José Gondin da. Biografia do jornalismo carioca: 1808-1908. Rio de Janeiro: Quaresma, 1941.
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500- 1840). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. v. 1.
NOBRE, José de Freitas. História da imprensa de São Paulo. São Paulo: Leia, 1950.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822): cultura e sociedade. Rio de Janeiro: Eduerj, 2007.
SODRÉ, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.
Amanda Peruchi
MOLINA, Matías M. História dos jornais no Brasil: da era colonial à Regência (1500-1840). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. v. 1. 560p. Resenha de: PERUCHI, Amanda. No rastro das folhas periódicas: os impresos na historiografia brasileira. Revista Ágora. Vitória, n.23, p.292-297, 2016. Acessar publicação original [IF].
Faire apprendre l’histoire: pratiques et fondements d’une didactique de l’enquête en classe secondaire – JADOULLE (DH)
JADOULLE, Jean-Louis. Faire apprendre l’histoire: pratiques et fondements d’une didactique de l’enquête en classe secondaire. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.159-160, 2016.
Comment enseigner l’histoire en 2016, avec quelle méthode ? Quelles démarches ? Et sur quels fondements ? Plusieurs chercheurs s’efforcent de répondre à ces questions depuis plus de 25 ans. Un ouvrage remarquable de Jean-Louis Jadoulle met en valeur une synthèse qui couronne ces travaux sur la didactique d’histoire.
Son livre se destine, en premier lieu, aux didacticiens et aux enseignants formateurs, puis aux enseignants en histoire, qui profiteront d’une table des matières développée, d’une écriture soignée au service d’une analyse pointue des différents objets sur lesquels repose, depuis 20 ans, la didactique en histoire.
À cette maîtrise fine de la didactique, Jadoulle ajoute son expérience personnelle en Belgique, tant par son enseignement universitaire, l’édition de deux collections de manuels d’histoire que par des enquêtes menées sur les pratiques enseignantes.
Dès lors, l’ambition de son ouvrage est annoncée dès sa première page ; proposer une « mise au point théorique », brève, puis des « pistes d’action opérationnelles », détaillées, illustrées d’exemples de travaux d’élèves, d’enseignants en formation et de plans d’études. L’auteur y relève la tension existant entre les travaux de recherche et les programmes scolaires. Ces tensions relèvent des questions fondamentales telles que: les attentes sociales face à la matière à enseigner aux élèves ; l’ouverture aux autres cultures, la question de l’identité, celle de la transmission du patrimoine aux jeunes générations…
Pour illustrer ses propos, Jadoulle défend et expose la démarche d’enseignement de l’histoire basé sur l’enquête historique à laquelle l’élève est invité à s’exercer. Ainsi, cette pratique permet à l’élève un réel exercice d’acquisition de compétences. Il devient l’acteur de ses apprentissages, alors même que, selon l’auteur, les pratiques de nombreux enseignants persistent selon le modèle transmissif1.
Pratique dont la subsistance peut être complémentaire au modèle d’une didactique de l’enquête.
Précisons que les attentes de l’auteur envers les enseignants sont élevées:
- Une connaissance affinée des ressources documentaires pour disposer de textes riches, complexes, mais accessibles à la compréhension des élèves.
- Une planification fine quant à l’élaboration des tâches à demander aux élèves leur permettant de développer la compétence visée par l’enseignant.
Pour ce faire, l’auteur structure sa réflexion en trois parties:
- Dans la première, il définit les objets de l’histoire enseignée tels que l’identification des acteurs, les causes et les conséquences des faits historiques…
- Dans la seconde, la plus développée, il détaille les objets et les étapes nécessaires pour l’élaboration d’une séquence d’histoire. Il insiste sur la mise en place de la phase de démarrage de la séquence, sur la place des concepts, sur la temporalité, sur les compétences, et finalement sur l’évaluation. Dès lors, l’évaluation des compétences de l’élève doit être le corollaire de la démarche d’enquête suivie pendant les cours.
En effet, l’auteur accorde une large place à la notion de compétence – 70 pages sur 400 – dans lesquelles il défend une optique « situationnelle ». Il propose ainsi de concevoir une « famille de situations » aux caractéristiques semblables dans lesquelles la compétence de l’élève peut s’exercer. Le choix de cette « famille de situations » permet aux enseignants des évaluations comparables des compétences des élèves. Or, cette pratique pourrait restreindre, en soi, la liberté des enseignants et susciter leurs réserves.
- Et finalement, la troisième partie est consacrée aux finalités, aux fondements épistémologiques et éducatifs de l’enseignement de l’histoire où la « didactique de l’enquête » trouve sa justification dans la démarche des historiens. L’auteur s’appuie ici sur les travaux des historiens, notamment P. Veyne, M. Certeau, H.-I. Marrou et A. Prost.
L’ouvrage remarquable de Jadoulle se distingue par sa qualité d’analyse des sujets abordés, n’esquivant aucun des débats et des difficultés soulevés par la tension existante entre les chercheurs, les enseignants et les attentes de la société. Simples d’accès pour le lecteur et structurés dans leur déroulement, les chapitres comportent de nombreux schémas, extraits de plans d’études, et travaux d’élèves ou préparations des leçons par les enseignants. Par ailleurs, de nombreuses synthèses avec présentations des controverses ponctuent les chapitres et éveillent le plaisir du lecteur.
Jadoulle invite son lecteur à partager le fruit de ses réflexions par une pensée aiguisée, colorée de rencontres à l’occasion d’enquêtes menées et d’échanges riches avec les enseignants, en ayant le souci d’outiller les élèves et les enseignants face aux attentes actuelles et futures de notre société.
[NotaS]1 Modèle « transmissif » signifie que l’élève reçoit passivement le savoir émis par l’enseignant.174 | Didactica Historica 2 / 2016
Jean-Louis Jadoulle – Professeur à l’Université de Liège, est directeur de plusieurs collections de manuels scolaires d’histoire et auteur de nombreux articles en didactique de l’histoire.
[IF]Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti – PANCIERA; ZANNINI (DH)
PANCIERA, Walter; ZANNINI, Andrea. Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti (1). Firenze: Le Monnier Università, 2006/2013, p. I-VIII, 1-232. Resenha de: FRIGERI, Alessandro. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.171-172, 2016.
In Italia, tra la fine degli anni Novanta e la fine degli anni Duemila, vennero istituite le SSIS (Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario), che per dieci anni risultarono essere il principale canale di formazione e reclutamento degli insegnanti. In alcune università, attorno alle SSIS, si creò un clima favorevole alla sperimentazione didattica e, in quel quadro, venne rilanciata la riflessione sulle didattiche disciplinari, che nel Paese vantava una significativa tradizione, perlomeno nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano e delle scienze umane. Di quell’esperienza – chiusasi senza che le SSIS siano state sostituite da enti di formazione paragonabili e finita dunque con l’affievolirsi delle iniziative volte a valorizzare il tema della mediazione didattica nell’insegnamento – oggi rimangono, per quanto riguarda la storia, alcune importanti tracce: tra queste, degno di nota è sicuramente il manuale scritto da Walter Panciera e Andrea Zannini, docenti presso le università di Padova e di Udine, giunto ormai alla sua terza edizione1.
Il libro ha riscontrato un interesse tra insegnanti e specialisti difficilmente ascrivibile al solo fatto che attualmente è uno dei pochi strumenti di questo tipo presenti sul mercato italiano (non l’unico, d’altronde). A nostro giudizio, vi sono altre due sue precipue caratteristiche che ne spiegano almeno in parte la buona diffusione.
La prima riguarda il suo esplicito taglio manualistico, cioè il fatto che dietro all’opera vi è il dichiarato intento di proporre un testo capace di offrire ai lettori un insieme coerente e completo di informazioni considerate imprescindibili nella formazione iniziale dell’insegnante di storia. In meno di 250 pagine vengono affrontate questioni assai diverse tra loro: si richiamano le peculiarità epistemologiche della disciplina, il metodo in uso tra gli storici, le principali tappe della storia della storiografia; si sintetizzano i principali vincoli della normativa italiana; si ricordano infine i cambiamenti vissuti negli ultimi decenni dalle forme e dagli strumenti della didattica della storia, non omettendo di parlare dell’apporto vieppiù importante delle nuove tecnologie. Si tratta di un’impostazione che ha costretto gli autori a uno sforzo di sintesi notevole, che in alcuni passaggi può non soddisfare pienamente colui che cerca l’approfondimento di questioni qui solo accennate, ma che non può non dirsi riuscito. L’insegnante di storia – che in Italia sovente ha alle spalle una formazione filosofica o letteraria, cioè non specificatamente storica – troverà infatti in questo libro riferimenti a tutto ciò che dovrebbe comporre il suo bagaglio di conoscenze didattiche fondamentali. Egli potrà successivamente, orientato dalle ricche e curate note bibliografiche inserite alla fine di ogni capitolo, intraprendere quei percorsi di sviluppo professionale che, per loro stessa natura, non possono certo basarsi sulla sola lettura di testi manualistici.
Per quanto concerne l’altro ipotizzabile motivo del relativo successo del libro, va a nostro avviso segnalato il fatto che esso fa il punto del dibattito italiano sulla didattica della storia e sulle relative pratiche d’aula con un equilibrio non scontato. In Italia, come altrove, è presente da tempo tra gli “addetti ai lavori” un confronto, fatto di consensi ma anche di divergenze, attorno a modi e finalità dell’insegnamento della storia. Numerosi sono gli argomenti su cui si è sviluppata tale controversia: sull’utilità dei manuali scolastici, sull’apporto che la world history potrebbe dare alla ridefinizione dei contenuti dell’insegnamento, sulla cosiddetta didattica modulare (approccio che propone di non basare più la programmazione didattica sul solo principio cronologico-sequenziale) o sul nodo dell’insegnamento per competenze, solo per fare qualche esempio. Troppo spesso tali diatribe sono state sbrigativamente presentate come uno scontro tra innovatori e fautori della tradizione: Panciera e Zannini non lo fanno. Certo, non si esimono dal toccare molti di questi temi delicati, ma problematizzando le questioni, presentando le diverse posizioni in campo, evitando di aderire acriticamente alle mode passeggere: un approccio che, tra gli insegnanti, è facilmente apprezzato.
[Notas](1) Delle numerose pubblicazioni che rendono conto di quella stagione dal punto di vista della didattica della storia vanno citate almeno anche: Greco Gaetano e Mirizio Achille, Una palestra per Clio. Insegnare ad insegnare la storia nella scuola secondaria, Torino: UTET, 2008, che – al pari del libro qui recensito – ambisce a presentarsi come un vero e proprio manuale di didattica della storia, e Bernardi Paolo (a cura di), Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio, Torino: UTET, 2006, 20122, che sembra essere stato apprezzato a sua volta dal corpo insegnanti. Non si possono inoltre mancare di ricordare i pochi ma pregevoli numeri della rivista Mundus (2008-2010), diretta da Antonio Brusa, e l’instancabile attività dell’associazione Clio ‘92, presieduta da Ivo Mattozzi.172 | Didactica Historica 2 / 2016
Alessandro Frigeri – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
[IF]O Professor de Português e a Literatura | Gabriela Rodella de Oliveira
O Professor de Português e a Literatura originalmente foi a dissertação de mestrado em educação de Gabriela Rodella de Oliveira, bacharel em Letras Português/ Alemão, mestre e doutora em Educação pela USP e professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. A obra em questão procura entender o porquê da crônica precariedade do ensino de literatura nas escolas públicas paulistanas e a incapacidade do mesmo em formar leitores assíduos, ou nos termos da autora “leitores literários”. Para tanto, Oliveira analisa o trabalho docente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura e sua capacidade em transformar os discentes em admiradores da arte literária.
A obra inicia-se com um levantamento histórico do ensino de Literatura no Brasil (dos jesuístas até os PCN´s, criados em 1996) e apontando os principais “vícios” no ensino da citada matéria no país. A autora, apoiada em outras pesquisas realizadas desde a década de 1970 até a década de 1990 [1], defende que a disciplina citada é reduzida ao ensino de história literária, biografia dos autores clássicos, a leitura de trechos de algumas obras clássicas da literatura brasileira e a apresentação das diferentes escolas literárias, tudo feito de forma resumida e superficial baseado nas explicações presentes nos livros didáticos. A principal consequência desse quadro é a incapacidade dos professores em apresentar aos alunos as diferentes obras literárias, despertar neles a paixão pelos livros e torná-los bons leitores.
O livro se destina a entender o porquê dessa calamitosa situação. A resposta para tal questionamento perpassa as práticas dos docentes paulistanos, que por sua vez são determinadas por sua realidade de vida e formação, na visão da autora. Para identificá-las, Oliveira realizou uma pesquisa com 87 professores para, segundo a própria, levantar o “perfil médio” do professor de Língua Portuguesa da rede estadual de São Paulo. O levantamento realizado contou com uma parte “quantitativa” e outra “qualitativa”; a primeira parte da pesquisa contou com a elaboração e distribuição de um questionário [2] para os 87 professores citados e a segunda contou com a confecção de uma entrevista feita pela própria autora com quatro professores, que segundo Oliveira se destacaram por sua capacidade intelectual. Embora a mesma reconheça que a pesquisa não tenha um caráter estatístico e que o universo pesquisado seja pequeno, ela procurar traçar o retrato do docente da citada disciplina.
Apoiada em Pierre Bourdieu, e sua noção de habitus, e baseada nos resultados obtidos, Oliveira concebe o “perfil médio” dos docentes de Língua Portuguesa que, com raras exceções, são profissionais originários da camada pobre da população, com pouco ou nenhum acesso à leitura na infância, estudante de escolas públicas e, posteriormente, de cursos noturnos de faculdades particulares, com hábitos literários pobres, que variam entre livros didáticos, leituras de alguns clássicos exigidos em programas/currículos escolares e Best Sellers. Esse docente, por uma mistura de incapacidade e conservadorismo pedagógico, não consegue fugir dos antigos esquemas de ensino de Literatura (recorrência a história literária, biografia dos autores, apresentação das escolas e resumos de livros didáticos) e não é capaz de despertar o gosto pela leitura e formar “leitores literários”, por ele próprio não possuir esse capital cultural. Diante de seu fracasso, o citado docente recorre a culpabilização dos alunos, a quem acusa de “falta de interesse nos estudos”, “pouca capacidade de leitura” e “falta de bons modos”, entre outros problemas.
O conceito da autora de “leitores literários” traz em si a ideia de um leitor que consome a leitura por sua qualidade estética e o caráter artístico da obra, em contraposição a uma “literatura funcional”, que seriam leituras obrigatórias ou profissionais sem valor artístico. Apesar de formada em Letras, Oliveira, em nenhum momento, se apoia em algum conceito da Literatura ou da crítica literária para explicar quais são suas noções de “arte” ou de “estética” literária, assim como não conceitua o que seria uma boa ou uma má Literatura. Aparentemente, sua visão sobre os hábitos de leituras dos professores está carregada de um juízo de valor da autora, que qualifica hábitos e leitores por critérios pessoais e pouco claros.
A obra citada apresenta outro problema quando ignora que os hábitos de leitura dos indivíduos são formados por outras variantes, além das aulas de literatura nas escolas. A autora, nem em sua dissertação, nem em seus questionários e entrevistas com os professores, se preocupou em pesquisar sobre a possibilidade de acesso a livros nas escolas que trabalham ou nos bairros onde ficam as tais escolas. Faltam levantamentos, aparentemente óbvios em uma pesquisa sobre o tema, sobre a existência e funcionamento de bibliotecas, livrarias ou sebos nas regiões do município de São Paulo estudadas ou da existência de outros funcionários, como bibliotecários ou agentes de leitura, nas escolas para fomentar o acesso dos jovens aos livros.
O trabalho em nenhum momento procura questionar ou entender o porquê os cursos de graduação, mesmo alguns cursos reconhecidos, como o de Letras da USP [3], não conseguem formar professores preparados para a educação básica ou mesmo consegue trazer as novas ideias que circulam no meio acadêmico. Aparentemente, os problemas da educação são causados quase que exclusivamente pelo ethos do “professor médio” e não por deficiências em seus diversos estágios de formação inicial e continuada. Assim como não há qualquer discussão sobre o papel das políticas públicas da Secretaria Estadual de Educação (SEE-SP), com seus currículos e suas avaliações, no trabalho docente.
Oliveira, em seu trabalho, busca responder uma questão complexa, com diversos nuances, recorrendo a uma solução simples: a criação de uma imagem resumida e com um embasamento científico frágil [4] do professor da rede pública, que, segundo a autora, perpetua um sistema falido por incompetência, incapacidade e conservadorismo. Mais do que uma imagem ou um perfil, a autora perpetuou um estereótipo do docente público atualmente presente em diversos textos acadêmicos e na imprensa, e que em nada contribui para uma melhora real das escolas e do trabalho docente.
Notas
1. Rodella apoia-se nas pesquisas de Marisa Lajolo, Maria Thereza Fraga Rocco, Alice Vieira, Cyana Leahy-Dios e Willian Roberto Cereja para apontar os citados “vícios”.
2. Onde os professores responderam questões sobre sua origem familiar (renda e escolaridade dos pais), sua formação escolar e acadêmica (se estudaram em escolas públicas ou particulares e quais faculdades frequentaram), suas práticas pedagógicas, sua renda, sua carga horária e sua relação com os alunos.
3. Em seu levantamento, Oliveira calculou que por volta de 40% dos professores entrevistados se formaram em universidades públicas de São Paulo, como a USP ou a Unesp.
4. Embora a autora reconheça a inexistência de pretensões estatísticas ou de criar um perfil exato da docência, uma pesquisa com pretenções a traçar uma imagem de uma categoria com mais de 212.146 profissionais, segundo o Censo Escolar paulista de 2012, a partir de 87 questionários e 4 entrevistas pessoais se mostra frágil e reduzida em termos científicos.
Luís Emílio Gomes – Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e professor de História da Secretaria Estadual de Educação/RJ. E-mail: luisemiliogomes@gmail.com
OLIVEIRA, Gabriela Rodella de. O Professor de Português e a Literatura. São Paulo: Alameda Editorial, 2013. Resenha de: GOMES, Luís Emílio. O professor e seu papel na formação de novos leitores. Cantareira. Niterói, n.24, p. 275- 277, jan./jun., 2016. Acessar publicação original [DR]
Ce que peut l’histoire. Leçon inaugurale au Collège de France – 17 décembre 2015 | Patrick Boucheron
Patrick Boucheron, spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, plus particulièrement en Italie, a été nommé à la chaire d’Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, xiiie-xvie siècle, comme professeur titulaire au Collège de France depuis la rentrée 2015, avec une leçon inaugurale intitulée « Ce que peut l’histoire ». Pour les enseignants d’histoire et leurs élèves, c’est l’exemple d’un historien savant qui met à leur disposition une Histoire-Monde bousculant les périodisations et les approches entendues, pour une meilleure intelligibilité du présent par le recours aux ressources du passé.
Dans les années 1330, la Commune de Sienne est mise en péril par la « seigneurie », ce pouvoir personnel qui subvertit les principes républicains de la cité. Comment contrarier la tyrannie, asphyxier le foyer de la guerre et réapprendre l’art de vivre ensemble ? La commune politique doit convaincre: le meilleur gouvernement n’est pas la sagesse des préceptes qui l’inspirent, mais ses fruits concrets, tangibles pour chacun. Ces aspects étudiés dans un ouvrage paru en 2013 emblématisent la position de l’intellectuel1.
Une leçon inaugurale est un exercice convenu, avec ses passages obligés. Mais cela ne suffit pas au chercheur, à l’expression bien choisie. Il convertit le moment en credo: l’Histoire ne doit pas se contenter de relater la manière dont les pouvoirs se sont ancrés (les rois, la formation des États), mais aussi – et surtout – évoquer les tentatives expérimentales d’une autre organisation de la cité, même si elles ont échoué. Ces « expérimentations politiques », fourmillantes dans l’Italie des Trecento et Quattrocento, l’historien s’y montre attentif. Elles lui disent d’autres mondes possibles: « Ce que peut l’histoire, c’est aussi de faire droit aux futurs non advenus, à ses potentialités inabouties. »
Après les attentats qui ont choqué la France, Patrick Boucheron s’exprime en citoyen. Dans un engagement renouvelé, il convie à la vigilance contre de funestes usages civiques, transformés en artillerie politique inhumaine ou en appareil de répression. Il reprend une pensée centrale dans consacré à Sienne: « Avoir peur, c’est se préparer à obéir. »
Que peut l’histoire pour aujourd’hui ? L’interrogation l’habite. Le professeur cite Michel Foucault, avivant sa « mise en alerte toujours brûlante qui permet de se prémunir contre la violence du dire, de ne pas se laisser griser par sa puissance injuste », mais aussi Victor Hugo et sa foi dans la chose publique: « Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps-à-corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l’exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. » Rien n’est plus mortifère que de réduire l’Histoire à une machine à confectionner des démonstrations de désespoir. « Comment se résoudre à un devenir sans surprise, à une histoire où plus rien ne peut survenir à l’horizon, sinon la menace d’une continuation ? Ce qui surviendra, nul ne le sait. »
Son ambition ? Rendre le passé habitable, replacer l’histoire dans le débat intellectuel, la rendre tonique, réconcilier érudition et imagination, opposer une histoire sans fin aux chroniqueurs de la fin de l’Histoire, bousculer les divisions temporelles (« Une période est un temps que l’on se donne »), réorienter les sciences sociales, et surtout rafraîchir les problématiques du passé en les mettant en résonance avec celles du présent.
Pour Boucheron, la Renaissance n’est qu’un épisode dans une séquence plus ample: il observe les continuités entre les xiiie et xvie siècles. Adoptant le point de vue de l’histoire globale, il avait repéré dans le xve siècle une invention du monde2. De Tamerlan à Magellan, des steppes de l’Asie jusqu’à la saisie de l’Amérique en 1492, s’est accomplie une première mondialisation. Mais la geste de Christophe Colomb est tout sauf une aventure fortuite: elle est précédée, rendue probable et pensable, par une dynamique globale et séculaire d’interconnexion des espaces, des temps et des savoirs. Elle ne se laisse en rien délimiter par ce que l’on baptisera l’occidentalisation du monde: les commerçants de l’océan Indien, les marins de l’amiral Zheng He partis du fleuve Bleu, mais aussi les envahisseurs turcs, ont un plein rôle dans cette geste des devenirs possibles du monde, où rien n’est encore inscrit.
Militant, il convie à revisiter ses certitudes, son confort intellectuel, prétendant rechercher les moyens de « réconcilier en un nouveau réalisme méthodologique l’érudition et l’imagination. L’érudition car elle représente cette forme de prévenance dans le savoir qui permet de faire front à l’entreprise pernicieuse de tout pouvoir injuste consistant à liquider le réel au nom des réalités. L’imagination, car elle est une forme de l’hospitalité et nous permet d’accueillir ce qui dans le sentiment du présent aiguise un appétit d’altérité ». En cette période où le dialogue interculturel est en terrain défavorable, le propos doit être souligné. Et l’historien, revendiquant son statut de pédagogue, d’affirmer qu’il « faut se donner la peine d’enseigner […] pour convaincre les jeunes qu’ils n’arrivent jamais trop tard. Ainsi, travaillera-t-on à demeurer redevable à la jeunesse ».
[Notas]1 Boucheron Patrick, Conjurer la peur. Sienne, 1338: essai sur la force politique des images, Paris: Seuil, 2013, 285 p.176 | Didactica Historica 2 / 2016 le livre
2 Boucheron Patrick (dir.), Histoire du monde au xve siècle, Paris: Fayard, 2009, 892 p.
(*) Voir: Truong Nicolas, « Ce que peut l’histoire », extraits de la Leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France, in Le Monde, 02-04.01.2016.
Postface des extraits du Monde: prononcée le 17 décembre 2015, la Leçon inaugurale de Patrick Boucheron est téléchargeable en format audio et vidéo sur le site du Collège de France (http:// college-de-france.fr). Elle sera publiée sous forme numérique sur OpenEdition Books (http://books. openedition.org/cdf/156) et sous forme imprimée (coédition Collège de France/Fayard) au printemps 2016.
Pierre Jaquet – Gymnase de Nyon.
BOUCHERON, Patrick. Ce que peut l’histoire. Leçon inaugurale au Collège de France – 17 décembre 2015.* Resenha de: JAQUET, Pierre. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.175-176, 2016. Acessar publicação original
[IF]La carte perdue de John Selden: sur la route des épices en mer de Chine – BROOK (DH)
BROOK, Timothy. La carte perdue de John Selden: sur la route des épices en mer de Chine (1). Paris: Payot & Rivages, 2015, 295p. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.177-178, 2016.
Comment rédiger un ouvrage d’histoire à partir d’une carte du Sud-Est asiatique et de la Chine ? Pour l’enseignant qui le lirait, comment, se basant sur cet ouvrage, élaborer une séquence pour ses élèves ; à savoir faire étudier le trafic commercial au xviie siècle dans la région du monde qui connaît l’essor le plus florissant du commerce maritime.
Timothy Brook est sinologue. Plusieurs de ses travaux ont été consacrés à la Chine des Ming au xviie siècle, et à ses relations avec l’Europe. Son ouvrage précédent, Le Chapeau de Vermeer2, se place dans le courant de l’histoire connectée.
Dès lors, dans La Carte perdue de John Selden, nous nous intéressons aux tentatives des Européens, et ici des Anglais, de nouer des relations commerciales avec la Chine au xviie siècle. Quelles sont les difficultés rencontrées par les Européens dans cette entreprise ?
Le dernier ouvrage de Timothy Brook répond à ces questions. Il se place parmi de nombreuses publications d’historiens qui, depuis 20 ans, étudient les relations entre l’Europe, l’Asie et la Chine. Alors que bien des études mettent en relief l’isolement de la Chine, Brook nuance cette vision. Ainsi, du xve au xviiie siècle, la Chine est considérée comme l’un des pays les plus avancés du monde. Son artisanat, son administration, son imprimerie, son économie font d’elle l’un des pays les plus riches. Ses exportations, même faibles, participent au commerce international et satisfont les consommateurs européens3.
Or, le gouvernement impérial n’encourage pas le commerce maritime, car il s’estime menacé et concentre ses forces pour garder sa frontière nord. Par ailleurs, le gouvernement de l’empereur ne porte pas d’intérêt à l’ouverture de la Chine vers le monde extérieur. Mais les aléas climatiques et les menaces sur la Grande muraille fragilisent4 le pouvoir impérial qui, finalement, cède place à une nouvelle dynastie.
Ainsi, le pays ne se maintient pas constamment dans cet isolement immuable que nous lui prêtons. Dès lors, des commerçants chinois se mettent à voyager et s’établissent en Asie du Sud-Est, notamment à Java. Ils vendent et achètent des articles en porcelaine et des épices.
Dans cette région, à Bantam, vers 1608, une carte a sans doute été fabriquée, puis acquise par un capitaine anglais faisant du commerce avec le Japon. Brook nous précise qu’il s’agit d’une carte, unique, remarquablement précise sur laquelle sont tracées les principales voies de navigation empruntées par les marchands chinois. Les inscriptions de la carte, en chinois, désignent les villes et pays avec lesquels les Chinois commerçaient. Il est dit que ces inscriptions sont la transcription phonétique des mots d’origine espagnole, japonaise et chinoise d’où la maîtrise nécessaire pour accéder à leur compréhension.
En 2008, cette carte a été découverte dans la bibliothèque Bodléienne en Angleterre où John Selden, juriste et humaniste, l’avait déposée en 1654. Les historiens spécialistes de cette époque ont organisé un colloque, suivi par la publication d’un article de Robert Batchelor5, puis de l’ouvrage de Timothy Brook.
Dans son ouvrage, Timothy Brook étudie cette carte et le monde dans lequel elle a été produite. L’ouvrage contient trois parties:
Une présentation de l’Angleterre des derniers rois Stuarts où les premiers érudits tentent d’apprendre le chinois et certains annotent la carte. Les débats des humanistes au sujet du droit d’accès à la navigation figurent dans cette partie.
Les premiers efforts infructueux de l’EIC (Compagnie anglaise des Indes orientales) pour nouer des contacts commerciaux avec la Chine depuis le comptoir qu’elle avait établi au Japon. La concurrence hollandaise, les difficultés de la navigation, la malchance la poussent à renoncer à ses efforts après 10 ans.
Une étude minutieuse de la carte permet de comprendre la vision géographique du monde de son auteur: à savoir, la description de l’Asie du Sud-Est en sus de celle de la Chine. En effet, contrairement aux cartes chinoises de cette époque, cette carte se distingue par le fait que la Chine n’y occupe pas une place centrale.
Pour rédiger ce livre, sa maîtrise hors pair du chinois permet à Timothy Brook d’employer deux ouvrages chinois de la même époque pour déchiffrer les inscriptions de la carte. Les moyens techniques dont disposaient les navigateurs chinois et européens, les représentations que Chinois et Européens se faisaient du territoire chinois sont parmi les points mis en valeur dans ce livre.
Brook nous rappelle qu’au xviie siècle, l’économie chinoise est la plus importante du monde. Ses navires sont aussi performants que les navires européens, et elle occupe une place centrale dans le monde marchand. Rappelons que les routes maritimes en Asie suivies par les commerçants européens ont été ouvertes par les Asiatiques.
Ainsi, l’ouvrage de Timothy Brook est une prouesse d’érudition, où le lecteur se perdra parfois dans la très riche onomastique. Cet ouvrage précieux et riche pour le public déjà initié à ce domaine reste une découverte pour le lecteur peu familiarisé avec cette période: à mi-chemin entre les grandes découvertes et la colonisation européenne du xixe siècle.
[Notas]1 Brook Timothy. La carte perdue de John Selden: sur la route des épices en mer de Chine. Paris: Payot & Rivages, 2015, 295p.
2 Brook Timothy, Le Chapeau de Vermeer, le xviie siècle à l’aube de la mondialisation, Paris: Payot, 2010.
3 Voir Trentmann Frank, How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First, Allen Lane Hb, 2016.
4 Voir Brook Timothy, Sous l’oeil des dragons, Paris: Payot, 2012, p. 73-74.
5 Batchelord Robert (2013): « The Selden Map Rediscovered: A Chinese Map of East Asian Shipping Routes, c.1619 », in Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, 65 (2013);1, p. 37-63.
Michel Nicod – EPS Roche-Combe Nyon.
[IF]« Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden ». Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel – MATHIS (DH)
MATHIS, Christian. « Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden ». Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel. Baltmannsweiler: [S.n], 2015. Resenha de: ZIMMERMANN, Nora. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.179-180, 2016.
Vorbei ist die Zeit, in der Historikerinnen und Historiker ob der Darstellung von Umwälzungen und Umstürzen in Streit gerieten: « Die Rede von der Revolution ist beliebig geworden, niemand träumt mehr von ihr, niemand aber auch fürchtet sie noch. »1 Gerade deshalb ist – wie Autor Christian Mathis richtig feststellt – die Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution ein schwieriges Unterfangen geworden (S. 44).
Bemerkenswert ist die eingangs gemachte Feststellung, dass Schülerinnen und Schüler, obwohl die Französische Revolution fast überall auf der Welt in der Schule vermittelt wird, jeweils Unterschiedliches lernen. Mathis begründet dies vor allem mit der « Bedeutung der Französischen Revolution für ihre nationalen Biographien »2.
Ein besseres Verständnis von Schülervorwissen fördert gleichsam das (historische) Lernen und ermöglicht eine adäquate Lehrplan- und Curriculums-Gestaltung. Ausgehend von dieser Annahme gilt Mathis’ Forschungsinteresse den Vorstellungen, die Schülerinnen und Schülern von der Französischen Revolution haben. Hierzu befragte er Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse einer Schweizer Mittelschule. Mittels Triangulation von Leitfadeninterview, Erzählung und Gruppenverfahren sollte aufgezeigt werden, über welche Konzepte, Schemata und mentale Modelle Jugendliche im Hinblick auf die Französische Revolution verfügen. In einem zweiten Schritt wurden diese Schülervorstellungen zur historischen Kategorie « Wandel » in Beziehung gesetzt und nach deren Rolle beim historischen Denken über die Französische Revolution gefragt.
Nach der Einleitung und der theoretischen Rahmung der Studie folgen in Kapitel 3 erste lernpsychologische Ausführungen zur Theorie des « conceptual change », die auf Piaget basieren. Im Zentrum des darauffolgenden Kapitels stehen dann die Schülervorstellungen aus kognitions- und lernpsychologischer Sicht. Ausgehend von diesem Theoriemodell schlägt Mathis für seine Studie ein viergliedriges Modell vor: Schülervorstellungen sind demnach erstens « mentale Konstrukte, die beim Denken und Sprechen über Geschichte und Vergangenheit konstruiert, abgerufen und evoziert werden », zweitens « jene Wissensbestände (Begriffe, Konzepte und Erklärungsmuster), welche die Schülerinnen und Schüler “heranziehen”, wenn sie konkrete historische Sachverhalte, Phänomene oder Gegenstände erklären und interpretieren », und welche sich – drittens – « im Alltag bewährt haben ». « Diese können » – viertens – « mehr oder weniger wissenschaftsadäquat sein. » (S. 32).
Das fünfte Kapitel präsentiert einen konzis zusammengefassten Abschnitt über Standpunkte, Denkmodelle und Vorstellungen der historischen Fachwissenschaft zur Französischen Revolution. Ausführlich setzt sich Mathis dabei auch mit der sowohl gleichermassen für die Geschichtsschreibung wie auch für die Didaktik massgebenden Kategorie des historischen Wandels auseinander. Es folgt ein ebenso ausführlicher Methodenteil im sechsten Kapitel, in dem der Autor bereits vielerorts ausgeführte Theoriemodelle und Überlegungen der empirischen Geschichtsdidaktik ausgiebig erläutert. Hier hätte sich der Leser eine kürzere und pointiertere Darstellung gewünscht.
Im Hauptteil, Kapitel 7, präsentiert Mathis die empirischen Ergebnisse seiner Untersuchung. Dabei differenziert er die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zu ihren Vorstellungen zur Französischen Revolution in folgende vier Aspekte: 1. Gründe und Ursachen, 2. (Aus-)Wirkungen und Errungenschaften, 3. historische Akteure und 4. zeitlicher Verlauf und Vorstellungen von Wandel und Kontinuität. In seinem immer wieder mit ausführlichen Interviewausschnitten ergänzten und mit Hinweisen zur didaktischen Rekonstruktion versehenen Ergebnisteil präsentiert Mathis nicht nur aufschlussreiche Erkenntnisse zu Schülervorstellungen, sondern bietet auch einen spannenden Einblick in die geführten Interviews. Mathis präsentiert dabei eine detailreiche, sauber erarbeitete Analyse der Schüleraussagen und ermöglicht auf diese Weise gleichsam einen transparenten Einblick in sein Auswertungsverfahren. So beobachtet er beispielsweise, dass die Schülerinnen und Schüler, was die Ursachen der Französischen Revolution anbelangt, primär ökonomische Gründe anführen, diese jedoch, wenn es um Auswirkungen der Revolution geht, nur selten erwähnen. Vielmehr nennen die Befragten u. a. die Menschenrechte als die in ihren Augen bedeutendste Errungenschaft der Revolution. Ausgehend von den analysierten Schülervorstellungen formuliert Mathis im abschliessenden achten Kapitel fünf Leitlinien für einen « sinnvollen, lernförderlichen » (S. 212) und wissenschaftsadäquaten Umgang mit der Französischen Revolution im Unterricht der Sekundarstufen I und II.
Der vorliegende Band bietet GeschichtsdidaktikerInnen, Lehrpersonen sowie HistorikerInnen gleichermassen Interessantes. Er ist ein anregendes Beispiel für ein theoriegeleitetes Erhebungs- und Auswertungsverfahren von Schülerinterviews, liefert lehrreiche und praxisnahe Inputs zur didaktischen Strukturierung der Französischen Revolution als Thema im Geschichtsunterricht sowie eine detailreiche, fachliche Einbettung des Themas entlang historiographischer und geschichtstheoretischer Fragen. Gerade weil die Französische Revolution ein (fast) überall gelehrtes Thema ist und viele aus der angesprochenen Leserschaft das Thema – das fester Bestandteil der hiesigen Lehrpläne ist – selbst vermitteln, empfiehlt sich die Lektüre. Vielleicht verdankt das Buch seine künftigen Leserinnen und Leser auch schlicht der « magische[n] Anziehungskraft » von Revolutionen, « deren man sich nur schwer entziehen » kann3.
[Notas]
1 Engels Jens Ivo, « Kontinuitäten, Brüche, Traditionen. Die Französische Revolution von 1789 », in Müller Klaus E. (Hg.), Historische Wendeprozesse. Ideen, die Geschichte machten, Freiburg, Basel, Wien, 2003, zit. nach Mathis Christian: « Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden », Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel, Baltmannsweiler, 2015, S. 44.
2 Riemenschneider R. (Hg.), Bilder einer Revolution. Die Französische Revolution in den Geschichtsschulbüchern der Welt, Frankfurt am Main, 1994, zit. nach Mathis, Christian …, S. 8.
3 Rohlfes Joachim, Geschichte und ihre Didaktik, Göttingen, 2005, zit. nach Mathis Christian …, S. 45.
Nora Zimmermann – PH Luzern.
[IF]Mitten in Europa. Verflechtung und Abgrenzung in der Schweizer Geschichte – HOLENSTEIN (DH)
HOLENSTEIN, André. Mitten in Europa. Verflechtung und Abgrenzung in der Schweizer Geschichte. Baden: Hier und Jetzt, 2014, 285p. Resenha de: FURRER, Markus. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.181-182, 2016.
Der Berner Historiker André Holenstein tritt mit seiner transnationalen Deutung der Schweizer Geschichte « Mitten in Europa » gegen Vorstellung und Klischee an, die Schweiz sei eine politische und historische Insel. Er hat mit seinem Buch in einer Zeit, in der Identitätspolitik und die Frage nach den Ursprüngen an Virulenz zugelegt haben, breite öffentliche Resonanz gefunden.1 Eine Antwort auf diese Entwicklung gibt André Holenstein gleich zu Beginn: Die von Globalisierung und Liberalisierung besonders betroffene Schweiz, die sich auch der europäischen Integrationsdynamik nicht entziehen könne, wirke fundamental verunsichert. Als Kleinstaat erfahre die Schweiz die Auswirkungen solch dynamischer ökonomischer und politischer Prozesse besonders drastisch. Der Blick in die Geschichte, wie ihn André Holenstein vornimmt, zeigt zudem, dass die Schweiz als Staatswesen « mitten in Europa » den vielfältigen politischen, gesellschaftlichen und auch ökonomischen sowie kulturellen Prozessen des europäischen Umfeldes schon immer stark ausgesetzt war und diese zur Staatswerdung und Identität gar massgebend beigetragen haben. André Holenstein bringt dies auf die Formel von « Verflechtung und Abgrenzung », welche er als zwei Seiten derselben Medaille verstanden haben will – ein Spannungsverhältnis, das sich durch die Jahrhunderte zog und bis in die Gegenwart immer wieder zu frappanten Parallelen führt, sei es in der Aussenhandelspolitik, der Diplomatie generell und überhaupt in der schweizerischen Wahrnehmung Europas und der Welt. Diese Bezüge und Sichtweisen sind im vorliegenden Band besonders prägnant herausgearbeitet. Transnationalität wird in der Folge als « condition d’être » der Schweiz erkannt und ausgelegt.
Das für ein breiteres Lesepublikum anschaulich und beispielhaft geschriebene Buch ist auch für den Umgang mit und den Einbezug von Schweizer Geschichte im Unterricht von grossem Nutzen. Einmal postuliert André Holenstein, was Geschichte zu leisten vermag, und legt überdies Strukturen offen, wie man sich den Prozess der Herausbildung des schweizerischen Staatswesens erklären kann. Zur Sprache kommt auch die gesellschaftliche Funktion von Geschichte. So bedient historisches Wissen Orientierungsbedürfnisse: es schärft den Sinn für die Kräfte der Verflechtungen und der Abgrenzung und kämpft gegen das Verhaftetsein in statischen Geschichtsbildern an. Historisches Wissen kann so helfen, die Zeitgebundenheit von Geschichtsbildern und Geschichtsauffassungen zu entziffern und den Sinn für die Wandelbarkeit politischer Konstellationen und Machtlagen zu schärfen (S. 261).
Das Buch geht chronologisch verschiedenen Entwicklungssträngen und Prozessen nach und räumt mit Klischeevorstellungen mehrfach auf. Ein spezielles Augenmerk erhalten die Prozesse der Identitätsbildung wie der Alteritätserfahrungen im 15. Jahrhundert. Verflechtungen sowie Abgrenzungen in der alten Schweiz werden profund ausgeleuchtet. Als Beispiele für die Verflechtungen werden Migration (darunter militärische und zivile Arbeitsmigration) sowie kommerzielle wie auch die aussenpolitischen und diplomatischen Verflechtungen diskutiert. Beispiele für Abgrenzungen bilden insbesondere die Neutralität, die sich vom Gebot der Staatsräson zum Fundament nationaler Identität entwickelt hat, oder auch das Gefühl des Bedrohtseins des ‹ eidgenössischen Wesens ›. Zwei weitere Kapitel widmen sich den Prozessen der modernen Schweiz zwischen « Einbindung und Absonderung ». Mit einem Blick zurück erfahren wir vorerst, dass Schweizer Kaufleute bereits früh aus der günstigen Lage mitten in einem chronisch kriegerischen Europa heraus einen florierenden Handel mit Kriegsmaterial und lebenswichtigen Gütern betrieben (S. 105) oder auch, wie stark der strategisch sensible Raum des Landes durch die geopolitische Lage im « Auge des Hurrikans » bestimmt war. Die eidgenössischen Orte unterhielten bereits früh mit allen wichtigen antagonistischen Mächten langfristige Vereinbarungen und verschafften sich auf diese Weise Sicherheit (S. 123). Eine besondere Bedeutung hatte Frankreich für die Schweizer Geschichte. Dieser Macht vermochten die kleinen eidgenössischen Republiken wenig entgegenzusetzen, und so wirkte die Eidgenossenschaft bald als ihr Allianzpartner und bald als ihr Protektorat, je nach europäischer geopolitischer Grosswetterlage. Dabei war die alte Eidgenossenschaft auch ein schwieriges Pflaster für die ausländische Diplomatie, die sich um diesen strategischen Raum bemühte, was wiederum zeigt, dass der schweizerische Raum schon früh als eigenständiges Völkerrechtssubjekt betrachtet worden ist.
Immer wieder ist von Ambivalenzen die Rede. Das tiefe Bedürfnis nach Abgrenzung von einem als wesensfremd und bedrohlich wahrgenommenen Ausland gehört ebenfalls zur Geschichte der schweizerischen Aussenbeziehungen. Nach André Holenstein ist dies darauf zurückzuführen, dass in der konfessionell, später auch sprachlich-kulturell sowie politisch uneinheitlichen Schweiz die traditionellen Anknüpfungspunkte für die Begründung nationaler Zusammengehörigkeit fehlten und ihre kleinen Republiken auch über keine Bezugspunkte zu fürstlichen Dynastien verfügten.
André Holensteins breit angelegte Analyse zeigt mit ihrer stringenten und originellen Fragestellung von « Verflechtung und Abgrenzung », was Geschichte zum Verständnis und Verstehen einer Staatswerdung beitragen kann. Sie hilft uns, vom starken Mythenbezug der Schweizer Geschichte abzurücken und an dessen Stelle in Gesellschaft und Schule historische Analyse und Reflexion einzubringen. Dafür machte sich bereits Herbert Lüthy 1964 stark, als er schrieb:
« Es ist gefährlich, wenn Geschichtsbewusstsein und Geschichtswahrheit, und damit auch Staatsbewusstsein und Staatswirklichkeit, so weit auseinanderrücken, dass wir von uns selbst nur noch in Mythen sprechen können. »2
[Notas]1 Z.B. die Rezension von Maissen Thomas, Verflechtung und Abgrenzung, in http://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/verflechtung-und-abgrenzung-1.18432160 (20.07.2015).182 | Didactica Historica 2 / 2016
2 Lüthy Herbert, Gesammelte Werke, Bd. IV, Zürich 2005, S. 82‒102, S. 84, zit. in André Holenstein…, S. 15.
Markus Furrer – PH Luzern.
[IF]Schweizer Heldengeschichten – und was dahinter steckt – MAISSEN (DH)
MAISSEN, Thomas. Schweizer Heldengeschichten – und was dahinter steckt. Baden: Hier und Jetzt, 2015, 234 S. Resenha de: ZIEGLER, Béatrice. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.183-184, 2016.
Thomas Maissen ist in der Deutschschweiz im « Jubiläumssuperjahr » 2015 hervorgetreten durch seine Bereitschaft, wissenschaftlich basierte Geschichte gegen die geschichtspolitisch motivierten historischen Erzählungen von Christoph Blocher, der Leitfigur der schweizerischen SVP, zu stellen und die Diskussion um die Frage von Mythos und Geschichtswissenschaft zu führen. Dank seiner « Geschichte der Schweiz » (2010)
bestens bekannt und mit dem Renommee einer Professur an der Universität Heidelberg und der aktuellen Leitung des Deutschen Historischen Instituts Paris ausgestattet, bewegt er sich damit zwischen dem Geltungsanspruch von Experten und demokratischer Aushandlung von Geschichte. Dieser Problematik widmet er sich denn auch in der Einleitung seiner « Schweizer Heldengeschichten » und unterstreicht darin die Berechtigung von demokratischer Diskussion und Entscheidung über das kollektive Hoch- und In-Wert-Halten von Mythen. Wie bei jedem demokratischen Entscheid benötigt es, so Maissen, keiner Expertise, um eine Meinung zu haben und diese legitimerweise in die öffentliche Diskussion einzuwerfen. Die Geschichtswissenschaft sei in derselben nur eine Stimme unter vielen. Allerdings billigt er ihr dann doch die Position der Expertenschaft zu, in der methodisch gesichert, analytisch fundiert und theoretisch basiert Geschichte erzählt werde und damit auch die Differenz zwischen Mythen und Geschichte mahnend benannt werden könne. Dort lägen auch ihre Rolle und ihre Verantwortung. Was Maissen damit deutlich macht, ist der Sachverhalt, dass Mythen eine andere Funktion erfüllen als Geschichte, aus deren Fundus sie sich, über jede Anbindung an Wissenschaftlichkeit hinwegsetzend, immerhin (auch) bedienen.1 Und es ist wohl einfach der gesellschaftlichen Realität geschuldet, wenn er festhält, dass der Historiker nicht bestimmen könne, wie ein Mythos laute und welche Wirkung er entfalte. Die Chance, die Geschichtsbilder der schweizerischen Bevölkerung und Öffentlichkeit aufklärerisch zu beeinflussen, lägen demgegenüber darin, die Lücken aufzufüllen zwischen den beiden geschichtskulturellen Fixpunkten der schweizerischen Geschichte, der sogenannten Gründungszeit der Eidgenossenschaft und der Zeit des Zweiten Weltkriegs, deren mythische Bedeutung er in der heldischen Bewährung gegen Bedrohungen und äussere Feinde sieht.
Diese Aufgabenzuweisung bestimmt denn auch das Buch: In 15 Kapiteln zitiert Maissen mythische bzw. politische Aussagen zu schweizerischer Geschichte, diskutiert sie und entwickelt danach die entsprechende Geschichte so, wie sie angesichts des aktuellen Forschungsstandes und der vorhandenen und bekannten Quellen erzählt werden kann. Vom Rütlischwur bis zum Sonderfall erörtert er geduldig die jeweiligen Erkenntnisse der Wissenschaft und leistet damit aufklärerische Arbeit. Dass ihm dies auf überzeugende und gut lesbare Art gelingt, erstaunt niemanden, der seine früheren Publikationen gelesen hat.
Man möchte dann aber doch mit dem Geschichtswissenschaftler Thomas Maissen streiten: weniger über seine wissenschaftlich fundierten Erzählungen und Aussagen als vielmehr über einiges, was er über die fachliche Expertenschaft und ihre Arbeit sagt. Vorerst schiebt er zwischen die Einleitung und die 15 Kapitel eine spannende Einführung in die Geschichte der Geschichtsschreibung zur Schweiz. Auch hier folgt man ihm interessiert und durchaus zustimmend. Weniger begeistert nimmt man aber den defätistischen Ton zur Kenntnis, in welchem er eine der grundsätzlichen Besonderheiten von Geschichte als Wissenschaft erwähnt – die fortwährende Erneuerung, Revidierung und Erweiterung der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis –, die er dann aber neben die Aussage stellt, es sei in der politischen Auseinandersetzung legitim, auf veraltete Forschungsstände zurückzugreifen. Nun ist Erkenntnisfortschritt und damit die Revidierung von Wissen ein überaus wichtiges Kennzeichen wissenschaftlicher Arbeit, und zwar auch im Falle der Geschichtswissenschaft. Zudem ist der politische antiaufklärerische Rückgriff auf revidiertes und damit überholtes Wissen eine unredliche, das « Volk » täuschende Vorgehensweise im Interesse um « Macht und Wähleranteile », wie Maissen dies durchaus benennt, die schwerlich als legitim bezeichnet werden kann, wie er dies aber tut.
Auch die selbstbezichtigende Wendung befremdet, mit der Maissen die von ihm genannte Funktion von Geschichtswissenschaft in der Geschichtskultur beschreibt: So ist es zweifellos richtig, wenn er die Tätigkeit, in welcher die Geschichtswissenschaft die « volkstümliche Deutung der Geschichte mit dem aktuellen Wissensstand unter Fachleuten vergleicht », als dekonstruierend bezeichnet.2 Warum er ihr aber das Attribut des Negativen hinzufügt (S. 11) und es bedauert, dass ein Historiker nicht in gleicher Weise über gewonnene Erkenntnisse hinweggehen darf (S. 12), wie das Teile der Geschichtspolitiker tun, ist unverständlich. Und die Frage, wie eine mythische Erzählung Räume für Entwicklung öffnen soll, wenn sie sich elementarer wissenschaftlich begründeter Kritik an einzelnen ihrer Elemente oder an der mangelnden Begründung ihrer Sinnstiftungen kategorisch verschliesst, müsste dann doch gestellt werden (S. 12).
[Notas]1 Man tut gut daran, Roland Barthes’ Nachdenken über die Spezifität des Mythos nicht zu vergessen. Barthes Roland, Mythen des Alltags, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1964.184 | Didactica Historica 2 / 2016
2 Die Dekonstruktion als eine Textanalyse, die denselben auf Entstehungszusammenhänge, Interessen und Aussageabsichten, fachliche Richtigkeit und Plausibilität hin untersucht, ist in den letzten Jahren in der Geschichtsdidaktik als De-Konstruktion bedeutsam geworden, gerade weil der Umgang mit geschichtskulturellen Geschichtsdeutungen neben der Fähigkeit zur Erstellung der eigenen Narration als zwingend erachtet wird, um selbstbestimmt mit Geschichte in der Gesellschaft umzugehen. Vgl. Schreiber Waltraud, Körber Andreas, Borries Bodo von, Krammer Reinhold, Leutner-Ramme Sibylla, Mebus Sylvia, Schöner Alexander, Ziegler, Béatrice, Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell, Neuried: ars una, 2006.
Béatrice Ziegler – PH FHNW, Aarau und Universtät Zürich.
[IF]
Technocritiques – JARRIGE (DH)
JARRIGE, François. Technocritiques.(1) Paris: La Découverte, 2016. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.159-160, 2016.
De nos jours, alors que les moyens de communication de l’information ainsi que la rapidité assurée par la multitude des voies de transport d’objets et de matières transforment le monde, les techniques sont soit déifiées, soit violemment critiquées. Des pesticides aux OGM, du « tout automobile » aux services à la personne assurés par un robot, l’évolution des techniques et leur présence dans notre quotidien nous interpellent.
Comment aborder les techniques2 dans le cours d’histoire donné par l’enseignant ? Quelle place donner à cette thématique dans l’enseignement de l’histoire pour quels débats à soulever ? Où trouver les sources et les textes ? Quel découpage des périodes historiques adopter ? Et quelle place donner au monde non européen ?
Voici quelques réflexions suscitées par la lecture de l’ouvrage Technocritiques de François Jarrige. Un livre qui couronne sept années des travaux que l’historien a consacré aux luttes et contestations ayant accompagné le développement de l’âge industriel depuis sa thèse éditée en 2007.
Son ouvrage, construit en trois grandes parties, suit une perspective chronologique où l’auteur décrit l’alternance d’époques de critiques ou de vénération du progrès technique. La lecture débute par une partie consacrée au refus des premières innovations technologiques au nom de la défense du savoir artisanal, des risques encourus et de l’accroissement de la pauvreté.
Une seconde partie est consacrée aux années 1780 – 1840, et retrace l’infléchissement des débats. Il n’est plus possible de s’opposer aux nouvelles technologies qui apparaissent dans tous les espaces sociaux. Le progrès technique étant accepté, les discours portent, dorénavant, sur la place et le contrôle des machines. Tous les esprits s’y convertissent, dans toutes les familles politiques, jusqu’à l’Église3.
L’auteur nous invite, dans la 3e et dernière étape de notre lecture, à découvrir la résurgence d’une pensée critique qui, après 1945, nous mène aux débats contemporains sur le contrôle des nouvelles technologies.
François Jarrige réalise, tout le long de son ouvrage, une synthèse minutieuse des débats qui ont accompagné l’industrialisation de l’Europe, à travers laquelle il redonne voix aux « vaincus de l’histoire » et décrit la pluralité des discours et les alternatives, maintenant oubliées, qui ont accompagné chaque phase de l’industrialisation. Durant chacune de ces phases, les critiques ont proposé d’infléchir le « progrès » en y introduisant des visions plus égalitaires. Ces dernières ont influencé le cours de l’histoire et ont induit des politiques plus respectueuses de la sécurité et du confort de la population.
Dès lors, une histoire du progrès technique ne saurait se passer d’une histoire des critiques de ces mêmes progrès techniques ; à savoir une inquiétude constante qui accompagne le développement du machinisme et l’envahissement des sociétés humaines par des machines toujours plus complexes.
L’auteur montre que, si des alternatives ont été proposées dans le passé, d’autres sont encore possibles aujourd’hui, non pas pour renoncer à l’innovation technique, mais pour discuter de sa place. Il s’efforce de désacraliser l’analyse des techniques et de les replacer dans l’histoire comme lieu de rapports sociaux inégaux, notamment entre patrons et ouvriers4. François Jarrige sait qu’il expose une analyse qui dénote, dans un monde « façonné par l’innovation »5. Il met en cause le progrès technique ou du moins l’interroge lorsqu’il dénonce la « course à l’abîme du fatalisme technologique ».
La réflexion proposée par l’ouvrage s’inscrit dans une lignée de travaux qui, depuis un siècle, interrogent notre rapport aux techniques6. L’auteur se
réfère abondamment aux travaux de ses prédécesseurs pour mettre en cause une vision univoque des techniques comme apportant le bien-être aux sociétés humaines.
Il propose un parcours dans le temps, étape par étape: de 1800 aux réflexions les plus récentes, il retrace les débats suscités par le développement des techniques. L’enseignant y trouvera de nombreuses citations et références qui enrichiront son travail au quotidien, ainsi que l’analyse des discours et débats depuis 1800.
Cependant, l’approche chronologique choisie par l’auteur ne met pas en évidence les facteurs constants qui ont accompagné ces débats: les enjeux de pouvoir, la crainte de la paupérisation, les atteintes à la nature, la critique sociale.
Ainsi, à travers des périodes, des régions, des outils et leurs divers moyens de diffusion, François Jarrige nous fait voyager sur deux siècles. Au xxie siècle, nous vivons dans un espace mondial fortement unifié par les moyens de communication où la diffusion des innovations se fait instantanément en traversant l’espace et le temps. Pourtant, le débat persiste sur les dangers d’adopter des innovations dont la place dans nos sociétés n’a pas été négociée entre les acteurs sociaux, et dont les effets n’ont pas toujours été mesurés.
Ainsi, ne pas avoir son smartphone à portée de main peut–il entraîner une perte de concentration, des troubles dus à l’anxiété ? Et disposer d’un smartphone nuit-il à la vie en société ? La présence, le refus ou l’acceptation des techniques dans notre quotidien nous divisent autant qu’ils nous fédèrent.
[Notas]1. Paris: La Découverte, 2016
2 Par « technique », nous reprenons la définition qu’en donne Didier Gazagnadou, « un acte efficace sur la matière, sur un milieu ou sur le corps, avec la médiation du corps humain, des instruments, des outils et des machines », voir Gazagnadou Didier, La diffusion des techniques et des cultures: essai, Paris: Kimé, 2008, p. 39.
3 Jarrige François, Technocritiques, p. 125-126.160 | Didactica Historica 3 / 2017
4 Jarrige François, Technocritiques, p. 155 « mettre les machines au service du prolétariat ».
5 Jarrige François, Technocritiques, p. 352, 355.
6 Voir les travaux que Lewis Mumford, François Gilles et plus récemment Didier Gazagnadou, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz ont consacré à l’histoire des techniques.
Michel Nicod – Établissement primaire et secondaire Roche-Combe Nyon.
[IF]Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações | Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida
“a perda da diversidade genética e específica pela destruição dos ambientes naturais é a estupidez pela qual os nossos descendentes estarão menos dispostos a nos perdoar”
Edward O. Wilson
“Suba!”, lhe diz o seringueiro. A casa é firme graças à maçaranduba, acariquara, murmuru, tarumâ e paracuba, madeiras boas para o barrote, espécie de pilotis sobre o qual se ergue o assoalho de paxiubão. Mas antes de ir entrando, tire os sapatos e lave os pés. Para a parede, paxiubinha, gitó, cumaru e cedro têm preferência. O teto sobre a sua cabeça talvez seja feito de palha de aricuri, que dura até 12 anos se for cortada “no escuro da lua” (lua nova). Admire o asseio e perceba o brilho das panelas areadas pela dona da casa no igarapé mais próximo. Mas só as mulheres serão convidadas a entrar na cozinha antes da hora da refeição. Esta hipotética visita e muito mais é o que nos permite um livro admirável sobre um cantinho de Brasil tão desconhecido quanto fantástico chamado Alto Juruá.
Fica no sudoeste do Acre, em uma região tão isolada que a cidade mais próxima, Marechal Thaumaturgo, até o ano de 2000 não tinha nem correio nem banco, tampouco juiz ou padre e apenas um telefone público. Por outro lado, neste vasto território de 10 mil km2 e apenas 8 mil habitantes, já foram registradas 1620 espécies de borboletas (estima-se que sejam 2000), 616 espécies de pássaros, 113 espécies de anfíbios e 16 espécies de primatas, sem falar em mais de 100 mil espécies de insetos. Estudos realizados por geólogos, ecólogos e botânicos chegaram à conclusão de que a bacia do Alto Juruá “possui uma notável diversidade de sistemas naturais”. Trata-se daquilo que os especialistas chamam de fronteira biológica. Aqui a floresta ainda predomina, embora sejam encontrados mais de dez tipos diferentes de formações florestais, onde se vêem samambaias de até 5 metros de altura. Estes recursos têm sido utilizados – até agora – sem causar impacto destrutivo, de tal modo que os sistemas naturais se encontram em uma situação de “equilíbrio dinâmico”. A baixa densidade demográfica e o estilo de vida extrativista causam alterações de uma ordem que ainda permite à natureza recuperar-se. Um roçado abandonado, volta a ser floresta em 60 anos.
A esta riquíssima biodiversidade, corresponde uma história igualmente complexa e rica, que nos últimos 130 tem tido o seu ritmo ditado pela borracha. Até 1912, a época “de ouro”, marcada pela vinda maciça de nordestinos, logo enredados pelos patrões em dívidas contraídas no nefando sistema do barracão. Tempo das “correrias”, matança organizada e sistemática de índios, assim descrita por um padre francês ainda em 1925:
“Reúnem-se trinta a cinqüenta homens, armados de carabinas de repetição e munidos cada um de uma centena de balas; e, à noite, cerca-se a única cabana, forma de colméia de abelhas, onde todo o clã dorme em paz. À aurora, à hora em que os índios se levantam para fazer sua primeira refeição e seus preparativos de caça, um grito combinado dá o sinal, e os assaltantes fazem fogo todos juntos e à vontade”
O governo brasileiro ainda tentou reviver o auge da borracha durante a 2ª Guerra Mundial, pois o Japão havia cortado aos aliados o suprimento de borracha vindo da Malásia (cujo sistema de produção havia derrubado os preços e causado a falência da região da borracha por décadas). Criou-se a “Batalha da Borracha” e milhares de nordestinos foram atraídos por uma mentirosa campanha de propaganda que lhes prometia prosperidade. Após a 2ª Guerra Mundial a região foi novamente abandonada. Com isto, os seringueiros e os três povos indígenas que habitam estas terras (kaxinawás, ashaninka e katunika), embora tenham mantido costumes e identidades culturais próprias, acabaram por forjar um conjunto de conhecimentos e práticas relativos à floresta que desaguou na “Aliança dos Povos da Floresta”. Acabava-se o “tempo do cativeiro dos patrões” e chegava finalmente o “tempo dos direitos” (kaxinawá) ou “das cooperativas” (seringueiros). O processo culminou com o reconhecimento dos direitos dos indígenas às suas terras na década de 80 e com a criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá em janeiro de 1990, depois de inúmeros conflitos com os patrões para por fim ao monopólio comercial e à cobrança de uma renda anual de 33 kg de borracha por ano, referente ao uso de uma terra que jamais havia sido legalmente deles e de fato sempre havia sido trabalhada pelos seringueiros.
É até difícil explicar em poucas palavras a relevância da Enciclopédia da Floresta. Seu grau de detalhamento é impressionante e nada lhe escapa: os solos, a vegetação, a fauna, os costumes de cada um dos povos, o calendário agrícola, uma descrição passo a passo das atividades (construção de casas, estradas de seringa, alimentação, caça), as formas de classificação do mundo pelos seringueiros, pelos Kaxinawá, pelos Katukina e pelos Ashaninka. Há centenas de fotos e ilustrações, diagramas, mapas, desenhos e dicionários de bichos e plantas. Nem mesmo a mitologia ficou de lado, para o prazer do leitor. Fruto de um trabalho de pesquisa que vem se realizando há mais de uma década, contando com dezenas de especialistas de universidades públicas brasileiras e com uma equipe de pesquisadores “nativos” igualmente importante (todos são devidamente biografados ao final), é uma obra de valor inestimável.
Um dos pontos mais importantes a destacar é a parceria entre o saber científico e aquele proveniente da prática cotidiana, fazendo cair por terra uma perniciosa dicotomia já atacada por Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem. Por último, é preciso lembrar que todo o sistema de entrelaçamento entre os homens e a natureza descrito pela obra repousa sobre um equilíbrio tão frágil quanto ameaçado:
“Não há bolsa de futuros para essa biodiversidade; não há títulos para florestas de máxima diversidade a serem entregues daqui a cem anos. Todas essas árvores e borboletas parecem supérfluas do ponto de vista do mercado.”
Marcos Alvito – Professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Autor de As cores de Acari.
CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro Barbosa de (Orgs.). Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Companhia das Letras,2002. Resenha de: ALVITO, Marcos. Cantareira. Niterói, n.2, 2002. Acessar publicação original [DR]
Nietzsche em chave hispânica – MARTON (CN)
MARTON, Scarlett. Nietzsche em chave hispânica. São Paulo: Edições Loyola, 2015. Resenha de: MOYA, Gloria Luque. Cadernos Nietzsche, v.37 n.1 São Paulo jan./jun. 2016.
O GEN (Grupo de Estudos Nietzsche), por meio de sua coleção Sendas & Veredas, em sua série Recepção, dirigida pela professora Scarlett Marton, com a intenção de abrir novas frentes de discussão, vem publicando uma série de números monográficos sobre a atualidade da investigação acerca de Nietzsche em diferentes países. Trata-se de acolher as distintas linhas interpretativas que na atualidade se estão levando a cabo em diferentes países com a finalidade de promover uma reflexão sobre a singularidade e especificidade de suas leituras sobre os textos de Nietzsche. Assim, por exemplo, já foram publicados os seguintes títulos: Nietzsche na Alemanha; Nietzsche abaixo do Equador: Uma recepção na América do Sul; Nietzsche pensador mediterrâneo: a recepção italiana; Nietzsche, um francês entre os franceses. E agora este volume, que trata de reunir sob o título Nietzsche em chave hispânica uma série de trabalhos de alguns dos investigadores de maior relevo na pesquisa Nietzsche que se tem feito neste momento na Espanha. Os autores que aparecem no livro são quase todos os filósofos que têm promovido na Espanha os estudos sobre F. Nietzsche nas últimas duas décadas, dando um impulso de enorme importância à Nietzsche Forschung, fundando uma Sociedade espanhola de estudos sobre F. Nietzsche (SEDEN), sobre cujos auspícios se criou uma prestigiosa revista, a Estudios Nietzsche (ano 2000). Uma das contribuições mais significativas dessa sociedade, por seu alcance e sua grande utilidade para a investigação, tem sido a tradução para o espanhol, partindo das últimas correções do texto original em alemão, de grande parte dos escritos e da correspondência de F. Nietzsche: Fragmentos Póstumos (4 vols., 2007-2010, Tecnos: dir. Diego Sánchez Meca); Correspondencia (6 vols., 2005-2013, Trotta, dir. Luis Enrique de Santiago Guervós) e Obras Completas (4 vols., 2011-2016, Tecnos, dir. Diego Sánchez Meca). Essa enorme tarefa que realizaram em tão poucos anos presta certamente uma colaboração inestimável para todos aqueles estudiosos de língua hispânica que se dedicam a estudar a vida e a obra de Nietzsche. A importância dessa contribuição se pode compreender e ampliar no primeiro capítulo do livro, que revela a presença de Nietzsche na Espanha nas duas últimas décadas.
As contribuições que aparecem no livro são significativas tanto em termos de autores, ligados à SEDEN, quanto por aquilo que abordam: Marco Parmeggiani e Fernando Fava, “Nietzsche na Espanha”; Francisco Ares Doz, “Alcance e limites da recepção de Nietzsche no contexto acadêmico espanhol (1939-1975)”; Diego Sánchez Meca, “Vontade de potência e interpretação como pressupostos de todo processo orgânico” e “Nietzsche ou a eternidade do tempo”; Luis Enrique de Santiago Guervós, “A dimensao estética do jogo na filosofia de Nietzsche”; Manuel Barrios Casares, “O ‘giro retorico’ de Nietzsche” e “Niilismo e pós-humanidade na cultura contemporânea”; Joan B. Llinares, “A filosofia da linguagem em Nietzsche”; Remedios Ávila Crespo, “A critica de Nietzsche ao romantismo”; Marco Parmegginai, “Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade”. Com isso, o leitor português e brasileiro têm a seu alcance um material importante para conhecer o trabalho que está sendo feito na Espanha, ao mesmo tempo em que se informam sobre a recepção de Nietzsche nesse país desde 1939. Desse modo se desenha um novo quadro na recepção de Nietzsche na Espanha e se apresentam aos leitores novas linhas de investigação para além daquelas com que trabalham atualmente. É indubitável que os esforços que leva a cabo o grupo GEN de São Paulo em difundir a pesquisa que se realiza em distintos países contribuem para criar um espaço comum para que a investigação de um dos pensadores mais importantes de nossa contemporaneidade tenha esse caráter universal que seguramente possibilitará um trabalho mais produtivo acerca da interpretação da vida e da obra de F. Nietzsche.
* Este texto também será publicado na revista Estudios Nietzsche 16/2016, da Sociedade Espanhola de Estudos sobre Friedrich Nietzsche (SEDEN). Tradução de Márcio José Silveira Lima
Gloria Luque Moya– Professora da Universidade de Málaga, Espanha. Correio eletrônico: glorialm@uma.es
Política y religión en el Mediterráneo antiguo. Egipto, Grecia, Roma | Marcelo Campagno, Julián Gallego, Carlos G. GArcía Mac Gaw
Sería lógico pensar que los campos que actualmente identificamos con el nombre de “religión” y “política” en nuestro universo simbólico son esferas diametralmente opuestas, dado que el imaginario colectivo contemporáneo asume que la dimensión que abarcan una y otra son asuntos totalmente distintos, en tanto a la primera le conciernen cuestiones vinculadas con el mundo de “lo sagrado”, “lo trascendente” y la espiritualidad del ser humano, mientras que la segunda se inclina a asuntos netamente terrenales conectados grosso modo con las acciones que tienen lugar en la esfera pública y afectan por tanto la vida de una determinada sociedad. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la política y la religión han coincidido en varios aspectos, así como también tejido numerosos vínculos y construido escenarios comunes, al punto de confundirse y llegar a semejar un único plano de la realidad, desdibujándose de este modo la línea entre lo espiritual y lo terrenal. En efecto, las relaciones entre lo religioso y lo político han marcado de manera diversa, abigarrada y compleja la trayectoria de las más variopintas culturas a lo largo de la historia. Para bien o para mal, las prácticas y representaciones de la religión interactuaron con las prácticas y representaciones de la política a lo largo de diversos contextos espacio-temporales, dando por resultado una suerte de trasvase de actitudes, comportamientos, sentimientos, aspiraciones, ideas, referencias, imágenes, significaciones y concreciones. Indudablemente, este tipo de argumentaciones puede aplicarse al mundo antiguo, una de cuyas principales características radica en el hecho de que el conjunto de sus formas de ejercicio del poder, instituciones, prácticas económicas, modos de sociabilidad, costumbres rituales y percepciones se ve afectadas – de un modo directo y profundo – tanto por las dinámicas producto de la religiosidad como por aquellas que se originan en el ámbito político, aunque sus respectivos alcances no siempre son fácilmente discernibles, ya que ambas esferas definían una realidad inextricablemente unida y no una simple interconexión o superposición de capas, como parecen demostrar la articulación entre las costumbres rituales y las prácticas institucionales, el rol del templo y la religión en el ejercicio del poder, o la amalgama entre el universo simbólico y las dinámicas políticas. En consecuencia, la escisión entre ambos aspectos es acertada sólo en términos analíticos cuando el objetivo pase por comprender cómo operaban la política y la religión en la estructuración y funcionamiento de las sociedades antiguas. Leia Mais
Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América Portuguesa. Século XVIII | Isnara Pereira Ivo
Homens de Caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da América Portuguesa. Século XVIII: este livro da autora Isnara Pereira Ivo é decorrente de sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2009.
O livro tem como objetivo focalizar as conexões e as ações comerciais entre o sertão da Bahia e o norte de Minas Gerais no século XVIII, destacando as trocas culturais e comerciais no Império português. Para isso, a obra se divide em quatro capítulos, com início na análise da trajetória de indivíduos e da maneira pela qual eles contribuíram para a conquista dos sertões, tomando como exemplo o estudo das perspectivas das histórias conectadas. Estas conexões, que abrangeram os quatro cantos do mundo, não somente ocasionaram trânsitos culturais como também levaram a trocas de experiências, práticas, costumes, valores, sentimentos, identidades, crenças entre diferentes elementos e distantes localizações. Leia Mais
Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea / André L. Resente
“Devagar e simples: Economia, Estado e vida contemporânea” é a obra do economista neoclássico André Lara Rezende, publicada em 2015 pela editora Companhia das Letras. O filho do escritor Otto Lara Rezende participou da elaboração do Plano Real, foi presidente do BNDES no governo FHC e fez parte da última campanha de Marina Silva à presidência da República. O livro dispõe de uma coletânea de trabalhos selecionados ao longo dos últimos anos distribuído em três capítulos, tendo como eixo central a desvalorização da política e a necessidade de repensar o Estado em prol da revalorização da vida pública. Entrelaçada com esta questão o leitor encontra uma aguda discussão sobre o crescimento econômico enquanto elemento associativo ao bem-estar social.
Para o autor o Estado precisa urgentemente caminhar devagar e (re) pensar os seus ápices de crescimento acelerado, porque talvez a simplicidade de dar um passo de cada vez possibilite o caminho mais seguro para uma sociedade cujo bem-estar seja ao menos vislumbrado para todos. Dentro deste escopo indica ainda a necessidade de usarmos da lógica cartesiana, não para sabermos o que é real, mas por meio da experimentação racional descobrirmos o que é falso: que o avanço científico aliado a um crescimento econômico acelerado não se apresenta como o único caminho para o bem-estar da civilização. Leia Mais
Transferência de renda no Brasil: O fim da pobreza? | Sonia Rocha
Nos últimos 10 anos observou-se no Brasil um crescimento significativo no desenvolvimento de programas sociais voltados para o núcleo mais pobre da população. Consequentemente, seu crescimento resultou numa maior participação deste tema no centro dos debates socioeconômicos, sobre as suas funcionalidades e implicações. A temática dos programas sociais ganhou destaque perante a grande mídia, assim como, na política e na econômica. Sobretudo no que se refere aos programas destinados a transferência de renda, que se transformaram no principal ponto de discussão sobre as políticas sociais; se dirigindo a elas como políticas de cunho clientelistas e de não contribuição social.
Inserido neste debate, apresentamos a obra lançada em 2013 pela editora Campus Elsevier intitulada: “Transferência de renda no Brasil: O fim da pobreza?”. Escrito pela economista e pesquisadora Sonia Rocha, este livro tem como objetivo analisar a trajetória dos programas de transferência de renda no país. Apresentando seu processo de maturação, suas principais características e efeitos, ao mesmo tempo que realiza uma historicização destes projetos na trajetória política e social do Brasil. Leia Mais
Books and Periodicals in Brazil 1768-1930: a Transatlantic Perspective | Ana Cláudia Suriani da Silva e Sandra Guardini Vasconcelos
Publicado na Inglaterra no final de 2014, Books and Periodicals in Brazil 1768- 1930: a Transatlantic Perspective é o primeiro volume dedicado ao Brasil a integrar a série “Studies in Hispanic and Lusophone Culture”. É o nono livro a ser publicado nesta série, voltada prioritariamente para os estudos literários. As organizadoras, Ana Cláudia Suriani da Silva e Sandra Guardini Vasconcelos, são, respectivamente, professora (lecturer) de estudos brasileiros na University College London e professora titular de língua e literatura inglesa na Universidade de São Paulo. A julgar pelas temáticas abordadas e os nomes envolvidos, o livro parece ser fruto, direto ou indireto, do projeto de cooperação internacional “A circulação transatlântica dos impressos – a globalização da cultura no século XIX”, coordenado por Márcia Abreu e Jean-Yves Mollier. Sendo assim, suscita comparação com outro volume editado em 2014, A circulação transatlântica dos impressos – conexões, organizado por Márcia Abreu e Marisa Midori Deaecto, e publicado por meio digital pela Unicamp.1 Por questões de espaço, no entanto, a presente resenha irá tratar unicamente do livro em língua inglesa, que talvez seja de acesso mais difícil para pesquisadores no Brasil.
Na introdução, as organizadoras ressaltam que não há publicação recente em língua inglesa voltada exclusivamente para a temática dos livros e impressos brasileiros. Apesar da grande quantidade de estudos realizados nessa área nos últimos trinta anos, quem não lê português (ou, pelo menos, francês) fica restrito praticamente ao Books in Brazil: a History of the Publishing Trade, de Laurence Hallewell, publicado originalmente em 1982, antes de ganhar fama em sua edição brasileira de 1985. De fato, existe uma discrepância muito grande entre o chamado ”estado da arte” do campo, no Brasil, e sua percepção por estudiosos estrangeiros. Nesse sentido, é oportuna a iniciativa de dedicar um volume da série “Studies in Hispanic and Lusophone Culture” ao assunto. Infelizmente, o presente volume preenche essa lacuna apenas em parte e de modo bastante desigual.
A circulação dos impressos é assunto fascinante e complexo não somente por sua capacidade de atravessar fronteiras geográficas, mas também disciplinares. Por ser um ponto de cruzamento entre saberes literários (escrita e autoria), artísticos (design e ilustração), tecnológicos (impressão e fabricação), sociológicos (sociabilidade e práticas de leitura), econômicos (comércio e mercado), políticos (censura e propaganda), assim como entre os aspectos propriamente editoriais e jornalísticos, trata-se de uma área que requer conhecimentos múltiplos e abordagens fortemente transdisciplinares. Um livro que busca apresentar o público estrangeiro à “pletora de materiais – teses, livros, artigos e números especiais de periódicos”,2 dedicados ao assunto nos últimos anos teria obrigação de tentar abordar, minimamente que fosse, cada um desses saberes, oferecendo um corte transversal do campo de estudos e fornecendo pistas para que o leitor pudesse buscar se aprofundar. Embora o volume em questão cumpra bem a promessa de oferecer uma perspectiva transatlântica – e, portanto, transcultural –, ele tropeça no desafio de elaborar um painel transdisciplinar do seu objeto de estudos. Sua visão da história dos impressos é voltada prioritariamente para um entendimento literário, com alguma atenção para práticas de leitura, sociabilidades e, em muito menor grau, questões políticas. As dimensões material (papel e tipografia), tecnológica (máquinas) e trabalhista (operários e empresas) – tão importantes no século que viu nascer a indústria gráfica – são praticamente ignoradas, assim como o são as facetas artísticas e gráficas de projeto e construção do impresso, que não recebem nenhuma consideração.
Mais grave ainda, o volume não cumpre a promessa, subentendida em seu título, de oferecer um panorama representativo da história dos livros e dos periódicos no período em foco. Como falar dos periódicos dessa época sem mencionar uma única vez Semana Ilustrada ou Revista Ilustrada; Careta, Fon-Fon ou O Malho? Apesar de a capa do livro estampar uma imagem retirada do famoso semanário de Henrique Fleiüss, nem a Semana, nem as produções do concorrente Angelo Agostini são referidas ao longo dos quatorze ensaios que o compõem. Igualmente omitidos da discussão estão figuras essenciais como Raphael Bordallo Pinheiro, Julião Machado e Correia Dias, candidatos mais do que óbvios a um estudo que se propõe ”transatlântico”. Francisco de Paula Brito, um dos maiores editores brasileiros do século XIX, ganha apenas duas menções passageiras – uma como autor3 e a segunda numa tabela, listado entre outros editores4 – e não há nenhuma a Benjamim Costallat, o editor-escritor que provocou um terremoto no meio editorial brasileiro à época em que o furacão de Monteiro Lobato ainda não passava de um vendaval. Hipólito da Costa, José da Silva Lisboa, Sisson, Lombaerts, Weiszflog, Rui Barbosa, Rodrigo Octavio, Edmundo Bittencourt, Humberto de Campos, Pimenta de Mello, J. Carlos, Raul Pederneiras, entre muitos e muitos outros são nomes cuja importância para a imprensa e os impressos o livro parece ignorar.
As omissões se estendem para um número significativo de estudiosos que têm se debruçado sobre aspectos da história dos impressos em anos recentes. Não há nenhuma referência (nem na bibliografia) aos escritos de Cláudia de Oliveira, Gilberto Maringoni, Isabel Lustosa, Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Marcelo Balaban, Marize Malta, Mônica Pimenta Velloso, Paulo Knauss, Rafael Cardoso (autor desta resenha), Renata Santos, Vera Lins – responsáveis conjuntamente por quase duas dezenas de livros sobre a história dos impressos, ao longo da última década – e muitos outros que ainda não tiveram ocasião de publicar um livro, mas cujos trabalhos estão amplamente disponíveis em forma de artigos. Esse fato evidencia uma preocupante tendência a tomar o grupo do qual se participa como único parâmetro e divulgá-lo no exterior como representante do Brasil como um todo. Feita essa crítica, deve-se elogiar o esforço das organizadoras para constituir uma rede, à medida que os autores representam instituições de São Paulo (9), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (1) e Paraná (1), além de duas do exterior.
O volume começa com uma introdução, assinada pelas organizadoras, que busca situar a problemática do livro e da leitura em um país conhecido historicamente por suas taxas altas de analfabetismo e pouca atenção à cultura letrada. Essa tarefa é cumprida de modo sucinto (4 páginas), passando rapidamente para um apanhado do conteúdo, capítulo a capítulo. O caráter um tanto apressado da introdução é indicativo de certas falhas recorrentes ao longo do livro. É uma pena que, logo no início, o texto seja prejudicado por uma tradução bastante deficiente. Ao que indicam os agradecimentos, os ensaios foram vertidos para o inglês, e posteriormente revisados, por grupo grande de pessoas. A falta de uniformidade da linguagem, de um capítulo para outro, sugere que não foi feito esforço suficiente de padronização editorial. A maioria dos ensaios evidencia domínio bom ou muito bom da escrita inglesa (capítulos 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14); outros, uma fluidez ainda razoável (capítulos 1, 2, 6). Os demais, porém, trazem erros que dificultam a compreensão de pontos mais nuançados e deixam dúvidas sobre o sentido de citações brasileiras – que, no mais das vezes, não são dadas no original. Essa desatenção para com a qualidade da linguagem estende-se também à revisão editorial no sentido geral. Em certos pontos do livro ocorrem remissões a nomes, fatos ou dados faltantes. Em outros, opções de terminologia causam confusão desnecessária – e.g., a imprecisão de datas e nomenclatura que cerca o uso do termo ”Império” ou, ainda, a decisão incompreensível de creditar o nome da Fundação Biblioteca Nacional como “National Library of Rio de Janeiro”.
O primeiro capítulo, de Márcia Abreu, intitulado “Reading in Colonial Brazil”, tenta desfazer a impressão equivocada de que não se lia no Brasil colonial. A autora vem explorando o assunto de modo sistemático desde antes do seu O caminho dos livros (2003), e traça aqui a circulação de livros de Portugal para o Brasil por meio de pedidos de autorização à Mesa Censória, à Mesa do Desembargo do Paço e ao Santo Ofício. Embora acrescente pouco de novo para quem já conhece seus trabalhos anteriores (sendo versão atualizada de texto publicado em português, em 2002), a inclusão desse capítulo logo no início do volume ajuda a estabelecer algumas questões de fundo, suprindo sua falta na introdução. O argumento central – de que as pessoas no Brasil-Colônia liam sim, mas não necessariamente o que era preconizado pelas autoridades morais e intelectuais da época ou por estudiosos posteriores – continua instigante, mesmo que esteja menos bem elaborado aqui do que em outras produções da autora.
O segundo capítulo, “Booksellers in Rio de Janeiro: the Book Trade and Circulation of Ideas from 1808 to 1831”, de Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves e Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira, é contribuição exemplar da função que deveria servir esse volume. Ao consolidar informações oriundas de anos de pesquisa e expô-las de modo sistemático, o ensaio traça um panorama geral do comércio livreiro visto por intermédio dos anúncios publicados na imprensa da época. Trata-se de apanhado seguro e sólido, capaz de abrir para o leitor estrangeiro uma visão equilibrada do assunto e apontar as principais discussões e referências da atualidade. Seu êxito em realizar esses propósitos contrasta com a ausência de ensaios que façam o mesmo para outros grandes temas: por exemplo, o comércio livreiro e o meio editorial durante o Segundo Reinado.
O terceiro capítulo, “Seditious Books and Ideas of Revolution in Brazil (1830-71)”, de Marisa Midori Deaecto e Lincoln Secco, promete uma discussão interessantíssima, mas fica no limite de aprofundar-se nela. Ao focar as personalidades de Libero Badaró e Álvares de Azevedo, mais importantes para o contexto paulista, o texto passa batido pela influência maior do ideário socialista no Brasil, que abarca a Revolução Praieira e outros movimentos de contestação. O Socialismo (1855), do general Abreu e Lima – talvez o exemplo mais notório de um livro com potencial sedicioso no período –, é descontado em três linhas. Além de ser prejudicado pela tradução, o ensaio embasa-se num arcabouço teórico e metodológico bastante frágil, com dependência excessiva sobre uma historiografia datada e certos momentos alarmantes em que arrisca conjecturas a partir de evidências como anotações anônimas a lápis em exemplares de livros encontrados em sebos. Há pouco sentido em incluir uma pesquisa de caráter tão exploratório num volume voltado para o público estrangeiro.
O capítulo 4, “Migratory Literary Forms: British Novels in Nineteenth-century Brazil”, de Sandra Guardini Vasconcelos, trata do impacto dos romances britânicos sobre o fazer literário no Brasil, demonstrando a insuficiência do modelo histórico que quer ver a França como matriz única ou primordial. Trata-se de outra contribuição sólida, que situa o leitor em relação a grandes temas como: surgimento do romance, repertório e cânone no Brasil, empréstimos e migrações, tomando cuidado sempre para relacionar esses fenômenos no campo literário com questões sociais maiores, como o lugar da mulher na sociedade patriarcal.
O capítulo 5, “The Library that Disappeared: the Rio de Janeiro British Subscription Library”, de Nelson Schapochnik, é de vivo interesse para especialistas no campo abrangido pelo livro. Com trinta páginas, trata-se do ensaio de mais fôlego do volume e destaca-se também como um dos poucos que traz quantidade de informações novas. Esse texto constitui um aporte valioso para a historiografia do campo, ao traçar a história da biblioteca que atendeu à comunidade britânica do Rio de Janeiro entre 1826 e 1892. O autor retoma, assim, e consolida o que já havia publicado sobre o mesmo assunto para o projeto temático “Caminhos dos Romance no Brasil séculos XVIII e XIX”.
O capítulo 6, “The History of a Pseudo-Dumas Novel: The Hand of the Dead”, de Paulo Motta Oliveira, trata de assunto interessante, porém de relevância apenas tangencial. A trajetória do romance A mão do finado, lançado pelo autor português Alfredo Hogan, em 1853, como sequência apócrifa ao Conde de Monte Cristo, é narrada em minúcia. Em meio à sua estranha carreira internacional, o livro teve aparições sucessivas no contexto brasileiro – algumas movidas pela ganância editorial da década de 1950. Além de sua incongruência com relação ao recorte do volume, o ensaio baseia-se em pesquisa ainda incompleta – suscitando conclusões “vagas e incertas”,5 no dizer do autor – e, portanto, a decisão de incluí-lo é temerária.
O capítulo 7, “Revista Nacional e Estrangeira (1839-40): a Foreign or a Brazilian Magazine?”, de Maria Eulália Ramicelli, aborda a questão crucial da relação entre ”nacional” e ”estrangeiro” na historiografia das revistas do século XIX. É difícil determinar o caráter nacional de muitos periódicos publicados durante o período em que cultura brasileira ainda era conceito em plena formação. Assim, várias revistas têm sido subestimadas por estudiosos de cepa nacionalista, por conta do seu recurso a textos e clichês importados ou por serem escritas em idiomas outros que o português. Apesar da relevância do tema, o ensaio se perde no desequilíbrio entre abstrações mal digeridas (e.g., ”classe dirigente”, “ideologia burguesa”) e uma compreensão nem sempre matizada do contexto político imediato dos anos finais da Regência.
O capítulo 8, “The Role of the Press in the Incorporation of Brazil into the Paris Fashion System”, de Ana Cláudia Suriani da Silva, volta suas atenções para o papel da imprensa em divulgar a moda no Brasil e elege o Correio das Modas como aquele que “estabeleceu o padrão para as revistas de moda”.6 Feita essa constatação, porém, a sequência do texto não se aprofunda na análise da revista, lamentavelmente. Prejudicado pela tradução problemática, o texto incorre numa série de afirmações confusas ou duvidosas – como, por exemplo, que “o Brasil fazia parte do sistema de moda parisiense antes que fosse consolidado”.7 Aliás, o próprio conceito de um ”sistema parisiense de moda” – pego de empréstimo a um estudo sobre o mundo da moda atual – assenta-se de maneira pouco confortável sobre o figurino do século XIX.
Uma pequena preciosidade do livro é o capítulo 9, “The Brazilian and the French Bas de Page”, de Lúcia Granja, pois recapitula a evolução da crônica jornalística, de modo comparativo entre Brasil e França. O texto retoma, assim, o importante trabalho de Marlyse Meyer sobre a história do folhetim, bem como as investigações anteriores da própria autora sobre esse tema. Juntando leitura detalhada de textos de época a um olhar atento para questões de diagramação da página, o ensaio oferece um apanhado instigante dos paralelos e das diferenças entre o que se fazia no Rio, sob influência francesa, e o que se passava na França. Afasta assim – sem grande alarde, mas com eficácia – a questão capciosa da cópia ou importação de modelos, e abre perspectivas para compreender melhor a natureza das inovações operadas no contexto brasileiro.
O capítulo 10, “How to be a Professional Writer in Nineteenth-century Brazil”, de Marisa Lajolo e Regina Zilberman, é a terceira contribuição de peso ao propósito de mapear o território brasileiro para o público estrangeiro. Trazendo uma discussão arejada das questões de direitos autorais e contratos editoriais, o ensaio traça um histórico da evolução das relações entre escritores, editores e legislação, calcado em leitura abrangente e pesquisa minuciosa. As autoras dão seguimento, assim, ao trabalho iniciado com seu importante O preço da leitura (2001). Um único problema de tradução, bastante grave, exemplifica as falhas de revisão do livro. Os estabelecimentos editoriais chamados de “tipografia”, no contexto brasileiro, são denominados reiteradamente de ”typography” e “typographer” – termos usados, em língua inglesa, exclusivamente para referir questões gráficas ligadas ao desenho e a fundição de tipos. O leitor monoglota terá dificuldade para entender, portanto, por que o autor brasileiro da época precisava conseguir “o acordo dos tipógrafos para publicar um livro”.8
O capítulo 11, “Print Technologies, World News and Narrative Form in Machado de Assis”, de Jussara Menezes Quadros, traz uma reflexão inteligente sobre o lugar do telégrafo e das incipientes agências de notícias na escrita de Machado. Contudo, a análise das “tecnologias de impressão”, prometida no título, fica limitada à sua influência indireta sobre formas narrativas. Trata-se mais de discutir as angústias e os entusiasmos provocados pela percepção de modernização das comunicações do que investigar qualquer impacto das novas tecnologias sobre os impressos. Embora não corresponda à intenção da autora, a presença do seu ensaio acaba por realçar a indiferença do volume com relação à materialidade dos objetos impressos. Tecnologia, aqui, é uma ideia literária, mais do que um fator concreto de transformação. O capítulo é o único que menciona – muito embora, não discuta – o advento da fotografia como inovação de relevância para os meios de comunicação no período.
O estudo de caso mais instigante do livro é o capítulo 12, “The Brazilian Book Market in Portugal”, de Patrícia de Jesus Palma. Comportando quantidade de informações desconhecidas, pelo menos daqueles estudiosos que miram seu olhar míope no Brasil como cultura insular, o ensaio oferece uma análise perspicaz e crítica do mercado para livros brasileiros em Portugal durante a segunda metade do século XIX. O foco é a figura de Ernesto Chardron, livreiro francês radicado no Porto, cuja atuação, em parceria com Camilo Castelo Branco, ajuda a desvendar alguns segredos da intrincada relação de chamego e despeito que une Portugal e Brasil. O ensaio contribui, com muito, para uma compreensão transcultural do meio editorial oitocentista.
O capítulo 13, “Popular Editions and Best-sellers at the End of the Nineteenth Century in Brazil”, de Alessandra El Far, é mais um ensaio a cumprir de modo exemplar a função que deveria servir esse volume. Partindo de pesquisas divulgadas em seus trabalhos anteriores – em especial, Páginas de sensação (2004) –, a autora pinta um quadro sucinto e animado das edições populares, dos romances de sensação e dos romances para homens que constituíram filão importantíssimo do mercado editorial brasileiro entre as décadas de 1880 e 1890. Bem fundamentado e escrito com vivacidade, o texto oferece ao leitor estrangeiro um estudo autorizado da primeira modernização do público leitor e das editoras, desfazendo velhos lugares comuns e iluminando práticas sociais correntes.
O capítulo 14, “The Brazilian Publishing Industry at the Beginning of the Twentieth Century: the Path of Monteiro Lobato”, de Cilza Bignotto e Milena Ribeiro Martins, parte do pressuposto batido e errôneo, atribuído a Hallewell, de que Monteiro Lobato “revolucionou a indústria editorial então estagnada do país”9 Lida na sequência do ensaio anterior, essa afirmação soa quase cômica. Mais uma vez, fez falta uma revisão editorial que assegurasse maior harmonia entre as partes do livro. De resto, sem grandes novidades em relação à polpuda bibliografia existente, o ensaio oferece um resumo da atuação editorial de Monteiro Lobato, assim como sua formação intelectual, destacando seus elos com o mercado argentino. O discurso nacionalista do grande editor é tomado, de modo acrítico, como virtude. Não se oferece ao leitor estrangeiro uma janela, ao menos, para entrever o lado mais obscuro do polemista que se deixou associar ao Integralismo, ao antissemitismo e a outras causas menos do que nobres.
Com esse último capítulo, voltado umbilicalmente para certo ufanismo paulista, o livro reafirma os limites de sua capacidade de dimensionar para o público estrangeiro a história dos impressos no Brasil. O saldo são cinco ensaios sólidos de fundo geral e quatro estudos de caso excepcionais. Se os cinco ensaios restantes tivessem sido substituídos por outros que abarcassem as temáticas faltantes – em especial, questões ligadas a materialidade e tecnologias – e incluíssem pelo menos alguns dos muitos autores ignorados – em especial, os que atuam no Rio de Janeiro –, aí, sim, teríamos um livro que poderia redefinir o “estado da arte” do campo.
Notas
1. Disponível em: http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/index.php?cd=3&lang=pt
2. p. 5.
3. p.80-81.
4. p.155.
5. p.130.
6. p. 157.
7. p.153.
8. p. 182.
9. p.245.
Rafael Cardoso – É escritor e historiador da arte, PhD pelo Courtauld Institute of Art (Londres), professor colaborador do programa de pós-graduação do Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Autor/organizador dos livros Impresso no Brasil, 1808-1930: Destaques da história gráfica no acervo da Biblioteca Nacional (Verso Brasil, 2009) e O design brasileiro antes do design: Aspectos sociais no Brasil, séculos XIX e XX.E-mail: rafaelcardoso.email@gmail.com
SILVA, Ana Cláudia Suriani da; VASCONCELOS, Sandra Guardini (Orgs.). Books and Periodicals in Brazil 1768-1930: a Transatlantic Perspective. Londres: Legenda; Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, 2014. Resenha de: CARDOSO, Rafael. Impressões do Brasil. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.12, n.14, p. 153-160, jan./jun. 2016. Acessar publicação original [DR]
La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français – FUREIX; JARRIGE (H-Unesp)
FUREIX, Emmanuel; JARRIGE, François. La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français. Paris: Éditions La découverte, 2015. 390 p. Resenha de: ROZEAUX, Sébastien. História [Unesp] v.35 Franca 2016.
Voici un ” essai historiographique ” voué à devenir un ouvrage de référence pour celui qui étudie, de près ou de loin, l’histoire de la France au XIXe siècle, en cela qu’il nous offre une recension précise et très informée de l’historiographie de ces trente dernières années. Ce tableau compréhensif de la recherche historique s’inscrit, et c’est là la grande vertu de ce livre-panorama, dans une histoire de la France qui s’écrit, de plus en plus, dans diverses langues et dans un dialogue accru entre des traditions historiographiques différentes. Cette attention accordée aux traditions française et anglo-saxonne, en particulier, a largement contribué à enrichir et complexifier, un peu plus encore, l’histoire d’un siècle sur lequel les historiens, en France et dans le monde, publié qu’aujourd’hui.
Cet ouvrage écrit à quatre mains paraît dans une nouvelle collection intitulée ” Écritures de l’histoire “, qui aspire à mettre en évidence ” la fabrique de l’histoire en train de se faire “, soit une attention particulière donnée aux conditions de la production du discours historique, passé et présent, ainsi qu’à ses usages dans l’espace public. L’ouvrage d’Emmanuel Fureix et de François Jarrige s’ouvre ainsi sur le constat amer d’une histoire du XIXe siècle dont l’ample renouvellement est contemporain de son éloignement dans les mémoires et les imaginaires, à mesure que les programmes scolaires, notamment, en atténuent ou édulcorent les traits les plus saillants, réforme après réforme. Or, dans le même temps, les deux auteurs constatent un certain regain d’intérêt pour ce XIXe siècle – dont l’historiographie récente porte la trace -; regain d’intérêt qu’ils relient, en particulier, à l’essor des mouvements de contestation contre la ” radicalisation du néolibéralisme “, en cours depuis les années 1980, contexte favorable, à leurs yeux, pour comprendre ” la quête incessante d’un autre XIXe siècle, à la fois plus réaliste et émancipé à l’égard des œillères héritées du passé ” (p. 37).
En effet, les deux historiens ont à cœur, dans cet essai, de mettre en évidence l’actualité du XIXe siècle, dès lors que celui-ci est restitué dans son irréductible complexité. Car, comme il est rappelé dans l’introduction, ” le siècle du progrès et de la modernité fut donc aussi celui des ambivalences, des inachèvements et des désenchantements ” (p. 10). Observateurs attentifs et enthousiastes de ce paysage ” luxuriant ” qu’offre le XIXe vu à travers le prisme de l’historiographie la plus récente, Emmanuel Fureix et François Jarrige ont l’ambition commune, tout au long des sept chapitres thématiques que compte l’ouvrage, de témoigner des vertus de cette attention nouvelle des historiens pour les arrangements, les discontinuités, les résistances et les expériences singulières qui ont permis de rompre avec une lecture trop linéaire ou téléologique du XIXe siècle.
Ainsi, l’ouvrage s’ouvre sur une relecture critique du siècle de la modernité advenue, ce ” macro-récit téléologique qui rend invisibles la richesse et la diversité des situations ” (p. 50). Le renouvellement concomitant de plusieurs champs historiographiques (parmi lesquels, l’histoire économique, celle des sciences, du travail ou encore rurale) permet d’offrir un tableau contrasté du siècle de la ” révolution industrielle “, dont la modernité affichée cache le plus souvent une réalité autrement plus complexe, faite d’accommodements, d’adaptations et de résistances, afin de dépasser le paradigme réducteur des prétendus ” archaïsmes ” d’une société en quête de ” modernité “.
Le livre fait ensuite l’inventaire des novations les plus remarquables en histoire culturelle, depuis l’histoire des sensibilités, jusqu’à l’histoire du livre et de la presse. Ces différents renouvellements historiographiques ont permis de prendre la mesure de l’ampleur et des limites des bouleversements d’un siècle marqué par l’émergence de la culture de masse, la démocratisation de l’éducation scolaire ou le ” triomphe du livre “. Sur ce dernier point, les deux auteurs s’attardent, à raison, sur l’étude très féconde des usages sociaux quotidiens du journal, qui ont contribué à renouveler en profondeur une histoire des appropriations de l’imprimé et des pratiques de lecture. Si l’essai se fait l’écho des nouvelles approches transnationales de l’histoire des intellectuels et de la circulation de la notoriété d’une œuvre ou d’un auteur, il est toutefois regrettable, ici, que les deux auteurs n’accordent pas la même attention au renouveau de l’histoire du livre et de l’édition. De nombreux travaux collectifs et internationaux, menés récemment, ont déjà établi qu’il était indispensable, désormais, de penser le livre et le monde de l’édition en France dans une perspective transnationale, connectée. Ce faisant, l’histoire des transferts et des circulations culturelles transatlantiques fournit des éclairages précieux sur une histoire culturelle qui entre en résonnance avec la mondialisation des phénomènes culturels, en cours au XIXe siècle – et en particulier entre les continents américain et européen.1
Par ailleurs, l’attention accrue des historiens à l’agency des acteurs a contribué au renouveau d’une histoire culturelle et sociale attentive, depuis le Linguistic turn, à historiciser les processus d’identification (individuel ou collectif) via l’analyse des constructions discursives dont, pour une part, ils résultent. En témoignent, par exemple, la nouvelle histoire du genre (appréhendée comme une construction sociale et culturelle de la différence des sexes), les débats autour de la question des identités sociales ou le renouveau des approches pour penser la construction du national – des réflexions que, là aussi, une attention nouvelle aux approches comparées et internationales ne manqueront pas d’enrichir plus encore à l’avenir.
Sur le versant politique, les auteurs rappellent la nécessité de ” rompre avec une histoire univoque de l’acculturation républicaine ” (p. 233) : la déconstruction du grand récit de la modernisation démocratique a mis en lumière les limites de la démocratisation, l’importance des résistances et l’extraordinaire diversité des voies de la politisation, au-delà du rôle encore limité de l’élection et du vote. La construction de l’État offre un autre champ de renouveau, par l’importance accordée à la réflexion socio-historique sur la progressive étatisation de la société, comme le permet, notamment, l’étude des ” nouvelles ingénieries du politique “, depuis l’essor de la statistique jusqu’au ” gouvernement des honneurs “. Une nouvelle histoire sociale de l’État et de ses agents, la réflexion sur le pouvoir régulateur de l’État vis-à-vis du marché et la mesure précise de son autorité au sein de la société sont autant de contributions pour penser à nouveaux frais la construction de l’État, l’étatisation des sociétés et ses limites.
Cette réflexion sur l’État et ses pouvoirs se trouve prolongée dans sa dimension impériale, puisque la colonisation est un champ d’études particulièrement fécond, en vertu des ” dynamiques pluridisciplinaires et transnationales ” et de ” la montée en puissance de l’histoire globale ” (p. 330). Dans la droite ligne des études postcoloniales, l’émergence d’une nouvelle histoire impériale a produit de nombreux travaux sur les mutations à l’œuvre au sein des sociétés métropolitaines et coloniales, par la mise en évidence de la complexité de leurs échanges et de leurs relations. L’imposition de l’ordre colonial sur les territoires colonisés se révèle être ainsi la source de violences protéiformes et de nouvelles inégalités, comme il produit des singularités remarquables, au prix de résistances et d’arrangements de ces sociétés soumises à ces formes inédites de la domination.
Historiens du XIXe siècle, Emmanuel Fureix et François Jarrige rappellent à travers cet essai les vertus d’une science, l’histoire, qu’ils envisagent comme la ” mise en scène de la pluralité des possibles à travers l’étude des sociétés passées et de la diversité des modes d’inscription dans le monde ” (p. 386). Et les deux auteurs d’énoncer, peut-être trop rapidement, les vertus émancipatrices de la science historique, en ces temps gagnés par le ” désenchantement ” et une ” insatisfaction ” anxiogène. J’ajouterai aux mérites de cet ouvrage, pour un public lecteur étranger, et notamment brésilien, celui de mettre en évidence la fécondité d’une histoire comparée à l’échelle internationale, compte tenu de l’intensification croissante de la circulation des hommes, des idées et des marchandises au XIXe siècle. Pour un spécialiste de l’histoire du Brésil à l’époque impériale, il ressort de la lecture de cet essai que l’histoire de la France au XIXe siècle, dont le dynamisme et le renouvellement sont ici brillamment exposés, doit désormais se lire et s’écrire dans sa dimension connectée et transnationale. De cette exigence découle aussi l’injonction faite aux spécialistes de l’histoire culturelle, sociale, économique ou politique, du Brésil en particulier et de l’Amérique latine dans son ensemble, à une plus grande attention à ces transferts, circulations (importations et exportations) et connexions auxquels le ” nationalisme méthodologique ” a longtemps fait obstacle. C’est par ce dépassement du carcan national dans l’écriture de l’histoire, en France et ailleurs, que les historiens peuvent prétendre in fine contribuer à produire collectivement une histoire mondiale ou atlantique des sociétés contemporaines.
1 Voir, en particulier: COOPER-RICHET D.; MOLLIER, J.-Y. Le Commerce Transatlantique de Librairie . Campinas/S.P: UNICAMP/Publicações IEL, 2012. ABREU M.; DEAECTO M. M. A Circulação transatlântica dos impressos [recurso eletrônico]: Conexões. Campinas, São Paulo: UNICAMP/IEL/Setor de Publicações, 2014. ABREU. M.; SURIANI DA SILVA A. C. (eds.). The cultural Revolution of the Nineteenth century . Theatre, the Book-trade and Reading in the Transatlantic World. Londres/New York: I. B. Tauris, 2016.
Sébastien Rozeaux – Docteur en histoire contemporaine. Centre de recherche sur le Brésil colonial et contemporain – Mondes américains. École des hautes études en sciences sociales, Paris. EHESS (Siège), 190-198 – Avenue de France – 75244 – Paris – CEDEX 13.
Imagem Contestada – A construção da história pela escrita do Diário da Tarde (1912-1916) | Karina Janz Woitowicz
A obra Imagem Contestada – A construção da história pela escrita do Diário da Tarde (1912-1916), publicada em 2014 pela Editora UEPG, é resultado da dissertação de mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, defendida pela jornalista Karina Janz Woitowicz em 2002. O livro, que recebeu o segundo lugar no 57º Prêmio Jabuti, na categoria Comunicação, é dividido em nove capítulos e tem como objetivo fazer a análise discursiva do jornal paranaense Diário da Tarde durante os anos de 1912 a 1916, período que envolve a Guerra do Contestado, ocorrida entre os estados de Santa Catarina e Paraná.
Por meio da Análise de Discurso procurou-se perceber, em cerca de 170 exemplares do jornal, quais as vozes e os posicionamentos tomados pelo periódico durante o acontecimento citado, reconhecendo um trabalho simbólico cotidianamente desenvolvido pela imprensa, em seu processo de construção do real e em seu “dizer” jornalístico. Leia Mais
Especialistas na Migração: Luteranos na Amazônia (1967-1997) | Rogério Sávio Link
Desenvolvido como um trabalho acadêmico, uma tese de Doutoramento, o livro de Rogério Link, deve encontrar leitores para além do espaço universitário, por vários aspectos: a narrativa, mesmo quando trata de questões teóricas, não é hermética; os temas tratados dizem respeito a indivíduos e grupos que estão enfrentando circunstâncias que são apresentadas com clareza pelo autor, muitas vezes com as palavras dos próprios protagonistas; o livro é bem organizado, com bastantes subdivisões, permitindo facilmente a releitura de parte da obra. Eventualmente, algumas subdivisões, como 4.1.7 e a 4.2.7, poderiam ser unificadas em um rearranjo diferente, mas o importante é o texto ter sua lógica e coerência. Acrescente-se também a presença do índice remissivo, que é muito importante em um estudo que perpassou tantos agentes, indivíduos e entidades, pois, afinal, a pesquisa abrangeu luteranos vinculados àIgreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e parte do Mato Grosso num período de três décadas. Por outro lado, aextensa bibliografia, as inúmeras fontes documentais, a par das entrevistas, as discussões conceituais e de campos acadêmicos, sinalizam uma obra de reconhecido perfil científico. Leia Mais
Diários de Berlim, 1940-1945 | Marie Vassiltchikov
Há seis anos começava a guerra.
Parece o tempo de
uma vida
Missie Vassiltchikov, Berlim, setembro de 1945
Mestre no escutar e no escrever, Truman Capote legou ao mundo da Cultura uma participação indelével, baseada na sua incrível capacidade de ver, mentalizar e, na sequência, descrever detalhadamente fatos havidos, por ele percebidos no instantes em que aconteciam ou recriados tempos depois. Entrou para a História assim.
O século 20 tem mais destes autores – muitos dos quais compõem o que hoje conhecemos por New Journalism, por exemplo -, tão ou mais famosos que Capote. Mas, singular que ele só, o século 20 tem gentes que não atingiram (nem almejavam isso) o que podemos chamar de Grande Mídia – nem eram jornalistas. Marie Vassiltchikov é uma dessas figuras. Princesa russa (bem nascida, portanto), poliglota, viajada, Missie (como era conhecida) também foi refugiada de guerra civil, funcionária de serviços diplomáticos e, o mais impressionante, um olhar atento voltado e situado no coração do Nazismo, essa chaga da Humanidade da qual tanto já lemos, tanto já expurgamos, tanto já discorremos e, paradoxalmente, tanto ainda temos a descobrir. Leia Mais
Os sonâmbulos: como eclodiu a Primeira Guerra Mundial – CLARK (HU)
CLARK, C. Os sonâmbulos: como eclodiu a Primeira Guerra Mundial. São Paulo, Companhia das Letras, 2014, 700 p. Resenha de: AVILA, Carlos Federico Domínguez. A Grande Guerra cem anos depois: relações internacionais em perspectiva histórica. História Unisinos 20(1):107-109, Janeiro/Abril 2016.
Em 28 de junho de 1914, o bósnio-sérvio Gavrilo Princip disparou e acertou o príncipe-herdeiro do Império Austro-Húngaro e sua esposa, Francisco Ferdinando e Sophie Chotek, respectivamente. Trinta e sete dias depois do atentado em Sarajevo, o continente europeu iniciava a Grande Guerra (1914-1918). Essa conflagração provocou a morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas, causou graves ferimentos a outros 21 milhões e forçou uma significativa recomposição da ordem mundial, dentre outras trágicas e dramáticas consequências. Assim, no contexto das comemorações do centenário do início daquela conflagração europeia e mundial têm sido lançadas numerosas obras sobre o assunto, inclusive o magistral trabalho do australiano Christopher Clark, intitulado Os sonâmbulos.
Publicada originalmente em 2012 e lançada no Brasil em maio de 2014 pela Companhia das Letras, a obra resenhada tem recebido críticas muito positivas de especialistas, acadêmicos e do grande público, em numerosos países.
Esses elogios são merecidos. O trabalho de Clark se fundamenta em uma sólida e formidável pesquisa em arquivos e literatura especializada, inclusive documentos diplomáticos procedentes de uma dezena de países europeus, em memórias e em fontes hemerográficas.
Igualmente, é possível perceber inovações metodológicas, particularmente naquilo que diz respeito ao estudo dos processos de tomada de decisões em contexto de crise, ao denominado cálculo estratégico, isto é, a correlação entre objetivos, meios e riscos em política, e à análise de política externa. Nessa linha, a obra dialoga com os estudos históricos, com os estudos políticos, com as relações internacionais, com as ciências sociais e com os estudos interdisciplinares.
A estrutura interna do livro inclui três partes. A primeira, intitulada “Caminhos para Sarajevo” (capítulos 1 e 2), explora as complexas relações bilaterais entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, com destaque para a questão do Este é irredentismo dos eslavos do sul, isto é, dos sérvios, dos bósnios e, em menor medida, dos croatas. A segunda parte, intitulada “Um continente dividido” (capítulos 3 a 6), aborda a dinâmica geopolítica europeia, então caracterizada pela tensa coexistência de duas alianças antagônicas; de um lado, a denominada Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria- -Hungria e Itália) e, de outro, a Tríplice Entente (França, Rússia e Reino Unido). E a terceira parte, denominada “Crise” (capítulos 7 a 12), avalia os desdobramentos do atentado em Sarajevo, até o início das hostilidades nos diferentes teatros de operações militares, especialmente no continente europeu, nas colônias das potências beligerantes e nos oceanos. Cumpre adiantar que essa última parte é, salvo melhor interpretação, a mais significativa, proveitosa e relevante do livro.
Com efeito, é pelo magistral estudo da crise de julho de 1914 que Clark continua recebendo os elogios da comunidade acadêmica e do público. Acontece que a crise de julho de 1914 se erigiu em um acontecimento e em problema-objeto de pesquisa extremamente complexo.
Quando comparado à crise dos mísseis soviéticos em Cuba, de 1962, percebemos que a crise de julho de 1914 teve mais atores envolvidos, três atores fundamentais no primeiro caso (Estados Unidos, União Soviética e Cuba), e uma dezena de atores mais ou menos independentes e autônomos, no segundo acontecimento citado (Sérvia, Áustria-Hungria, Rússia, Alemanha, França, Reino Unido, Bulgária, o Império Otomano e, em menor medida, Albânia, Grécia e Itália), sem esquecer algumas organizações secretas ligadas diretamente ao atentado em Sarajevo.
Ao longo da densa obra ora resenhada, é possível verificar numerosos tópicos essenciais no estudo da crise: (i) o clima de desconfiança recíproca entre as alianças antagônicas, (ii) a temerária predisposição a correr riscos, seja para dissuadir os potenciais adversários ou para disciplinar e assegurar a lealdade dos aliados, (iii) a complexa correlação entre fatores estruturais e mudanças conjunturais ou de curto prazo, (iv) as ideologias nacionalistas e militaristas predominantes na época, (v) os planos estratégicos e os desígnios dos Estados (ou sistema de finalidade), e (vi) o uso político do atentado de Sarajevo pelas grandes potências no intuito de alcançar outros objetivos buscados ao longo de muitos anos. Nessa linha, o autor do livro afirma, categoricamente, o seguinte: “Todos os autores principais de nossa história filtravam o mundo através de narrativas construídas com pedaços de experiência coladas por medos, projeções e interesses disfarçados de máximas” (p. 584).
Paralelamente, Clark demonstra convincentemente que, em contraste com a imagem do ator racional unificado própria do pensamento realista clássico, todas as principais potências com vínculos e interesses na crise de julho de 1914 experimentavam significativas disputas interburocráticas, especialmente entre as elites civis, militares e parlamentares. Algo semelhante se observou em relação aos atores não estatais, e àquilo que na atualidade é chamado de agentes da sociedade civil. Inclusive no despótico Império Russo se verificaram divergências interburocráticas significativas, dado que o cenário balcânico, ou especificamente servo-austríaco, poderia desbordar gerando uma guerra europeia; em consequência, o tsar Nicolau II postergou a mobilização geral das forças armadas do seu país por um dia, para tentar encontrar, in extremis, uma saída político-diplomática junto com o seu primo, o kaiser Guilherme II, e evitar a guerra, iniciativa que, finalmente, não prosperou. Nesse sentido, acertou o pesquisador australiano ao sublinhar o seguinte:
Os principais decisores, reis, imperadores, ministros das Relações Exteriores, embaixadores, comandantes militares e uma multidão de autoridades menores, caminharam em direção ao perigo em passos vigilantes, calculados. A eclosão da guerra foi a culminância de cadeias de decisões tomadas por agentes políticos com objetivos conscientes, que eram capazes de certo grau de autorreflexão, avaliaram um conjunto de opções e fizeram os melhores julgamentos ao seu alcance com base nas melhores informações de que dispunham.
Nacionalismo, armamentos, alianças e finanças foram, todos, parte da história, mas só podemos dar-lhes um peso explicativo se for possível considerar que eles moldaram as decisões que, combinadas, fizeram a guerra eclodir (p. 28).
A forte inclinação metodológica de Clark pela documentação político-diplomática e pelo estudo dos processos de tomada de decisões acaba valorando fundamentalmente os atos e o papel das elites e das lideranças, isto é, dos denominados homens de Estado. Segundo o autor do livro, essa opção atenderia ao objetivo de “reconstituir o mais vividamente possível as ‘posições de decisão’ altamente dinâmicas ocupadas pelos principais atores antes e durante o verão de 1914” (p. 29). Acreditamos que o pesquisador australiano consegue alcançar seu objetivo geral de forma muito satisfatória.
Ainda no campo metodológico, parece pertinente, e acertada, a opção de Clark por responder prioritariamente à questão do “como” se gestou e se desenvolveu a crise de julho de 1914, e somente de forma subsidiária e indireta assumir a ainda mais espinhosa questão do “porquê”.
Resumidamente, o “como” pretende compreender as ideias, interpretações e preocupações dos diferentes atores em conflito de forma equilibrada e isenta. Nessa linha, todos os atores envolvidos tinham interesses objetivos, verificáveis e concretos a defender e sustentar. Em outras palavras, ninguém era totalmente virtuoso, inocente ou pacífico no conflito; “precisamos entender como esses acontecimentos foram vivenciados e entremeados em narrativas que estruturaram as percepções e motivaram os comportamentos”, assinala o autor do livro. Paralelamente, Clark recusa, ao máximo, esbarrar nos “porquês”, inclusive para evitar ser forçado a adotar visões teleológicas ou ex post facto, que certamente resultariam, por exemplo, na questão da culpabilidade e em outros dilemas morais de difícil – ou mesmo impossível –, resolução sob uma perspectiva estritamente científica.
A esse respeito, parece pertinente lembrar que, segundo o tratado de Versalhes, de 1919, o tema da culpabilidade da guerra foi atribuído fundamentalmente à Alemanha. Contudo, uma avaliação mais isenta e bem documentada não pode deixar de constatar que o sistema de alianças antagônicas, a qualidade das lideranças, os interesses e as ambições imperialistas das classes dominantes, especialmente dos lobbies industriais e financeiros, e até a cultura política de orientação militarista predominante em numerosas sociedades europeias tiveram igual ou maior responsabilidade do que a política germânica diante dos disparos de Sarajevo, em particular, e da geopolítica continental e global, em geral. Nesse sentido, cobra relevância, significado e pertinência o próprio título da obra: “os protagonistas de 1914 eram sonâmbulos, despertos, mas incapazes de enxergar, atormentados por sonhos, mas cegos para a realidade do horror que logo mais trariam para o mundo” (p. 589).
O trabalho de tradução para o português é muito bom, ainda que seja possível constatar algumas poucas imprecisões de datas e locais. A editora Companhia das Letras está de parabéns pela acertada determinação de colocar a mencionada obra à disposição do público brasileiro, em particular, e lusófono, em geral. Entende-se que o contexto da rememoração do centenário do início da Primeira Guerra Mundial é um excelente motivo para realizar o esforço de publicação no Brasil de uma obra magistral, da maior relevância científica e de grande impacto acadêmico e social.
Finalmente, parece pertinente acrescentar que, no momento de escrever a presente resenha, existem numerosas crises políticas, econômicas, ambientais e étnicas no mundo que poderiam sair do controle dos governantes e das lideranças das principais potências mundiais e acabar provocando um novo desastre humanitário. Eis os casos da virtual desintegração do Iraque, da emergência de diferentes tipos de fundamentalismos, do colapso da denominada Primavera Árabe (guerra na Síria, golpe no Egito, caos na Líbia e no Iraque), e a nova escalada no intratável conflito entre Israel e os palestinos. Fora do Oriente Médio, é possível verificar graves conflitos na Ucrânia, numerosas divergências limítrofes terrestres e marítimas no Leste da Ásia, e a persistência de dificuldades econômico-financeiras na União Europeia e em outros países capitalistas centrais.
O cenário internacional em 2016 é bem diferente do predominante em 1914. Entretanto, existem algumas preocupantes semelhanças, dentre outras a falta de lideranças carismáticas, combinada com a presença de certas chefias que parecem caminhar para a guerra como “sonâmbulos”. O risco de uma crise internacional sem controle exige um permanente acompanhamento da sociedade civil e das organizações internacionais. Trata- -se de evitar um novo desastre global, seja ele de natureza política, ambiental ou econômica.
Carlos Federico Domínguez Avila – Professor e pesquisador do Mestrado em Ciência Política do Centro Universitário Unieuro. Centro Universitário Unieuro. Av. das Nações, Trecho 0, Conjunto 5, Campus Asa Sul, 71000-000, Brasília, DF, Brasil. cdominguez_unieuro@yahoo.com.br.
Heidegger urgente: introdução a um novo pensar – GIACOIA JÚNIOR
GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo pensar. São Paulo: Três Estrelas, 2013. Resenha de: PROVINCIATTO, Luís Gabriel. Conjectura, Caxias do Sul, v. 21, n. 1, p. 232-237, jan/abr, 2016.
Já há no Brasil uma imensidão de obras, quer originais em português, quer oriundas de traduções de outros idiomas, que se propõem a comentar, introduzir, explicar ou compreender o pensamento de Martin Heidegger (1889-1796). A obra de Oswaldo Giacoia Junior, publicada em 2013, encontra-se nessa lista e conta com algumas peculiaridades que dão a ela um destaque diante das outras. Isso não sem justificativa: há elementos que somente um bom leitor, intérprete e escritor conseguiria captar diante dos volumosos números das Obras completas (Gesamtausgabe) do filósofo alemão; uma leitura atenta e refinada e, sobretudo, um olhar filosófico, estão presentes nesse pequeno ensaio que leva como subtítulo “introdução a um novo pensar”. Desse modo, a presente obra de Giacoia conduz não somente a uma introdução ao pensamento de Heidegger, mas a um pensar filosofante com Heidegger.
Para um bom entendimento daquilo que aqui se propõe, é muito interessante apresentar a estrutura da referida obra: Introdução; O pensador do fim da metafísica; O primeiro Heidegger; A viravolta e a história da verdade do Ser; Como ler Heidegger; Conclusão. As divisões da obra, com certeza, possuem uma lógica baseada na estrutura do pensamento de Heidegger, o que, de fato, deve ser considerado. Porém, mudanças no trajeto de leitura serão propostas com o presente trabalho, bem como a intersecção de textos do próprio Heidegger para que, assim, o “pensar com Heidegger” ganhe maior clareza e, ao final do texto, tenha-se reais condições para construir um “novo pensar”, singular e autêntico. Deve- se destacar ainda que o foco maior do presente trabalho recai sobre a penúltima parte da obra acima referida, pelo fato de ela mostrar a grande erudição do autor. Leia Mais
Mergulhos de leitura: a compreensão leitora da literatura infantil – RAMOS; PANOZZO (C)
RAMOS, Flávia Brocchetto; PANOZZO, Neiva Senaide Petry. Mergulhos de leitura: a compreensão leitora da literatura infantil. Caxias do Sul: Educs, 2015. Resenha de: GABRIELLI, Mariele. Conjectura, Caxias do Sul, v. 21, n. 1, p. 238-243, jan/abr, 2016.
A obra Mergulhos de leitura: a compreensão leitora da literatura infantil, objeto de análise deste estudo, é fruto de trabalho desenvolvido a quatro mãos, pelas professoras-pesquisadoras Flávia Brocchetto Ramos, Mestre e Doutora em Letras pela PUCRS, e Neiva Senaide Petry Panozzo, com Mestrado e Doutorado em Educação pela UFRGS, que uniram suas experiências pedagógicas ao gosto de estudarem juntas. Essa pareceria iniciou na década de 80, quando, compartilhando o trabalho de coordenação pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, Flávia e Neiva trocavam ideias, pensavam o currículo e a formação continuada de professores, no que tange à linguagem literária e questões ligadas à leitura no âmbito das artes visuais.
Atualmente, Flávia Brocchetto Ramos e Neiva Senaide Petry Panozzo atuam como docentes e pesquisadoras na Universidade de Caxias do Sul. Colecionam artigos publicados em parceira, cursos de formação de professores e juntas já publicaram a obra Interação e mediação de leitura literária para a infância (2011). Leia Mais
Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción d el Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX | Ignacio Martínez
El sugestivo título del libro de Ignacio Martínez hace que el lector especializado realice una primera comparación con la conocida obra del historiador argentino Tulio Halperín Donghi, Una Nación para el desierto argentino, y trate de adelantarse e inferir un conjunto de reflexiones. Una de ellas refiere al “delicado contrapunto” entre dos temas dominantes, la construcción de una nueva nación y la construcción de un Estado. Halperín analizó el proceso de transformación de una Argentina sin centro a un Estado nación consolidado y Martínez estudia ese mismo proceso en forma paralela a la conformación de la Iglesia católica, planteo que ha tomado fuerza en los estudios sobre religión de los últimos años. El autor incorpora la variable eclesiástica como parte de la construcción de los poderes políticos en el Río de la Plata desde una escala de análisis provincial y estudia de las relaciones jurisdiccionales a nivel supraprovincial. Como explicita Martínez, la “Nación” a la que refiere el título del libro, es un espacio jurisdiccional con una autoridad capaz de dirimir los conflictos entre las autoridades locales y de fijar reglas generales para evitarlos. Desde esta perspectiva la “iglesia argentina” de la primera mitad decimonónica constituía un conjunto de diócesis que los distintos gobierno postrevolucionarios intentaron controlar.
Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) -principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina-, Martínez ha orientado sus investigaciones sobre el pensamiento ultramontano en el siglo XIX y su relación con la construcción del régimen republicano en Argentina. La obra que reseño es el resultado de la tesis doctoral del autor y se encuentra dentro de los trabajos que confieren nuevos aires a los estudios sobre religión en la Argentina. Más de quinientas páginas en las que se despliega un aparato erudito impecable, acompañado de una escritura clara y ordenada de un proceso por cierto enredado y espinoso. La investigación giró en torno a tres grandes líneas de reflexión. La primera tiene que ver con la importancia de dotar a la Iglesia de historicidad, esto es, poder descomponerla analíticamente en diversas dimensiones (económica, política, cultural, ideológica, etc.), y comprender que cada uno de esos planos comparte ciertos rasgos con la sociedad de la que forma parte. La segunda línea de reflexión refiere a los estudios tributarios en gran parte de la sociología de la religión -José Casanova, David Martin, Luca Diotallevi, entre otros – que proponen repensar la secularización como un proceso de recomposición de lo religioso en la sociedad. Una secularización que también implica pensar en diferentes dimensiones y que Martínez privilegia la institucional y política. En esta línea el autor retoma el concepto de laicización para explicar el proceso en el que las instituciones fundamentales de gobierno y de reproducción social se desprenden de manera gradual de los elementos religiosos. En el Río de la Plata del siglo XIX la religión no desapareció de la vida política frente al avance del poder civil sino que se recompuso. La Iglesia católica dejó de constituir el argumento último de legitimación de las instituciones políticas sin dejar de ser considerada necesaria para consolidar una moral cívica. Lejos de estar frente a una paradoja o contradicción, esa fue una de las características de la secularización en el territorio argentino. A su vez, Martínez utiliza una noción ideal-típica construida por el sociólogo francés Jean Baubérot, “umbrales de laicización”. Dicha conceptualización hace referencia al establecimiento de límites, pisos de secularización, materias que se ponen en discusión, se avanza sobre ellas sin posibilidad de retroceso. A partir de los umbrales “es posible evaluar las posiciones en disputa en un pie de igualdad, sin ubicar a una de ellas como triunfadora de antemano” (p.27).
La tercera línea de reflexión se relaciona con los nuevos estudios sobre surgimiento del Estado moderno. De manera específica aquellos de índole jurídica que han cuestionado la imagen de un centro monopolizador consumado en el monarca absoluto. Y en su lugar plantearon una pluralidad de jurisdicciones geográfica y socialmente superpuestas, cuyos pilares funcionaban según reglas y valores diversos. De manera específica para el Río de la Plata, Martínez retomó los trabajos de José Carlos Chiaramonte en los que este historiador refutó dos visiones enfrentadas que daban por sentado la influencia unívoca del iluminismo francés o de la tradición pactista española en los revolucionarios rioplatenses. En lugar de analizar el proceso revolucionario como una sucesión de modelos de pensamiento, Chiaramonte planteó la coexistencia de distintas tradiciones y formas de identidad política. A su vez, un conjunto de historiadoras como Marcela Ternavasio y Noemí Goldman profundizaron los análisis sobre formas de identidad, discursos y prácticas formales e informales de la política. A partir de sus investigaciones sabemos que existió una coexistencia de elementos pertenecientes a la tradición española junto con nuevas concepciones sobre el origen de la soberanía y las formas de ejercerla. Precisamente Martínez destaca que dichos trabajos señalaron la importancia de la escala provincial en el estudio del proceso de transformación de un sistema político de antiguo régimen a una república federal.
Ubicua, inasible, embrionaria, nebulosa, difícil de identificar como un actor concreto, Martínez caracteriza con esos términos a la Iglesia “argentina” de comienzos del XIX. El estudio de los conflictos provocados por los ajustes que sufrieron las jurisdicciones civiles y eclesiásticas en el Río de la Plata, entre 1810 y 1865, permite materializar y observar las diferentes aristas que tuvo la relación Iglesia-Estado. Una relación construida a las sombras de la transición entre dos formas políticas diferentes y con distintas fuentes de legitimidad. Desde esta perspectiva, Martínez encuentra un eje de análisis crucial, en sus palabras “la piedra de discordia”, que guía toda su obra: el derecho de Patronato. Entendido este último no como la puja entre Iglesia y Estado, sino como una manifestación de aquella transición. El Patronato constituyó un atributo de la soberanía antes y después de 1810, pero el problema estuvo en el significado de la nueva soberanía. Luego de la súbita desaparición de los procedimientos coloniales para el nombramiento de obispos (Patronato indiano), sobrevino un período en el que la incomunicación con Roma impidió asegurar criterios de selección confiables. Sumado a ello, el territorio argentino se encontraba en un momento caracterizado por la desarticulación política e institucional. Los Estados provinciales emergieron como las unidades político-administrativas más estables, y reivindicaron el ejercicio del patronato. Martínez desarrolla su explicación a partir de un conjunto de hipótesis sumamente sugestivas: la decisión por parte de los gobiernos posrevolucionarios de conservar el derecho de patronato condicionó el éxito de los ensayos estatales del período. A su vez, la necesidad de conservar el derecho de patronato por parte de las provincias limitó su independencia y facilitó la injerencia de poderes supraprovinciales. De esta manera, el patronato nacional debió consolidarse frente a dichos poderes provinciales y frente a la Santa Sede que se encontraba en pleno proceso de “romanización”.
El libro está estructurado en tres partes de tres capítulos cada una que responden a la periodización elegida, 1810-1820, 1820-1852 y 1852-1865. En cada una de estas tres etapas Martínez estudia por un lado, la normativa implementada y los conflictos que ello acarreó y por el otro, los argumentos y manifestaciones que emergieron para defender o refutar cada una de dichas normas. El autor explica la gestación de la relación Iglesia-Estado a partir de la coexistencia de engranajes antiguos y nuevos. En este sentido, la persistencia de la figura del patronato y sus modificaciones dan cuenta de los rasgos que adquirió el proceso de laicización y de las dimensiones territoriales necesarias la construcción de poderes políticos viables.
La primera etapa estuvo signada por el eco de la tradición borbónica, que asignaba al Estado un papel decisivo en la definición de los objetivos de cambio económico-social y un control preciso de los procesos orientados a lograr dichos objetivos. El autor plantea una continuidad inconsciente de una tradición administrativa e ideológica. A comienzos del siglo XIX todas las instituciones estaban atravesadas por la religión, por su sensibilidad, y sus normas. Martínez, desde la perspectiva de los estudios que refutan la idea de una iglesia colonial monolítica, da sentido a una entidad religiosa en un momento en que perdió el lugar legítimo que tenía durante el antiguo régimen. El origen revolucionario y secular del nuevo poder soberano entró en conflicto con los fundamentos del patronato que suponían la autoridad política católica.
La caída del Directorio en 1820 abrió la segunda etapa en la que emergieron tres poderes nuevos con pretensiones sobre las iglesias rioplatenses. Por un lado, los gobiernos provinciales y por el otro, dos poderes supraprovinciales (Roma y Juan Manuel de Rosas). Los tres convivieron, pero cada uno con sus propios intereses, escalas jurisdiccionales y diferentes fuentes de legitimidad. Los gobiernos provinciales fueron la única autoridad patronal luego de 1820, y cada uno se hizo cargo de sus propias estructuras eclesiásticas -hecho que en muchos casos implicó reformas. A su vez, Roma entró en escena con el objetivo de tomar contacto con las iglesias sudamericanas para aumentar su injerencia en los nombramientos de autoridades diocesanas. El análisis que el autor realiza de la conflictiva creación de obispados como el de Cuyo por ejemplo, muestra la multitud de actores que intervinieron, el tiempo que implicó, y cómo el propio nombramiento de los titulares diocesanos reflejó novedades que alteraron las formas de patronato. La designación de obispos por parte del papa sin la participación de los gobiernos provinciales y la creación de una nueva jurisdicción como el Vicariato Apostólico generaron varias rispideces. Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores del resto de las provincias, Juan Manuel de Rosas, se adjudicó potestades de gobierno sobre las iglesias y ofició de mediador entre la Santa Sede y las iglesias locales. En palabras de Martínez, Rosas cumplió la función de “Protopatrono Confederal”.
La tercera etapa estuvo signada por la cristalización del vínculo Iglesia-Estado en la Constitución nacional de 1853. Martínez analizó en profundidad las discusiones y los alcances de los artículos relacionados directamente con la religión, a saber el sostén económico, la libertad de cultos y el ejercicio del patronato nacional. En primer lugar, la declaración sobre el sostén del culto involucró mucho más que un vínculo económico. Aunque hubo posiciones enfrentadas, tanto en 1853 como en 1860 cuando Buenos Aires revisó el texto constitucional, las argumentaciones más extremas se mantuvieron dentro de los cánones discursivos. Es decir, aquellos actores que se negaban a cristalizar en la Carta Magna la separación entre Iglesia y Estado, no avanzaron contra la libertad de cultos. Por su parte, quienes bregaban por despojar a las instituciones políticas de todo elemento religioso, tampoco llegaron a suspender la asistencia económica al culto católico. En segundo lugar, la continuidad del derecho de patronato muestra que su ejercicio adquirió importancia como instrumento de gobierno. Más aún cuando la Iglesia católica mantenía funciones de gobierno primordiales, como el registro de nacimientos, la sucesión de sus patrimonios y el destino de sus cuerpos. Martínez culmina su investigación en 1865, momento en que Buenos Aires fue elevada a la categoría de Arquidiócesis, hecho que le significó la independencia de Charcas pero reforzó el ejercicio del patronato nacional. De todas maneras, el lugar de la religión en el espacio político todavía estaba por definirse aunque las reglas del juego ya estaban trazadas.
Una obra sin lugar a dudas de consulta obligada para aquellos investigadores decimonónicos. Un valioso aporte a partir del cual toma cuerpo el “incómodo maridaje entre soberanía republicana y potestad religiosa” (p.278). El libro deja varios caminos e interrogantes sugestivos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las implicancias del Patronato en relación con las actividades misioneras que emergieron con fuerza a partir de la década de 1850? Si las misiones tuvieron su razón de ser con el Patronato indiano, entonces ¿qué funciones cumplieron en un contexto republicano? ¿Cómo repercutió en términos de soberanía el hecho de que dichas misiones las llevaran a cabo miembros del clero regular que, además de ser la mayoría inmigrante (italianos y franceses), respondían a autoridades externas? Incluso cuando la principal fuente de legitimidad de las misiones provino de la propia Constitución Nacional de 1853, ¿cómo fue el proceso de reacomodamiento a partir de dicho “mandato constitucional” en la ecuación conformada por el sostén del culto católico, la libertad de culto y el ejercicio del Patronato nacional? A su vez, ¿cuáles fueron los alcances de la “romanización”? Es decir, ¿en qué medida la pretendida centralización de la Santa Sede, a partir de Propaganda Fide, influyó en el desarrollo de las actividades misioneras del territorio argentino y en las relaciones con las autoridades civiles? Sin dudas, un conjunto de interrogantes que aportan significativamente a los debates sobre la construcción del Estado republicano y federal.
Rocío Guadalupe Sánchez – Instituto de Estudios Socio Históricos Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. E-mail: rocioguadalupesanchez@gmail.com
MARTÍNEZ, Ignacio. Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 2013. Resenha de: SÁNCHEZ, Rocío Guadalupe. Iglesia, soberanía nacional y patronato en la construcción del Estado argentino del siglo XIX. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 227-230, jan./abr., 2016.
História Mínima de Chile | Rafael Sagredo Baeza
Intitulada História Mínima de Chile, a obra de Rafael Sagredo Baeza propõeuma interpretação atual dos processos que auxiliaram na constituição da história do Chile, estabelecendo um panorama que se inicia com uma discussão acerca daqueles a que chama de “os primeiros americanos” e que se estende até a retomada da democracia após o regime militar chileno e a ditadura de Augusto Pinochet. Dotada de um virtuosismo informativo e descrições minuciosas e extremamente pertinentes para a narrativa que deseja empreender, a História Mínima de Chile é uma produção de imenso fôlego que condensa uma perspectiva de larguíssima duração acerca das personagens e dos eventos que figuram a história chilena.
A obra de Rafael Sagredo divide-se em catorze capítulos, além da apresentação e de um epílogo, a que o autor nomeia Colofón. Na apresentação, Sagredo expõe que seu intuito consiste em propor uma distinta explicação dos processos essenciais que, de alguma forma, teriam corroborado com a paulatina edificação de uma história propriamente chilena do ponto de vista sumariamente nacional. Em menção a Claudio Gay, naturalista francês autor da primeira história do Chile, datada de 1839 – chamada por Baeza de “a monumental” História Física y Política de Chile -, o autor afirma que a necessidade de que fosse escrita uma história do Chile era fortíssima em meados do século XIX, pois que àquela altura era urgente “constituir uma comunidade imaginada, entre outros meios, mediante a invenção de uma tradição” (p.12). Tanto isso é legítimo, que a própria noção de América Latina teria sido formulada três anos antes da publicação da obra de Gay pelo viajante francês Michel Chevalier, como enunciam diversos estudos sobre o tema.
Em “Los Habitantes de lo más hondo de la tierra”, capítulo que inicia a obra, Rafael Sagredo trata do Chile por meio do vocativo “el último Rincón del continente”, em apelo ao aspecto periférico em termos geográficos que, de acordo com o autor, justifica muitas das especificidades e peculiaridades da trajetória chilena que são explicitadas no desenrolar da obra. Em “La Conquista de América y sus Protagonistas”, bem como em “Chile, finis terrae imperial“, o autor trata da expansão europeia e do estabelecimento dos chamados conquistadores espanhóis em território chileno, discorrendo principalmente acerca do “afã de glória” e do “espírito aventureiro dos conquistadores espanhóis” – traços que, segundo Baeza, também constituíram fortes estímulos para a conquista, pois que os homens que a empreenderam desejavam relacionar seus nomes a “grandes descobrimentos ou com a origem de algum povo”; algo que, para o autor, desencadeou um processo cujos resultados marcaram de forma notável a sociedade que dele se originou.
No capítulo seguinte, intitulado “Chile colonial, el jardín de América”, Sagredo parte da ocorrência da chamada Guerra de Arauco para estabelecer um ponto de mudança no fluxo da trajetória narrativa, pois que a vitória araucana no conflito possibilitou a emergência de novas situações no contexto colonial que, segundo ele, permitiram “que se realizasse plenamente os processos econômicos, sociais e culturais”, dado que agora adquiriam sua real significação (p.70). Nesse capítulo, se faz patente uma das prerrogativas apresentadas pelo autor na apresentação da obra: a de que a historiografia de “praticamente qualquer nação” (p.12) engendra uma propensão a exaltar os fatos que narra, tornando qualquer história nacional uma história predominantemente épica – aspecto interpretativo que será retomado nesta resenha.
O capítulo “La Sociedad Mestiza” apresenta uma perspectiva acerca dos perfis sociais em pauta, tratando de sua relação com a vida material, com a arte e com a cultura a partir do modo com que se constituíram desde o período que sucedeu a Guerra de Arauco. Merece destaque o intertítulo “La hospitalidad como compensación coletiva”, em que Baeza trata dos testemunhos emitidos pelos viajantes e cientistas que passaram pelo território americano e documentaram os costumes da comunidade com que se depararam. O autor enaltece o fato de que havia uma consciência comum entre esses viajantes em relação à ideia de que o Chile – como espaço de dinâmica formativa – era um local a receber “muito generosamente” os estrangeiros que por ali transitavam; e dedica uma atenção especial à questão do comportamento feminino em relação aos forasteiros.
Em “La Organización Republicana” e em “El orden conservador autoritário”, Rafael Sagredo condensa em cerca de vinte páginas o período que se inicia com os antecedentes da independência chilena e que se estende até uma interessante proposição em que sugere ser possível afirmar que o Chile se desenvolveu como uma sociedade marcada por sua posição geográfica e sua realidade natural, aspectos que teriam condicionado inevitavelmente sua organização republicana:
O impacto da realidade natural na organização institucional chilena se aprecia na opção nacional de privilegiar a ordem e a estabilidade sobre a liberdade, chegando a implementar um regime de tal maneira autoritário que, inclusive a noção de república em algumas ocasiões ficou suspensa. Interpretamos que tenha sido um imperativo derivado da ponderada ordem natural o que levou à correspondente ordem autoritária que caracterizou a existência republicana do Chile. (p.132)
Nos dois capítulos que subsequentes, intitulados “La Capitalización Básica” e “La Expansión Nacional”, o autor da Historia Mínima de Chile aborda o desenvolvimento social e cultural chileno por meio de a partir de processos como a mineração, a expansão agrícola e os investimentos no sistema monetário e nas indústrias, destacando que, apesar do extraordinário progresso experimentado pelo país ao longo do século XIX, as melhorias na instância sanitária foram muito lentas. Tanto que, no âmbito da microeconomia, o povo chileno se manteve inserido por muito tempo num contexto de doenças e epidemias que garantiram uma altíssima taxa de mortalidade ao longo do século. Entre os meios para superar as enfermidades, era comum que se realizassem banhos de água quente com ervas, que se fizessem pomadas à base de resíduos vegetais e animais, e que se consumisse uma quantidade considerável de erva mate e aguardente. De acordo com Sagredo, “a varíola, transformada em doença endêmica, foi a que provocou maior mortalidade ao longo do século” (p.171).
Em “Los conflitos internacionales”, Rafael Sagredo aborda a guerra enfrentada pelo Chile contra a Espanha, bem como as disputas territoriais relacionadas ao que chama de controvérsias limítrofes, tratando dos conflitos intracontinentais inerentes ao estabelecimento das fronteiras geográficas americanas. Além dos dois fenômenos, o autor discorre acerca da chamada Guerra do Pacífico – peleja em que estiveram envolvidos também o Peru e a Bolívia -, que concebe como “um conflito de caráter econômico”, dado que o grande mote do embate estava na disputa por recursos naturais como o guano e o salitre, nitratos abundantes na região do deserto do Atacama – território sobre o qual o drama do conflito se estendeu (p.191).
No capítulo “La sociedad liberal”, Baeza faz um contraponto muito bem detalhado entre o Chile colonial, de perfil paternalista e agrário, e as mudanças ocorridas ao longo do século XIX que fomentaram a emergência de um país de bases capitalistas firmadas na exploração minera e no comércio. O autor afirma que, em consequência da dinâmica da economia do século 19, “apareceram novos grupos sociais como a burguesia, a classe média e o proletariado”, o que culminou na consolidação de “uma nova cultura marcada pela ética liberal, que acabou por legitimar o domínio burguês” (p.195). O capítulo se encerra com uma pertinente abordagem sobre a Guerra Civil de 1891 e prenuncia os temas tratados em “La crisis del régimen liberal”, que engendra a vitória dos chamados congresistas e a instauração do Parlamentarismo, o que teria condicionado o enfraquecimento da figura presidencial naquele contexto. De acordo com Baeza, “para a opinião pública, o presidente teria deixado de ser o protagonista da vida nacional, transformando-se em um ator ‘impotente’, um ‘elemento decorativo’, uma ‘pedra de esquina'” (p.213). Tratando da situação social, da fragilidade econômica que acometia o panorama chileno e do paulatino surgimento de intelectuais, escritores, ensaístas, literatos e acadêmicos que começaram a “denunciar as desigualdades e abusos existentes na sociedade liberal”, Sagredo menciona o gradual advento de um programa definido e consciente de governo que teria emergido do citado estrato intelectual chileno. Algo que teria impulsionado o chamado “esforço desenvolvimentista”, expressão que nomeia o capítulo seguinte.
Em “El esfuerzo desarrollista”, Rafael Sagredo trata das tentativas de industrialização no Chile a partir de projetos empreendidos pela chamada Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cujo magno intuito era transformar o Estado chileno em um agente econômico fundamental, apesar do “flagelo da inflação” que acometia o cenário socioeconômico do Chile àquela altura. Como bem pontua o autor, o “impulso determinante” para que o esforço desenvolvimentista começasse a ser aplicado foi a ocorrência do terremoto de Chillán, “que em 1939 destruiu a Zona Central do Chile, e para cuja reconstrução o Estado se envolveu idealizando um plano que incluiu a agência promotora de desenvolvimento que foi a Corfo, cujos conceitos básicos já tinham sido esboçados na década de 1930, entre outros, pelas organizações e uniões de empresários” (p.228).
Para Baeza, uma das principais características da história do Chile na segunda metade do século XX está na existência de “profundos desequilíbrios nas estruturas sociais e econômicas”.O autor menciona, por exemplo, que o desenvolvimento do setor industrial e minero teria sido muito superior àquele alcançado pelo mundo agrícola – no que diz respeito ao viés econômico -, e trata também do grau de bem-estar alcançado pelos setores médios e proletários urbanos quanto ao âmbito social, se comparado às circunstâncias que engendravam a realidade camponesa que fora vigente até então (p.248). No último capítulo da obra, intitulado “Crisis y recuperación de la Democracia”, Baeza sintetiza o período que se inicia com o episódio significativo da eleição de Jorge Alessandri em 1958, passando pelo golpe militar de 1973 – e aqui, vale destacar o intertítulo “El autoritarismo em Chile” – e direcionando a conclusão de sua análise para uma discussão acerca de recuperação da democracia, fato que viabilizou a implantação das políticas econômicas denominadas de “crescimento con equidad” e das expectativas que deveriam ser fomentadas através da celebração do bicentenário chileno, dado que a insatisfação social pós-regime militar era pungente e se refletia sobretudo na demanda por um sistema educacional de qualidade (indagação essa tida pelo autor como uma “constante histórica” na sociedade chilena, pois que há muito eram presentes as manifestações de descontentamento quanto à educação nacional).
Para além do panorama redigido acerca da Historia Mínima de Chile, é necessário ponderar minimamente certo viés de abordagem épico – que pode soar teleológico a um leitor que não se disponha a compreender o projeto narrativo de Rafael Sagredo – que perpassa toda a obra, e que se pode notar a partir da seleção lexical do autor desde a menção à “La Araucana”, poema do espanhol Alonso de Ercilla que figura um dos trechos da apresentação da Historia. Muitos são os vocábulos que denotam a questão aventada. Sagredo afirma que “os chilenos têm motivos para sentirem-se orgulhosos de uma evolução histórica“, e dialoga a todo o momento com a necessidade de explicar por quais razões os fatos em questão “teriam ocorrido de um modo inesperado, diferentemente de como, de acordo com a ‘história oficial’, supõe-se que deveriam ter acontecido”. No epílogo, Baeza trata do Chile como a chamada “estrela solitária” que deveria atingir o estágio de “cópia feliz do Éden” ao longo de sua história. Ora, se o projeto narrativo de Sagredo Baeza tem a ver com a elaboração de uma história nacional regida pela ideia de “ciclos históricos” conformados por três etapas “perfeitamente identificáveis”, que se associam a períodos de expansão, crise e autoritarismo, se faz plausível que os vocábulos empregados pelo autor expressem, em alguns momentos, uma face épica e um tanto quanto heroica. Se, para o autor, a historiografia de “praticamente qualquer nação” propende a exaltar os fatos que narra, é admissível que sua linguagem contenha traços de pujança, magnificência e grandiosidade épica.
Coesa e informativa, a Historia Minima de Chile se apresenta como uma grande contribuição historiográfica que não se esgota à consecução do âmbito acadêmico. Por sua linguagem fluida, explicativa e de fácil compreensão, a obra pode destinar-se também àqueles que se interessem pela trajetória chilena sem que estejam impreterivelmente inseridos nas discussões científicas acerca da mesma. Essa talvez seja, inclusive, uma das grandes virtudes que abarcam o fluxo narrativo de Sagredo em sua indispensável – sobretudo porque renovada e contemporânea – abordagem sobre a história do Chile.
Mariana Ferraz Paulino – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: mariana_ferraz_paulino@hotmail.com
BAEZA, Rafael Sagredo. História Mínima de Chile. Madrid: Turner Publicaciones S. L., 2014. Resenha de: PAULINO, Mariana Ferraz. História nacional na longa duração: Chile, dos “primeiros americanos” ao século XXI. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 223-226, jan./abr., 2016.
Acessar publicação original [DR]
Do bispo morto ao padre matador: Dom Expedito e Padre Hosana nas construções da memória (1957-2004) | Igor Moreira Alves
No dia primeiro de julho de 1957, por volta das 18 horas e 30 minutos, três sons de disparos de revólver ecoaram no Palácio Episcopal, em Garanhuns, no agreste pernambucano. João, empregado da casa, ao ouvir o barulho, correu à porta e deparou-se com o bispo, Dom Francisco Expedito Lopes, caído ao chão, ensanguentado, moribundo. Imediatamente pediu-lhe que chamassem o Monsenhor José de Anchieta Callou. Soube-se naquele momento, pelo próprio Dom Expedito, o nome daquele que o alvejou: Padre Hosana de Siqueira e Silva, seu subordinado. O motivo seria a denúncia que chegara ao bispo de que Padre Hosana estaria tendo um caso amoroso com Maria José Martins, sua prima e empregada doméstica. Dom Expedito Lopes faleceu depois de oito horas de intensa agonia. Padre Hosana, a princípio, refugiou-se no Mosteiro de São Bento. Como menciona o autor, “o crime, com suas interpretações, deixou marcas”3. É a partir dessas (re)interpretações, das marcas do dizer, lembrar e narrar o crime, que ele constrói sua obra.
Igor Alves Moreira é licenciado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Neste livro, fruto de sua dissertação de mestrado defendida em 2008 4, ele procura explorar e faz isso com maestria, como o crime que sentenciou Dom Expedito à morte e Padre Hosana ao julgamento dos homens, foi lembrado e (re)contado através das construções do lembrar. Apesar de admitir que a história é uma reconstrução da memória, Igor viola as memórias e gesta uma história intrigante5, possibilitando assim a construção de seu objeto, um acontecimento singular6. Leia Mais
A tolice da inteligência brasileira – ou como os países se deixam manipular pela elite | Jessé de Souza
Jésse de Souza é um dos principais cientistas sociais brasileiros da atualidade. Graduado em direito, mestre em sociologia pela UNB e doutor pela Universidade de Heidelberg. Possui pós-doutorado em psicanálise e filosofia na New School for Social Reasearch em Nova Iorque e uma trajetória acadêmica de pesquisas sobre classes e desigualdades sociais no Brasil. É professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF) e foi presidente do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA).
Em 2015 publicou A tolice da inteligência brasileira – ou como os países se deixam manipular pela elite, pela editora LeYa de São Paulo. Este livro polêmico pode ser considerado uma espécie de análise de conjuntura do que iria se concretizar em 2016. A obra de Jessé de Souza, quando lançada, não apresentava o impeachment como foco central de análise, mas uma tentativa de interpretação das chamadas “Jornadas de Junho” de 2013. Com intuito de articular o fenômeno das jornadas com a suposta (re) organização do pensamento conservador brasileiro, Souza dividiu sua obra em quatro partes constituintes, perfazendo a discussão clássica da teoria política e sociológica, para entender a estrutura do embasamento ideológico das elites. Leia Mais
Understanding European Movements – New social movements, global justice struggles, anti-austerity protest | Cristina Fominaya e Lurence Cox
Nos últimos anos os movimentos sociais ressurgiram não só mediaticamente, mas também enquanto fenómeno de estudo preponderante para entender as atuais dinâmicas das democracias europeias. Se estes frutos da Grande Recessão se difundiram globalmente, foi em muitos casos na Europa que se tornaram um ator central que começa agora a institucionalizar-se. Pela primeira vez, os movimentos sociais, que se vinham constituindo desde há décadas, abalaram os alicerces e pressupostos que sustinham as democracias europeias e as suas narrativas, questionando-as e propondo alternativas. Contudo, isto não significa que estes sejam unicamente fruto de um contexto específico, pelo contrário são agentes historicamente construídos.
Por esse motivo, o livro aqui em resenha é um contributo fundamental para entender as origens dos atuais movimentos. Aquando do ciclo de protestos globais de 2010/11, muitos dos textos publicados foram, e continuam a ser, marcados pela pressa inusitada de uma análise simplista, excessivamente descritiva e sem considerar as estruturas subjacentes à emergência desses mesmos movimentos, considerando-se apenas as causas imediatas dos mesmos. Em muitos casos, fizeram-no relevando uma rutura com os anteriores movimentos, sem ter em conta o seu contexto histórico de surgimento, redes nacionais e transnacionais de atores em que estão envolvidos, mas também culturas e repertórios de protesto. É por isso necessário procurar responder a estas questões colocando-as num continuum mais lato. Neste texto procurar-se-á olhar para este livro de uma perspetiva plural, questionando as pistas que lança nos atuais debates. Assim sendo, procura-se avaliar a obra perguntando até que ponto esta é capaz de evidenciar continuidades e ruturas. Para além disso, procurar-se-á lançar pistas de pesquisa tendo em conta o que este livro apresenta. Leia Mais
Social Movements in Times of Austerity | Donatella Della Porta
The emergence and increased importance of social movements in a very wide geography after the outbreak of the global financial crisis is remarkable, not only for the academic community that has for a long time tried to theorize this sort of political grouping and strategy, but also for the common citizen who, perhaps more than those belonging to academia, can actually see these movements as a potential platform of engagement in political action. The instances abound: the Occupy movement in the USA; the whole Arab Spring; Podemos in Spain; Syriza in Greece; and even more recently the rise of Jeremy Corbyn to the leadership of the Labour Party in the UK. Naturally, the social analyst would rightly be suspicious of these widespread dynamics being only coincidental with the crisis of contemporary capitalism that is still unfolding and whose end is necessarily uncertain. It is on this suspicion that Professor Della Porta focused in the book here under review.
The exercise is laudable and was for a long time lacking. As a matter of fact, and as the author repeats often, social movements scholars have consistently left out from their research considerations about the role of the system of production. Bringing important fundamentals from social theory and political economy to her main field of studies, Professor Della Porta aims at providing a panoramic look at what have been the recent changes both in social movements and brought by social movements. The scope of the empirical analysis is large, particularly given the wide range of cases that are brought to the analysis—in fact, there was no “case selection”, for virtually all instances of emergence of social movements in the last few years are included in the study. Leia Mais
Nas memórias de Aurélia: cotidiano feminino no Rio de Janeiro do século XIX / Samuel Albuquerque
Samuel Albuquerque / Foto: Conectando Com Jota /
 Ao dar visibilidade no cotidiano feminino no Rio de Janeiro do século XIX, Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, professor da Universidade Federal de Sergipe, narrou neste livro as vivências e experiências da sergipana Aurélia Dias Rollemberg (1863-1952), futura Dona Sinhá, durante sua estada no Rio de Janeiro com sua família, e sua preceptora alemã, Marie Lassius.
Ao dar visibilidade no cotidiano feminino no Rio de Janeiro do século XIX, Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, professor da Universidade Federal de Sergipe, narrou neste livro as vivências e experiências da sergipana Aurélia Dias Rollemberg (1863-1952), futura Dona Sinhá, durante sua estada no Rio de Janeiro com sua família, e sua preceptora alemã, Marie Lassius.
Tais memórias, arquivadas em textos, são fonte de informações preciosas sobre o cotidiano feminino, incluindo o trabalho de governantas, bem como as experiências e práticas culturais de meninas, moças e senhoras na sociedade carioca.
Assim, fazendo uma breve descrição dos familiares de Aurélia, da chegada de Marie Lassius no Brasil e na casa da jovem, ainda em Sergipe, Albuquerque buscou investigar
o universo de preceptoras europeias que viveram entre os grandes centros e a periferia do Império do Brasil e, para tanto, enveredo pelo cotidiano de uma típica família da nossa antiga elite política e econômica, buscando interpretar sobretudo, as práticas culturais femininas (2015, p. 17).
Para isso, Albuquerque abordou no primeiro capítulo, intitulado “Nas memórias de Aurélia”, as experiências e vivências dessa jovem sergipana, bem como das demais mulheres da família, inclusive de sua preceptora alemã.
Ao narrar a conjuntura que levou a família do deputado geral Antonio Dias Coelho e Mello (1822-1904), Barão da Estância, a se mudar para o Rio de Janeiro, e o cotidiano das mulheres da família, Albuquerque conseguiu estabelecer pontos de convergência entre a política e cultura do século XIX.
A ligação política do Barão da Estância rendeu às mulheres da família e à preceptora alemã, o acesso a espaços de sociabilidade típicos da corte carioca, como bailes, jantares, cerimônias políticas e religiosas, inclusive contato direto com a família imperial, por meio das visitas residenciais ou cerimônias específicas.
Além disso, tal ligação política também possibilitou identificar o cotidiano dessas mulheres e suas práticas culturais. Dentre essas práticas, Albuquerque destacou as experiências vivenciadas e narradas por Aurélia nos diversos espaços de sociabilidade em que frequentou com sua família e com sua preceptora.
A frequência nesses espaços possibilitava às mulheres da corte e da elite se conhecerem, trocarem informações e experiências sociais e culturais. Assim, Aurélia, as mulheres de sua família, e sua preceptora, conseguiram se inserir no cotidiano feminino carioca e se adaptarem nessa nova realidade sociocultural, uma vez que todas elas provinham de outras realidades culturais.
Quanto à ligação cultural existente no cotidiano da família sergipana, podemos observar a atenção que o autor deu aos indícios textuais de Aurélia sobre a educação recebida pela preceptora alemã.
Da gramática ao estudo de idiomas e de música, a jovem sergipana foi educada para tornar-se uma mulher culta e preparada para um bom casamento e, consequentemente, saber cuidar da casa, do marido, dos filhos e dos criados.
Sua vivência e experiências pela cidade do Rio de Janeiro, acompanhada por sua família e por Marie Lassius, fizeram de Aurélia uma moça atenta ao cotidiano feminino e aos espaços de sociabilidade por ela frequentados.
Guiado pelos indícios das práticas culturais e dos espaços de sociabilidade acessados por Aurélia, Albuquerque continuou explanando no segundo capítulo, intitulado “No Reino Encantado de Pedro II”, o cotidiano feminino pelo Rio de Janeiro durante o reinado de D. Pedro II.
A frequência nos ritos religiosos, no estabelecimento de modistas franceses, na confeitaria Paschoal, nas residências de políticos e damas da elite carioca, em teatros, museus, passeios públicos, jardins botânicos, zoológico, praias e demais endereços ilustram a diversidade de espaços de sociabilidade existentes na cidade do Rio de Janeiro, bem como os locais permitidos ao acesso feminino.
Toda vivência e experiência obtida durante a estadia no Rio de Janeiro, provavelmente proporcionou a Aurélia noções do cotidiano e das práticas femininas, além de prepará-la para a vida de esposa, mãe e dona de casa.
Assim, com o encerramento das atividades políticas do Barão da Estância no Rio de Janeiro em 1879, ele e sua família retornam a Sergipe, deixando para trás o amigo da família Gonçalo de Faro Rollemberg, futuro esposo de Aurélia, e a preceptora alemã, Marie Lassius que faleceu no mesmo ano.
Aurélia, já amadurecida, continuou escrevendo suas vivências e experiências, porém, não da mesma forma como antes. Diante de seus retornos ao Rio de Janeiro, de seu casamento, filhos que teve, permanecia em sua memória os ensinamentos, as práticas, as vivências e as experiências deixadas por sua preceptora.
Assim, se Samuel de Albuquerque buscou destacar em seu livro a importância da prática da preceptoria no Brasil para a formação feminina, em especialde Aurélia, ele também conseguiu dar visibilidade às experiências, vivências e práticas culturais no cotidiano feminino no Rio de Janeiro do século XIX.
Everton Vieira Barbosa Correio – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-Campus de Assis). Bolsista pelo processo 15555-8, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).E-mail: semusico@hotmail.com.
ALBUQUERQUE, Samuel. Nas memórias de Aurélia: cotidiano feminino no Rio de Janeiro do século XIX. São Cristóvão: Editora UFS, 2015, 152p. Resenha de: CORREIO, Everton Vieira Barbosa. História histórias. Brasília, v.4, n.7, p.231-233, 2016. Acessar publicação original. [IF]
Riqueza e miséria do trabalho no Brasil III – ANTUNES (TES)
ANTUNES, Ricardo (Org.). Riqueza emiséria do trabalho no Brasil III. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014,464 p.p. Resenha de: CHINELLI, Filippina. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.14, n.1, jan./mar. 2016.
Lançado em 2014, em meio à crise socioeconômica, política e moral que o país atravessa, o terceiro volume de Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, organizado por Ricardo Antunes, demonstra que a dinâmica do capitalismo contemporâneo analisada nos volumes anteriores da obra se aprofundou: o trabalho segue central na produção de valor, ao mesmo tempo em que continua se esfacelando como direito e se acentuam os processos de terceirização, precarização, informalização, ou seja, de vulnerabilização das condições de vida que afetam, em graus variados, os trabalhadores do mundo.
O livro constitui mais uma importante contribuição para a análise do que Antunes denomina de ‘laboratório capitalista’, realizada através de 25 artigos de autoria de pesquisadores tanto em início de formação quanto de reconhecimento nacional e internacional, combinando, “pesquisas coletivas, reflexões conjuntas, mas preservando o decisivo espaço de autonomia de cada pesquisador” (p. 9).
Tendo como fio condutor a compreensão das “heranças oriundas do padrão taylorianofordista de produção” e as “emergências decorrentes dos novos experimentos produtivos que resultam da acumulação flexível e presentes de modo expressivo no universo produtivo brasileiro” (p. 9), os autores se detêm nas transformações do mundo do trabalho e suas repercussões materiais e subjetivas sobre os trabalhadores, com olhos postos no Brasil, mas considerando as configurações que o capitalismo vem assumindo nos países centrais.
Santana assinala na orelha do livro que não se trata mais de analisar essas metamorfoses e transformações no Brasil da última década “como um ente em transição geral de um modo a outro, mas em mudança dentro de um estado já definido que precisa ser conhecido, interpretado e transformado”. Cabe agora tentar apreender os resultados desse processo, intenção que se revela pela leitura em conjunto dos artigos da coletânea.
Ao contrário das interpretações laudatórias que prometeram um quase paraíso aos trabalhadores do mundo, o que une os textos é uma perspectiva teórica profundamente crítica do mundo do trabalho, assentada no materialismo histórico, conforme delineado logo na primeira parte, cujos artigos apresentam discussões de caráter eminentemente conceitual que articulam, de forma explícita ou não, as interpretações do material empírico no qual se baseiam. Nela, denominada “Sistema global do capital e a corrosão do trabalho”, autores como Antunes e Druck, Mézáros, Bihr, Linhart, Alves, entre outros, tratam, de forma rigorosa, de temas como terceirização, trabalho abstrato, precarização, imigração, subjetividade, trabalho imaterial, estranhamento, alienação etc, relacionando-os aos processos que, em escala mundial, produziram o capitalismo flexível, o que vem se dando à custa da segurança material e subjetiva dos trabalhadores e da crescente fragmentação do tecido social, tanto no centro quanto na periferia do sistema, atingindo inclusive aqueles antes protegidos de suas intempéries.
As implicações subjetivas do regime flexível de organização do trabalho são abordadas em vários destes artigos, o que demonstra o interesse crescente da sociologia do trabalho contemporânea pelo tema. É preciso tentar apreender e analisar como o capitalismo flexível se justifica, como também quais são, como funcionam e quais os efeitos sobre os trabalhadores e as sociedades dos insidiosos dispositivos que objetivam o controle e a adesão ativa de todos aos objetivos das empresas.
É disso que se ocupam, por exemplo, Danielle Linhart, Giovanni Alves e Caio Antunes. Na opinião de Linhart, nem mesmo os empregados estáveis das grandes empresas estão a salvo das consequências psicológicas – e também físicas – consequentes aos novos modelos de gestão que produzem o que denomina ‘precariedade subjetiva’ caracterizada por sentimentos de isolamento, insegurança, angústia experimentados pelos trabalhadores. Em suas palavras, os “assalariados têm medo de não ser capazes, quer ocupem postos altos ou subalternos. Eles sabem que são continuamente avaliados, comparados, julgados; sabem que são explicitamente exigidas pela administração moderna a excelência e a capacidade permanente de ir além, de provar que merecem o lugar que têm e se convencerem do próprio merecimento (p. 51)”. “Desses dois pontos de vista”, acrescenta a autora, “o fracasso torna-se catastrófico, e o medo de enfrentá-lo causa uma angústia real” (p. 51).
Alves, também tendo como preocupação as estratégias gerenciais mobilizadas pela atual organização do trabalho, afirma que o “capitalismo manipulatório”, expressão que toma emprestado de Luckács, se esmera na disputa pela captura da subjetividade, processo produzido pela “disseminação de uma pletora de valoresfetiche, expectativas e utopias de mercado que constituem o que denominamos de inovações sociometabólicas, que perpassam não apenas os espaços de produção, mas também o espaço da reprodução social” (p. 55).
Procedendo a uma análise eminentemente teórica com base em Marx e Luckács, Caio Antunes trata da subjetividade em relação ao conceito de alienação. O autor afirma que a alienação sob o capitalismo repercute em graus diferenciados nos aspectos coletivos e privados, objetivos e subjetivos de todas as esferas da vida contemporânea. Nessa perspectiva e com base em Mészáros, ele ressalta que a alienação, “para além de interpor-se na relação direta que se estabelece entre o homem e a natureza, (…) sobrepõe-se, condiciona, conforma historicamente a categoria trabalho” (p. 127), não permitindo o desenvolvimento pleno da subjetividade humana.
A segunda parte do livro, intitulada “As formas de ser da reestruturação produtiva no Brasil e a nova morfologia do trabalho”, traz artigos que se debruçam sobre a configuração atual de diferentes setores produtivos da economia do país. A referência aos textos se limitará aos temas neles analisados, alguns dos quais estreantes quando considerados os volumes anteriores. Abordam-se nesta seção tópicos como construção civil e intelecto coletivo; telemarketing, telecomunicações e a nova divisão internacional do trabalho; prestação de serviços e situação do trabalho no telemarketing e nas telecomunicações brasileiras nos anos 2000; trabalho docente voluntário; trabalho de rua e informalidade; trabalho precarizado de trabalhadores de apoio técnico das artes; divisão sexual e condições de trabalho de vida de mulheres e homens inseridos no segmento avícola no contexto de integração de uma grande empresa no setor; trabalho na agricultura canavieira; trabalho das ‘caixas’ em hipermercados ligados a multinacionais do setor; trabalho degradante dos cortadores de cana.
“Os sindicatos na encruzilhada: ação e resistência dos trabalhadores” é o título da última parte da obra que se ocupa de questões do sindicalismo brasileiro atual. Sória, por exemplo, analisa as relações ambíguas e contraditórias entre a elite do sindicalismo de caráter propositivista e os fundos de pensão, no contexto de refluxo do movimento sindical e dos governos lulistas. Articula as dimensões político-conjuntural e teórico-ideológica para explicar o envolvimento ativo de lideranças sindicais nesse processo sob a justificativa de que, para lutar contra o capitalismo e proteger os interesses dos trabalhadores, era necessário que a gerência dos fundos passasse para as mãos de sindicalistas, o que acabou por promover forte – e, acrescente-se, perigosa – aproximação com o empresariado do país.
Nogueira trata das relações entre trabalhadores, sindicatos e uma empresa multinacional do setor automobilístico paulista, mostrando suas ambiguidades e contradições. Considera que na atualidade elas se caracterizam pelo “paradigma negocial e participativo”, mas também conflitivo, “o que indica a formação de um novo corporativismo de tipo societário, legitimado pela própria base operária na fábrica, diferentemente do padrão do sindicalismo corporativista estatal existente no Brasil” (p. 370).
No penúltimo artigo desta parte e também da coletânea, com base em material empírico sobre o trabalho dos teleoperadores paulistanos, Braga analisa as relações que vigem no país entre Estado e sindicatos, com ênfase nos governos lulistas. Em perspectiva semelhante à de Sória, afirma que os sindicatos se tornaram importantes atores no que se refere ao investimento capitalista no país por meio da gestão de fundos salariais e de pensão. O autor ressalta que essa configuração começa a dar sinais de esgotamento, expresso na recente onda de manifestações que se verificou em todo o país. Contudo, embora alguns desses movimentos expressem tendências progressistas, ele reconhece que a “evolução da luta de classe no país é, fundamentalmente, reprodutivista e, em consequência, conservadora” (p. 399).
Fechando a coletânea, Marcelino se ocupa da atuação sindical de trabalhadores terceirizados de Campinas. Em sua opinião, embora a terceirização resulte em limites às possibilidades de ação dos sindicatos devido à “precariedade das condições de trabalho e da fragmentação das categorias” (p. 401), as dificuldades não são intransponíveis, visto que vários deles conseguem empreender um trabalho combativo e reivindicativo, caso do Sindicato da Construção Civil, diferentemente do Sindicato dos Comerciários, cuja atuação se caracteriza pela conciliação. Sobre as experiências analisadas, Marcelino ressalta que o caráter da ação “não é dada (…) apenas pela composição da base, mas é resultado de uma combinação entre esse elemento e as condições políticas, sociais e econômicas, o peso da estrutura sindical corporativa, o papel desempenhado pelas direções sindicais, o histórico de luta de cada categoria e o desenrolar de enfrentamentos exteriores às empresas e cruciais para a construção de uma atmosfera de embates classistas” (p. 417).
Finalmente cabe ressaltar que Riqueza e miséria do trabalho no Brasil III amplia e enriquece o objetivo da série: dar ao conhecimento dos interessados, sejam alunos e professores da área de humanas, seja o público em geral, as faces atuais do capitalismo brasileiro, constituindo-se em leitura indispensável para todos aqueles que acreditam em sua superação.
Filippina Chinelli – Fundação Oswaldo Cruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Laboratório do Trabalho e da Edu-cação Profissional em Saúde, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: pina.chinelli@gmail.com>
[MLPDB]Saúde coletiva: teoria e prática – PAIM; ALMEIDA-FILHO (TES)
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA-FILHO, Naomar de (Orgs.). Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Medbook, 1.ed., 2014, 720pp. Resenha de: FRAGA, Lívia; CARNEIRO, Carla Cabral Gomes. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.14, n.1, jan./mar. 2016.
É um desafio tentar sumarizar, neste espaço, a contribuição de oitenta coautores à reflexão sobre a saúde coletiva, dentre eles Jairnilson Silva Paim e Naomar de Almeida-Filho, organizadores da obra Saúde coletiva: teoria e prática. Trata-se de uma complexa coletânea que, em seus 45 capítulos, agrupados em sete seções, apresenta uma introdução didática ao conjunto de saberes, estratégias e técnicas que compõem a saúde coletiva. Considerando as limitações deste espaço editorial e o público alvo do livro, optamos por destacar os temas e conceitos centrais abordados por seção, a fim de situar e provocar o leitor a construir seus próprios caminhos de leitura.
Iniciando o volume, na seção I são apresentados os ‘eixos’ conceituais da saúde coletiva como “campo de saberes e práticas sociais,” fundamentais para a leitura dos demais capítulos. Para tanto, são analisados historicamente as diversas iniciativas políticas e os movimentos de ideias e práticas que antecederam e formaram esse campo, suas fronteiras e similaridades. Este percurso perpassa a articulação entre a saúde oletiva, a Reforma Sanitária Brasileira (RSB) e o Sistema Único de Saúde (SUS), destacando a necessidade de aquele campo reafirmar-se e renovar-se a fim de fundamentar a práxis transformadora de sujeitos individuais e coletivos. São apresentados o debate teórico-metodológico acerca do conceito de saúde; necessidades, problemas e determinantes em saúde; e uma densa reflexão teórica sobre os usos da noção de ‘campo’ nas ciências.
Na seção II, o conjunto dos três capítulos situa o leitor nos ‘Modos’ com os quais se estruturam os sistemas e políticas de saúde desde a concepção até a operacionalização no cotidiano dos serviços. Partindo-se do debate entre diferentes conceitos de sistemas, são apresentados os componentes de um sistema de serviços de saúde e reconhecidos os desafios para implantação de sistemas integrados no Brasil e no mundo. Em seguida, o enfoque recai sobre a discussão acerca do ciclo de políticas públicas da saúde, enfatizando-se seu caráter processual, dinâmico e complexo e a importância de profissionais e cidadãos reconhecerem-se como parte desse processo. Por fim, aborda-se a história do planejamento e da programação em saúde no Brasil, demonstrando como esta se constituiu em proposta de modelo assistencial, cujo propósito seria prover a integração de ações individuais e coletivas com efeitos na saúde da população.
“Contextos” é a terceira seção da coletânea, formada por sete capítulos que discutem a conjuntura contemporânea na qual se insere o sistema de saúde do país. Inicialmente, são apresentadas as transformações epidemiológicas da população brasileira no contexto de profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e demográficas, iniciadas na segunda metade do século XX. São desvelados os desafios a serem enfrentados, especialmente no que tange às desigualdades socioeconômicas e à garantia do direito à saúde para todos os brasileiros. Expõe-se uma leitura panorâmica do SUS, mostrando o difícil processo de construção de um sistema universal no país e seu quadro atual. Em seguida, faz-se uma análise do sistema de assistência médica suplementar no Brasil, por meio de evidências acerca das convergências e contradições existentes entre o sistema de saúde brasileiro e estadunidense. Atenção especial é dada à dinâmica e à regulação dos planos e seguros de saúde no contexto nacional, às iniquidades e fragmentação geradas pela estrutura de oferta e financiamento do sistema e às principais modalidades de empresas prestadoras de serviços de saúde no país e sua estreita relação com a penetração do capital financeiro no setor. Tais reflexões permitem uma visão comparada entre os sistemas brasileiro, canadense, alemão e estadunidense. Na sequência, discorre-se acerca do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A preocupação central dos autores é a discussão da dinâmica de inovação e o papel do Estado no fortalecimento nacional da base produtiva da saúde, além das repercussões desta inovação no acesso equânime da população às tecnologias produzidas. Finaliza-se a seção destacando-se a produção de informação em saúde coletiva e sua importância para a tomada de decisões em nível de gestão do sistema e dos serviços.
A RSB e o SUS são postos em perspectiva na seção IV, denominada “Hemisfério SUS”. Inicialmente, a RSB é apresentada como processo histórico e social, tomando como eixo de análise um ciclo composto de ideia-proposta-projeto-movimento-processo. Recorrendo à história, os autores avaliam três momentos distintos do processo da RSB e os desdobramentos recentes do movimento. A ênfase é dada à agenda dos governos e à atuação e inflexão do movimento sanitário no período pós-constituinte. Somada a isto, focaliza-se a análise das forças políticas e sociais em disputas em distintas conjunturas e a necessidade do desenvolvimento de uma consciência crítica para a sustentação do processo da RSB. Dada a implementação do SUS, os capítulos seguintes se debruçam sobre sua estrutura tecnológica, configuração político-institucional, controle social, gestão e financiamento do sistema, finalizando com a reflexão acerca dos obstáculos para implementação de uma modelo de atenção integral à saúde.
A seção V desta coletânea reúne as estratégias – e seus fundamentos – empregadas para realização das funções sociais de um sistema de saúde, discutidas ao longo da obra, quais sejam: promoção da saúde; prevenção e proteção a doenças, agravos e riscos; e recuperação da saúde de indivíduos, grupos e ecossistemas, assim como para operacionalização dos princípios e diretrizes do SUS. Os objetos desses capítulos são diversos e podem ser organizados em duas subseções. A primeira contém os sete capítulos iniciais, que versam sobre os componentes gerais e a organização dos serviços de saúde a partir de quatro temas: 1) Promoção da saúde, apresentada a partir da perspectiva estreitamente relacionada aos ‘determinantes sociais em saúde’; 2) Atenção à saúde, tema que ocupou maior espaço nesta subseção, central em três dos sete capítulos aqui situados, a partir dos assuntos: a relação entre os três níveis de atenção à saúde (básica, de média e de alta complexidade); a Estratégia Saúde da Família; e a qualidade do cuidado em saúde; 3) Vigilância em saúde, abordada pelo capítulo 23, a partir do foco na vigilância sanitária, e retomada, de forma ampliada, no capítulo 28, junto às campanhas sanitárias e aos programas, na discussão sobre estratégias voltadas à prevenção e controle de problemas de saúde; e 4) Regulação da Saúde, que remete à discussão sobre a relação entre Estado e mercado, com foco no papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
O segundo bloco da seção V consiste em oito capítulos sobre estratégias específicas ao atendimento de necessidades e problemas de saúde de certos subgrupos populacionais (usuários de drogas psicoativas, trabalhadores, crianças e adolescentes) e/ou ao enfrentamento de problemas específicos (doenças transmissíveis, crônicas não transmissíveis; violências interpessoais e comunitárias; saúde bucal e saúde mental). Ainda que esta seção não aborde as demais políticas e programas especiais do SUS – aqueles voltados à saúde da mulher, dos povos indígenas, da população negra, dentre outros – alguns são brevemente tratados na seção III.
Em “Estados da Arte,” oito capítulos apresentam panoramas acerca de questões centrais referentes às disciplinas fundadoras e estruturantes da saúde coletiva (Epidemiologia, Ciências Sociais e Política, Planejamento e Gestão) e de determinados temas desse campo, tais como saúde do trabalhador, trabalho e educação, comunicação em saúde, saúde bucal e sistemas de informação.
No único capítulo que integra a seção de conclusão da obra, “Epílogo,” os autores fazem uma análise de conjuntura da saúde coletiva, apontando tendências e desafios ao campo, estreitamente relacionados ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro, no qual é central a desigualdade social abissal e persistente, embora sejam reconhecidos os avanços alcançados nos últimos anos, em função de políticas sociais. Cabe destacar que a crise política, ética e econômica que assolou o país em 2015 atualiza os problemas mencionados de forma contundente e consistente pelos autores, como a permanência da dicotomia público-privado desde a Constituição de 1988, uma tendência ao conservadorismo político e ideológico, e também o acirramento das iniquidades sociais. Indica-se a necessidade da revisão do papel e dos deveres do Estado, que historicamente não tem garantido à população serviços públicos de qualidade, reforçando as desigualdades sociais.
Tendo em vista esses aspectos, a obra é um convite para olhar os princípios conceituais e metodológicos da saúde coletiva, assim como para sua trajetória, lutas, conquistas e desafios. Tal empreendimento é considerado fundamental nos tempos atuais, marcado por tensão e incertezas, mas também por avanços em algumas dimensões da vida social, que precisam ser consolidados, expandidos e/ou reestruturados a fim de se retomar um projeto civilizatório de transformação social.
Lívia Fraga – Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: liviafraga@fiocruz.br
Carla Cabral Gomes Carneiro – Fundação Oswaldo Cruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: carlacgcarneiro@fiocruz.br
[MLPDB]A Idade Média e o Dinheiro – ensaio de antropologia histórica | Jacques Le Goff
O último livro do historiador francês Jacques Le Goff foi publicado originalmente em 2010. Traduzido por Marcos de Castro, foi publicado no Brasil em 2014. “A Idade Média e o Dinheiro” não deve ser interpretado como uma obra que contém uma reviravolta na historiografia de Le Goff, mas como uma síntese das ideias que nortearam o autor em sua carreira acadêmica. Desta forma, os elementos que compuseram seus traços característicos se expressam na obra de forma bem clara: o interesse em problemas e questões de longa duração; a proeminência e o impacto das questões subjetivas ou mentais; a ênfase nas instituições e transformações urbanas; a relação entre a mentalidade e a religião; as ordens eclesiásticas; a relação com o dinheiro e o tempo (a partir da usura); uma Idade Média de longa duração e sua possível relação com o capitalismo.
Conforme o subtítulo anuncia, sua preocupação é estabelecer um ‘ensaio de antropologia histórica’. Desta forma, compreende-se que a obra priorize os elementos culturais (ou mentais) do significado do dinheiro para o medievo. Isso não significa, no entanto, que a materialidade seja totalmente descartada na obra. A forma como esta é trabalhada, contudo, ficará mais clara ao longo da exposição da obra. Leia Mais
O espaço da prisão e suas práticas educativas: enfoques e perspectivas contemporâneas | A. S. Lourenço e E. M. C. Onofre
Educação na prisão? Podem essas duas palavras, carregadas de concepções tão distintas, serem postas lado a lado? Os doze artigos que compõem o livro O espaço da prisão e suas práticas educativas: enfoques e perspectivas contemporâneas (LOURENÇO; ONOFRE, 2011) nos ajudam a compreender como, apesar dos limites impostos pela cultura prisional, a educação permanece nesse espaço como possibilidade e potência.
A partir de diferentes experiências e enfoques, reconhecendo os desafios postos e defendendo a importância de compreender o contexto prisional, os autores nos convidam a pensar a prisão sob perspectivas menos exploradas, buscando visibilizar as possibilidades de humanização desencadeadas por processos educativos em espaços onde historicamente predomina a desumanização. Leia Mais
Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio – JIMENO; CASTILLO; VARELA (A-RAA)
JIMENO, Myriam; CASTILLO, Ángela; VARELA, Daniel. Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio. Bogotá: ICANH y el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia, 2015. Resenha de: GONZÁLEZ G, Fernán E. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.24, jan./abr., 2016.
En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de conocer y comentar este texto. Pero, en segundo lugar, me gustaría aclarar que mi perspectiva parte de la historia y sociología políticas, pues no soy antropólogo, ni mucho menos experto en problemas indígenas. Por esto, mi interés en este texto obedece a mis preocupaciones previas sobre las bases antropológicas y culturales de la vida política, que he venido compartiendo desde hace varios años con amigas antropólogas como Myriam Jimeno, Gloria Isabel Ocampo y María Victoria Uribe. Ese interés se ha centrado, en especial, en las discusiones sobre temas como la identidad nacional, sus relaciones con las adscripciones políticas del bipartidismo, las guerras civiles y las relaciones con la Iglesia católica. En los últimos años, estas discusiones se han relacionado con la Violencia, tanto la de los años cincuenta como la actual, que me han ido conduciendo a preocuparme, más recientemente, por los problemas de la representación política de una sociedad cada vez más plural y multiforme.
En este sentido, empezaría por subrayar la importancia de este libro, Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio, escrito por Myriam Jimeno y su grupo, como contribución a la comprensión de la manera como se configuran, desconfiguran y reconfiguran las identidades colectivas de comunidades locales en los actuales contextos de Violencia y desplazamiento -en el corto plazo-, pero teniendo siempre en cuenta los contextos culturales y políticos del mediano plazo, como el reconocimiento de la pluralidad cultural, étnica, religiosa y regional consagrada en la Constitución de 1991. Y resaltando que el nuevo texto constitucional es el resultado de un movimiento social, cultural, político y económico, de más larga duración, que va rompiendo gradualmente la concepción homogénea e indiferenciada de la nacionalidad colombiana, basada en la adscripción al bipartidismo, el monopolio del campo religioso en manos de la Iglesia católica y el mestizaje racial consagrados en la Constitución de 1886, el Concordato de 1887 y los pactos de misiones que les siguieron, como producto de una historia que se remonta a los tiempos de la Colonia española.
Estos monopolios -cultural, político, religioso- del bipartidismo y de la Iglesia católica se fueron desdibujando, gradual y paulatinamente, desde los inicios del siglo XX, con la aparición de importantes movilizaciones sociales y políticas al margen de los partidos tradicionales. Entre ellas, se destacó la movilización indígena de Quintín Lame en Cauca y Huila y la agitación social y política del Partido Socialista Revolucionario (PSR) en el mundo obrero y campesino, y también el surgimiento de un incipiente movimiento indigenista, muy ligado al nacimiento de las Ciencias Sociales en Colombia, del cual recuerdo los nombres de Juan Friede, Antonio García y Blanca Ochoa, con el riesgo de omitir nombres, que empezaron a crear conciencia sobre el problema indígena en el medio académico.
Sin embargo, la mayoría de estos desarrollos se vieron interrumpidos, opacados y subsumidos por los problemas de la llamada Violencia de los años cincuenta, y sólo comenzaron a resurgir bajo el Frente Nacional, vinculados especialmente al reformismo agrario de Lleras Restrepo y a la organización y el auge de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). En ese momento se hace evidente la importancia de funcionarios reformistas de corte tecnocrático, algunos de ellos cercanos a grupos de izquierda independientes. En este contexto se mueven algunos de los trabajos anteriores de Myriam Jimeno y otros similares, pero a ellos no se les ha hecho suficiente justicia en las ciencias sociales ni en los estudios sobre los movimientos sociales.
Esta línea de análisis aparece ahora continuada en este libro, Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio, escrito en colaboración entre Ángela Castillo, Daniel Varela y Myriam Jimeno, que proyectan sus anteriores preocupaciones al contexto de la violencia reciente para mostrar cómo una de las masacres de esa violencia reconfigura la identidad de un grupo indio, pero ya en un nuevo contexto nacional y mundial, marcado por la difusión internacional del discurso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos de las minorías de toda índole, especialmente de las culturales y étnicas. Este discurso, que muestra un aspecto positivo de la globalización creciente, ha ido permeando la conciencia de la mayoría de la población colombiana, no india ni afro, como se manifestó en la Constitución de 1991 y el apoyo electoral de poblaciones urbanas, blancas y mestizas a listas de las minorías étnicas.
En ese sentido, este libro destaca los recursos culturales y subjetivos puestos en juego por una comunidad Kitek Kiwe desplazada de manera violenta de la zona del río Naya, para recomponerse socialmente y crear una nueva comunidad, de sobrevivientes, basándose en el recurso a las políticas culturales y prácticas organizativas de la etnicidad india en Colombia, que recogen cuatro décadas de luchas, en especial en el Cauca, y se entroncan en prácticas que se remontan a los tiempos coloniales. Estas políticas y prácticas son analizadas en detalle en el capítulo segundo del libro, seguidas -en los capítulos tercero, cuarto y quinto- por el estudio de las prácticas organizativas de cabildos y asambleas, que sirven de base para realizar, en el momento actual, nuevas demandas de justicia. Esas demandas se apoyan en las fuerzas simbólicas acumuladas durante la segunda mitad del siglo XX, pero tienen relación con la historia anterior, tanto del siglo XIX como de los tiempos de la dominación española. Estos acumulados permiten construir hoy una narrativa de memoria enmarcada en la adscripción a una ciudadanía étnica, a partir de la puesta en escena de conmemoraciones que se encaminan a crear comunidades emocionales de sentido y pertenencia. Esas comunidades emocionales parten de una nueva categoría: la de víctima, que permite a la nueva comunidad confluir en el movimiento nacional de víctimas, que goza del apoyo internacional. Esto hace posible negociar con las instituciones del Estado, pues la inserción en un movimiento nacional más amplio, con vinculaciones internacionales, permite la incorporación de esta comunidad en la sensibilidad creciente en Colombia sobre estos problemas. Y aprovechar que esta sensibilidad mayor haya sido sancionada legalmente por la ley de víctimas de 2005, que expresa jurídicamente esta creciente toma de conciencia del problema por el conjunto de la sociedad colombiana.
Los vínculos afectivos de estas comunidades emocionales permiten tender puentes entre el sufrimiento subjetivo del dolor, individual o colectivo, y el dolor como sentimiento político compartido públicamente; se supera así el carácter individual o comunitario del sufrimiento para situarlo en el campo de la Política. Esto le proporciona proyección política, lo que permite a las comunidades negociar con la institucionalidad estatal al sintonizar sus problemas con el movimiento nacional e internacional de víctimas. En este sentido, la figura del testigo actúa como bisagra entre lo subjetivo particular y el campo compartidos de la escena pública: no se trata ya del caso particular de una comunidad en las montañas que rodean al Naya -refugio tradicional de ilegales- sino de un hecho que hace manifiesto un problema social inscrito en el contexto general de la violencia colombiana. Y se hace evidente que las víctimas no son entidades naturales sino construcciones histórico-culturales que surgen en el conflictivo proceso de construcción de la Nación colombiana.
Pero, como señalan los autores, esta proyección a la escena pública nacional se venía dando desde décadas atrás, desde la aparición del movimiento cultural del indigenismo latinoamericano y colombiano, que ha venido construyendo un discurso identitario del cual participan académicos e intelectuales, con activistas y políticos -indios y no indios-, y penetrando en la opinión pública del continente y del país, para favorecer la política cultural de las organizaciones indias.
Para esa proyección en la escena pública, el reconocimiento del derecho a la diferencia va más allá de una concepción esencialista y autárquica de la cultura, para asumir un lenguaje intercultural que permite interactuar con el conjunto de la sociedad colombiana para apoyar los reclamos de las comunidades indias frente al Estado. Esos procesos de interacción se enmarcan en el desarrollo de la construcción del Estado, que se concreta en la integración de los territorios, grupos sociales y étnicos, la construcción de identidades simbólicas y su integración en una nación heterogénea, basada en la interacción continua de regiones, subregiones, localidades y sublocalidades con el Estado central. Estos procesos de integración han sido de carácter violento en múltiples ocasiones, y muchas veces utilizados para legitimar el recurso a la violencia como instrumento político. En este sentido, es importante destacar, como hacen los autores del libro, el carácter pionero de los indígenas del Cauca frente a la injerencia de los actores armados en sus territorios.
Esto subrayaría, para los autores, la necesidad de superar el supuesto cultural, aceptado por muchos, de que somos un pueblo natural o esencialmente violento. Esta distancia frente a una supuesta “cultura de la violencia” resalta que esta creencia hace prácticamente imposible el progreso cívico de Colombia. Por eso, para superar el arraigo de esta creencia, la referencia a la apropiación de la categoría víctimas que reclaman sus derechos, tanto por parte de la población colombiana en general como de la indígena en particular, permite convocar una comunidad emocional que concreta la invocación abstracta al derecho internacional y nacional. Y, por otra parte, permite también recomponer al sujeto mediante la expresión compartida de su vivencia y su dolor, que se comunica ahora como crítica social para convertirse en instrumento político que refuerce la débil institucionalidad existente.
Finalmente, este recorrido por el libro de Myriam Jimeno y su equipo destaca la capacidad de la categoría víctimas para vincular los reclamos al respeto de la diferencia de las minorías étnicas con el campo de la política nacional e internacional, expresada en los discursos de los derechos humanos y del respeto a la diversidad étnica, aprovechando la naturaleza flexible y relacional de la adscripción étnica, lo mismo que la construcción cultural del indigenismo, que vincula a indios y no indios en la construcción de una nación heterogénea basada en la interacción continua entre culturas y regiones.
Comentarios
* Bogotá, 4 de mayo de 2015, comentario pronunciado con motivo del lanzamiento, en el marco de la Feria del Libro 2015.
Fernán E. González G. – PhD en Historia, Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Entre sus últimas publicaciones está: Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-Cinep-Colciencias, 2014. Correo electrónico: fernangonzalez39@gmail.com
[IF]
R. G. Collingwood: A Research Companion – CONNELLY et al (IJHLTR)
 CONNELLY, James Connelly; JOHNSON, Peter Johnson; LEACH, Stephen. R. G. Collingwood: A Research Companion. London: Bloomsbury, 2015. 293p. Resenha de: HUGHES-WARRINGTON, Mamie. International Journal of Historical Learning Teaching and Research, London, v.13, n.2, p.14-15, 2016.
CONNELLY, James Connelly; JOHNSON, Peter Johnson; LEACH, Stephen. R. G. Collingwood: A Research Companion. London: Bloomsbury, 2015. 293p. Resenha de: HUGHES-WARRINGTON, Mamie. International Journal of Historical Learning Teaching and Research, London, v.13, n.2, p.14-15, 2016.
In 1992, I became the fortunate owner of a small photocopied guide to the R. G. Collingwood papers in the Bodleian Library, Oxford. This much-thumbed, much-annotated booklet became the first item in a collection of transcriptions and notes that soon spilled over the limits of a single folder and settled into a row of boxes that continues to grow today.
Such was the lot of a researcher on the life and works of Robin George Collingwood (1889– 1943), philosopher, archaeologist, historian and luminary of Oxford University in the first half of the twentieth century. Until now. Connelly, Johnson and Leach’s companion for researchers admirably fulfils its aims of providing a comprehensive and systematic listing of materials by and on Collingwood and of placing those materials in the context of a detailed chronology of his life (p. 2).
The book is helpfully divided into eight sections, covering a biography, a chronology of life events, letters, unpublished and published works by Collingwood and his commentators and details of the many archive holdings. The largest section – a description of correspondence – is arguably the most helpful, for the volume and scattered nature of holdings provides a considerable challenge to any budding researcher. The chronology is also a powerful aide to understanding Collingwood’s battle with failing health, which he describes rather poignantly in a 1941 letter to Christopher Hawkes as the time ‘since the superincumbent sword of Damocles became clearly visible, and here I am driving a pen, though not well’ (p. 137).
To those who would argue that it is an important rite of passage for new researchers to find materials for themselves, the simplest rebuttal is that comprehensive aids for research assist in the development of a comprehensive and nuanced understanding of the ideas and life events of individuals and groups. Moreover, they minimise the risk of misunderstandings that arise from not having considered particular materials, protecting students, early career researchers and those interested in Collingwood because of his connections to others from the dreaded ‘but you haven’t read x’ of the experienced Collingwood researcher.
There is a little to quibble about the book. The biography (pp. 3–6) gives the reader little sense of The Idea of History as a posthumous collection brought together by Collingwood’s student, T. M. Knox, or of the significant discovery in 1993 of missing chapters from The Principles of History in the basement of Oxford University Press. The published Collingwood is only the tip of an extensive manuscript collection that shows the evolution of his thought at work.
Nor does the book give the reader a sense of what to expect when they see a Collingwood manuscript for the first time. Collingwood’s handwriting is far from challenging as far as philosophers go, and his use of recycled exam scripts provide a helpful reminder of the Oxford in which he worked. But readers do need to be warned about his liberal use of ancient Greek terms, as well as his predilection for quoting from poems without noting their source. What was customary intertextual reference in Oxford of the 1930s can take the present day reader by surprise, and the best remedy is to begin with the revised editions of Collingwood’s philosophical work – starting notably with David Boucher’s edition of The New Leviathan (1992) – as they contain transcriptions and explanatory notes to a significant group of manuscripts.
Finally, the collection does not explicitly give the reader a sense of the balance of Collingwood’s interests in toto, as distinct from a year-by-year summary. This is a significant gap, as an analysis of the Collingwood corpus can remind us not to pass over his contributions to aesthetics when we see the vast lists of writings on archaeology, metaphysics and the philosophy of history.
But these are minor quibbles, and given the significant opportunities for research posed by a still largely untapped group of writings, this Research Companion is a welcome introduction to those new to Collingwood studies.
Marnie Hughes-Warrington – Australian National University, Australia. E-mail: marnie.hughes-warrington@anu.edu.au.
[IF]Intelectuais, modernidade e formação de professores no Paraná (1910-1980) | Carlos E. Vieira, Dulce R. B. Osinski e Marcus L. Bencostta
A publicação do livro Intelectuais, modernidade e formação de professores no Paraná (1910-1980) é resultado do trabalho desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História, Educação e Modernidade (NEPHEM), composto por membros e pesquisadores convidados da linha de pesquisa em História e Historiografia da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. A produção do livro contou com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contemplado em edital específico pelo projeto homônimo.
Trata-se de uma publicação que está muito bem situada no âmbito da produção de História da Educação brasileira, trazendo em seu conteúdo o resultado da pesquisa histórica sobre algumas especificidades do contexto paranaense, caracterizadas pelas trajetórias de ao menos seis intelectuais que estiveram à frente de projetos educacionais ao longo do século XX: Lysimaco Ferreira da Costa (1883-1941), Raul Rodrigues Gomes (1889- 1975), Erasmo Pilotto (1910-1992), Pórcia Guimarães (1918-1997), Ivany Moreira (1928- 2008) e Eurico Back (1923-1997). O livro de 205 páginas conta com a apresentação de Libânia Nacif Xavier, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob o título “A educação paranaense nos quadros de um projeto de modernidade”. Além da introdução assinada pelos organizadores, o livro compõe-se de cinco capítulos, os quais serão mencionados a seguir. Leia Mais
Hobbes on legal authority and political obligation – VENEZIA (CE)
VENEZIA, Luciano. Hobbes on legal authority and political obligation., 2015. Resenha de: HIRATA, Celi. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.34, Jan./Jun. 2016
Em seu livro, publicado no ano passado, Luciano Venezia pretende fundamentar uma leitura deontológica da obrigação política em Hobbes. Trata-se de um comentário que se opõe à leitura mais difundida, leitura segundo a qual o principal traço da lei seria a coerção, de forma que os súditos seriam obrigados a obedecer à lei porque o seu cumprimento constituiria a melhor maneira de promover os seus interesses e não porque a lei obrigaria por si mesma. Venezia, em contraste, pretende argumentar que os súditos estão moralmente obrigados a obedecer à lei na medida em que as promessas e contratos possuem a força de obrigar por si mesmas, independentemente dos interesses do agente, sendo que há casos nos quais a ordem legal requer que os súditos ajam de um modo diferente do que o interesse racional ordenaria. A marca característica da lei seria, pois, a autoridade e não a coerção. Para o autor, o que está em questão é a defensabilidade mesma da teoria política de Hobbes, na medida em que uma interpretação que enfoca no caráter coercitivo da lei e no interesse próprio comprometeriam a relevância teorética de sua filosofia política e legal pelas seguintes razões: em primeiro lugar, porque teorias que fazem da coerção a característica fundamental da lei não são hodiernamente populares; em segundo, como H. Hart argumenta, a teoria hobbesiana da lei, de acordo com essa interpretação predominante, não daria conta de uma certa variedade de leis — como aquelas que conferem poderes ao invés de imporem obrigações — bem como da persistência das leis ao longo de diferentes gerações de legisladores; por fim, como S. Shapiro defende, um regime no qual as sanções de não-cumprimento constituíssem a única razão para a obediência seria logicamente impossível pela simples razão de que há um limite para as ameaças e sanções.
A interpretação de Venezia é fundamentada em três sub-teses, como o próprio autor formula nas considerações finais: em primeiro lugar, Venezia defende que as diretivas legais introduzem razões autorizadas para a ação, que, como tais, excluem e tomam o lugar de outros tipos de razão, como as razões de teor prudencial; em segundo, o autor argumenta que os súditos são moralmente obrigados a obedecer a quase tudo que é ordenado pelo soberano, mesmo quando o cumprimento da ordem é desvantajoso para a sua autoconservação; em terceiro, Venezia sustenta que a teoria contratual de Hobbes fundamenta as obrigações políticas de modo independente dos estados motivacionais dos súditos, sendo que as suas obrigações podem ir para além da promoção de seus interesses racionais.
Quanto ao primeiro ponto, Venezia argumenta que a noção de autoridade ocupa um lugar de destaque na filosofia legal e política de Hobbes e que ela se distingue normativamente de outras razões que influenciam o comportamento humano, como a persuasão e o poder: enquanto as diretivas coercitivas influenciam as ações pelo seu conteúdo (na medida em que um agente as segue para evitar um mal maior ou alcançar um bem maior), as diretivas autorizadas influenciam o raciocínio prático pela sua origem, sendo que um agente a segue porque uma pessoa ou instituição exige que ele aja assim, independentemente de seu conteúdo, mesmo quando o agente não acredita que o seu cumprimento seja vantajoso (incluindo no cálculo as sanções que podem advir de seu não-cumprimento). A distinção que está na base dessa diferenciação é aquela que Hobbes realiza no capítulo XXVI do Leviatã entre conselhos (counsels) e ordens (commands): enquanto os primeiros fornecem uma razão para agir em virtude de seu conteúdo, as segundas o fornecem em função de sua origem. A lei, na medida em que motiva a ação pela sua origem, tem, segundo Venezia, o propósito de interromper a deliberação prática e fornecer a razão relevante para a obediência. É nesse sentido que Hobbes de fi ne nos Elementos da Lei que uma ordem é uma lei quando “a ordem é uma razão suficiente para mover a ação” (EL, XIII, 6). É também nesse sentido que a sentença do árbitro exclui e substitui a avaliação pessoal, tornando-se a razão definitiva para agir. Sendo assim, as sanções pelo não-cumprimento não desempenham um papel central na concepção hobbesiana da lei, mas são apenas coadjuvantes. Venezia opõe-se, assim, à leitura analítica predominante sobre a obrigação, leituras como as de D. Gauthier, G. Kavka, J. Hampton, K. Hoekstra, que sustentam que o papel do soberano consiste em resolver o dilema do prisioneiro, superando a in fluência das paixões e aliando o interesse privado com o interesse comum por meio das sanções.
O argumento de que as leis seriam um tipo diferente de razão por meio da distinção entre ordens e conselhos, entre motivação pela origem e motivação pelo conteúdo é bastante convincente. Entretanto, fica a questão de se seria possível algo assim como interromper a deliberação para Hobbes. A alternância das imagens das consequências boas ou más de uma dada ação na mente ou dos apetites e aversões parece ser descrito por Hobbes como um processo universal, que se dá em todos os corpos animados. Este argumento deveria, pois, ser fundamentado não apenas na natureza da lei, isto é, no terreno político e legal, mas também no terreno antropológico.
Outro argumento que Venezia apresenta para defender que as sanções não são centrais na filosofia legal de Hobbes é que mesmo agentes que, por suposição, fossem perfeitamente racionais e morais, precisariam de autoridade para regular as suas ações, mesmo na ausência de sanções. A guerra no estado de natureza se daria, segundo a interpretação de Venezia, porque os homens discordam em suas interpretações particulares do que é válido ou razoável, isto é, devido à ausência de padrões do que é bom ou ruim e das ações que devem ser realizadas. A explicação do conflito não seria moral ou psicológica, mas residiria na falta de definições autorizadas de noções morais. Essa explicação do conflito abre espaço para uma filosofia política e legal que enfatiza a autoridade como o traço característico da lei. Embora toda lei envolva penalidade e as sanções sejam uma parte constitutiva da lei, trata-se mais de uma questão empírica do que conceitual, sendo que a ordem do soberano fornece por si mesma a razão para agir e as sanções introduzem apenas uma razão adicional para o cumprimento da lei, minimizando o risco de abuso e não-cumprimento. A coerção não seria, deste modo, indispensável na regulação das leis.
A despeito de centralizar na noção de autoridade, afirmando que é ela que caracteriza a lei e não a coerção, o autor não analisa a noção de autorização e de representação tal qual Hobbes a apresenta no Leviatã. A justificativa que ele indica é dupla: em primeiro lugar, o autor alega que a autorização não acrescenta nada de significativo para a obrigação contratual de obediência às diretivas do soberano; em segundo, ele afirma, seguindo nisto o comentário de P. Martinich, que a fundamentação da obediência na autorização e na alienação do direito natural são incompatíveis, na medida em que, quando uma pessoa autoriza uma outra, esta última apenas a representa, de modo que a primeira possui autoridade e permanece superior em relação à segunda, em contraste com a alienação. Ora, seria importante mostrar isso de forma mais fundamentada, já que não é essa a consequência que Hobbes parece extrair do ato de autorização. Uma vez que a noção de autoridade é central para a argumentação de Venezia, seria preciso, parece-nos, dar mais atenção a essa noção tal como ela é apresentada no texto de Hobbes.
Quanto ao segundo ponto, Venezia argumenta que se a tese de que a obediência se fundamenta no auto-interesse dos súditos fosse correta, os agentes poderiam legitimamente desobedecer à lei quando ela não o promovesse, o que não é afirmado por Hobbes. Pelo contrário, a desvantagem da obediência da lei não legitima a desobediência. A desobediência em relação às leis só é justificada nos casos nos quais os súditos não se obrigaram a obedecer ou a não resistir. Deste modo, mesmo a liberdade para desobedecer é normativa, segundo Venezia.
Além disso, a teoria de Hobbes introduziria, segundo Venezia, as duas notas características das razões morais, tais como elas são descritas contemporaneamente por Stephen Everson. Segundo este, as razões morais são aquelas que, em primeiro lugar, motivam o agente a agir pelo interesse de outro além do interesse próprio e que, em segundo, são categóricas, sendo que a sua força normativa não depende das motivações do agente. Ora, Venezia argumenta que Hobbes introduz a análise de determinadas paixões, como piedade, caridade, benevolência, etc., pelas quais os homens podem ser motivados apenas pela ideia de promoverem o interesse de outros. Quanto ao segundo ponto, o comentador argumenta que, a partir da definição hobbesiana de justiça, os homens justos não são motivados pelo benefício próprio, mas exclusivamente por considerações morais, sendo que aquele que cumpre a lei não pela lei, mas pelo medo da sanção, é injusto (Do Cidadão, IV, 21). Ora, a partir do parágrafo referido, no qual Hobbes afirma que a lei de natureza compete à consciência, não se pode fundamentar a tese de que essas leis sejam imperativos categóricos, e consequentemente razões morais no sentido descrito por Everson. No Leviatã, Hobbes, pela contraposição entre foro interno e foro externo, afirma que a obrigação em consciência das leis de natureza só obrigam de fato quando há segurança no seu cumprimento. Ou seja, trata-se de um imperativo hipotético e não categórico, já que a obrigação se fundamenta na obtenção da paz e vale apenas com a condição de que os outros a cumpram 1 . Elas tornam impositivo o desejo de as colocar em prática, mas nem sempre obrigam porque dependem de circunstâncias exteriores ao agente. Há, neste ponto, uma grande distância entre a filosofia de Hobbes e aquela de Kant. A perspectiva acaba sendo até mesmo inversa: para Hobbes, aquele que agisse incondicionalmente de acordo com as leis de natureza, aplicando- as mesmo na ausência de garantias de que os outros a cumprissem, agiria contrariamente ao fundamento mesmo das leis de natureza, invalidando a sua aplicação futura.
Enfim, quanto ao terceiro ponto, Venezia sustenta que Hobbes analisa as obrigações contratuais numa maneira deontológica, na medida em que depois de renunciar pelo contrato à parte de seus direitos naturais, os agentes adquirem obrigações que são independentes de seus estados motivacionais contingentes. A obrigação tem como fundamento
a promessa, sendo que a penalidade constitui uma motivação meramente adicional. Nesse sentido, a razão para contrair a obrigação distingue-se da razão para cumpri-la: enquanto a primeira é prudencial, baseada no auto-interesse, a segunda não o é. A obrigação política não se fundamenta na possibilidade de sanções em caso de não cumprimento, mas em atos voluntários que expressam consentimento.
Por fim, Venezia critica esse fundamento mesmo da obrigação política em Hobbes, a saber, a tese de que as ações realizadas sob coerção são completamente voluntárias. O comentador argumenta que as ações cometidas sob coerção não são voluntárias porque as condições sob as quais os agentes coagidos fazem as suas escolhas não refletem a sua vontade real, considerando-se a afirmação de Hobbes de que “o objetivo de todos os atos voluntários dos homens é algum bem para si mesmos” (Leviatã, XIV, p. 115). Os agentes não realizariam as ações em questão se elas tivessem oportunidade de agir de outro modo, sendo que a escolha em questão não expressa o arbítrio próprio do agente, mas a escolha é de outro, que deliberadamente reduz as opções possíveis. As suas decisões não refletiriam a sua verdadeira vontade, mas eles seriam o mero instrumento de outros agentes. Ora, tal crítica se opõe à definição mesma de voluntaridade em Hobbes, definição segundo a qual é voluntário todo ato que provém da vontade, a qual consiste, por sua vez, no último momento da deliberação do qual se segue imediatamente a ação, independentemente de como e em quais circunstâncias foi determinada. É justamente nesse sentido que Hobbes reavalia o exemplo de ação dado por Aristóteles na Ética a Nicômaco, a saber, a de um capitão que joga a carga de sua embarcação no mar pelo medo de seu navio afundar, exemplo que é mencionado por Venezia. Enquanto para o estagirita essa ação constitui o exemplo de uma ação mista, nem voluntária e nem contra-voluntária, visto que a ação não seria desejada por si mesma, ainda que o princípio da ação resida no agente, para Hobbes se trata de uma ação perfeitamente voluntária porque procedente da vontade. Essa redefinição e simplificação do que é a vontade e do que é voluntário é absolutamente central na filosofia hobbesiana. Afirmar, pois, que o que Hobbes de fi ne como voluntário nem sempre o é, na medida em que as ações realizadas sob coação não seriam desejadas em si mesmas, é rejeitar a definição de Hobbes e endossar o que o autor já refutara. Mas como o próprio Hobbes defende, se a definição é compreendida e não admitida, a controvérsia se encerra (De Corpore, VI, § 1 5) .
Por fim, nas considerações finais, Venezia dirige críticas a diversos pontos da filosofia política de Hobbes. Em primeiro lugar, Hobbes erraria no ponto de partida de sua teoria política ao colocar o desacordo humano e a guerra civil no mesmo patamar, ponto de partida que resultaria numa teoria política extremamente autoritária. Os filósofos políticos contemporâneos, como J. Rawls, mostraram que o conflito e a diversidade de opiniões são constitutivas das sociedades democráticas. Outro ponto a ser criticado, tal como Hume já o fizera, é que apenas um número muito limitado de súditos obrigaram-se, tanto pelo consentimento tácito como explícito, a obedecer à lei. Além disso, Venezia critica o fato de que o direito do soberano de governar não é apenas o resultado da transferência dos direitos pelos súditos, mas está fundamentado em seu direito natural, o que seria inapropriado, pois deste modo não se distinguiria o soberano enquanto um indivíduo privado e enquanto portador de um cargo oficial. Por fim, além daquela crítica concernente à voluntariedade das ações feitas sob coação, Venezia endossa a crítica dos filósofos liberais, notadamente, J. Locke, de que não se pode ter obrigações políticas em relação a um governo absoluto por não possuirmos o direito de nos escravizar. À exceção da segunda crítica, que diz respeito ao número dos que pactuaram e que parece ter validade mesmo pressupondo a filosofia hobbesiana, as demais críticas são exteriores à filosofia de Hobbes e só podem ser realizadas a partir de pressupostos completamente estranhos ao filósofo. Se, por um lado, é louvável o esforço de trazer a filosofia de Hobbes para os debates contemporâneos, por outro, medi-lo a partir dos parâmetros da filosofia política atual faz o seu sistema filosófico perder o seu sentido.
De toda forma, o livro de Luciano Venezia constitui uma contribuição importante para os estudos da filosofia hobbesiana, uma vez que apresenta bons argumentos em favor de uma leitura diferente daquela predominante sobre a obrigação política, a natureza da lei e do contrato na filosofia de Hobbes, além de ser extremamente claro e objetivo. O que nesta resenha se apresentou como sendo problemático decorre em grande medida da discrepância entre dois métodos e tradições de interpretação distintos, a saber, entre o método estrutural de leitura e o método analítico, que é o método adotado pelo autor do livro.
Nota
1 “(…) Aquele que fosse modesto e tratável, e cumprisse todas as suas promessas numa é poca e lugar em que ninguém mais assim fizesse, torna-se-ia presa fácil para os outros, e inevitavelmente provocaria a sua própria ruína, contrariamente ao fundamento de todas as leis de natureza, que tendem para a preservação da natureza ” (Hobbes, 2014, p. 136).
Referência
HOBBES, Thomas. (2 0 1 4). Leviatã. São Paulo: Martins Fontes.
Celi Hirata – Professora Universidade Federal de São Carlos. E-mail: celi_hirata@yahoo.com
Ovcarovo-Gorata. Eine frühneolitische Siedlung in Nordostbulgarien – KRAUß (DP)
KRAUß, Raiko. Ovcarovo-Gorata. Eine frühneolitische Siedlung in Nordostbulgarien. Mit Beitragen von Gerwulf Schneider, Malgorzata Daszkiewicz, Ewa Bobryk, Nguyen Van Binh, Petar Zidarov, Florian Klimscha, Norbert Benecke und Elena Marinova (Archaologie in Eurasien 29). Bonn: Habelt-Verlag, 2014. 350p. Resenha de: GATSOV, Ivan; SIRAKOV, Nikolay. Documenta Praehistorica, v.43, 2016.
In the first half of the 1980s, lithic materials from the prehistoric settlement of Ovcarovo-Gorata in northern Bulgaria were studied by Vietnamese archaeologist Nguyen Van Binh. At that time, he was a doctoral student in the Department of Prehistory of the National Archaeological Institute and Museum Bulgarian Academy of Sciences. In 1985, Nguyen Van Binh completed his doctoral thesis “Prehistoric flint artifact assemblages from the Late Pleistocene and Early Holocene on the basis of materials from North East Bulgaria”, which presents the results of lithic assemblages processed from the site.
Three decades later, thanks to Raiko Krauss, the work of Nguyen Van Binh on the flint assemblages of this prehistoric settlement was published with his consent in Krauss’ monograph Ovarovo-Gorata. Eine fruhneolitische Siedlung in Nordostbulgarien. Archaologie in Eurasien, Herausgegeben von Svend Hansen, Band 29, DAI, Eurasien-Abteilung, Habelt- Verlag Bonn, 2014.
The study of flint assemblages from Ov≠arovo-Gorata by Nguyen Van Binh is one of the first comprehensive and professional studies in Bulgaria of chipped stone artefacts from the Neolithic period. Naturally enough, this analysis of flint assemblages bears the imprint of its time.
Work on the thesis was carried out in the early 80s and is consistent with the then prevailing methodological trends in lithic studies. These were associated with traditional technological and typological analyses, which still focused heavily on typology and the more formal treatment of technological aspects.
With regard to the work of Nguyen Van Binh, the valuable results of such a study of flint raw materials used in the preparation of flint tools should be particularly noted. The Neolithic flint industry at the prehistoric settlement of Ov≠arovo-Gorata has largely been associated with the use of local varieties of raw materials, which were processed mainly in the area of the settlement.
The analysis conducted by Nguyen Van Binh allows us to trace chaines operatoires stages within a prehistoric settlement as well as see that the core preparation stage was not done at the site under discussion.
The evidence for this is the absence of cortical flakes and the lower frequency of crest specimens compared to sites where core preparation occurred on site. Flint production focused mainly on the acquisition of flakes; moreover, the presence of splintered pieces was also noted. With regard to the core knapping process, the initial exploitation was linked to single platform specimens which were later transformed into two platform cores. The last stage of core knapping usually occurred on cores with an altered orientation – e.g., all surfaces were used. Nguyen Van Binh’s work revealed the relationship between technological characteristics and the type of raw material and nodule dimensions.
The lithic assemblage’s typological structure includes flakes, end scrapers, and retouched flakes; perforators and drills are relatively poorly represented, straight and oblique truncations, and denticuled tools and fragments. Microliths occur in single items in the form of micro end scrapers and bladelets. According to Nguyen Van Binh, this was due to the lack of sieving rather than other factors. It should be noted that some of the conclusions drawn by Wang Bin Ngun have not lost their relevance today, such as the similarity of Ovarovo-Gorata lithic assemblages and those of Ussoe I and Podgorica in northeastern Bulgaria.
On the other hand it is regrettable that the lithic assemblage was not available along with other groups of finds from the site in the monograph on Ov≠arovo- Gorata, so that the analysis could be updated and the possibilities for interpretation increased.
Van Binh assumed that they were at least two chaines operatoires, one of which is relatively poorly represented – for lamellar production (see bladelet cores – Abb.130: 1–3 and bladelet/microbladelet debitage products – Abb. 152: 9; Abb. 164: 6; Abb. 171: 1, 3; Abb. 173: 3–5, 7, 8, 19; Abb. 174: 4; Abb. 184: 1, 4, 5, 11). While there are no data on the processing of these bladelets in geometric microliths (which may be due to the lack of sieving and washing), there is still a series of retouched microlithic forms, sufficiently distinctive semi-circular and circular micro end scrapers (Abb. 155: 3, 10–12; Abb. 159: 9–12).
Although these elements are less represented in the Ov≠arovo-Gorata lithic collection, they deserve more attention than they were given years ago in Nguyen Van Binh’s dissertation.
The quality of illustrations is very high and allows one to get a good idea of the core types and retouched tools, all of which are accompanied by technical and typological characteristics.
It should be pointed out that it was Krauss’s ambition to present as fully as possible the results of different studies from this settlement in order to create a general background for studies of the Neolithic in the Central and Eastern Balkans. Although these studies were done more than 30 years ago, most of Nguyen Van Binh’s conclusions are relevant today and have their place and weight in the study of the Neolithic in the Lower Danube basin.
The professional level of the study of chipped-stone assemblages as presented by Nguyen Van Binh in the monograph Ov≠arovo-Gorata is undoubtedly to the great merit of Kraus, to whom we owe the invaluable opportunity to add these almost unknown data to our general scientific knowledge and to advance the debate on Neolithisation in Southeast Europe.
Ivan Gatsov – New Bulgarian University, Sofia.
Nikolay Sirakov – National Archaeological Institute and Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.
[IF]
Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro | Edgar Morin
Para a educação do futuro exige-se enfrentar os problemas que para o autor, “são ignorados ou esquecidos”. Para os educadores, há a preocupação de como transmitir conhecimentos dentro de uma estrutura social hierarquizada e em permanente transformação. É um desafio para eles lidar com os novos saberes que a sociedade moderna exige e que contribuição terá estes novos saberes na educação do futuro.
Em sua análise, o autor evidencia a sociedade contemporânea e como as diferentes maneiras de articular dentro do universo escolar uma formação mais humana, vinculando os conhecimentos antigos, modernos e contemporâneos não excluindo os aparelhos eletrônicos, que tantas benesses trouxeram para a formação intelectual do homem deste novo século. O autor expõe também, nesta obra, a velocidade e a eficiência com que as informações são divulgadas aos quatro cantos do continente e como são dimensionados os processos de controle e articulação de bases sólidas na transmissão de conhecimentos que seriam universais com interesses da maioria. Leia Mais
Arte e técnica em Heidegger – BORGES DUARTE (C-FA)
BORGES DUARTE, Irene. Arte e técnica em Heidegger. Lisboa: Documenta, 2014. Resenha de: PASQUALIN, Chiara, Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v .21, n.1, Jan./Jun., 2016.
O livro de Borges-Duarte propõe uma investigação límpida e rica sobre as questões entrelaçadas de arte e técnica, consideradas como fios condutores da reflexão heideggeriana posterior à Ontologia Fundamental. A contribuição original da autora não se endereça apenas aos especialistas de Heidegger, mas se apresenta também como uma imprescindível introdução ao pensamento do filósofo, pelo menos no que diz respeito ao período que vai desde inícios dos anos 1930 até o final dos anos 1960. Excluindo o primeiro capítulo, que oferece uma visão geral e introdutiva dos conteúdos apresentados, o volume reúne sete ensaios, concebidos originariamente como trabalhos autônomos, mas coesos em seus objetivos. Enfeitam o volume tanto a tradução inédita de alguns textos menos conhecidos de Heidegger, quanto a inserção de reproduções das obras de arte mais significativas a que Heidegger se refere nos seus escritos. Entramos, dessa maneira, não somente no processo genético da elaboração de algumas ideias centrais do filósofo, mas, especialmente, no seu “imaginário” íntimo, que é assim desvelado ao leitor.
O segundo capítulo se dedica à análise da entrevista concedida por Heidegger à revista alemã Der Spiegel em 1966, publicada postumamente. A autora lê esse breve texto não tanto como documento biográfico, mas como uma via de acesso preferencial aos densos assuntos do pensamento heideggeriano. Baseando-se no comentário da famosa afirmação heideggeriana “já só um deus nos pode ainda salvar”, a análise se concentra sobretudo na questão de qual salvação é ainda possível na época do atual domínio da técnica. Segundo a leitura proposta, o deus mencionado por Heidegger não deve ser confundido com qualquer representação histórico-religiosa de deus, mas circunscreve a dimensão do divino que sempre escapa ao controle e à manipulação do homem, não obstante o envolva na profundidade da sua essência. De acordo com a autora, não é, contudo, o próprio deus quem salva o homem. Uma tal perspectiva só iria reiterar a imagem tradicional de um deus todo-poderoso, invocado, como ex machina, para restaurar a ordem no caos produzido pelos homens. Pelo contrário, o que salva é o cultivo da recordação de deus, a saudade de nosso vínculo com algo que transcende o âmbito ôntico e o horizonte do manipulável. Nessa perspectiva, tornase claro o convite de Heidegger, sugerido pela entrevista, a colocar em prática um “outro pensar”, depois do fim da filosofia, que seja capaz de despertar o homem para aquela dimensão ulterior que permanece escondida no febril planejamento técnico.
O terceiro capítulo aborda a reflexão heideggeriana sobre a arte e pretende mostrar a sua importância para uma plena compreensão do ser humano. A esse respeito, a autora propõe uma reformulação do conceito de “ser-aí”, tradução corrente do termo alemão Dasein, que nos ajuda explicar o papel da arte na realização existencial: o Da-sein é o “aí-do-ser”, ou seja, o lugar em que o ser se manifesta e ilumina. A arte constitui uma modalidade exemplar por meio da qual o Dasein realiza esse seu posicionamento essencial, na medida em que, criando a obra, funda um espaço, um “aí”, para o descobrir-se do ser. Ao cumprir essa função, a arte tem, de acordo com a autora, uma vantagem sobre o pensamento. Se o pensar só raramente seria capaz de ser mais do que uma preparação da possibilidade do encontro homem-ser, na arte, diversamente, essa reunião se daria de maneira direta e imediata. Partindo dessas coordenadas gerais, o terceiro capítulo segue a evolução da longa reflexão heideggeriana sobre a arte, esclarecendo, em particular, o contexto especulativo – a exploração da verdade e do seu acontecer histórico-epocal – que leva Heidegger a focalizar a arte no começo dos anos 1930. A autora se afasta da tese de Pöggeler, segundo a qual a abordagem heideggeriana da arte seria uma simples fuga romântica depois da desilusão política (cf. Pöggeler, 1972), reivindicando, pelo contrário, a íntima ligação dessa abordagem com o percurso especulativo do filósofo e, sobretudo, a função privilegiada que ela vem a assumir servindo a Heidegger de premissa indispensável para a reflexão posterior sobre a técnica. Adotando uma perspectiva diacrônica, a autora defende que as conferências sobre a origem da obra de arte dos anos 1930 (Heidegger, 2002, pp.5-94) já contêm as linhas essenciais da concepção heideggeriana sobre a arte, a qual não seria depois posta em questão, mas só retocada parcialmente nos anos 1950 e 1960 para ser integrada à reflexão sobre a essência do mundo técnico e sobre a Quadrindade ( Geviert ). Para oferecer um exemplo e uma demonstração dessa tese, a autora passa a traduzir e analisar um breve texto heideggeriano do ano de 1955 sobre o quadro de Rafael, a Madonna Sixtina. Esse escrito não somente conteria todos os elementos-chave definidos na reflexão dos anos 1930, mas também acrescentaria tanto uma meditação mais consciente sobre o destino da obra de arte na época contemporânea, quanto a referência ao conceito de Quadrindade, implícito na ideia de um encontro entre o celestial e o terreno na imagem artística. O quarto capítulo se abre com a afirmação de que a consideração heideggeriana da arte está centrada, desde o começo até o final, na crença básica de que a obra representa o ponto de intersecção entre, por um lado, homem e ser e, por outro, entre humano e divino. Em cada fase da sua história, a arte continuaria a executar essa tarefa, oferecendo-se como manifestação do invisível, como espaço de epifania do sagrado. O que muda é, na visão da autora, a maneira como o homem, em diferentes épocas, experiencia o sagrado: se, no mundo grego, o homem parecia dócil e temeroso frente à poderosa manifestação divina, na época contemporânea ele tem apenas um contato frágil com o sagrado através das experiências da morte e da ausência. A autora estuda como exemplos desses dois extremos do processo histórico da arte, por um lado, a figura imponente do templo grego, referência favorita de Heidegger nos anos 1930; e, por outro, a arte minimalista de Klee, à qual o filósofo se aproxima, sobretudo na década de 1960, vendo, na obra do artista, um testemunho da arte pós-metafísica.
No quinto capítulo, a análise se dirige a duas traduções/interpretações que Heidegger conduz a respeito do primeiro estásimo da Antígona de Sófocles: em 1935, no contexto do curso Introdução à Metafísica e, em 1943, para preparar uma edição privada como presente de aniversário a sua esposa. Esse trabalho de assimilação do texto grego, de intensidade análoga àquele dedicado por Hölderlin à mesma fonte nos anos de 1799 e de 1802-1803, é considerado pela autora como um laboratório fundamental para a gênese da concepção heideggeriana da técnica. No comentário interpretativo do estásimo, desenvolvido no curso Introdução à Metafísica, começa a anunciar-se o interesse de Heidegger pela questão da técnica, a qual se tornará tema central a partir dos anos 1950. Com base no texto de Sófocles, Heidegger elabora uma ontologia da essência do humano como ser duplamente inquietante ( unheimlich ): num sentido positivo, ele é unheimlich em virtude do seu poder criador e violento que força o ser a manifestar-se no ente; por outro lado, o ser humano se revela terrível também num sentido negativo, podendo perverter a sua energia criativa num exercício de controle e de programação rígida que oprime a livre doação do ser. O sexto capítulo examina o particular estilo de pensar posto em prática nos Beiträge zur Philosophie de Heidegger. O problema que surgiu na elaboração dessa obra, e que deve ter sido um motivo para a decisão heideggeriana de não a publicar imediatamente, foi o de individuar uma linguagem adequada para captar e manifestar o Ereignis. A autora traduz esse conceito fundamental dos Beiträge como “acontecimento propício ”, destacando, assim, tanto o aspecto de apropriação recíproca (sublinhado na ressonância da raiz latina prope ), quanto a componente cairológica do instante propício em que acontecem simultaneamente o lance do ser ( Zuwurf ) e o projeto humano ( Entwurf ). Como o ser é em si indizível, o pensar que lhe pode dar voz é nomeado por Heidegger de “sigética” (com referência ao verbo grego sigân, “calar”) e é caracterizado, por um lado, como um acolher cauteloso e reservado, não impositivo; e, por outro, como um dizer não assertivo, mas questionador, aberto e itinerante. Esse estilo de pensamento, que deixa para trás os sistemas da metafísica, é enraizado no afeto fundamental ( Grundstimmung ) da reserva ( Verhaltenheit ), entendida como proximidade discreta e receptiva ao acontecimento do ser. O reconhecimento desse enraizamento do pensar na dimensão afetiva é bem detectado pela autora e a leva à justa intuição de identificar o medium da inter-relação entre ser e homem na disposição ( Stimmung ), na “porosidade afectiva” (p.151). Desse acolhimento afetivo do lance do ser surge um pensar que se configura como obra de arte arquitetônica ou musical, na medida em que ele oferece ao ser um espaço internamente construído e articulado (na sequência harmônica das chamadas “fugas”) para a sua manifestação.
No sétimo capítulo, expõe-se a concepção heideggeriana da técnica, com base no escrito Die Frage nach der Technik, publicado em 1954. Pensar a técnica representa a tarefa fundamental do “outro pensar”, pela qual Heidegger pretende ultrapassar a metafísica. Querendo imprimir à sua reflexão uma marca estritamente ontológica, Heidegger distancia-se tanto de uma abordagem ética, que implicaria uma tomada de posição a favor ou contra a técnica, quanto da concepção vulgar desse fenómeno enquanto instrumento funcional às finalidades humanas. A forma de relacionamento técnico em que o homem moderno está preso, ou seja, o desfrutamento calculador da natureza para fins de autoconservação, pode ser compreendida plenamente somente a partir do reconhecimento da essência da técnica, que consiste no chamado Ge-stell.
Segundo a autora, esse termo conceitual não é “infeliz”, mas é muito adequado, pois permite explicar três traços fundamentais da técnica. Em primeiro lugar, o prefixo ge revela que essa palavra define um conjunto de comportamentos sociais e humanos e que, aliás, é o resultado de um processo genético. Em segundo lugar, o verbo stellen evidencia o ato do pôr, que é ambivalente, pois indica tanto o “deixarser” da techne grega, isto é, o libertar a natureza para a sua luminosa manifestação no ente produzido, quanto a tendência a im -por, típica da racionalidade moderna.
Finalmente, Ge-stell traz à mente a Gestalt, a figura, sendo que a técnica é a forma, o esquema prévio aplicado à realidade para torná-la correspondente à exigência de uma vontade dominadora e interessada na conservação e no progresso do bemestar humano. A tradução mais apropriada para exprimir essa tripla determinação presente no termo Ge-stell é, de acordo com a autora, a de “com-posição”. Partindo dessa precisa análise lexical, a autora descreve a essência da técnica moderna como uma “estrutura estruturante”, pois ela é, ao mesmo tempo, tanto a configuração moderna da relação homem-ser e quanto aquilo que determina de antemão cada comportamento humano. Ao expor o raciocínio heideggeriano, a autora sublinha, enfim, a duplicidade, a natureza de Jano, da técnica moderna, a qual não representa somente o perigo extremo, enquanto esquecimento do ser, mas contém em si também a chance de salvação. Essa última repousa no vínculo originário homem-ser, que ainda é perceptível, embora fracamente, em nosso mundo técnico. A experiência repentina desse vínculo pode levar o homem a recuperar o sentido primitivo da técnica que estava em vigor no mungo grego, e a exercer um saber criativo, que não é mais um fazer opressivo, mas um pôr-se-em-obra da verdade. No último capítulo do livro, a autora volta à questão da técnica e esclarece a sua íntima conexão com a da arte. Com a publicação do texto Die Frage nach der Technik, a meditação heideggeriana sobre a arte, iniciada nos anos 1930, chegaria ao seu pleno desdobramento. Nesse texto, seria trazido à luz e explicitado um elemento que, nas conferências dos anos 1930, ainda permanecia implícito: o da união profunda entre arte e técnica em virtude da sua comum proveniência, a techne grega. No seu sentido autêntico, arte e técnica são modos da techne, isto é, do pôr-se-em-obra da verdade do ser. Contudo, esse “pôr”, no mundo grego, correspondia, de maneira dócil e cheia de assombro, ao desencobrir-se do ser. Assim, foi apenas a partir da modernidade que se perdeu a capacidade de se surpreender, e que se afirmou a necessidade de certeza e segurança – a qual transformou o saber produtivo originário num ávido projeto calculador. A única salvação que se delineia para a nossa época é aquela que consiste na realização do “passo atrás”, isto é, na recuperação do perdido sentido antigo da técnica como saber produtivo, respeitoso da dinâmica de manifestação-retraimento do ser. Nisso resume-se, substancialmente, a mensagem da conferência de Atenas de 1967, intitulada A proveniência da Arte e a determinação do Pensar, cuja abordagem representa a conclusão do livro e o ápice da longa interrogação heideggeriana sobre a essência da arte. Depois dessa breve exposição das teses principais defendidas no texto, gostaríamos de apontar algumas questões que são aludidas pela autora, sem, contudo, ser objeto de uma tematização detalhada, e que estimulam possíveis caminhos para um aprofundamento futuro.
Para uma plena compreensão da reflexão heideggeriana sobre a arte, parecenos imprescindível levar em conta os Beiträge zur Philosophie, nos quais a arte é definida, ao lado de outros modos, como uma das vias de abrigo ( Bergung ) da verdade no ente. Dentre esses outros modos, é mencionada a fabricação de utensílios (cf. Heidegger, 2015, §32, p.73) 1, isto é, a técnica artesanal. Então, no conceito de Bergung, Heidegger pensa, já nos anos 1930, a essência comum da arte e da técnica, ambas as quais são, no seu sentido autêntico e primordial, produções capazes de incorporar a verdade do ser no ente produzido. Além disso, com os Beiträge, cujo projeto já está fixado no seu núcleo central em 1932, surge o primeiro contexto de investigação sobre a essência da técnica moderna, que aqui é designada como maquinação ( Machenschaft ). A esse respeito, não se pode esquecer que, dentre os sintomas da época da maquinação, é mencionado o generalizado mal-entendido acerca da essência da arte, a qual – observa Heidegger – está sujeita hoje ao consumo cultural e é reduzida a mero estimulador de vivências subjetivas ( Erlebnisse ) (cf.
idem, § 56, p.116; § 44, p.92). Essa referência aos Beiträge permite afirmar que, desde a sua primeira concepção, a reflexão heideggeriana sobre a arte está ligada à meditação sobre a técnica: o que Heidegger argumentará nos anos 1950 e 1960 é apenas um desenvolvimento mais amplo do que está contido de forma substancial nos Beiträge. Já nos anos da elaboração (desde 1932) e, depois, da redação dos Beiträge (1936-1938), Heidegger, portanto, não somente concebia a arte como uma maneira de abrigar a verdade ao lado da produção técnica de utensílios (no sentido da techne grega), como também estava perfeitamente ciente do risco ao qual a arte está submetida na época da maquinação. Mas isso não é tudo. Muitos anos antes da conferência de Atenas, Heidegger formulara de maneira explícita, embora ainda de forma interrogativa, a ideia de “uma outra origem da arte” (idem, § 277, p.489), isto é, a possibilidade de que ela volte a ser novamente um meio para a fundação da verdade. A confirmação dessa possibilidade parece vir das anotações heideggerianas sobre a arte de Klee. De fato, o artista personifica, aos olhos de Heidegger, a figura exemplar do “vindouro” (um dos poucos raros Zukünftige de que Heidegger fala nos Beiträge ). Enquanto vindouro, Klee está imerso no afeto fundamental da reserva e na experiência autêntica da morte e, por isso, está receptivo para o dar-se do ser e o acenar do “deus derradeiro ” ( letzter Gott ). Em última análise, vê-se que a própria obra dos Beiträge, e a filigrana conceitual aqui delineada, lançam luz sobre toda a sua produção posterior. É essa obra que representa a “chave hermenêutica” para compreender tanto a filosofia da arte heideggeriana quanto a reflexão sobre a técnica 2, mas, sobretudo – ao que nos parece – para entender a conexão entre elas.
Com a menção dos conceitos heideggerianos de afeto fundamental e de deus derradeiro, levantam-se duas outras questões que podem integrar, de maneira frutífera, o já rico conjunto de problemáticas abordadas pela autora: 1. para compreender a arte é necessário meditar de maneira essencial sobre a essência da Stimmung, do afeto ou da tonalidade; 2. a arte é possibilidade de abertura àquela que poderíamos chamar de “transcendência teológica”. Nesse contexto, pode-se oferecer só algumas sugestões nas duas direções mencionadas. No que diz respeito ao primeiro ponto, a possibilidade de “ uma outra origem da arte” parece-nos depender tanto da experiência real da Grundstimmung pelo artista e pelos espectadores, quanto de uma compreensão filosófica transformada, não-metafísica, da afetividade.
Se o sentir é reduzido a mero Erlebnis, isto é, a emoção superficial, autocentrada e pobre de verdade, a arte é destinada a sucumbir (cf. Heidegger, 2002, pp.85-6).
De fato, como emerge claramente do curso sobre os hinos de Hölderlin dos anos de 1934-1935 (cf. idem, 2004), a obra pode surgir somente de um afeto fundamental e da experiência de verdade que ele oferece. Isso significa que o saber produtivo autêntico, tanto aquele artístico quanto aquele técnico, está sempre fundado na Grundstimmung, pois a afetividade é o medium do encontro entre homem e ser (como já mencionado justamente, mas só brevemente, pela autora). Voltando ao segundo ponto, a arte possibilita a chamada “transcendência teológica”, isto é, a relação do homem com o divino, que transparece na ideia heideggeriana do deus derradeiro. O motivo dessa revelação concedida pela arte está implícito no fato de que a obra é o que funda a verdade do ser. Sabe-se, de fato, que já nos Beiträge Heidegger distingue o seu conceito de ser daquele de deus, e que ele considera o acontecimento do ser como o horizonte em que o deus se pode ainda manifestar (cf.idem, 2015, § 123, pp.236-238 e § 126, pp.239-240). Portanto, se a obra funda o ser, ela desenrola, assim, o horizonte em que o homem poderia, talvez, encontrar deus.
O desenvolvimento das duas questões delineadas precisaria, enfim, de um esclarecimento genuíno da Geworfenheit típica da obra de arte. A sua Geworfenheit não exprime somente o fato de que a obra está situada no âmbito mundano e está exposta ao consumo e à decadência. A Geworfenheit da arte sugere o que Platão, de maneira poética, exprimia na ideia da manía erótico-criativa enquanto dom de deus. Analogamente, a arte é, segundo Heidegger, sempre o fruto de uma dádiva que provém do ser. Além disso, o que se pode extrapolar da reflexão inteira do “segundo” Heidegger é a ideia de que esse lance do ser consiste na kháris, isto é, na dinâmica de uma Stimmung originária, sobre-humana e sobre-linguística, que é amor que possibilita, Mögen que ermöglicht (cf. Heidegger, 2005, p.12) 3. Seguindo essa linha de leitura, aqui só esboçada, a arte resulta ser, em última análise, a resposta hermenêutica possibilitada pelo acontecimento “pático” ou afetivo daquela doação originária.
Notas
1 Veja-se também: Heidegger, 2015, § 242, p.378; § 243, p.379
2 Veja-se: Herrmann Von, 1997, pp.75-86 e também Herrmann von, 1994.
3 Ver também: Heidegger, 2006, p.180.
Referências:
Heidegger, M.( 2002 ). “ A origem da obra de arte”. In: Caminhos de Floresta. BorgesDuarte, I. (ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
___________. (2004).Hinos de Hölderlin.Tradução de Lumir Nahodil.Lisboa: Instituto Piaget.
___________.(2005).Carta sobre o Humanismo. Tradução de Rubens Eduardo Frias São Paulo: Centauro.
___________.(2006).“…poeticamente o homem habita…”. In: Ensaios e conferências.Tradução de Emmanuel Carneiro Leã o, Gilvan Fogel e Marcia Sá Cavalcante Schuback. 3ª ed. Petrópolis: Vozes.
___________. ( 2015).Contribuições à filosofia (Do Acontecimento Apropriador) Tradução de Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Via Verita.
Herrmann von, F.-W. ( 1994).Wege ins Ereignis. Zu Heideggers »Beiträgen zur Philosophie«. Frankfurt a.M.: Klostermann.
___________. (1997). „Die „Beiträge zur Philosophie“ als hermeneutischer Schlüssel zum Spä twerk Heideggers”. I n : H appel, M. ( Org.) Heidegger neu gelesen. Würzburg : Königshausen und Neumann, pp.75-86.
Pöggeler, O. (1972).Philosophie und Politik bei Heidegger. Friburg/München: Alber
Chiara Pasqualin – Universidade de São Paulo. chiarapasqualin@hotmail.it
Pourquoi enseigner l’histoire? MARTIN (Lc)
MARTIN, Jean-Clément Martin (dir.), « Pourquoi enseigner l’histoire ? », Revue internationale d’éducation, n° 69, 2015. Resenha de: SYNOWIECKI, Jan. Lectures, 09 déc., 2015.
À l’heure des particularismes religieux, des tensions identitaires, des lignes de fracture traversant les sociétés et des conflits régionaux, il est particulièrement salvateur de se demander non seulement pourquoi, mais comment enseigner l’histoire. Les contributions proposées dans ce numéro de la Revue internationale d’éducation révèlent, par la diversité géographique qu’elles embrassent, la pluralité des façons de transmettre le récit de la muse Clio, que celle-ci revête les habits du récit, de la discipline scientifique, du passé ou des faits considérés comme vrais. Dans les États centralisés (France, Russie, Vietnam, Colombie) où les programmes scolaires sont uniformes, comme dans les États fédéraux (Canada et Allemagne) où l’élaboration des contenus dépend des régions fédérées, la problématique de la transmission d’un récit commun et émancipateur se pose avec acuité. Des pays et régions aux traditions historiographiques aussi différentes que l’Afrique du sud post-apartheid, le Japon, l’Allemagne ou le Trentin Haut-Adige sont traversés par des préoccupations étonnamment similaires quant à l’enseignement de l’histoire même si, en creux, ils y apportent des réponses différentes, nous invitant par là à considérer la variété des pratiques pédagogiques. Une réflexion transnationale sur l’enseignement de l’histoire est d’autant plus bienvenue que les demandes exogènes, émanant du corps politique ou de la société civile, ainsi que la compétition entre mémoires concurrentes, complexifient la transmission des savoirs historiques. Car ces savoirs répondent aux impérieuses nécessités de former des citoyens autonomes et critiques, ancrant l’enseignement de l’histoire dans une perspective résolument civique.
La première question que pose le dossier est celle de la production d’un récit unificateur et, corollairement, celle de l’intégration de mémoires plurielles. L’une des réponses apportées à ce défi consiste à produire et à transmettre une matrice narrative uniforme et verticale, qui tend à étouffer les velléités particularistes, comme ce fut le cas au Maroc à travers les trois générations de manuels scolaires qui ont suivi les réformes de 1970, 1987 et 2002. Mostafa Hassani-Idrissi montre bien à quel point la volonté de transcender les identités particularistes a conduit à forger une image homogène de la communauté nationale, soucieuse de réduire la dichotomie entre arabophones et amazighophones et de réifier le territoire national pour l’abstraire de l’espace des tensions sociales, tout en glorifiant des héros et figures tutélaires qui participent d’un véritable « Panthéon scolaire ». À cette approche verticale se conjugue un emboîtement horizontal des identités, puisque les manuels scolaires marocains, jusque récemment à tout le moins, témoignaient d’une histoire indissociablement liée à celle du Maghreb. Patricia Legris insiste de son côté sur l’uniformité des programmes scolaires français qui, tout en intégrant avec parcimonie les spécificités, ultramarines notamment, entendent ne pas céder aux sirènes localistes et régionalistes afin de garantir l’indivisibilité de la République sur le plan politique et de l’enseignement de l’histoire sur le plan pédagogique, même si l’échelle européenne devient de plus en plus prégnante dans les programmes d’histoire. Mais la production et la transmission d’une histoire cohérente peut devenir une véritable gageure dans des régions frontalières, aux identités culturelles et linguistiques multiples, à l’instar du Trentin Haut-Adige étudié par Émilie Delivré. Dans le Trentin, l’autonomie est bel et bien de mise dans la mesure où l’interprétation des programmes d’histoire est décidée au niveau régional, tandis que dans le Haut-Adige, l’interprétation dépend de la communauté linguistique, puisque trois aires pédagogiques et linguistiques, relevant de trois administrations scolaires sont discernables, une allemande, une italienne et une ladine, proposant chacune un programme d’histoire spécifique et in fine un enseignement linguistiquement cloisonné. Toutefois, la collaboration récente entre chercheurs, enseignants et pédagogues a permis de réfléchir à un enseignement novateur, à la fois en prenant en compte la spécificité frontalière et multilinguistique de la région et en proposant un cadre interprétatif historique commun et réconciliateur, entreprise qui s’est soldée par la rédaction d’un manuel d’histoire du Tyrol commun aux trois groupes linguistiques. Dans ce cadre, les initiatives promouvant l’intégration des minorités anciennes ou récentes par le truchement de l’histoire locale et régionale ainsi que le croisement de plusieurs points de vue historiographiques sont encouragées. La constitution d’un récit intégrateur n’est cependant pas toujours aisée, comme l’atteste le cas de la Russie qui, nonobstant la réaffirmation en 2014 de la nécessité d’une échelle régionale et ethnoculturelle, à travers le « Standard historique et culturel », continue de penser sa généalogie fédérale sur le mode impérial1. Aleksei Killin rappelle la centralité des valeurs de l’orthodoxie et de cet élément de la mythologie nationale qu’est la Russie comme empire, où les relations avec les peuples périphériques ou voisins sont abordées par le prisme conflictuel, et non au travers des interactions et des influences croisées. L’exemple de la Colombie, développé par Sergio Mejía Macía, confirme quant à lui la difficulté d’impulser un enseignement commun lorsque l’État évite tout système public, universel et obligatoire et promeut la liberté éducative des établissements privés, conférant à l’enseignement de l’histoire une dimension particulièrement hétéroclite et fragmentaire.
Ce recueil explore également les intimes relations qui unissent l’histoire et le politique. Edward Vickers, en analysant de près la question de l’enseignement de l’histoire au Japon, nous rappelle à quel point, depuis 1995 notamment, le révisionnisme nationaliste et les politiques de droite ont tendu moins à favoriser la réflexion critique par l’étude de l’histoire qu’à projeter une image positive du pays, amnésique des massacres de l’armée japonaise en Asie, de l’unité 731 ou de l’utilisation des « femmes de réconfort »2. Le choix des manuels scolaires incombe aux autorités préfectorales, et même si la Société japonaise de réforme des manuels d’histoire et diverses associations de droite ont exercé en 2001 des pressions pour que les conseils chargés de l’éducation choisissent eux-mêmes le contenu des manuels, il s’avère que les membres de ces conseils sont nommés par les maires puis approuvés par les autorités locales. Depuis 2012, le gouvernement d’Abe utilise les leviers nécessaires pour minorer les crimes de l’armée japonaise dans les manuels et, parallèlement, mettre l’emphase sur le statut de victimes des nippons ainsi que sur l’héroïsme japonais. Néanmoins, ces diverses pressions n’émanent pas simplement d’en haut et doivent composer avec des revendications de la société civile et d’associations qui partagent cette volonté de dissimuler des sujets encore largement tabous au Japon. Bien que les immixtions du politique conjuguées à un « passé qui ne passe pas » – pour reprendre l’expression d’Henry Rousso – ne soient pas la norme, il apparaît au fil de ce recueil que l’histoire endosse quasiment partout des fonctions éthiques et civiques. Au Vietnam, examiné par Hoang Tanh Tu, il s’agit non seulement d’acquérir les connaissances élémentaires sur l’histoire nationale et mondiale, mais d’éduquer au patriotisme et aux traditions du pays. En Allemagne, comme le prouvent Rainer Bendick et Étienne François, en dépit d’une très grande diversité de programmes selon les Länder, l’enseignement de l’histoire, à la croisée de l’instruction civique, politique et éthique, comporte une dimension normative omniprésente puisque l’élève doit acquérir non seulement des compétences ciblées, mais apprendre à élaborer un jugement autonome à partir d’exercices pratiques et de jeux de rôle. Au Canada enfin, si la conscience historique n’est pas aussi forte qu’en Europe, l’histoire joue un rôle majeur dans l’éducation à la citoyenneté, comme l’indiquent Penney Clark et Louis Le Vasseur.
L’un des grands mérites de ce numéro de la Revue internationale d’éducation est de nous rappeler à quel point la transmission de la discipline historique est inséparable des enjeux mémoriels et des demandes de la société. En Afrique du sud, la fin de l’apartheid a eu un effet particulièrement ambivalent sur l’enseignement de l’histoire. D’une part, la discipline historique s’est avérée fondamentale dans la formation démocratique des jeunes générations de la période post-apartheid et d’autre part, la transition éducative a été entravée par un manque de consensus sur les nouvelles politiques à mener, par une confusion administrative ainsi que par une faible représentation des spécialistes de l’enseignement de l’histoire dans l’élaboration des programmes, ce qui a conduit à marginaliser l’’histoire dans un contexte mémoriel douloureux. Bill et Leah Nasson nous indiquent à ce titre que l’on a préféré répondre aux nécessités de l’économie de marché ainsi qu’aux exigences de l’avenir, au détriment d’un passé fracturé. Bien que le South African History Project, impulsé par Kader Asmal, et le « Réseau d’histoire nationale » aient entrepris d’améliorer substantiellement l’apprentissage de l’histoire et d’étendre les supports pédagogiques et les ressources, force est de constater qu’après 2005, l’histoire s’est sédimentée et a été réduite à un ensemble de compétences quantifiables à acquérir, contribuant à une forme d’amnésie collective et à une régression des connaissances historiques. À l’inverse, les urgences du devoir de mémoire conjuguées à la reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans certains épisodes historiques, comme la rafle du Vélodrome d’Hiver, ont accentué les débats sur les complexes relations qu’entretiennent mémoire et histoire, d’autant plus que les craintes de voir promulguée une histoire officielle par les lois mémorielles ont agité la communauté enseignante.
Enfin, l’attention portée aux frontières – mouvantes – de la discipline historique constitue l’un des indéniables apports de ces contributions. Ainsi, au Canada, certaines provinces et certains territoires associent l’histoire et la géographie avec d’autres sciences sociales, tandis qu’en Allemagne l’alliance avec la géographie est très rare, du fait du discrédit dont souffre cette dernière, alors même que tous les enseignants d’histoire sont bivalents. Une question, ébauchée seulement dans l’article consacré au Vietnam, mériterait toutefois d’être davantage explorée : celle du lien entre les décideurs, les autorités, les enseignants et les élèves, dans le cadre d’une sociologie de la réception des programmes scolaires. Le cas vietnamien est d’autant plus instructif qu’il illustre un véritable décalage entre une très forte centralisation des programmes, la tentative d’organiser des activités variées et le désintérêt des élèves vietnamiens pour l’histoire, dans un contexte pédagogique où la mémorisation importe davantage que la compréhension.
Il demeure que ce recueil complet et exhaustif, enrichi d’une fort utile bibliographie commentée, pose autant de questions qu’il n’en résout, tant l’enseignement de l’histoire répond à la diversité des contextes locaux et des enjeux nationaux. Mais là est véritablement la force de cet ensemble d’articles : nous montrer que, quelle que soit la diversité des situations et la polyphonie des enseignements de l’histoire, prédomine la sempiternelle interrogation sur la place de l’histoire dans la société.
Notes
1 Le « Standard historique et culturel » est un guide programmatique adopté en 2014 pour l’ensemble de la Fédération de Russie et élaboré par des chercheurs de l’Académie des sciences de Russie. Il propose une histoire plus culturelle et anthropologique, même si l’apprentissage de la geste des grands individus et des biographies de personnages célèbres demeure central.
2 L’Unité 731, officiellement créée pour réaliser des expérimentations bactériologiques visant à prévenir des épidémies, a servi de support pour des expérimentations et vivisections sur des cobayes humains, notamment en Mandchourie dans les années 1930. Les « femmes de réconfort » désignent quant à elles les esclaves sexuelles utilisées par l’armée impériale dans les territoires conquis en Asie, notamment durant la Seconde Guerre mondiale.
[IF]Negritude e pós-africanidade: crítica das relações raciais contemporâneas | Carlos Gadea
A temática de relações raciais, no Brasil e em outros contextos, como nos Estados Unidos, está, há muito tempo, na ordem do dia. As situações de conflito permeadas pelo racismo – tal como os casos de violência policial contra os negros – fazem emergir, nesses países, um sem número de discussões sobre a questão racial em suas diversas manifestações, sejam elas sociais, políticas, econômicas ou culturais.
A consciência do conflito e da discriminação por diversos atores sociais, tal como os ativistas dos movimentos negros e parte expressiva da Academia, tem ensejado, também, no Brasil e alhures, reflexões sobre o enfrentamento político do racismo em suas dimensões de identidade social e pertencimento cultural, expressas em noções como “raça”, “negritude” e “africanidade”. Negritude e pós-africanidade: crítica das relações raciais contemporâneas, do uruguaio Carlos Gadea, sociólogo e professor da UNISINOS, tem como proposta precípua justamente analisar as configurações e os vínculos entre identidades étnicas e sociais traduzidos nas vivências contemporâneas das relações raciais, no Brasil e nos Estados Unidos.
A hipótese central é a de que, nesses países, o “espaço da negritude”, que para o autor consiste em uma espécie de lugar social atravessado por identificações raciais, performances subjetivas e interesses práticos dos grupos implicados em relações raciais, estaria passando por sensíveis modificações nas últimas décadas.
Gadea parte de uma indagação geral inquietante: na atualidade, o “espaço da negritude” apenas teria sentido no âmbito de uma negritude ancorada na africanidade, através da ideia de ancestralidade, de memória histórica ou de um marcador como a cor da pele? A percepção da heterogeneidade crescente dos espaços da negritude, em contextos urbanos de diferenciação social e individualização se desdobra em perguntas adicionais: só se pode compreender o que representa o “negro”, ou as identidades raciais, a partir do racismo? Quais são as características das relações raciais na contemporaneidade, em diferentes contextos?
O livro é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado realizada pelo sociólogo na Universidade de Miami, em 2012. Nessa experiência em solo norte-americano foram levadas a cabo as pesquisas e observações que serão o mote inicial para a percepção atualizada e comparativa sobre as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, presentes no Capítulo 1, intitulado “Contextos e situações do espaço da negritude”. Miami, uma cidade profundamente multicultural, encerra, em sua complexidade própria, diversos espaços da negritude, formados por populações negras oriundas do Alabama, Geórgia, Jamaica, República Dominicana, Haiti. A cidade é o local onde, em 2012, ocorreu o controverso assassinato do jovem afroamericano Travyon Martin por George Zimmerman, um policial branco e “latino”. A reação de protesto da população negra de Miami, ainda que tenha mobilizado uma memória de violência e discriminação e justaposto os negros de forma geral contra um inimigo institucional comum, parecia não estabelecer como evidente em si mesma uma ligação entre os signos da negritude e uma percepção racializada dos conflitos e da sociedade. Esse aparente paradoxo entre ideias de cor/raça e identidade étnica é explorado pelo autor através da análise das contradições e ambiguidades envolvendo a inserção das comunidades haitianas e dominicanas da capital da Flórida na relação mais genérica com a comunidade negra – ou afro-americana – da cidade.
Uma sexta-feira por mês os haitianos de Miami realizam um encontro cultural no chamado “Little Haiti Cultural Center”, no bairro homônimo. As frequentes idas do sociólogo a esse evento resultaram na impressão de que o Haiti culturalmente representado era contemporâneo, diaspórico e imprevisível. Os haitianos não formam, evidentemente, uma comunidade homogênea; rejeitam, ademais, uma identificação automática com os “afroamericanos”, criando e atualizando sua identidade em termos de uma comunidade nacional imaginada. Nesse sentido, o espaço da negritude entre os haitianos não afirmaria a evidência de uma pertença ao discurso da memória coletiva ou da africanidade; o “pertencimento”, na realidade, reveste-se de ambiguidades para essa comunidade: por um lado, são “negros” no sistema de classificação racial dos EUA, e por essa razão são discriminados também; por outro, essas pessoas “falam” politicamente como membros da diáspora haitiana, tal como se materializou no decorrer dos protestos pela morte de Travyon Martin.
Entre os dominicanos da mesma cidade há ainda outras problemáticas identitárias. Eles seriam particularmente “indecisos”, ambíguos, frente às categorias raciais hegemônicas – “brancos”, “negros”, “latinos”. De um ponto de vista social e do fenótipo eles são “negros”, mas culturalmente se identificam como “hispânicos” – ou “latinos”. Uma característica dos dominicanos seria o fato de se constituírem socialmente como “individualidades”, e não propriamente como uma “comunidade” lastreada em uma experiência cultural comum. Não apenas não residem em um mesmo bairro quanto também não consideram terem sido deslocados compulsoriamente para os EUA – fosse por escravidão (como os afro-americanos) ou problemas econômicos em seu país de origem (latinos de forma geral). Deste modo, não vivenciam os mesmos laços de solidariedade “racial” com os negros norte-americanos nem ativam a memória de um passado escravista para construir sua identidade étnica.
Há, além disso, um traço a diferenciá-los e singularizá-los: o uso da língua espanhola. Tais particularidades servem de mote para o autor fazer uma crítica contundente ao Atlântico Negro (2001), de Paul Gilroy, livro que praticamente ignorou as histórias negras de língua espanhola e portuguesa – o Brasil, nesse caso. Gilroy parece pensar o Atlântico Negro tendo como matriz empírica e epistemológica a realidade das relações raciais nos Estados Unidos. Ora, a vivência cotidiana dos dominicanos negros, idiossincrática pela linguagem/idioma, é encenada também a partir de uma espécie de cultura nacional imaginada, “latina”, questionando assim os pressupostos sociológicos, culturais e empíricos que são mobilizados para pensar a experiência negra nos Estados Unidos como uma matriz homogeneizada em princípios como “consciência racial”, “memória da escravidão” ou “africanidade”.
Na sequência, ao final da primeira parte do livro, Gadea se debruça sobre um contexto brasileiro específico: o dos jovens negros de Porto Alegre (RS). O autor foi ao Parque da Redenção, lugar de grande movimentação cultural e de pessoas na capital gaúcha. O parque também é ocupado por jovens negros, que são em sua maioria oriundos dos bairros periféricos da cidade. Aí eles perfazem uma saída de seu contexto – estigmatizado – de origem, estabelecendo uma existência dual nos diversos espaços em que sua negritude é tornada visível. Essa “saída” seria expressão de processos de individualização e diferenciação social – próprios de culturas urbanas – vivenciados por esses jovens, que engendram assim “jogos de reversão” de adscrições socioraciais, desconstruindo essas identificações em nome de atitudes de autodeterminação. Tal experiência encontra o que é afirmado – e questionado – ao longo do livro: a negritude desses jovens não parece ter na “pertença racial” um lastro empírico evidente, nem na “ancestralidade” ou “africanidade” um eixo automático de identificação. O espaço da negritude, para esses sujeitos sociais, é produto de negociações e disputas simbólicas e semânticas, posto que sua presença no Parque da Redenção problematizaria os nexos entre o “corpo negro” e os processos de subalternidade.
Em uma tarde de domingo o dito sociólogo foi conversar com os jovens. Ao questioná-los sobre sua negritude, notou que esta era percebida – e constituída – menos por uma ligação com um “mundo afro-brasileiro” imaginado do que pela consciência da diferença que emerge do racismo em situações de tensão e conflito no cotidiano citadino – como ser barrado em uma festa, colocado na parede pela polícia, etc. Esse espaço na negritude é, portanto, relacional, ou seja, não existe uma negritude preexistente ao jogo das relações sociais/raciais. Não se trata de negar que esses jovens não tenham uma “consciência de si” enquanto negros, mas que os signos sociais da negritude existem “entre parênteses”, em “estado de suspensão”, vindo à tona nas situações de crise e conflito.
O segundo – e último – capítulo, “O reverso da negritude e o avesso da africanidade”, consiste em uma ampla reflexão teórica, ancorada nas percepções mais empíricas e situacionais do capítulo anterior. Prosseguindo em seu exame acerca das mudanças no espaço da negritude na contemporaneidade, o autor busca fortalecer o argumento de que, do ponto de vista da etnicidade, as lógicas das relações sociais, na atualidade, pari passu à racialização, colocam em jogo determinados processos de individualização e diferenciação social, problematizando nexos política e sociologicamente consagrados entre negritude e africanidade. Uma fina matriz sociológica simmeliana aqui está presente, na medida em que se afirma que o alargamento e a diversificação do campo de experiência e das interações sociais dos indivíduos negros reforçaria, paradoxalmente, sua vivência e identificação propriamente individual. Isso implicaria em repensar, por exemplo, a ideia de “gueto”, do ponto de vista dos supostos elos entre ideais comunitários e de pertença racial – tal como visto pela Escola de Chicago para o caso norteamericano. Se o gueto é espaço e metáfora de determinadas relações raciais e formas de negritude – ao menos nos Estados Unidos –, ele, todavia, não representaria as novas dinâmicas individuais e sociais pelas quais se constroem e se atualizam os espaços da negritude, material e simbolicamente falando. As experiências dos negros haitianos e dominicanos de Miami e dos jovens negros porto-alegrenses seriam testemunho dessas novas configurações.
Os sentidos da negritude são questionados: se ela representou, política e intelectualmente – para o Movimento Negro brasileiro, nos anos 1970 –, uma “tomada de consciência de ser negro”, como pode ser entendida na atualidade? De que forma coloca em xeque as estruturas epistemológicas que o Ocidente moderno criou para definir a humanidade em termos de hierarquia racial? O autor então investe sobre a noção-chave de “africanidade”:
A africanidade é um espaço de elaboração discursiva e política que pretende sintetizar a pertença coletiva de um grupo humano a uma comunidade presumivelmente fundamentada em determinadas especificidades históricas e culturais referenciadas no continente africano (p. 87; grifo do autor).
A africanidade, nessa definição, tem uma dimensão tanto pedagógica quanto de uma técnica de subjetivação, para a população negra, visando ao reconhecimento enquanto etnicidade particular e cultura comum, lastreada na ideia de uma ancestralidade. A consciência sobre essa africanidade seria condição para o autorreconhecimento enquanto “sujeito negro”. A perspectiva “afrocêntrica” presente nessa noção de africanidade é criticada pelo autor, pois esse “lugar” epistemológico não comportaria a compreensão das atitudes e comportamentos, por exemplo, dos jovens negros urbanos, não abarcando, necessariamente, as dinâmicas da vida social dos negros brasileiros em sua complexidade e multiplicidade.
A esposada leitura de autores como Stuart Hall e Michel Foucault impossibilita pensar o sujeito como dado a priori, anterior às relações sociais e discursivas que o produzem e o atualizam constantemente. Gadea diz ser necessário pensar em outras variáveis dos conflitos racismo e do antirracismo. Uma dessas variáveis estaria presente na ideia de “códigos de urbanidade”, o que implica em analisar as relações entre as cidades e as etnicidades que as habitam, nos espaços simbólicos e de sociabilidade nos quais a negritude é permanentemente dispersada e reconfigurada. A vivência dessa urbanidade diversificaria as experiências e as possibilidades de afiliação grupal dos jovens negros – o principal grupo social a que o autor se refere, no contexto brasileiro. A negritude, e aqui está uma reflexão importante, estaria para além da ideia de africanidade, e também da própria noção de comunidade. Desta forma, as referidas mudanças no “espaço da negritude” seriam atravessadas por uma marcante dualidade: “[…] por um lado, o que se pode entender como uma aproximação crescente de múltiplos contextos sociais de referência e, pelo outro, uma diferenciação social geradora de uma experiência da individualidade e da negritude muito particular.” (p. 112).
As pertenças aos grupos estão se diversificando e transformando também as experiências individuais dos “jovens negros”, na medida em que a individualização e a diferenciação social – Simmel (1977 [1908]) – levariam ao enfraquecimento dos laços entre os indivíduos mais imediatos e possibilitariam a construção de outros [laços] com indivíduos socialmente mais distantes. Tal processo é visto aqui de forma positiva, pois essa diversificação tenderia a enriquecer o caldo sociocultural no qual se dão as relações raciais – e no qual se criam novas formas de combater o racismo e pensar o antirracismo.
O livro de Carlos Gadea trabalha com um amplo espectro de questões, eixos temáticos e perspectivas teóricas. Percorre vários campos do conhecimento, especialmente a sociologia dedicada às relações raciais. Com esta sociologia se estabelece um bom diálogo, especialmente com autores da vertente pós-colonial, como Paul Gilroy (2001), Stuart Hall (2000; 2003), Sérgio Costa (2006) e Lívio Sansone (2004). Da obra de Costa pode-se dizer que se compartilha de uma perspectiva comparativa e transnacional de entender a questão racial no Brasil contemporâneo; com Sansone há uma tentativa de compreensão da negritude brasileira em um leque analítico mais plural e multifacetado, para além de discursos calcados exclusivamente na ideia de etnicidade.
Uma das contribuições mais relevantes da obra está em analisar a maneira como os ditos processos de individualização e diferenciação social no Brasil atual, próprios de contextos urbanos, dão novas configurações a discursos sobre identidade, modificando a morfologia das relações raciais e os entendimentos e desafios em torno do racismo e antirracismo em “espaços da negritude” constantemente transformados. As reflexões de Gadea sobre as ligações entre urbanidade e negritude fornecem interessantes possibilidades teóricas e campos de estudo para os cientistas sociais, seja no Brasil ou em outras sociedades.
É preciso dizer, contudo, que o trabalho poderia ser mais bem fundamentado empiricamente, especialmente em relação aos “jovens negros urbanos” da periferia de Porto Alegre. Não fica clara a opção em se ater apenas a esse grupo. Na realidade, pouco se fica sabendo sobre eles: os “jovens negros”, que fundamentam uma série de percepções sobre relações raciais no Brasil, são em número de seis. Quem são eles? De que periferia portoalegrense eles provém? Ainda que as percepções sociológicas se mostrem de fato muito pertinentes, uma “amostragem” tão reduzida é própria para se falar sobre uma complexidade que está na base dos argumentos centrais do livro? Tal ponto, ainda que fragilize, não desqualifica a abordagem teórica mais geral de Negritude e pós-africanidade, que traz um conjunto de questionamentos fundamentais para se refletir sobre os “espaços da negritude”, no Brasil e em outros contextos, a partir de olhares complexos e plurais.
Referências
COSTA, Sérgio. Dois atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Ed. 34, 2001.
HALL, Suart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
SANSONE, Livio. Negritude sem etnicidade. Salvador/Rio de Janeiro: Edufba/Pallas, 2007.
SIMMEL, Georg. Sociología. Madrid: Ed. Revista de Occidente, 1977 [1908].
Rafael Petry Trapp – Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista Faperj. E-mail: rafaelpetrytrapp@gmail.com
GADEA, Carlos. Negritude e pós-africanidade: crítica das relações raciais contemporâneas. Porto Alegre: Sulina, 2013. Resenha de: TRAPP, Rafael Petry. Espaço(s) da negritude. Aedos. Porto Alegre, v.7, n.17, p.539-545, dez., 2015. Acessar publicação original [DR]
Cultura de cohesión e integración social en ciudades chilenas – SABATINI et. al. (CCRH)
SABATINI, Francisco; WORMALD, Guillermo; RASSE, Alejandra; TREBILCOCK, María Pazed.. Cultura de cohesión e integración social en ciudades chilenas. 2013. Pontificia Universidad Católica de Chile, Colección Estudios Urbanos, Santiago: 304p.
Na esteira de um conjunto de estudos internacionais sobre os impactos da globalização e do neoliberalismo implantado em diversos países desde a década de oitenta e noventa, as cidades chilenas têm sido analisadas a partir de diversas perspectivas. O livro Cultura de Cohesión e Integración social en ciudades chilenas, organizado pelos professores Francisco Sabatini, Guillermo Worlmald, Alejandra Rasse e María Paz Trebilcock, discute a possibilidade cultural de gerar menores níveis de segregação ou de criar espaços de mistura entre pessoas de distintas condições sociais. Questionando até que ponto a segregação é produto, apenas, da segmentação produzida pelo mercado ou se há, também, um substrato cultural “pró-segregação”, os autores, em parceria com outros colegas e seus alunos, realizaram uma ampla pesquisa na Grande Santiago, em Valparaíso-Viña del Mar e em La Serena-Coquimbo, com a hipótese de que as condições estruturais da sociedade chilena poderiam estar gerando mais segregação do que as pessoas efetivamente desejariam.
Partindo dessa hipótese, a investigação buscou analisar a disposição dos citadinos à convivência com grupos sociais diferentes, analisando esta possibilidade, não apenas partir de uma dimensão estrutural (a segregação nos tipos de escolas, bairros, lugares de recreação, transporte e trabalho), mas, também (e principalmente), através de uma dimensão cultural (a valoração que fazem os sujeitos sobre as oportunidades de contato, compreendida como um indicador de coesão social). Assim, o trabalho se propõe a compreender a cultura de coesão e integração nas cidades chilenas, entendida como uma base normativa que sustenta a confiança, a cooperação e o reconhecimento entre sujeitos desconhecidos.
Para tanto, o trabalho utilizou vários procedimentos de pesquisa, como um survey nas referidas cidades e estudos qualitativos efetuados em regiões e bairros de “classes médias”, consideradas como aquelas que poderiam ser mais afetadas por políticas de relocalização espacial orientadas para a produção de cidades menos segregadas. Para os autores, a macrossegregação da pobreza em espaços isolados torna a vida desses grupos ainda mais vulnerável, conformando processos de “guetização”, enquanto que a microssegregação, produzida pelo deslocamento de grupos médios a essas zonas, engendraria um processo de “medianização”.
O livro constitui uma coletânea de artigos produzidos por diferentes autores sobre cidades e contextos distintos, configurando-se como abordagens de campo específicas de uma problemática mais ampla, que é analisada pelos organizadores à luz dos achados no último capítulo. Em síntese, os capítulos de campo abordam temas como: a convivência e a indiferença existente entre vizinhos de um heterogêneo bairro de classe média no centro de Santiago; um bairro de Santiago de camadas média-baixas, com trajetórias de mobilidade social que evitam interações com os vizinhos de grupos mais baixos, por não enxergar neles os valores do esforço individual, meritocracia e trabalho; o caso de um bairro de média e alta renda de Santiago, onde os vizinhos buscam construir uma comunidade de iguais, mas que, pela característica heterogênea do bairro, toleram a existência de outros, ainda que somente em espaços formais e distantes; a diversidade social existente nos espaços públicos de Viña del Mar, que contradiz os imaginários que supunham uma cidade mais segregada; o estudo de um bairro em Valparaíso, que afirma as características específicas dessa cidade universitária e de topografia singular de abertura à diversidade; as formas de distinção na conurbação de La Coquimbo-La Serena, que se pautam, principalmente, na forte identidade territorial e na segmentação frente aos novos imigrantes de alta renda, ligados à mineração; e os critérios de distinção existentes no metrô de Santiago, que se baseiam mais em modos de conduta e características corporais do que em critérios socioeconômicos.
Os resultados gerais apresentados no livro apontam que os citadinos chilenos possuem uma atitude favorável à diversidade e uma atitude pessoal de alta disposição ao contato com pessoas de outra classe social. Apesar desta alta valoração, salientam os autores, em função da estrutura segregada das cidades, suas práticas sociais estão marcadas mais por experiências de homogeneidade do que de diversidade. Assim, concluem que, de fato, as atuais formas estruturais da sociedade estariam gerando mais segregação do que os chilenos desejam ou menos diversidade do que estão dispostos, em termos culturais, a aceitar.
Muitos elementos explorados qualitativamente nos capítulos de campo, no entanto, matizam esse achado. O alto nível de disposição ao contato com o outro está associado a um conjunto de restrições e condições. Os níveis de tolerância dependem do espaço (são maiores nos espaços públicos de consumo como os shoppings e nos de passagem, como no metrô, e menores nas escolas e nos bairros, onde se constroem laços mais fortes); dependem, também, de uma estrutura normativa que regule o modo como os contatos se desenvolvem (como o controle social dos shoppings e as regras das atividades laborais); e, ainda, dependem das características dos sujeitos e do compartilhamento de padrões culturais pautados na ideia de trabalho, na valorização do esforço e do mérito individual, tomados como prova de uma vida “decente”. Além disso, a escala da cidade impactaria nesse processo, uma vez que cidades menores ofereceriam maiores oportunidades de integração.
Portanto, para os autores, esses achados indicam que “mais do que rígidas barreiras socioeconômicas ou de classe social, se impõe uma diferenciação baseada em estilos de vida, costumes e elementos culturais” (Sabatini et al, 2013, p. 58, livre tradução). Esta interpretação culturalista se baseia na perspectiva de que a emergência de um mercado plenamente capitalista no Chile desconstruiu a desigualdade social baseada em posições hierárquicas, de modo que “os recursos econômicos de cada um, especialmente na nova sociedade de mercado, passam a ser uma porta de entrada mais que uma barreira à convivência social com um outro diferente” (Sabatini et al, 2013, p. 58, livre tradução), posto que a nova diferenciação teria um fundamento fortemente cultural. Concomitantemente, algumas mudanças político-culturais teriam feito surgir dimensões mais horizontais relativas aos direitos e à ideia de cidadania. Assim, os valores sociais chilenos teriam mudado, passando a incorporar a ideia de autonomia individual, baseada na ideologia da sociedade de oportunidades, trabalho esforçado, individualização e expectativas de mobilidade social.
Contribuiriam também para este processo a ampliação das camadas médias na sociedade chilena e transformações urbanas, como os processos de gentrificação1 e de difusão de shoppings centers, que gerariam, respectivamente, maior aproximação física entre as classes sociais, diminuindo a escala da segregação, e ofereceriam novas experiências de diversidade urbana.
O estudo conclui, também, que a disposição ao contato com o outro se dá mais em função de momentos efêmeros do que da construção de vínculos. Mas, para os autores, mesmo que superficiais, os contatos podem ter importantes efeitos simbólicos sobre os imaginários, ajudando a derrubar ou construir estereótipos, abrindo oportunidades para a criação de futuros vínculos: “a indiferença, que tradicionalmente foi catalogada como uma fragilização da coesão, emerge como um valor com potencial coesivo, na medida em que se torna, junto com as regras, uma base mínima para compartilhar os espaços […]” (Sabatini et al, 2013, p. 283, livre tradução). Assim, sugerem que esta abertura à convivência com o outro, existente nas cidades chilenas, seja aproveitada por políticas urbanas de integração social.
Esses achados, que os próprios autores consideram como surpreendentes, suscitam algumas questões. Além de possíveis questionamentos à perspectiva culturalista, que separa da análise o vínculo estrutural entre os capitais econômico e cultural, e a “aposta” na copresença entre os grupos diferentes, como estratégia de redução da segregação, para além das formas urbanas e dos conteúdos sociais envolvidos; dados os próprios resultados do trabalho, que identificaram um conjunto de distinções, é duvidosa a disposição ampla ao encontro com os outros sujeitos sociais, mesmo na sociedade chilena, onde os níveis de desigualdades são menores quando comparada à brasileira, por exemplo. As condições apresentadas como limites indicam que, na prática cotidiana, os contatos com outros grupos sociais só são aceitos em condições bem restritivas, como o compartilhamento da cultura do trabalho e meritocracia, e, em certos espaços normatizados, onde há controle social. Isto é, os resultados permitem interpretar que não há uma disposição ao inesperado, ao imprevisível, ao diferente na sua diferença, por assim dizer, ou mesmo à pluralidade e à igualdade.
Nem o surgimento de uma sociedade de mercado, baseada na meritocracia, tampouco a proximidade entre classes produzidas pelos processos de “gentrificação” parecem estar contribuindo para ampliar a disposição à heterogeneidade social ou para engendrar formas menos intolerantes de sociabilidade urbana, já que permanecem formas de distinção, evitação e controle social.
A pesquisa, apresentada na forma do livro Cultura de Cohesión e Integración en Ciudades Chilenas, baseou-se em trabalho empírico extenso e apresentou resultados interessantes. Eles, no entanto, vão numa direção diferente de outros trabalhos, como os de Richard Sennet, Mike Davis e Tereza Caldeira, entre outros autores, que têm enfatizado a restrição dos espaços públicos nas cidades contemporâneas, a constituição de uma sociabilidade violenta e uma menor disposição à interação social com grupos heterogêneos.
Sobre estas diferenças e as questões colocadas aqui, pode-se indagar em que medida a sociedade chilena apresenta um desenvolvimento específico, que não acompanha o que a literatura acadêmica tem constatado em cidades estadunidenses, europeias e em outras latino-americanas. Esta e outras questões já valem a leitura deste provocador trabalho, que, seguramente, contribui para o debateno campo dos estudos urbanos de uma perspectiva sociológica.
1 Os autores utilizam a ideia de gentrificação para o processo de alteração do perfil social de determinadas áreas sem que necessariamente haja uma expulsão de moradores mais antigos ou de menores recursos, ou seja, de uma maneira diferente ao conceito original, que tradicionalmente foi utilizado para denominar processos que envolvem atração de novos tipos de atividades e moradores, mas também reinvestimento econômico e melhorias ambientais que significam, não raro, uma “limpeza social”.
Rafael de Aguiar Arantes – Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, com parte do doutoramento realizado no Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales da Pontificia Universidad Católica de Chile. Tem experiência de pesquisa com ênfase em Sociologia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: metrópoles latino-americanas, segregação e desigualdades sócio-espaciais, condomínios fechados, espaço público e sociabilidade urbana. rafaelarantes13@gmail.com
Cad. CRH vol.28 no.75 Salvador Sept./Dec. 2015
Armar el Bandido. Prensa, folletines y delincuentes en el Uruguay de la modernización: el caso de El Clinudo (1882 – 1886) | Nicolás Duffau
La investigación en la historia del delito y el castigo ha tenido notorios avances en las últimas décadas en buena parte de América Latina. Ello resulta particularmente notorio en países como Argentina, Chile y México. Especialmente desde los años noventa se registró un incremento de los trabajos que pusieron un fuerte hincapié en los estudios sobre las transformaciones de la prisión, el delito y la figura del delincuente. Sin embargo, en Uruguay estos estudios parecen seguir fuertemente vinculados a la historia más tradicional del derecho alejada de la historia social. Una “historiografía de corsarios”, por usar palabras de Pavarini, que llevó a que los estudios del delito y el castigo proviniesen esencialmente del “mundo jurídico” concentrándose fundamentalmente en el desarrollo de la administración de justicia o en las transformaciones legales. En consonancia son escasos los trabajos en Uruguay en la matriz que se ha venido desarrollando en el continente. El libro de Nicolás Duffau “Armar el bandido”, que toma la figura de Alejandro Rodríguez “El Clinudo”, rompe con las ataduras del enfoque jurídico convencional para concentrar sus preocupaciones en la historia social pudiendo ser incluido en lo que Carlos Aguirre ha llamado “Nueva historia legal”. Leia Mais
Fotografía e historia en América Latina | John Mraz
Hacer Historia con fotografías e Historia de las fotografías son prácticas diferentes, pero que se enriquecen mutuamente si se realizan en conjunto. Fundamentar este punto y poner en circulación la producción de académicos latinoamericanos que vienen trabajando en esa línea es el objetivo de este libro, coordinado por John Mraz y Ana Maria Mauad y editado recientemente por el Centro de Fotografía de Montevideo.
El libro está compuesto por ocho artículos independientes entre sí, que abordan problemas de la historia y de la fotografía de México, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y Argentina, a través de enfoques diversos -algunos monográficos, otros panorámicos o comparativos- que postulan a las fotografías como posibles ventanas hacia el pasado, pero que no desconocen -por el contrario, jerarquizan- la importancia de estudiar quienes, cómo y por qué se construyeron esas ventanas, así como también cómo se conformaron los marcos -los archivos- que nos permiten ver a través de ellas. Leia Mais
Indios, cautivos y renegados en la frontera. Los blandengues y la fundación de Belén, 1800-1801 | Adriana Dávila e Andrés Azpiroz
El estudio de Dávila y Azpiroz se enfoca en el proceso de la formación social de la frontera del virreinato de Buenos Aires al norte de la banda oriental del Río de la Plata desde un punto de vista renovador.
Para ello realizan una revisión de los aportes teóricos clásicos y más recientes sobre el asunto de la historia de las fronteras en América del norte y en la región platense, ubicando en este marco el tratamiento de las fuentes documentales disponibles para su tema, algunas casi sin precedentes, como aclaran en su introducción. Leia Mais
Los orientales en armas. Estudios sobre la experiencia militar en la revolución artiguista | Ana Frega, Mauricio Bruno, Santiago Delgado e Daniel Fessler
Las reconstrucciones históricas tradicionales sobre el ejército oriental, insistieron, durante buena parte del siglo XX, en una visión que analizaba la existencia de los distintos cuerpos militares como espacios sin disidencias ni conflictos internos. Ese tipo de historiografía ortodoxa se dedicó a defender el espíritu de cuerpo del ejército oriental, pero no se preocupó por el componente social de las fuerzas armadas ni por sus vinculaciones políticas. Para este tipo de relato el surgimiento del ejército y la formación del Estado y la nacionalidad serían las consecuencias de un destino prefigurado. Cabe señalar que no se trató de esfuerzos aislados, sino que respondió a una estrategia oficial que incentivó ese tipo de enfoques, los cuales defendían una perfecta continuidad en la historia del ejército nacional desde la batalla de Las Piedras en 1811 hasta el presente. Al mismo tiempo, tenía un marcado sesgo ideológico que vinculaba, a decir de Romeo Zina Fernández en su Historia Militar Nacional, a la “historia militar” con la “seguridad del Estado”, “el amor a la patria” y la consolidación de los “valores morales, pilares angulares de la unidad nacional.” Leia Mais
Historia cultural de la psiquiatría – HUERTAS (HCS-M)
HUERTAS, Rafael. Historia cultural de la psiquiatría. Madrid: Catarata. 2012. 224p. Resenha de: RIBEIRO, Daniele Corrêa. Da história da psiquiatria à construção de uma nova clínica: as contribuições de Rafael Huertas para os debates historiográficos. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 supl. Dec. 2015.
Desde a década de 1960, com a publicação e repercussão de História da loucura na Idade Clássica, de Michel Foucault (2010), os olhares sobre a loucura e os saberes que dela se apropriavam foram se diversificando e tornando complexos. O privilégio da narrativa médica sobre seus próprios fenômenos foi avassalado pelos mais diversos vieses, desencadeados a partir da contribuição do filósofo, trazendo à tona a ideia da loucura como produto cultural. Diante dessa abordagem, que desconstruía a naturalização da loucura como doença, abriu-se um mar de articulações teóricas e metodológicas que, apoiando as teorias foucaultianas ou questionando-as, se apropriaram da loucura como objeto, seja no campo da história, da filosofia, das demais ciências humanas ou da própria psiquiatria.
O impacto daquela e de outras obras de Foucault acabou por criar um cenário de reprodução ou de negação daquele aporte teórico. Mais recentemente, essa dicotomia vem sendo superada por meio de análises que têm retomado e problematizado os argumentos foucaultianos, ao mesmo tempo que os articulam com novas interpretações, abrangendo outros contextos temporais e geográficos. Rafael Huertas, médico psiquiatra, fundador da Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría, é um dos autores que têm contribuído para esse debate. No seu livro de 2012, Historia cultural de la psiquiatría, oferece uma sistematização de algumas das correntes teórico-metodológicas que têm desenvolvido novas propostas para a historiografia da ciência psiquiátrica e de seus objetos.
Além de apresentar as análises de alguns autores e obras fundamentais para o campo, Huertas aponta uma agenda de temas, objetos, fontes e questões, demonstrando sua preocupação com a construção de saberes que possam enriquecer o debate historiográfico, mas também impactar e qualificar a clínica psiquiátrica. Ainda que a maioria das análises apresentadas diga respeito à historia da psiquiatria no contexto europeu – especialmente França e Espanha –, a clareza com que aborda os temas e questões relativos às obras nos permite refletir sobre a trajetória da ciência, dos seus saberes, atores e instituições no Brasil.
Segundo o próprio autor, muitas das reflexões que apresenta em Historia cultural de la psiquiatría vêm sendo por ele desenvolvidas desde 1991, quando o congresso “Penser la folie”, realizado em Paris, marcava os 30 anos da publicação deHistória da loucura – o que aponta a importância atribuída por Huertas à obra de Foucault. No entanto, apesar de reconhecer as inovações da literatura crítica inaugurada pelo pensamento do filósofo, em contraposição à historiografia memorialística, escrita pelos próprios psiquiatras que destacavam seus feitos, Huertas enfatiza o comprometimento ideológico de ambas as vertentes. Para ele, tanto os médicos que vangloriavam a evolução de sua própria ciência quanto os novos historiadores, que denunciavam os vínculos entre a produção científica e os preceitos culturais e morais de determinada época, incorriam em erros metodológicos, justamente por não esclarecer seus objetivos e comprometimentos, já que considera impossível anulá-los. Nesse sentido, Huertas defende que os objetivos de cada autor sejam sempre muito claros e explicitados nas obras e segue a análise das várias vertentes.
No primeiro capítulo, Huertas analisa as abordagens foucaultianas, a partir da produção do próprio filósofo, mas também de um dos seus principais seguidores, Robert Castel. Essas interpretações teriam sido marcadas pelo enfoque nos discursos de ordem e controle social. Para ele, a principal questão desses e de outros autores naquele contexto1 era o controle social. A loucura teria ganhado destaque justamente por ser o resíduo do que não se enquadrava nas sociedades liberais, desde o fim do Antigo Regime.
Rafael Huertas apresenta, então, muitas das críticas dirigidas a esse enfoque teórico, especialmente as voltadas para a centralidade do poder atribuído aos médicos psiquiatras. Além de apontar as fragilidades empíricas dessas abordagens foucaultianas, destaca a necessidade de um maior investimento na pesquisa sobre a resistência que se estabelecia em relação a esse poder e sobre os interesses diversos, incluídos os profissionais, que moviam esses atores sociais.
Duas críticas nos parecem, no entanto, mais relevantes nesse capítulo. A primeira delas diz respeito ao pilar científico das instituições psiquiátricas, negligenciado por Foucault e Castel. Em relação ao caso brasileiro, na perspectiva de uma revisão historiográfica, Gonçalves (2010) apresentou o modo como os médicos da corte do Rio de Janeiro tinham a preocupação frequente com o papel terapêutico e curativo do Hospício de Pedro II. A autora demonstra que, apesar de entraves, a reivindicação do papel terapêutico e científico da instituição sempre esteve em pauta nos debates médicos.
Outro aspecto que merece destaque está relacionado ao poder psiquiátrico. Apesar de criticar a visão mais geral da abordagem foucaultiana, que enxerga um poder médico estabelecido, com objetivo claro de dominação, Huertas enfatiza as matizações elaboradas pelo próprio Foucault. Aponta, então, os momentos da obra do filósofo em que o poder aparece de forma mais fluida, como uma rede de relações. Nessa rede de relações, sobressai a ideia de subjetivação da norma, já trabalhada por Huertas (2009), dando conta de como os pacientes pactuavam e corroboravam determinadas normas. Em dissertação de mestrado, trabalhamos essa perspectiva em relação à participação das famílias nas internações no Hospício de Pedro II, buscando dar conta da apropriação que a sociedade fazia daquele espaço (Ribeiro, 2012).
Já no segundo capítulo, Rafael Huertas trata de uma das principais releituras do contexto francês fora do viés foucaultiano, principalmente a partir das análises de Marcel Gauchet e Gladys Swain. Segundo Huertas, nesse caso, a quebra teórica em relação à literatura foucaultiana é justamente explorar um projeto terapêutico ou, ao menos, de conhecimento do subjetivo, que teria permeado a construção do pensamento psiquiátrico. Assim, demonstra como, por detrás da medicalização das paixões, do exercício de um determinado controle e das estratégias disciplinares, estava em voga uma preocupação com o sujeito da loucura.
Huertas nos apresenta detalhadamente o debate entre Gladys Swain e Foucault, apontando suas contribuições para a historiografia. Para o autor, a lente lançada sobre a subjetividade proporcionou outro panorama para a história francesa, opondo-se, pelo menos nas conclusões mais gerais, à tese foucaultiana. Se, para o filósofo, o mito fundador do alienismo teria justamente significado uma libertação para a posterior exclusão social, Swain demonstra como o pensamento pineliano inaugura uma nova concepção de indivíduo, a partir do momento em que o louco deixa de ser visto como “o outro” e passa a constituir o próprio eu moderno. Essa visão está relacionada à perspectiva defendida por Pinel de uma parcialidade da loucura, que contava com um “resto” de razão e seria, portanto, passível de cura. O debate brasileiro com essa perspectiva se apresenta nos trabalhos de Duarte (1986, p.57) e de Venancio (1993, p.123-124)
Esse viés analítico traz também uma nova visão sobre as instituições psiquiátricas e o tratamento moral. Para Swain, citado no livro aqui resenhado, o asilo, por meio do tratamento moral, objetivava a “reconstrução da individualidade do sujeito”, justamente pelo que lhe sobrara de racionalidade (p.56). Tanto nessa abordagem quanto nas críticas de Huertas à perspectiva foucaultiana, o que podemos destacar é uma tentativa de reconstruir o pensamento psiquiátrico, buscando entender em seus próprios meandros, o projeto terapêutico que estava sendo defendido.
A terceira linha teórica abordada por Rafael Huertas estaria diretamente relacionada à superação do debate internalismo x externalismo na história e na sociologia das ciências. Embora já fosse problematizada por autores como Nietzsche e Foucault, a ideia da verdade científica como convenção e contingência ganhou força com o Programa Forte em Sociologia das Ciências, representado pelas obras de Steven Shapin (1999), David Bloor e Barry Barnes. À medida que as normas universais são questionadas como padrões puros da produção científica, emergem aspectos de foro social, cultural e, principalmente, profissional, que ganham relevo nesse viés analítico.
A contribuição de Jan Goldstein sobre as políticas de patronagem na consolidação profissional do alienismo francês é uma das mais enfatizados por Huertas. A patronagem configuraria estruturas informais nas quais um profissional de reconhecida projeção na comunidade científica se torna defensor de discípulos que, em troca, disseminariam suas ideias, sendo, portanto, decisiva para o sucesso ou fracasso das teorias científicas (p.76). Essa abordagem é relevante como agenda teórica posto que aponta a importância de círculos sociais e interesses profissionais para a produção científica. O destaque a esse tipo de interesse faz ainda mais complexa a análise sobre as teorias e interpretações científicas que se tornam consensuais em determinados contextos. Ian Dowbiggin, segundo Huertas, teria demonstrado, por exemplo, como as teorias hereditárias foram imprescindíveis para a legitimação profissional em um momento de crise de legitimidade dos manicômios, uma vez que remetiam o fracasso à incurabilidade da loucura.
Esse tipo de abordagem nos parece relevante e merece destaque especial para as análises sobre a construção do Hospício de Pedro II e a consolidação da psiquiatria no Brasil. Embora a ideia de patronagem, em Goldstein, apareça mais relacionada aos círculos científicos, trazer os interesses profissionais para o debate pode ser interessante, especialmente se articulados a outros círculos sociais. Como alguns autores têm analisado (Engel, 2001; Meyer, 2010; Ribeiro, 2012;Teixeira, 2012), o Hospício de Pedro II tem uma carga simbólica bastante expressiva em relação ao seu vínculo com a corte imperial e a Irmandade da Misericórdia. Parece-nos que o entrecruzamento dos círculos científicos, caritativos e senhoriais da corte teve papel definitivo na consolidação daquela instituição e do saber psiquiátrico ao longo da segunda metade do século XIX.
No quarto capítulo, Huertas elabora uma análise sobre o construtivismo e a ideia da loucura como construção social. Embora esse aspecto já aparecesse em Foucault e alguns de seus contemporâneos e também tangencie o questionamento sobre a verdade científica, o autor trata mais especificamente da elaboração dos diagnósticos. Primeiro, ele apresenta Charles Rosenberg (1977) e sua teoria do enquadramento das doenças, na qual são tratadas como acontecimentos biológicos, mas também como repertórios de construções verbais que refletem o contexto social e cultural em que os diagnósticos são elaborados.
No entanto, o grande avanço em termos de possibilidades de análise, segundo Huertas, está na abordagem de Ian Hacking e sua aproximação com as teorias de rotulação. A novidade aqui seria a ultrapassagem do estudo dos diagnósticos, conforme proposto por Rosenberg, para estudar-se o impacto que as classificações e nomeações das doenças promovem sobre os indivíduos. O making of people de Hacking busca dar conta do processo de constituição de uma nova classe de indivíduos, a partir do momento em que um grupo é diagnosticado (rotulado). Ao mesmo tempo, a nova classe de indivíduos interagiria com a produção do conhecimento sobre si, por meio do looping effect, ou efeito looping. O destaque para esse aspecto interativo entre especialista, diagnóstico e rotulado, enfatizando a violência dos diagnósticos e da estigmatização da loucura, é a contribuição crucial dessa linha de trabalho.
Em seguida, no capítulo cinco, o autor trata basicamente da proposta de história conceitual da psiquiatria, elaborada por Germán Berrios, corroborando a importância desse tipo de abordagem para transformações na clínica psiquiátrica atual. Depois de apresentar um histórico da psicopatologia descritiva no século XIX, Huertas corrobora a argumentação de Berrios de que, nos dias atuais, haveria certa degradação das construções teóricas por parte da clínica psiquiátrica, que estaria rigidamente vinculada a classificações impostas por manuais e compilações de diagnósticos.
Na agenda metodológica da história conceitual, a análise das teorias descritivas das psicopatologias deveria estar articulada e complementando as análises de filósofos, sociólogos e historiadores. Berrios critica a postura de muitos dos cientistas sociais pelo fato de eles se apropriarem da loucura sem se aprofundarem nas questões conceituais a ela relacionadas. Embora não apareça explicitamente na análise de Huertas, o enfoque nas questões conceituais tem sido explorado por autores da história de outras ciências, como pelo próprio Bruno Latour, citado em outros capítulos.
A proposta de articular conteúdo científico e “ruído de fundo”, como chama Berrios, é uma das grandes bandeiras dos dois autores. Para eles, essa aproximação nos estudos históricos seria a chave para trazer as mesmas reflexões para o presente. A partir do diálogo entre psiquiatras e historiadores sobre os conceitos psicopatológicos do passado, seria possível estimular o aprofundamento e a reflexão teórica entre os estudantes de psiquiatria. A proposta de Berrios e Huertas se apresenta promissora, mas também corre o risco de retomar o debate internalismo/externalismo que parece presente na ideia do “ruído de fundo”, de Berrios, conforme apresentada por Huertas: como se existisse algo de universal e puro na ciência, mas que estaria sujeito a deturpações por fatores externos. Em perspectivas mais recentes da história das ciências, incluindo outras apresentadas no mesmo livro, fica claro que não existe um ruído de fundo, mas que o contexto social e cultural é totalmente decisivo na conformação dos próprios pressupostos científicos, que, por sua vez, também conformam o mundo.
Com relação à história da psiquiatria no Brasil, Facchinetti (2010) dialoga com essa bandeira ao reunir uma série de análises históricas sobre diagnósticos debatidos por psiquiatras brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Adotando suportes teóricos diferenciados, os trabalhos escritos por historiadores, antropólogos, psiquiatras e psicanalistas analisam conceitos científicos observando-os na sociedade; a sociedade certamente podendo ser expressa de diferentes formas: ela pode ser as posições políticas e de prestígio social adotadas pelos médicos em questão, exatamente devido à importância desses atores na conformação de uma elite com projetos para a nação brasileira; pode ser também as representações sociais sobre o humano e sobre o estatuto de seus estados físico, mental e moral; ou pode estar expressa nos mecanismos de controle coletivo.
No capítulo seis, Huertas apresenta a relação entre a exploração de fontes documentais relativamente inéditas, que são as histórias clínicas de internos, e as diversas abordagens teóricas delas decorrentes. O autor demonstra como histórias clínicas, livros de registro, além de cartas e outros documentos que muitas vezes são encontrados junto desses registros, e outras fontes que deem conta do cotidiano das instituições psiquiátricas, podem contribuir para a construção de novas questões. Para ele, os primeiros trabalhos com esse tipo de material já apontam perspectivas interessantes para pensar a diferença entre o que os médicos defendiam em seus tratados e artigos científicos e o que era executável na prática.
O mais interessante da análise de Huertas nesse capítulo é a diversidade de possibilidades que ele apresenta em relação às fontes. A primeira grande chave interpretativa seria a da história vista de baixo, justamente pela polifonia dessecorpus documental, que daria conta da vida cotidiana e de diversos atores sociais, e não apenas dos teóricos mais renomados da psiquiatria. Por conta dos dados seriados que podem ser mapeados, os registros clínicos são apontados como ferramentas interessantes também para estudos demográficos e para a história social. Podem ser valiosos também para a chave do controle social, além dos estudos de gênero.
Mesmo para a história conceitual da psiquiatria, o registro seriado de diagnósticos e as transformações nos modelos das histórias clínicas aparecem como aspectos inovadores nos estudos sobre os pressupostos teóricos. Por meio da análise em recortes temporais mais longos, seria possível mapear importantes transformações, tanto das classificações diagnósticas quanto da terapêutica posta em prática.
Ainda em relação às fontes clínicas, Huertas destaca o viés consagrado por Roy Porter, que aborda o ponto de vista dos pacientes. Para esses autores, essas fontes são inovadoras por permitir, direta (cartas ou narrativas transcritas) ou indiretamente (pela fala do médico), abordar a visão do louco sobre a loucura e a sua própria experiência no manicômio. Assim, entrando no cotidiano da instituição, seria possível enxergar os pacientes e suas famílias, até então silenciados pela fala da autoridade médica.
No Brasil, as abordagens com esse tipo de material têm se ampliado consideravelmente, contribuindo muito para a historiografia. Maria Clementina Pereira Cunha (1986) inaugurou esse projeto teórico-metodológico, fazendo uma história social do Hospício do Juqueri, justamente amplificando a fala e o olhar do louco. Mais recentemente, temos tentado explorar os arquivos médicos do Hospício de Pedro II e reconstruir o perfil dos alienados, além de mapear as redes sociais que eram ali manejadas (Ribeiro, 2012). Cassília (2011) utilizou as fontes clínicas da antiga Colônia Juliano Moreira para demonstrar o modo como pacientes daquela instituição pensavam sua própria loucura e sua internação a partir da sociedade em que viviam. Wadi (2006) reconstruiu trajetórias de vida com a documentação do Hospício São Pedro. Lorenzo (2007)mapeou aspectos do controle social com base nos livros de entrada da Santa Casa de Misericórdia do Rio Grande do Sul. Muitas outras pesquisas têm usado esse material como fonte acessória.
Concordamos aqui com Rafael Huertas em relação aos problemas metodológicos encontrados para o trabalho com esse tipo de material, especialmente em relação às condições de preservação e organização. No entanto, pelo menos no Rio de Janeiro, temos assistido a iniciativas interessantes, mas ainda lentas, de preservação dessa memória.
No sétimo e último capítulo, Rafael Huertas apresenta um compêndio das contribuições analisadas anteriormente, propondo sua questão-chave, que é a articulação entre história da psiquiatria e clínica psiquiátrica. O grande fio condutor da obra de Huertas é a preocupação com a construção de um novo modelo de clínica, cuja solução passe pela pesquisa histórica. Segundo ele, a clínica vem se conformando como mera reprodutora de práticas, das quais está ausente a reflexão teórica e, logo, o conhecimento das várias determinações sociais, culturais, históricas e biológicas ali implicadas.
Para Huertas, a necessidade exponencial dessa reflexão estaria relacionada à frágil objetividade dessa ciência e, especialmente ao objeto incerto, que é o ser humano e suas condutas. Esse fator tornaria a psiquiatria mais vulnerável às condições políticas, sociais e econômicas. Se mesmo os estudos históricos das ciências chamadas “duras” têm demonstrado essa vulnerabilidade, de fato, talvez essa seja uma preocupação ainda maior, tendo em vista a complexidade do objeto.
Apesar de defender essa agenda de pesquisa, o autor de Historia cultural de la psiquiatría ressalta os problemas metodológicos dela decorrentes, especialmente aqueles relacionados ao risco do anacronismo, uma vez que defende o passado como ferramenta de transformação do presente. No entanto, ele sustenta que existiriam dois tipos de anacronismo. O primeiro deles, que seria totalmente prejudicial, é julgar a ciência do passado partindo das categorias do presente. Já o outro anacronismo, do qual não poderíamos fugir, ele relaciona ao anacronismo estrutural de Marc Bloch, já que sempre analisaremos o passado imbuídos do universo mental do presente.
Nesse sentido, Huertas defende uma teoria da prática, ou seja, que o olhar para o passado seja feito a partir de perguntas do presente, mas que isso sirva para dotar a prática de um aporte teórico que seja transformador. Ainda que, de certa maneira, esse utilitarismo possa ser visto com certa estranheza por nós, historiadores, não podemos deixar de concordar com o autor quando defende que esses objetivos estejam claros. E, nesse quesito, Huertas não deixa a desejar, apresentando com bastante clareza o seu projeto. Aliás, o próprio autor destaca que os objetivos de médicos e historiadores sempre serão diferentes, justamente pelo universo mental em que estão inseridos. No entanto, é inegável que a interação dinâmica entre historiadores e psiquiatras, por ele defendida, tem belíssimos frutos a gerar.
A obra de Rafael Huertas tem muito a contribuir para os historiadores e para os clínicos em formação. Para os primeiros, os vieses teóricos e metodológicos didaticamente apresentados são uma importante e facilitadora porta de entrada nos estudos sobre a história da psiquiatria. Para os clínicos, o livro pode ser ponto de partida para as muitas reflexões propostas por Huertas. Os exemplos perfeitamente escolhidos, tanto para demonstração dos autores quanto para seus questionamentos e proposições, transitando entre quase dois séculos de história, abrem um mar de possibilidades para quem quer que se interesse pelas temáticas da mente.
Referências
CASSÍLIA, Janis.Doença mental e Estado Novo: a loucura de um tempo. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 2011. [ Links ]
CUNHA, Maria Clementina P.O espelho do mundo: Juquery, a história de um asilo. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1986. [ Links ]
DUARTE, Luiz Fernando Dias. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. [ Links ]
ENGEL, Magali Gouveia.Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 1830-1930). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2001. [ Links ]
FACCHINETTI, Cristiana (Ed. convidada). História, Ciências, Saúde – Manguinhos (Hospício e psiquiatria na Primeira República: diagnósticos em perspectiva histórica), v.17, supl.2. 2010. [ Links ]
FOUCAULT, Michel. História da loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva. 2010. [ Links ]
GONÇALVES, Monique de S. Mente sã, corpo são: disputas, debates e discursos médicos na busca pela cura das “nevroses” e da loucura na Corte Imperial (1850-1880). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 2010. [ Links ]
HUERTAS, Rafael. Medicina social, control social y políticas del cuerpo: la subjetivación de la norma. In: Miranda, Maria; Sierra, Álvaro.Cuerpo, biopolítica y control social: América Latina y Europa en los siglos XIX y XX. Buenos Aires: Siglo XXI. p.19-41. 2009. [ Links ]
LORENZO, Ricardo de. “E aqui enloqueceo”: a alienação mental na Porto Alegre escravista (c.1843-c.1972). Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2007. [ Links ]
MEYER, Manuella. Sanity in the South Atlantic: the mythos of Philippe Pinel and the asylum movement in nineteenth-century Rio de Janeiro.Atlantic Studies, v.7, n.4, p.473-492. 2010. [ Links ]
NYE, Robert A. The evolution of the concept of medicalization in the late twentieth century. Journal of History of the Behavioral Sciences, v.39, n.2, p.115-129. 2003. [ Links ]
RIBEIRO, Daniele C.O Hospício de Pedro II e seus internos no ocaso do Império: desvendando novos significados. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 2012. [ Links ]
ROSENBERG, Charles E. Framing disease: illness, society and history. In: Rosenberg, Charles E.; Golden, Janet (Ed.). Framing disease: studies in cultural history. New Brunswick; New Lersey: Rutgers University Press. p.XIII-XVI. 1977. [ Links ]
SHAPIN, Steven. A revolução científica. Lisboa: Difel. 1999. [ Links ]
TEIXEIRA, Manoel Olavo Loureiro. As origens do alienismo no Brasil: dois artigos pioneiros sobre o Hospício de Pedro II. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v.15, n.2, p.364-381. 2012. [ Links ]
VENANCIO, Ana Teresa A. A construção social da pessoa e a psiquiatria: do alienismo à nova psiquiatria. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.3, n.2, p.117-135. 1993. [ Links ]
WADI, Yonissa Marmitt. Experiências de vida, experiências de loucura: algumas histórias sobre mulheres internas no Hospício São Pedro (Porto Alegre/RS, 1884-1923). História Unisinos, v.10, n.1, p.65-79. 2006. [ Links ]
Notas
1 Robert Nye (2003) também comenta a relação entre esse tipo de abordagem e a esfera política e cultural contestatória dos anos 1960-1970.
Daniele Corrêa Ribeiro – Doutoranda, Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz; coordenadora de História e Memória, Centro de Estudos/Instituto Municipal Nise da Silveira. E-mail: dannycori@yahoo.com.br
Ecologia, evolução e o valor das pequenas coisas – COSTA (HCS-M)
COSTA, Felipe A.P.L. Ecologia, evolução e o valor das pequenas coisas.2.ed. Viçosa: Edição do autor. 2014. 137p. Resenha de: MAGALHÃES, Gildo. Defesa da ecologia, distância do ambientalismo. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 supl. Dec. 2015.
A comunicação é uma atividade inerente ao próprio fazer científico, que se transformou ao longo dos séculos numa empreitada profissionalizada, envolvendo a publicação em veículos especializados de ideias, métodos e resultados relativos às ciências (Vickery, 2000). No entanto, cada vez mais essa comunicação tende a empregar uma linguagem por demais hermética, servindo primordialmente para uma troca entre os colegas pertencentes a campos específicos do conhecimento, fora do alcance de outros cientistas, para não dizer dos leigos, daqueles que têm, no mais das vezes e quando muito, um conhecimento de nível básico, proporcionado pelo ensino médio. Adicionalmente, verifica-se que muitos cientistas, até mesmo alguns de áreas voltadas para as humanidades, não escrevem bem. Para servir de ponte entre a comunicação científica e o grande público, surgiu o campo que é comumente denominado divulgação científica, também chamado na França de “vulgarização científica” (lá, sem nenhum sentido pejorativo que aqui possa eventualmente ter a palavra “vulgarização”).
Na divulgação científica encontramos amiúde escritores com formação em jornalismo e que enfrentam o desafio de transpor a ciência para uma linguagem mais abrangente (Sánchez, 2003; Massarani, Turney, Moreira, 2005). Se esse esforço costuma vir envolto numa roupagem literariamente atraente, por outro lado o jornalismo científico corre o risco, como se verifica tão frequentemente, de perder o rigor das ideias originais, e até mesmo falsear a pretendida tradução do erudito para o popular (Tognolli, 2003). Alguns jornais diários brasileiros, por exemplo, mantêm uma seção de ciência, com resultados nem sempre à altura do propósito da divulgação. Temos ainda o hábito, infelizmente bastante difundido, de pautar o conteúdo dessas notícias na mídia pela publicação de artigos vindos do exterior, como os dos periódicosNature e Science, em vez de matérias a resultar de trabalhos próprios do jornalismo local (Barata, 2010). Naturalmente, há exceções de bons jornalistas dedicados à divulgação científica que desenvolveram uma tradição respeitável, e há mesmo o caso excepcional de bons cientistas que se tornaram profissionais do jornalismo de divulgação científica – e para citar um nome conhecido, tivemos entre nós nesse perfil a figura pioneira de José Reis.
Embora também raro, é possível que um cientista, mesmo sem ser jornalista, tenha a preocupação de bem escrever, para que um tema fascinante do ponto de vista científico não se torne árido e possa então atingir um público maior. Um subproduto interessante desse empreendimento da redação clara é quando um texto de divulgação impacta uma pessoa que futuramente se tornará um cientista importante – como aconteceu com James Watson, para quem a leitura de O que é vida?, do físico e pensador Erwin Schrödinger, foi fundamental em sua decisão de estudar a estrutura molecular dos genes.
Não se pode perder de vista tampouco que não é muito nítida a fronteira entre a comunicação, em senso estrito, e a divulgação científica, como pode ser avaliado examinando-se uma boa antologia como a de Edmund Bolles (1997). Nela estão recolhidos textos científicos de importância fundamental que são ao mesmo tempo literariamente exemplares, e que perpassam vários séculos, indo desde a Antiguidade de Heródoto e Lucrécio até a contemporaneidade.
As considerações anteriores vêm a propósito de Ecologia, evolução e o valor das pequenas coisas, de Felipe A.P.L. Costa. Este é um biólogo especializado em entomologia e ecologia, conhecido pelas suas colaborações regulares noObservatório da Imprensa, em que emprega o rigor acadêmico para definir de forma certeira conceitos biológicos que a grande imprensa difunde com imprecisão e o público em geral propala incorrendo em erros de significado ou até mesmo de tradução. Naquele veículo eletrônico, o autor também tem divulgado obras e a vida de cientistas menos conhecidos, além de tratar de diversos outros temas, tais como a duvidosa eficácia da política científica brasileira. Uma faceta mais desconhecida e invulgar sua é a campanha pacifista desenvolvida no sítio da internet Poesia contra a guerra, em que reúne contribuições dessa natureza de poetas, principalmente brasileiros, alguns famosos e muitos outros que se inserem na produção poética dita marginal.
Nos textos da obra aqui focalizada, Felipe Costa exercita divulgação científica dirigida primordialmente a um público não especializado. Segue, portanto, na senda ilustre de cientistas como o saudoso zoólogo Stephen Jay Gould, famoso por suas páginas na revistaNatural History, depois reunidas em diversos livros de sucesso, vários deles publicados no Brasil.
Nessa segunda edição de Ecologia, evolução e o valor das pequenas coisas, Felipe Costa acrescentou mais seis capítulos aos vinte da edição anterior, divididos em cinco partes. De forma saborosa, discorre sobre evolução biológica, reservas e parques, a relação entre clima e populações, e práticas destrutivas do meio ambiente. São textos curtos, uma boa parte dos quais foi publicada por veículos como Ciência Hoje e Tribuna de Minas. O conteúdo é diversificado, embora focalize sempre aspectos ecológicos e evolutivos. Uma amostra dessa diversidade é a denúncia do relativo descaso dos nossos cientistas com a paisagem nativa da caatinga, ou a pouca atratividade dos insetos (75% das espécies animais) nas campanhas ambientalistas (e o autor revela como a ingenuidade do movimento ambientalista frequentemente se sobrepõe à ciência), a sugestão de forração com serapilheira nas trilhas de parques naturais, a crítica à falta de atenção dos pesquisadores brasileiros para com a fenologia de árvores tropicais, ou ainda uma queixa quanto à introdução funesta em nosso meio de espécies exóticas (como o mosquitoAedes aegypti e o caracol-gigante-africano). Ao final da obra, há notas e um pequeno glossário. Trata-se de leitura fácil de assuntos que se revelam politicamente intrincados, de interesse para o público geral, mas que pode ter também e mais especificamente uma aplicação didática no ensino médio.
Pode-se sugerir que no futuro o autor entenda a evolução biológica de forma não tão rígida, pois ele permanece firmemente ancorado dentro da tradição neodarwinista ortodoxa, sem uma abertura para correntes importantes dentro da biologia, mas discordantes dessa interpretação, como a evolução em quatro dimensões (Jablonka, 2010) ou a realimentação somático-germinativa (Steele, Lindley, Blanden, 1998). O paradigma neodarwinista tem sido recentemente confrontado por alguns cientistas renomados internacionalmente, como a falecida Lynn Margulis, cuja posição se afastou do dogmatismo darwiniano ao se filiar às teorias da simbiogênese, ideias que descendem dos trabalhos do botânico russo Konstantin Mereshkovski. É verdade que nada faz sentido em biologia fora da evolução, mas há teorias e teorias da evolução, e não apenas uma única,vencedora e inamovível, como defendem os adeptos mais ferrenhos da teoria sintética.
Principalmente o grande público é o que mais precisa ser informado de que as controvérsias dentro da ciência são permanentemente uma fonte de inovação e que elas são, aliás, parte do funcionamento normal da atividade científica, para além da ciência paradigmática que se oferece ao grande público nos veículos de divulgação científica. A história das ciências é também a das divergências, algumas das quais mostram uma notável longevidade, pois mesmo depois de declaradas mortas e enterradas ressurgem às vezes de formas inesperadas – aspecto que ainda escapa até a muitos historiadores e filósofos da ciência.
No caso específico da evolução há um agravante, já que qualquer divergência costuma ser erroneamente interpretada como expressão de uma suposta guerra entre religião e ciência – e para sermos justos, essa posição refratária e equivocada não se resume ao jornalismo de divulgação científica, mas integra a própria tradição acadêmica. Apenas quando a divulgação científica conseguir se aprofundar e, à maneira do jornalismo investigativo, se puser a trabalhar com a desconfiança de que cientistas não são tão objetivos e neutros quanto pretendem ser, o resultado será uma apreensão qualitativamente superior do que significa fazer ciência – em que até pequenas coisas podem ter grande valor, como propõe acertadamente o autor.
Referências
BARATA, Germana.Nature e Science: mudança na comunicação da ciência e a contribuição da ciência brasileira (1936-2009). Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 2010. [ Links ]
BOLLES, Edmund B.Galileo’s commandment: 2,500 years of great scientific writing. New York: W.H. Freeman. 1997. [ Links ]
JABLONKA, Eva. Evolução em quatro dimensões. São Paulo: Companhia das Letras. 2010. [ Links ]
MASSARANI, Luísa; TURNEY, Jon; MOREIRA, Ildeu de Castro (Org.).Terra incógnita: a interface entre ciência e público. Rio de Janeiro: Vieira e Lendt; UFRJ/Casa da Ciência; Fiocruz. 2005. [ Links ]
SÁNCHEZ Mora, Ana Maria. A divulgação da ciência como literatura. Rio de Janeiro: EdUFRJ. 2003. [ Links ]
STEELE, Edward J.; LINDLEY, Robyn A.; BLANDEN, Robert V.Lamarck’s signature: how retrogens are changing Darwin’s natural selection paradigm. Reading: Perseus. 1998. [ Links ]
TOGNOLLI, Claudio. A falácia genética. São Paulo: Escrituras. 2003. [ Links ]
VICKERY, Brian C. Scientific communication in History.London: Scarecrow. 2000. [ Links ]
Gildo Magalhães – Professor, História da Ciência/Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/Universidade de São Paulo. Brasil. E-mail: gildomsantos@hotmail.com
Lisboa, Rio de Janeiro, comércio e mosquitos – MORENO (HCS-M)
MORENO, Patrícia. Lisboa, Rio de Janeiro, comércio e mosquitos: as consequências comerciais da epidemia de febre-amarela em Lisboa. Lisboa: Chiado, 2013. 214 p.Resenha de: PROTÁSIO, Daniel Estudante. Epidemias, comércio e emigração Portugal-Brasil na segunda metade do Oitocentos. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 supl. Dec. 2015.
Num mundo e num início de século como o nosso, em que o ébola, o HIV/Aids e a gripe N1H1 constituem sérias ameaças à segurança e saúde públicas internacionais, nem sempre é fácil entender como num passado relativamente recente outras epidemias podiam interromper os fluxos de circulação de pessoas, bens e serviços entre continentes e nações. Sobretudo para os não iniciados na medicina ou na respetiva história, que não se deleitem com densos estudos técnicos sobre questões epidemiológicas e sanitárias (como é o meu caso), encontrar uma obra como a que aqui me proponho recensar constitui uma verdadeira lufada de ar fresco e um magnífico momento de aprendizagem, sobre áreas e aspetos científicos afins daqueles a que me dedico a estudar nos últimos 20 anos de investigação.
Por outro lado e apesar de uma intensa e frutuosa colaboração e intercâmbio científicos e académicos entre o Brasil e Portugal, no que concerne a historiografia e a história académica dos séculos XIX e XX, nem sempre é fácil encontrar quem consiga transpor, em termos de texto, as naturais barreiras e distâncias entre duas realidades irmãs e similares, mas naturalmente específicas e idiossincráticas, como a portuguesa e brasileira.
Com a presente obra, Patrícia Moreno, investigadora e doutoranda portuguesa em história no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, de Lisboa, membro da Sociedade de Geografia de Lisboa e estudiosa dos temas da história da medicina, da emigração e dos descobrimentos portugueses, consegue contribuir com um texto de leitura agradável, informação pertinente e narrativa organizada, sobretudo fruto de uma utilização inteligente de fontes da época e com uma intervenção mínima enquanto narradora dos acontecimentos descritos.
Ora tal não é fácil, num mundo editorial português em que as obras de divulgação científica e histórica abundam e num universo como o da Sociedade de Geografia de Lisboa, instituição fundada em 1875 e na qual Patrícia Moreno participa do trabalho de algumas secções e comissões há mais de duas décadas. Pode mesmo afirmar-se que, de uma maneira geral, a profusão de livros publicados em Portugal e a quantidade de comunicações proferidas na dita agremiação lisboeta são de tal magnitude que é difícil encontrar títulos sugestivos e pedagógicos, recreativos e científicos, cativantes e ligeiros na leitura, mas ao mesmo tempo estimulantes de outras pesquisas e que deixem no leitor a sensação de que uma porta intelectual se abriu no cenário dos seus interesses bibliográficos e intelectuais; ou seja, de que saiu enriquecido das horas a que dedicou sua atenção a um trabalho específico. Tal sensação é com frequência mais conotada com outro género de leituras, como a de livros de ficção policial ou de espionagem, de textos de blogues, de revistas, de jornais e newsletters on-line do que obras dedicadas a temáticas históricas. Por contraste, basta folhear as páginas do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, que já ultrapassou sua 131ª série (referente a 2013), para encontrar textos sobre temas e títulos históricos, geográficos ou etnográficos escritos em estilo por vezes pesado e de circunstância, nem sempre destinados ao interesse de um público não especializado nem particularmente inclinado a esse tipo de assuntos.
Em termos de estrutura, a obra de Patrícia Moreno divide-se em nove pontos, incluindo introdução, conclusão e bibliografia. De uma forma geral, a autora não abusa das notas infrapaginais, que alcançam o número de 190 em 206 páginas de texto, entre algumas dedicadas a fornecer informações biográficas das figuras de médicos e estadistas referidos, mas sobretudo a consubstanciar as fontes e bibliografia a que recorreu.
Na contracapa do livro, são deixadas as seguintes palavras e interrogações: “Como e quando chegou a febre amarela a Lisboa vinda do Brasil? E quais foram as medidas adotadas pelas autoridades portuguesas? A essas questões procurará esse livro lançar pistas e oferecer algumas respostas”. Essa é a mensagem essencial do primeiro ponto do livro, que se intitula “A razão deste livro, perguntas e dúvidas” e começa com uma citação de Rui Barbosa, proferida numa conferência de maio de 1917: “O mundo vê no Brasil um país de febre amarela. O Governo brasileiro o confessa. A medicina brasileira não o pode negar” (p.11). Numa outra citação, na mesma página, Barbosa informa-nos que em 1857-1858, 1860, 1864 e 1869 tal doença chega do Brasil a Portugal. Mas esse não será o âmbito cronológico da obra, mais alargado.
Num segundo ponto ou capítulo do livro, intitulado “Resenha histórica da febre amarela”, Patrícia Moreno resume, em cerca de uma dúzia de páginas, o que a literatura seiscentista e setecentista afirmava sobre a epidemia; suas principais características e alterações fisiológicas no indivíduo acometido dessa patologia; e a abrangência geográfica da mesma, num triângulo atlântico Américas-África-Europa. A autora recorre a tratados médicos, mas também a breves referências em literatura popular do século XIX, como Alexandre Dumas e Júlio Verne, e menciona terríveis momentos de dizimação coletiva, como aquando da invasão francesa da ilha de São Domingo (atuais Haiti e República Dominicana) em 1801, de Barcelona em 1821 e do surto do vale do Mississípi em 1878, tendo morrido, nestes dois últimos casos, cerca de vinte mil catalães e outros tantos norte-americanos (p.17, 20). Introduz a questão do debate médico sobre a forma de combater essa praga e como ela se propaga, matérias que dividirão opiniões científicas e a opinião pública mundiais durante várias décadas do século XIX.
Subitamente, num terceiro capítulo, “Portugal e o Brasil ou o Brasil e Portugal”, a autora aligeira o tom, alarga o âmbito do seu estudo, não agora meramente geográfico, cronológico, estatístico e médico, mas contextualiza a situação geral portuguesa e brasileira, de forma rigorosa, mas necessariamente breve, de modo a impedir que o leitor se perca em demasiados pormenores e perca literalmente o fio à meada, esquecendo o propósito primeiro desse trabalho – a febre amarela e seu impacto sanitário, comercial e político nos dois países. Vai, assim, elencando as várias formas de relações luso-brasileiras – familiares/dinásticas, comerciais, sociais – e os diferentes métodos de contacto transnacional: o transporte marítimo de emigrantes portugueses em busca de trabalho, legal e ilegalmente; as políticas lisboetas para travar tal fluxo demográfico, bem como o surgimento da figura do “brasileiro” em Portugal, na sociedade e na literatura portuguesas. Está então dado o mote para uma apaixonante reflexão sobre questões de história das mentalidades, social e política: as condições insalubres nos “cortiços” brasileiros aos quais chegavam os emigrantes portugueses, mas também nos bairros pobres de Lisboa e Porto, onde a febre amarela se propagará; o constante ambiente de guerra civil e de revolução em Portugal até à Regeneração de 1851 e a dificuldade que diferentes governos sentiram para inverter uma política de emigração maciça, devido à pobreza, desemprego e analfabetismo que grassavam deste lado do Atlântico. A intervenção de figuras gradas da política e das letras portuguesas como Alexandre Herculano e Ramalho Ortigão, o conde de Tomar (Costa Cabral), Fontes Pereira de Melo e José Luciano de Castro, tentando alertar a opinião pública e legislar para que a falta de condições de salubridade e de habitação não servissem de rastilho à propagação da febre amarela, como ainda sucedeu no Rio de Janeiro, de forma intervalada, nas décadas de 1870 a 1890. Em Lisboa, a Sociedade de Geografia, cujos estatutos foram reformados em 1895, contou imediatamente com uma Comissão de Emigração, tal a preponderância política, económica e social da saída de emigrantes e consequente perda de força de trabalho e destruição do tecido social nacional.
Nos pontos – ou capítulos, como lhes poderíamos chamar – 4 e 5, o primeiro com cerca de trinta páginas e o segundo com cerca de quarenta, a autora congrega o essencial da sua análise, dedicada primeiro ao “Rio de Janeiro e a epidemia de 1850” e depois a “Lisboa e a febre amarela – a terrível década de 1850”. Com inteligente e rigoroso recurso a fontes de ambas as nacionalidades, Patrícia Moreno estuda os casos brasileiro e português socorrendo-se de pontos de vista contemporâneos e divergentes, alguns cientificamente fundamentados, outros meramente propagandísticos e eleitoralistas. Em causa estava perceber a verdadeira origem do surgimento e transmissão da doença e quais as formas corretas de a tratar e prevenir. Numa época em que o comércio luso-brasileiro e as remessas financeiras de emigrantes portugueses bem-sucedidos no Brasil pesavam fortemente na balança comercial de Portugal, o vetor de transmissão da doença, o mosquito, estava fora da equação. O mosquito, ou pernilongo, que faz parte do título desse livro e cuja imagem figura na respetiva capa, não era ainda entendido como elemento preponderante e transmissor da patologia. As autoridades portuguesas e brasileiras insistiram, durante décadas, em políticas de quarentena (à imagem, aliás, das demais nações) e na criação e manutenção do lazareto de Porto Brandão, na margem sul do Tejo, defronte de Lisboa e no lazareto da ilha do Bom Jesus dos Frades, no Rio. Os higienistas, reunidos pela primeira vez em congresso internacional em 1852, dividiam-se entre os que defendiam a existência de contágio e a necessidade de isolamento dos doentes e de quem viajava em navios onde grassava a doença (os contagionistas) e os que defendiam in stricto sensu que “A higiene e a desinfestação são as únicas armas de que dispõem os médicos” (p.80), sendo necessário combater a infeção onde ela ocorria (os infeccionistas).
Em Portugal, foi apurado que morreram quase seis mil pessoas durante as epidemias de 1856-1858, o que constituiu um número dramático de vítimas. Duas das mais célebres vítimas mortais foram o cardeal patriarca de Lisboa e o renomado médico e membro da Academia das Ciências de Lisboa António da Fonseca Benevides. O casal régio, dom Pedro V e dona Estefânia, interviriam corajosamente no socorro e apoio moral aos doentes, mas ambos morreriam muito novos de outras doenças frequentes na época, respetivamente febre tifoide e difteria. “Lisboa, cidade insalubre” era uma das imagens transmitidas durante décadas, fosse pelo académico Oliveira Pimentel, pelo afamado Eça de Queiroz ou pela polémica princesa Ratazzi, com o primeiro a afirmar, em 1857, as seguintes palavras arrepiantes: “O estado das praias lodosas em frente da cidade [de Lisboa] é o mais deplorável que se pode imaginar; e, se as comparássemos com o delta do Ganges, onde se gera o cólera-morbo, não ficaríamos longe da verdade” (p.126). O congresso sanitário reunido sob os auspícios régios naquele ano, na Academia das Ciências, pouco ou nada conseguiu resolver e não só “Os lisboetas fogem da epidemia” como “Lisboa sofria e morria!”, como sugerem dois subtítulos utilizados pela autora neste seu quinto capítulo (p.127, 130). Chegando-se à conclusão de que a doença não era “nativa” de Portugal, embora prosperasse com as condições de insalubridade e no tempo quente (e que, portanto, provinha por via marítima, sobretudo do Brasil), persistiram as políticas de quarentena e de utilização do lazareto.
É a esses dois temas – quarentena e lazareto – que Patrícia Moreno vai dedicar o sexto ponto ou capítulo do seu livro, o último com uma extensão considerável na obra agora em análise. Enquanto de França não surgiram as notícias das descobertas de Pasteur e do Brasil os resultados práticos da obra salvífica de Oswaldo Cruz, esta já no início do século XX, Portugal teve de recorrer aos anacrónicos mecanismos de contenção de uma doença que nunca mais se tornou tão devastadora como em 1856-1858, mas cuja ameaça constante, durante décadas, foi alvo da chacota, da incompreensão e da raiva de parlamentares, de jornalistas e de viajantes que, em face do número reduzido de mortes devidas à epidemia, se revoltavam quanto à preponderância de medidas sanitárias ditas “incivilizadas”. Numa segunda metade do século XIX, sobretudo marcada pelo ritmo cada vez mais frenético da circulação livre de pessoas, ideias e mercadorias, em nível europeu e mundial, as restrições de entrada no porto de Lisboa eram incompreensíveis para comerciantes e para os setores da sociedade, da política e da economia mais interessados em que Portugal prosperasse pela via da circulação comercial do que em escutar as posições cautelosas de médicos e de académicos que defendiam a necessidade da quarentena de pessoas e bens e sua permanência no lazareto na margem sul do Tejo. Medidas públicas de aprofundamento do saber técnico sobre a demografia, como o primeiro recenseamento geral da população em 1864, a utilização internacional do telégrafo elétrico e a aprovação de um regulamento geral de sanidade marítima em Portugal, já influenciada pelas ideias de Pasteur, terão contribuído para manter baixos os números de mortalidade epidémica, mas tal não impediu que, por exemplo, ocorresse uma “gravíssima epidemia de peste na cidade do Porto em 1897 que tinha demonstrado que os regulamentos sanitários observados desde há várias décadas não protegiam totalmente as populações” (p.157-158). Ora o que em hoje em dia é um lugar-comum, que o isolamento dos potenciais doentes e das pessoas afetadas por doenças não evita totalmente sua proliferação sem que a causa e os fatores de desenvolvimento e de propagação da mesma sejam conhecidos e anulados na sua ação nefasta, não era consensual nessa época – longe disso. Tal como no início da introdução da inoculação vacínica em Portugal, nos anos de 1800 e 1810, pela Academia das Ciências, aquela medida experimental fora motivo de polémica e de espanto por parte da maioria da população e das elites, quase cem anos depois a sobrevivência da quarentena e do lazareto eram também altamente contestados e incompreendidos, porque “residualmente” – se assim se poderá dizer – os casos de febre amarela e de outras epidemias, por vezes muito mais mortíferas, continuavam a manter-se: seria um caso de “matar o mensageiro”, até certo ponto; nesse caso, os médicos favoráveis a tais medidas e os decisores políticos sobre saúde pública em Portugal.
Patrícia Moreno contextualiza e problematiza esses dois temas, o da quarentena de passageiros em navios e o das condições – também elas insalubres! – do lazareto de Lisboa, que o governo tratou de estudar no sentido de melhorar. Os conhecidos escritores humorísticos e satíricos portugueses, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, referiram-se ao lazareto, e o imperador dom Pedro II, na sua visita de 1871, fez questão de demonstrar o caráter privado da sua viagem sujeitando-se, como os demais, às condições de isolamento no lazareto. Mas para além dos incómodos dessas e de outras figuras ilustres, como a de Sarah Bernhardt, que infelizmente a autora não nos explica como contornou – se o conseguiu – a proibição de pisar Lisboa sem passar pelo lazareto (p.171-72), a questão era também de natureza comercial: os produtos que não pudessem passar pelo porto de Lisboa ou por qualquer outro porto português que estivesse vigiado pelas autoridades sanitárias eram desviados para as Canárias, para o Mediterrâneo ou para qualquer porto onde a política pública de saúde não fosse tão apertada. Refere especificamente o caso da barca Imogene, que em 1879 é caricaturado pela imprensa política e humorística nacional e no qual o diagnóstico do distinto médico Sousa Martins é colocado em causa, vendo-se o mesmo obrigado a escrever um livro – cujo título a autora não cita – para defender sua reputação e sua honra como médico (p.180 e s.). Apenas com a abertura do posto marítimo de desinfeção de Lisboa, a 1 de janeiro de 1906, já iniciado o século XX, a velocidade de entrada de passageiros e de mercadorias no porto lisboeta atinge o ritmo e a desburocratização que os tempos exigiam. A imprensa julga, naturalmente, com bons olhos tal inovação, mas aparentemente esquece-se de que ela não poderia existir se a ciência não tivesse já conhecido e debelado, no Brasil, as causas da mortandade que a febre amarela provocara durante décadas.
É nos dois últimos pontos ou capítulos, o sétimo e o oitavo, do livro que Patrícia Moreno explica-nos o que verdadeiramente mudou e obstou a que a febre amarela deixasse de matar aos milhares em Portugal. Se o médico português Ricardo Jorge escrevia que em 1860-1880 “só 20 navios entrados na barra de Lisboa foram considerados infeccionados” e se se sabe que isso ocorreu em apenas outros quatro até 1900 (p.192), não parecem restar dúvidas de que “O Brasil liberta-se… e Portugal respira”: isto é, só com a ação de Oswaldo Cruz (1872-1917), médico brasileiro, foi possível “estancar a mortandade devida à febre amarela no Rio de Janeiro” (p.195-196). A luta contra o mosquito, entre 1903 e 1909, permite senão erradicar, pelo menos diminuir drasticamente a incidência da doença em Portugal e no Brasil: “Não é a cura, mas sim a profilaxia da propagação da doença que irá trazer a glória a este médico brasileiro” (p.203). E nas conclusões, Patrícia Moreno deixa-nos duas afirmações, talvez um pouco longas para serem transcritas na íntegra, mas que são decisivas para compreender o essencial da mensagem transmitida: “As autoridades sanitárias e o governo de Portugal souberam resistir às incursões de febre amarela e de cólera-morbo. Souberam também resistir a todos aqueles que propuseram, na maioria dos casos com intuitos meramente comerciais e de lucro fácil, um aligeiramento ou mesmo a eliminação da legislação rigorosa em vigor”. E termina seu texto relembrando como “página quase esquecida da nossa história recente” a temática abordada: a do “perigo da importação” de febre amarela e as medidas adotadas pelas autoridades políticas e sanitárias portuguesas, com consequências danosas no desenvolvimento das relações comerciais entre Portugal e Brasil” (p.205-206). É este seu papel, assumido, como autora: fornecer as pistas, as fontes e os factos para que consensualmente se possa chegar a tais conclusões, deixando ao leitor a liberdade de concordar ou não com tais assunções, que são apenas afirmadas no final do livro.
O nono e último ponto ou capítulo é o da bibliografia, talvez o mais frágil de todos. Poderia ser mais rigorosamente dividido em fontes, bibliografia e webgrafia. A “Bibliografia: Séculos XVII a XIX” poderia ser designada por fontes e a referente aos séculos XX e XXI, essa sim, listada como bibliografia, excetuando a que diz respeito às décadas de 1900 a 1920 ou 1930, dado que são de 1926 e 1938 dois títulos de Ricardo Jorge que podem ser considerados fontes. Também as caixas dos arquivos citados do Ministério português dos Negócios Estrangeiros e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo deveriam ser mencionadas e as páginas de internet conter as datas de consulta. Mas essas são questões secundárias, mais do foro editorial do que autoral. Faria ainda falta um índice remissivo, pelo menos onomástico, para mais fácil localização de figuras referidas da medicina, literatura, política e jornalismo portugueses e brasileiros em duzentas páginas de uma obra que se lê com grande facilidade e proveito. Numa segunda edição, Patrícia Moreno poderá eventualmente acrescentar alguma bibliografia especializada brasileira, como artigos da revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos a propósito de temáticas similares, consultáveis, também eles on-line, se eventuais acrescentos e aprofundamentos o justificarem, naturalmente.
Daniel Estudante Protásio – Pós-doutorando, Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX/Universidade de Coimbra. Portugal. E-mail: daniel.estudante.protasio@gmail.com
A doença e os medos sociais – MONTEIRO (HCS-M)
MONTEIRO, Yara Nogueira; CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). A doença e os medos sociais. São Paulo: Fap-Unifesp. 2012. 440p. Resenha de: FERREIRA, Vanessa Nolasco. Um percurso sobre a história da doença e dos medos sociais. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 supl. Dec. 2015.
O livro A doença e os medos sociais tem como foco a “história das doenças, dos medos, da discriminação e de sua repercussão no meio social” (p.9). Seu objetivo é instigar o debate sobre os referidos temas, levando em conta os diferentes campos de conhecimento que podem ser exemplificados pela riquíssima e diversa formação dos autores de cada capítulo. A coletânea de textos faz com que o objetivo seja extrapolado, visto que a leitura de cada capítulo proporciona um panorama da história da doença no Brasil e suas correlações com o cenário internacional.
As organizadoras, Yara Monteiro Nogueira e Maria Luiza Tucci Carneiro, apresentam a doença como um estigma, no qual se entrecruzam mito e realidade, ressaltando a relação direta existente entre o adoecimento e a exclusão. Tal noção é aprofundada ao longo de 16 capítulos, divididos em quatro partes. Nessa divisão se encontra o maior problema do livro, pois não há um texto introdutório que elucide o motivo pelo qual a obra se encontra organizada dessa maneira. Além disso, não é citado o objetivo de cada uma das partes, não são apresentados os textos que compõem cada parte nem é estabelecida uma correlação entre os ricos assuntos tratados pelos autores. A falta de um texto de conclusão também agrava o problema apontado.
“O imaginário sobre a doença” constitui a primeira parte do livro, na qual são apresentados conceitos como medo, cultura da segurança versus a cultura do risco, imaginário e estigma. O medo é definido como sinônimo da insegurança que “assegura a conformidade social e cultural” (p.38) e espelha a possibilidade de morte eminente. Dessa forma, a cultura ocidental apropria-se do medo para produção de normas e regras sociais devido a sua capacidade de assumir diferentes feições e formas de existência. O medo aparecerá, por exemplo, nas artes e pode ser exemplificado pelo impacto da peste nas cidades de Florença e Viena e nas “posturas medievais sobre a lepra” (p.101). A partir da apreensão do medo pelas culturas, principalmente a ocidental, emergem a cultura de segurança e a cultura do risco, sendo a primeira a que legitima ciência e tecnologia como os saberes determinantes e preponderantes, enquanto a segunda enfatiza a noção de risco como ideia de advertência que contém força em si mesma.
Os conceitos de estigma e imaginário aparecem imbricados e são muito bem explicados a partir de exemplos como o da lepra, cuja cura, quando descoberta, não ocasionou a alteração das representações sociais sobre os portadores de hanseníase. Os mesmos ainda são vistos como aqueles que devem ser isolados porque portam uma doença altamente contagiosa. Tal exemplo comporta a estigmatização do doente – o leproso – e a ação do imaginário sobre a realidade, apontando que mesmo uma doença que pode ser curada traz grande carga de preconceitos. As artes também servem como ilustração; no quadro A virgem e o menino, a saúde e a boa aparência demonstram uma preocupação com essa realidade, assim como ocorre em outras pinturas renascentistas. No entanto, a arte, por intermédio de obras citadas no livro, também pode resumir o medo e o estigma, como ocorre nas pinturas que retratam a peste negra ou portadores de enfermidades. Os capítulos que compõem essa seção, portanto, constroem a concepção do imaginário da doença como uma construção social que tem como base o medo e, como consequência, estigmatiza os doentes.
A segunda parte da obra apresenta caráter mais específico ao tratar das “Doenças e medos na formação da sociedade brasileira” por meio de narrativas sobre diferentes enfermidades e variados pontos de vista sobre elas. O banzo, melancolia que atingia majoritariamente escravos, é abordado como doença que contribuiu para a construção da hipótese de um imaginário de que o Brasil teria sido erguido com tristeza, conforme apresenta Gilberto Freyre (2006) no livro Casa-grande e senzala.
Uma contribuição interessante da seção é o ponto de vista dos viajantes, como observadores privilegiados da natureza brasileira e, por conseguinte, da doença. Sua visão permite que o leitor tome contato com o imaginário da doença no Brasil desde os primórdios de sua construção. “Constatamos que a literatura dos viajantes é uma fonte importante para o estudo da história da saúde e das doenças dentro das novas perspectivas historiográficas que, ampliando seu campo de pesquisa, possibilitam entender toda trama que tece a existência humana” (p.144).
Ao longo dos capítulos que compõem essa parte do livro, o medo, base do imaginário da doença, aparece de forma bastante explícita, seja como correlato da descrição, do isolamento, excesso e indiferença nas narrativas sobre a gripe espanhola em São Paulo; ou como a imagem da Hospedaria Central na ilha das Flores como local de exclusão e de difusão do medo. É interessante notar que o medo que parece estar no passado é apontado em um campo da doença bastante presente na atualidade: o do tabaco, que muitas vezes não pode ser citado ou tem sua historicidade abafada com base em argumentos médicos que remetem à cultura do risco. Essa hegemonia do medo é tão paralisante que a discussão é considerada muitas vezes criminosa, perdendo-se, com isso, interessantes estudos sobre o modo como o brasileiro fuma.
Tais reflexões são capazes de mostrar ao leitor que a doença, no arcabouço do imaginário apresentado na primeira parte, é um campo caracterizado pelo sofrimento e pela consciência da experiência mórbida. Dessa forma, a “cultura fornece aos indivíduos os limites dentro dos quais se operam as interpretações relativas aos fenômenos corporais e, em particular, a doenças e seus sintomas” (p.215).
Os medos, que perpassam toda a coletânea, são retomados na terceira parte, que se dedica ao estudo de sua difusão, e o expoente que perpassa os três capítulos da seção é a eugenia, como o gatilho que reedita rupturas e permanências acerca das doenças e medos sociais. Ela está presente nas “Metáforas roubadas à doença: particularidades do discurso racista” (p.251) que tomou conta do Brasil na Era Vargas, quando os judeus eram conhecidos como “cancro social” (p.255) e, nas palavras da época, “proliferavam como parasitas”, ou mesmo quando se acreditava que os estrangeiros poderiam ser abrasileirados – uma metáfora do “verniz social” (p.256).
Também é demonstrado que as ideias de uma raça superior e/ou melhorada apresentavam-se como paradigma universal; o 13o capítulo aponta como essas teorias estavam presentes nos EUA, na URSS e na Alemanha nazista por meio de sua produção cinematográfica. Esses ideais de perfeição são tratados como julgamentos morais e políticos que disseminavam o pânico de doenças não existentes e de medos sociais que fizeram nações tentar a destruição de outras nações ou culturas.
A quarta e última seção do livro se dedica à questão das fontes para a história das doenças. A apresentação do projeto “Guia dos arquivos das santas casas do Brasil, século XVI ao XX”, cujo objetivo é compreender as fontes sobre história e doença “explorando o modo como esses fragmentos [de documentos] assumem significados da tessitura de relações mais amplas” no contexto da relação das santas casas com a doença e os medos sociais e a polarização desses medos na cultura brasileira (p.337), busca sensibilizar o público – além de historiadores, arquivistas e biblioteconomistas – para a necessidade de realizar a preservação documental como responsabilidade de todos, por se tratar de um processo contínuo que contém mais do que memórias, mas o caráter identitário das doenças e medos sociais.
Outra vertente contemplada é a salvaguarda de documentos por uma instituição. Nesse contexto, é apresentado o Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, cujo objetivo é “reunir, preservar e dar acesso aos registros relevantes sobre a trajetória das Ciências Biomédicas e da Saúde Pública, bem como atuar como centro de referência e informação nessas áreas” (p.353). Vale ressaltar que a autora do capítulo destaca o projeto “Memória e história da hanseníase no Brasil através de seus depoentes (1960-2000)” como um exemplo do uso da história oral como forma de demonstrar a singularidade a partir da abrangência de aspectos tratados nos depoimentos.
O livro é encerrado com a apresentação da Rede Brasileira de História e Patrimônio Cultural da Saúde ressaltando que ela pode atuar como um dos braços da participação social na saúde, prevista na Constituição de 1988, e salvaguardar o que se refere à identidade, à memória e à ação da sociedade brasileira, em especial do Ministério da Saúde. Além disso, nesse último capítulo está contida a estrutura da Coordenação Geral de Documentação e Informação da Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e das instituições representadas na Rede, sendo um guia bastante rico para os que iniciam seus estudos sobre o tema.
É de suma importância reiterar que o objetivo de instigar o debate sobre a história da doença, sua correlação com os medos sociais e a repercussão no meio social, e a forma pela qual esse processo se dá tanto na cultura ocidental quanto, mais especificamente, no Brasil, é cumprido com excelência. Ainda há muito espaço para estudos sobre esse tema, e novos debates só têm a contribuir com o campo.
Recomendo o livro para os que estão iniciando tanto graduações em ciências da saúde quanto em ciências humanas devido à riqueza na ilustração da história das doenças e suas representações sociais com foco no contexto brasileiro. Aos que já estão na área há mais tempo a leitura pode incentivar novas ideias e promover debates sobre esse tema ainda pouco explorado.
Referências
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. São Paulo: Global. 2006. [ Links ]
Vanessa Nolasco Ferreira – Doutoranda, Ciências da Saúde/Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz. E-mail: vnolascoferreira@gmail.comBrasil
Le médicament qui devait sauver l’Afrique: un scandale pharmaceutique aux colonies – LACHENAL (HCS-M)
LACHENAL, Guillaume. Le médicament qui devait sauver l’Afrique: un scandale pharmaceutique aux colonies. Paris: La Découverte, 2014. 283pp. Resenha de: CORREA, Sílvio Marcus. Uma chave para a África. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 supl. Rio de Janeiro Dec. 2015.
Desde o início do século XX, a chamada doença do sono era um grande desafio à medicina tropical.1 Durante a Partilha da África, a doença tomou proporções alarmantes. Na década de 1920, a Alemanha já tinha perdido as suas colônias no continente africano, quando a imprensa deu notícias sobre uma nova wonder drug, considerada a “chave para África” (A key…, 1 set. 1922). O Bayer 205 foi tido como um medicamento promissor no combate à tripanossomíase africana. Estariam os alemães aptos a reaver suas colônias? (Das deutsche…, 22 set. 1922).
A Segunda Guerra Mundial poria fim a qualquer projeto colonial do Terceiro Reich. Quanto ao Bayer 205, sua eficácia foi superada por outro medicamento da indústria farmacêutica: a Lomidina®. A história da Lomidina corresponde a uma fase pouco conhecida, mas capital, da luta colonial contra a doença do sono. Sobre ela, tem-se, agora, o livro de Guillaume Lachenal, mestre de conferências junto ao departamento de história e filosofia das ciências na Universidade Paris-Diderot.
O “medicamento que deveria salvar a África” suscitou uma série de dúvidas e incertezas quanto à sua eficácia, à sua posologia etc. Apesar disso, o medicamento foi usado na quimioprofilaxia contra uma doença tropical que debilitava a saúde dos trabalhadores.2 Na África portuguesa, as campanhas de vacinação se intensificaram até os últimos anos do colonialismo.3 Em Angola, algumas sociedades de capital privado tinham o seu próprio serviço de saúde. Na Companhia de Diamantes de Angola (Diamang), por exemplo, havia uma sessão autônoma chamada Missões de Profilaxia Contra a Doença do Sono (Varanda, 2014).
Mas, durante a euforia da utopia higienista colonial, houve uma hecatombe em Yokadouma, um vilarejo na parte oriental dos Camarões, então sob domínio colonial francês. Em meados de novembro de 1954, dezenas de pessoas morreram depois de terem sido vacinadas por uma equipe do serviço de higiene e de profilaxia responsável pela aplicação da Lomidina. O acidente de Yokadouma se inscreve numa história da medicina tropical que revela o lado falível, presunçoso e geralmente encoberto pela grandiloquência do discurso colonial. Para tratar disso, o autor evoca o valor heurístico da noção de “besteira colonial”. Para Lachenal, a besteira não remete a uma deficiência da razão, mas a uma possibilidade intrínseca à razão. Pela confiança desmesurada nos procedimentos científicos, a razão pode tornar-se uma obstinação. A besteira não raro se confunde com arrogância. Por isso, ela se caracteriza pelo excesso e não pela falta de razão. A obstinação em erradicar a doença do sono e os métodos empregados como as campanhas de lodiminização preventiva fazem parte daquilo que o autor chamou de “besteira colonial”.
No entanto, diante da morte de dezenas de pessoas e dos graves ferimentos de centenas de outras, além dos traumas, humilhações e coerções a que foram submetidos milhares de indivíduos durante as campanhas periódicas de lomidinização, a “besteira” pode vir a significar muito pouco e não passar de mero eufemismo.
Embora a análise do autor tenha ficado circunscrita aos (ab)usos da Lomidina, cabe informar que outras “besteiras” como o desmatamento e mesmo a matança de animais selvagens foram práticas largamente adotadas nas campanhas de controle ou erradicação da tripanossomíase africana (Correa, 2014).
O “império da besteira” não se restringiu às fronteiras africanas. Enquanto Aníbal Bettencourt, Aldo Castellani, David Bruce, Robert Koch e outros buscavam decifrar a doença do sono, outras enfermidades preocupavam as autoridades sanitárias e de higiene nos trópicos. Suas técnicas e métodos no combate a certas epidemias não foram diferentes. Uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola levou a uma revolta no Rio de Janeiro em 1904 (Chalhoub, 1996). No Brasil meridional, campanhas sanitárias para erradicação da malária tiveram por alvo algumas bromeliáceas, reservatórios naturais à proliferação dos mosquitos anofelinos (Oliveira, 2011). Ou seja, a presunção ou arrogância de uma razão médica, o autoritarismo e a violência de certas medidas de higiene, sanitárias ou profiláticas não foram apanágios do colonialismo em África. Dito de outro modo, a “besteira colonial” teve suas similares em contextos pós-coloniais.
Ao tratar de um medicamento considerado “a chave para África”, Guillaume Lachenal brinda com uma abordagem inovadora, em termos teóricos e metodológicos, a historiografia da medicina tropical.
Referências
A KEY…A key to Africa. Rhodesia Herald. 1 set. 1922. [ Links ]
BETTENCOURT, Aníbal.La maladie du sommeil: rapport présenté au Ministère de la Marine et des Colonies par la Mission envoyée en Afrique Occidentale Portugaise. Lisboa: Libanio da Silva. 1903. [ Links ]
CHALHOUB, Sidney.Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras. 1996. [ Links ]
CORREA, Silvio M. de Souza. Evicção da fauna bravia: medida radical de saneamento na África colonial. Revista de Ciências Humanas, v.14, n.2, p.410-422. 2014. [ Links ]
DAS DEUTSCHE….Das deutsche Schlafkrankheitsmittel: der Schlüssel zu Afrika in deutscher Hand. Lüderitztbuchter Zeitung. 22 set. 1922. [ Links ]
OLIVEIRA, Eveli S. D’Ávila. O combate à malária em Florianópolis e suas implicações ambientais. Tempos Históricos, v.15, p.405-429. 2011. [ Links ]
PICOTO, José. Assistência médico-cirúrgica na Luanda pelo serviço de saúde da Diamang. Anais do Instituto de Medicina Tropical, v.10, n.4. (separata). 1953. [ Links ]
VARANDA, Jorge. Cuidados biomédicos de saúde em Angola e na Companhia de Diamantes de Angola, c. 1910-1970. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.21, n.2, p.587-608. 2014. [ Links ]
VINTE ANOS DE LUTA…Vinte anos de luta contra a doença do sono, 1946-1965. O Médico, n.792, p.17. (separata). 1966. [ Links ]
Notas
1 Angola, por exemplo, acolheu uma das primeiras expedições científicas para o estudo da doença do sono (Bettencourt, 1903).
2 Para ficar num exemplo, ao elogiar a assistência médico-cirúrgica do serviço de saúde da Diamang, o doutor Fernando Correia afirmou que a referida sociedade mineradora acabava também “por lucrar economicamente, visto que a economia de saúde e de vidas se repercute sempre, mais cedo ou mais tarde, direta ou indiretamente, sobre a produção” (citado em Picoto, 1953, p.2703).
3 Em 1963, pelo decreto n.45.177, foi criada a Missão de Combate às Tripanossomíases (MCT) que, no ano seguinte, entrou em ação. O escopo da nova organização era “a luta total, em todos os campos, contra as tripanossomíases consideradas nos múltiplos aspectos-médico, veterinário, entomológico, agronômico, etc.” (Vinte anos de luta…, 1966, p.17). Entre outras atividades da MCT, a campanha de pentamidinização em Angola foi reconhecida do outro lado do Atlântico. Em 20 de agosto de 1970, em sessão realizada na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, o médico brasileiro Olympio da Fonseca Filho fez elogios à obra de Portugal no combate à doença do sono.
Sílvio Marcus de Souza Correa – Professor, Programa de Pós-graduação em História/Universidade Federal de Santa Catarina. silvio.correa@ufsc.brBrasil




