Para sanar/ fortalecer y embellecer los cuerpos. Historia de la gimnasia en la ciudad de México/1824-1876 | María José Garrido Asperó
El libro de María José Garrido, Para sanar, fortalecer y embellecer los cuerpos. Historia de la gimnasia en la ciudad de México, 1824-1876, se suma a una escasa pero creciente tendencia de producción historiográfica acerca de las prácticas físicas en América Latina. Sobre el caso específico de la ciudad de México, la autora se concentra en contrastar la tesis generalizada según la cual los deportes modernos tuvieron su introducción durante el periodo porfirista (1876-1911), y que fue la pacificación, la apertura al comercio internacional, la modernización y la industrialización del país los factores determinantes en la importación de nuevos patrones de recreación que finalmente fueron adoptados, nacionalizados y popularizados por los habitantes de México. La aceptación de esta tesis constituyó un obstáculo para que los historiadores se preguntaran sobre procesos históricos relacionados con las prácticas físicas de los mexicanos con anterioridad al régimen de Porfirio Díaz, lo que condujo, a su vez, a la concepción de que en el desarrollo de la educación física y de actividades corporales competitivas no habrían intervenido otros factores distintos a los mencionados.
En un libro anterior —Peloteros, aficionados y chambones. Historia del Juego de Pelota de San Camilo y de la educación física de la ciudad en la Ciudad de México, 1758-1823—, María José Garrido mostró que el juego de la pelota vasca o frontón fue introducido en la Ciudad de México durante el periodo borbónico siguiendo un patrón competitivo, al mismo tiempo que la educación física fue incorporada al proyecto educativo de los borbones gracias a una transformación en la idea del cuerpo humano, el cual dejaría de oponerse al alma y pasaría ser un elemento central de la moralización del ser humano. Leia Mais
Gaëtan Souchet D’Alvimar/ filibustero y artista/ sus dos visitas a México: 1808 y 1822 | Arturo Aguilar Ochoa
En las postrimerías de la Nueva España ocurrió un fenómeno interesante: viajeros de diversas partes del mundo, pero principalmente de Europa, se interesaron por conocer las maravillas naturales de América septentrional. El virreinato, receloso de los intereses de los extranjeros, obstruyó el tránsito a muchos de ellos, de manera que algunos visitantes fueron calificados de filibusteros, es decir, sujetos con intenciones de llegar a un territorio y saquearlo. ¿Fue Gaëtan Souchet D’Alvimar un filibustero? ¿Cuál es el origen de este personaje? ¿Cuáles fueron sus intenciones en las visitas a Nueva España en 1808 y 1822? Leia Mais
D. Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil / José T. M. Mencke
Dentro do contexto de preparação das efemérides do Bicentenário da Independência do Brasil, cujo ápice dar-se-à em 2022, a Câmara dos Deputados vem lançando, gradualmente, uma série de livros de autoria do nosso confrade Acadêmico José Theodoro Mascarenhas Menck, referentes aos duzentos anos de alguns episódios que terminaram por conduzir o Brasil à sua plena emancipação política.
O projeto editorial foi concebido em 2008, sob a presidência do Deputado Arlindo Chinaglia, quando a Câmara dos Deputados comemorou o Bicentenário da Transmigração da Família Real Portuguesa para o Brasil.
Evento único na história e que indubitavelmente catalisou a série de acontecimentos que nos levariam, alguns anos depois, à nossa independência.
Entre as realizações, houve o lançamento da publicação 2º centenário da vinda da Corte Portuguesa para o Brasil: registros da visita oficial do Presidente da Assembleia da República de Portugal à Câmara dos Deputados, coordenada e revisada por nosso acadêmico, recordando o desembarque de D. João em território brasileiro.
Em 2017, já sobre a presidência do Deputado Rodrigo Maia, iniciou-se a publicação da série relacionada aos Duzentos Anos da Independência. O primeiro volume, D. Leopoldina: Imperatriz e Maria do Brasil, recorda os duzentos anos do desembarque de D. Maria Leopoldina na então sede do Reino Unido Portugal, Brasil e Algarves, a cidade do Rio de Janeiro. Nesse livro, nosso colega acadêmico Menck, a par de escrever uma breve biografia de nossa primeira Imperatriz, recorda sua conversão à causa do Brasil, bem como toda sua enorme e determinante contribuição para a Independência de nossa pátria. O texto esboça um retrato psicológico da princesa austríaca, revelado por suas cartas, e esmera-se em detalhar o processo político subsequente ao retorno de D. Joao VI a Portugal, dando justo destaque ao arguto papel de D. Leopoldina nos bastidores da construção da nossa Independência. Retrata, enfim, seus últimos meses de vida e as tristíssimas circunstâncias de seu falecimento, com apenas 29 anos.
No ano seguinte, 2018, a Câmara dos Deputados lançou o livro D. João VI e a Construção das Bases do Estado Nacional, também assinado por Menck, que recorda os duzentos anos da Aclamação de D. João VI como Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nunca é demais recordarmos que a Aclamação de D. João VI, ocorrida no Rio de Janeiro em 1819, foi um evento singular na história: um monarca europeu sendo aclamado na América. Menck aproveitou a ocasião para recordar em seu livro o amor de D. João pelo Brasil, bem como a sua ingente obra legislativa e administrativa, fundamental para a construção das bases do Estado Nacional brasileiro.
Em 2019, por ocasião dos duzentos anos do retorno ao Brasil do Conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, Menck preparou mais um volume da série, dedicado à biografia da singular personagem que era o Patriarca de nossa Independência. José Bonifácio de Andrada: Patriarca da Nacionalidade objetivou recordar a imprescindível contribuição do grande brasileiro para a consolidação de nossa emancipação política, bem como de nossa integridade territorial. Aspectos menos conhecidos da sua vida, como sua carreira acadêmica e suas contribuições à mineralogia, surpreenderão alguns leitores.
Neste ano de 2020 temos a comemoração dos duzentos anos da eclosão da Revolução Constitucionalista do Porto. Por conseguinte nova publicação da série está no prelo das Edições Câmara, desta vez um livro que agrega contribuições de vários autores, sob a coordenação do nosso colega acadêmico.
Antecipando alguns elementos desse novo volume, lembremos que a Revolução Constitucionalista do Porto de 1820, ainda que ocorrida na Europa e pouco lembrada no Brasil, é, sim, parte integrante da nossa história. Os eventos que levaram à explosão do movimento revolucionário em Portugal é, também, parte da história do Brasil. Éramos integrantes de um mesmo reino e o caminho escolhido pelos portugueses, de buscar a prosperidade pretérita pela retomada de uma política colonial, em detrimento do Brasil, terminou por desatar os vínculos que nos mantinham unidos a Portugal.
A série representa uma importante contribuição para a já rica literatura a respeito da nossa Independência. Da leitura desses textos depreende-se a visão de Menck sobre o caráter cumulativo das contribuições de diversas personagens para a construção da nossa emancipação. A Independência foi fruto de uma série de atos que foram se somando ao longo do tempo e que terminaram por convencer os portugueses nascidos na América da inviabilidade da manutenção dos vínculos com a porção europeia da monarquia dos Bragança. A complexidade do processo histórico é revelada, passo a passo, esses textos agradáveis e informativos, registrando não apenas os dilemas vividos pela população e pela elite do país que então se formava, mas também os méritos de mulheres e homens extraordinários que, chamados à linha de frente do embate político, construíram de modo deliberado a nação que chamamos de pátria.
A série convida o leitor a se aprofundar no conhecimento da nossa História e a constatar que um país é obra não apenas coletiva, mas, igualmente, fruto do labor, das aspirações e das lutas de várias gerações de pessoas destacadas.
A Câmara dos Deputados tem realizado, a cada ano, exposições sobre os mesmos temas dos livros e o lançamento de uma série postal que comemora as efemérides correspondentes. Em um momento de profundas clivagens ideológicas e de questionamentos que afetam nossa percepção de soberania e de união nacional, é uma contribuição particularmente bem-vinda.
Bernardo Felipe Estellita Lins – Acadêmico ocupante da Cadeira 43, patroneada por Roberto Simonsen, na qual tomou posse em 11 de março de 2019.
MENCK, José Teodoro Mascarenhas. D. Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Brasília: Edições Câmara, 2017; MENCK, José Teodoro Mascarenhas. D. João VI e a construção das bases do Estado Nacional. Brasília: Edições Câmara, 2018. MENCK, Teodoro Mascarenhas. José Bonifácio de Andrada: patriarca da nacionalidade. Brasília: Edições Câmara, 2019. Resenha de: LINS, Bernardo Felipe Estellita. Série: Duzentos anos da Independência do Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, Brasília, n.10, p.243-246, 2020. Acessar publicação original. [IF].
La guerra en cautiverio. Los prisioneros de la Guerra del Pacífico (1879 – 1884) | Patricio Ibarra Cifuentes
Patricio Ibarra Cifuentes, Doctor en Historia por la Universidad de Chile, nos presenta el libro La guerra en cautiverio. Los prisioneros de la Guerra del Pacífico, el autor explora una temática muy poco conocida, la de los prisioneros capturados durante la Guerra del Pacífico. El conflicto que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia trajo como consecuencia la movilización de miles de hombres que lucharon por la victoria de sus países. Tras el fin del combate, muchos de ellos fueron tomados como prisioneros de guerra. Leia Mais
En los márgenes. Rhodakanaty en México | Carlos Illades
Dentro de la historiografía mexicana, en lo que se refiere al siglo XIX, la mayor parte de los estudios se concentran en los primeros años del siglo antepasado y en los procesos que han configurado al Estado nación, es decir: en los últimos años del dominio del imperio español sobre el territorio de la Nueva España; en el “bienio crucial” (1808-1810), del cual se desprendería el germen del movimiento independista; en el propio proceso de independencia; en la formación territorial, jurídica, simbólica y política de la incipiente nación; y, ya más avanzado el siglo, en las disputas entre liberales y conservadores; pasando por las grandes gestas de la historia oficial que han dotado de significado el sentimiento pátrio. Leia Mais
Dios y libertad. Félix Frías y el surgimiento de una intelectualidad y un laicado católico en la Argentina del siglo XIX | Diego Castelfranco
Dios y libertad…, es una versión en formato libro de la tesis doctoral de Diego Castelfranco, defendida en la Universidad Nacional de General Sarmiento en 2018. Centrado en la vida de Félix Frías, el libro combina el registro biográfico –concebido en este caso como un “recurso” para adentrarse en la historia política del siglo XIX– con algunos de los recientes aportes de la historia intelectual. Tanto en lo que atañe a la dimensión sociológica –es decir, la reconstrucción de espacios de sociabilidad y redes de circulación de textos, escritos y personas– como al registro de los denominados “lenguajes políticos”. Una perspectiva mucho más enunciada que efectivamente transitada en la historiografía argentina pero que en Dios y libertad...adquiere peso específico. Leia Mais
Sensibilidades políticas en coyunturas de crisis y cambio. Propuestas y casos sobre el siglo XIX argentino/Anuario del Instituto de Historia Argentina/2020
Desde hace algunas décadas el estudio de la historia política argentina del siglo XIX se encuentra en constante desarrollo y renovación. En este marco, para el presente dossier convocamos a reconocidxs investigadorxs con el propósito de que aportaran desde sus estudios a la reflexión sobre coyunturas particulares de crisis y cambio a lo largo del siglo, en clave de sensibilidades políticas. Desde la óptica de variados actores y problemáticas se hacen presentes aquí la guerra de Independencia, la convivencia del federalismo y el unitarismo en el espacio de las provincias durante los años 1830, la construcción de un nuevo orden con posterioridad a Caseros en la “Confederación”, y, finalmente, el clima de la elección y asunción presidencial de Julio A. Roca en el fin de siglo. Leia Mais
El último cacique en resistencia. Valentín Sayhueque/Nordpatagonia (1870-1910) | Sofía Stefanelli
El libro que aquí se reseña ha sido prologado por el Dr. Enrique Mases y reúne una introducción, cinco capítulos que recorren las características de las sociedades nativas a fines del siglo XIX y las readaptaciones de sus últimas jefaturas frente al avance del estado sobre las fronteras indígenas dedicando particularmente estudio a las relaciones y acciones en torno al “Gobernador indígena de las Manzanas y Principal de los Guilliches”, Valentín Sayhueque y reflexiones finales. Leia Mais
Graeco-Roman Antiquity and the Idea of Nationalism in the 19th Century. Case Studies | T. Fögen, R. Warren
El libro, fruto de un congreso organizado por los editores en Durham en junio de 2013, reúne estudios de caso sobre el uso de la Antigüedad clásica durante los nacionalismos en el siglo XIX. La obra consta de once artículos, donde se analizan casos de Estados europeos desde diferentes disciplinas. Leia Mais
Iglesia Atlântica. Iglesia universal. Iglesia romana. Escenarios de la modernidad Católica en el siglo XIX / Almanack / 2020
La iglesia es un mundo”, tituló Emile Poulat uno de sus libros en 1984 [5]. Con esta expresión el intelectual francés daba cuenta de la multiplicidad de aspectos y facetas que abarca la iglesia: es una institución, una comunidad creyente, una cultura, un complejo de templos, conventos, colegios, una infinidad de prácticas y costumbres… . En la medida en que el catolicismo, en tanto religión universal, procuró su expansión globalmente, también es un mundo a escala geográfica, que amplía todavía más su multiplicidad. Pero también en esa expresión puede leerse una advertencia de época. Porque, si bien la iglesia es todo un mundo, es sólo uno, al lado de otros muchos mundos que pueden convivir, no sólo en una misma nación, sino incluso en un mismo individuo. Charles Taylor ha hecho extensiva esta situación para todas las religiones en en la “era secular”: la característica de la modernidad religiosa no es la desaparición de la creencia, sino la posibilidad de no creer[6]. Analizar el catolicismo y su iglesia en clave transnacional durante el siglo XIX implica reconocer esas dos dimensiones: su diversidad y su coexistencia con nuevos marcos de referencia, nuevas instituciones y prácticas que pretendían, también, matrizar la vida de los pueblos.
En términos metodológicos, el impacto que tuvo y sigue teniendo en los últimos años la ola de las historias globales (transnacional, interconectada..) en los estudios de historia de la Iglesia y del catolicismo dan cuenta de que había mucho para aportar desde esos puntos de vista. El gesto metodológico más valioso de los nuevos estudios que adoptan este enfoque transnacional no es reconocer la condición mundial de la Iglesia y el catolicismo, sino hacer de las formas concretas en que se expresa esa condición parte del objeto de estudio.
Si bien esa advertencia es válida desde los siglos XV y XVI, cuando las sociedades cristianas entraron en contacto fluido con culturas y pueblos ajenos a sus marcos de referencia originales -en un proceso que José Casanova llama globalización sin occidentalización (Casanova, 2020)-, es más importante considerarla a la hora de historiar el mundo atlántico en el siglo XIX. En ese espacio y período cobraron fuerza dos fenómenos que, por su enorme potencia transformadora y, sobre todo, por el éxito que tuvieron hacia el siglo XX, invadieron el panorama que observaba el historiador hasta casi hacer desaparecer todo lo demás. Nos referimos a la construcción de los estados nacionales y a un proceso de cambio religioso que, en el espacio católico, supuso el triunfo de la corriente ultramontana por sobre otras alternativas para pensar el catolicismo en las sociedades modernas. Para plantearlo gráficamente, la historia de la iglesia en el siglo XIX se leyó en la clave que ofrecían la declaración de la infalibilidad papal, el Syllabus y la caída de Roma en manos del naciente Estado italiano.
De tal manera, la historia de la Iglesia en el mundo occidental se presentaba como una réplica a escala nacional de esa lucha matriz: las iglesias locales enfrentando los impulsos laicistas de los estados nacionales, bajo la dirección del papa. En ese esquema, las variables a estudiar eran fundamentalmente nacionales o sub nacionales: jerarquías eclesiásticas, clero, laicado. Podría objetarse que ese enfoque nunca perdía de vista la centralidad de Roma en la dirección de esas luchas de las iglesias locales contra la modernidad. De hecho, es en ese relato que cobra sentido la idea de “romanización”: un proceso por el que las iglesias periféricas (en nuestro caso, las amaericanas) habrían sido subordinadas y homogeneizadas en sus formas a la autoridad papal. Sin embargo, en la medida en que la acción del papa era un dato constante e independiente del caso que se estudiaba, los vínculos entre los actores locales y la Iglesia universal eran incorporados al análisis, pero siempre en forma de contexto. Es que, en última instancia, el papa era la contracara simbólica de otro dato contextual: la modernidad.
Hace unos años, todo este cuadro está sufriendo críticas muy fértiles. Por un lado, el modelo clásico de modernidad, tal como fue impulsado desde los países “occidentales”, es hoy considerado sólo como un proyecto, pero no como la única expresión posible de la modernidad. Por el otro, y de manera solidaria, también está siendo revisada la forma de entender los proyectos y actores que se oponían a ese modelo: puede llamársele reacción o corriente contra revolucionaria. La hipótesis de trabajo hoy es que, en diversos espacios se vivieron procesos de modernización específicos (aunque interconectados) sin que existiera un único sentido posible para ellos, pero también que, incluso en los espacios donde esa modernidad tomó sus formas clásicas, como en la Europa occidental, las expresiones de disidencia, lejos de ser elementos anacrónicos y externos a esos procesos, también deben ser consideradas parte esencial de esas modernidades. Y esto por dos motivos. Primero, porque en la confrontación, los movimientos contrarrevolucionarios y conservadores se vieron obligados a cambiar en sus métodos y contenidos, y ello los llevó a compartir muchas de las características y herramientas de sus contrincantes (la prensa periódica, la movilización popular, la organización de redes transnacionales). Segundo, porque su acción también obligó a las fuerzas herederas de la revolución a reformularse y repensar sus objetivos.[7]
A la luz de estas novedades, la imagen del catolicismo decimonónico se está viendo fuertemente transformada. Ya no se trata de un actor retardatario y anacrónico dirigido autocráticamente por el papa bajo el libreto del Syllabus. El catolicismo es un mundo de intereses, representaciones y actores donde resuena, con tonalidades locales, el cambio político, cultural y económico acelerado a nivel global desde fines del siglo XVIII. Los artículos publicados en este dossier se nutren de diferentes enfoques nucleados en la gran familia de la historia global para analizar ese catolicismo en contexto de modernidad. Hay dos ejes que nos permiten relacionarlos porque uno u otro, en muchos casos ambos, se hallan presentes en todos los trabajos.
Uno es el de la dimensión atlántica del catolicismo en el siglo XIX. Luca Cordignola demuestra la fertilidad de abandonar el marco “nacional o subnacional” para analizar un elemento clásico de la historia eclesiástica: la “mala conducta” de los sacerdotes. Cordignola muestra muy claramente que, en regiones de fuerte inmigración como las del norte de América (y también podríamos decir del sur de ese continente) las normas residían en los territorios, pero también se desplazaban con las personas. ¿con qué criterios juzgar el desempeño de un párroco inmigrante? ¿con los de las autoridades de su destino?¿con las costumbres de su lugar de origen? ¿con las de sus feligresías también inmigrantes? Pero además, ¿cómo fueron modificados esos criterios por la misma experiencia inmigratoria y, fundamentalmente, por las condiciones extremas de los territorios en los que estos sacerdotes oficiaban? En este sentido, es fundamental considerar la convivencia de gentes de múltiples orígenes y religiones, y las enormes distancias que separaban a los sacerdotes de sus autoridades para entender la laxitud o rigidez exigida en términos de conducta personal a los sacerdotes. Sin un enfoque transnacional es imposible comprender estos fenómenos.
El artículo de Ferreira y Guedes, junto con el de Codignola sacan buen partido de una modalidad específica de la historia atlántica: el estudio a escala de imperio. Los autores muestran que, en el marco del imperio portugués, la condición colonial o de misión de Brasil y Angola otorgaba cierto marco legal común: en este caso, las normas para celebrar y registrar bautismos en Luanda eran las que había dispuesto el arzobispo de Bahía. Una disposición lógica si se considera que muchos africanos fueron bautizados en esa ciudad (la principal exportadora de esclavos) para ser luego trasladados y vendidos en Brasil. Sin embargo, ello no significa que la norma era aplicada de manera homogénea en contextos tan diversos: hacia fines de siglo XVIII en Luanda era común el del bautismo masivo sobre lotes de esclavos antes de ser enviados al Brasil, práctica impensada por el arzobispo de Bahía. Por otro lado, el reconocimiento de la escala imperial operando en prácticas y normas sobre el bautismo, permiten a los autores salvar vacíos documentales ensayando comparaciones entre Angola y Brasil bajo la hipótesis de análisis de un compadrazgo atlántico. Por otro lado, los autores señalan que el bautismo en Luanda era parte de la trata atlántica de esclavos. Por medio de ese rito y del compadrazgo los esclavos buscaban evitar la deportación para América. El bautismo y el compadrazgo eran, en definitiva, signos de jerarquía en la sociedad de Luanda.
El trabajo de José Ramón Rodriguez Lago, ubicado temporalmente en el otro extremo del siglo, nos muestra un mundo atlántico totalmente transformado por el vertiginoso desarrollo político y económico de Estados Unidos y el ocaso definitivo del imperio ibérico en América. Rodríguez Lago da cuenta de dos fenómenos fundamentales (y sorprendentemente poco explorados) para entender el catolicismo occidental contemporáneo: el creciente peso del catolicismo y del poder político estadounidenses en la transformación de la Iglesia católica durante el siglo XX, y la profunda transformación que vivió el poder papal en sus formas de entender y ejercer el poder eclesiástico y su rol en el nuevo mapa geopolítico mundial.
Y este punto nos lleva al segundo eje que mencionábamos arriba: el de la transformación de la figura y el poder papales en este largo siglo XIX. El breve pero muy rico trabajo de Carlo Fantappiè [8], (cuya versión portuguesa se publica por primera vez en Brasil en la página de Almanack en la sección “Texto em Destaque”), da algunas claves para la comprensión de esa dinámica en el largo plazo. En resumidas cuentas, el trabajo de Fantappiè nos advierte que es imposible entender la vocación de dominio universal del papado sin considerar su predisposición a adaptar ese dominio a las circunstancias geográficas e históricas precisas. Así, nos habla de estrategias que oscilan entre “adaptación” y “disciplinamiento”, entre “inculturación” y “aculturación”, cuando el ordenamiento católico debe ser aplicado en contextos muy diferentes. Es una lógica en la que la representación del poder como “centro” y “periferia” debe necesariamente revisarse. En ese constante trabajo de negociación y adaptación, Iglesia y Estado modernos se nos presentan como el producto de un proceso de imitación reciproca cuyo producto final, en el espacio eclesiástico, será la codificación del derecho canónico en 1917, no casualmente, al cierre del largo siglo XIX.
Esas lógicas de imitación recíproca de dos esferas que comenzaban a diferenciarse cada vez más, la secular y la espiritual, pueden identificarse en el trabajo de Ivo Silva sobre las resonancias atlánticas del anticlericalismo brasileño del siglo XIX. Por supuesto que la contestación religiosa no es una novedad del mundo moderno, pero los muy fluidos diálogos y referencias internacionales que reconstruye Silva para el anticlericalismo brasileño sólo pueden entenderse en diálogo con la difusión, también internacional, de un discurso clerical que se expandía por los mismos medios y con las mismas herramientas que utilizaban sus adversarios. A tal punto es esto así, que al autor se le hace difícil (podríamos agregar, vano) determinar si fue primero el clericalismo o el anticlericalismo en esta clave moderna.
El discurso clerical que combatían con tanta pasión los anticlericales de Brasil y de todo el mundo, fue parte de un proceso, también global y de amplio alcance, que podríamos describir con dos términos clásicos, que han sido sin embargo sustancialmente modificados en los últimos años: ultramontanismo y romanización. Los trabajos de Benedetta Albani y Anna Clara Lemmans Martins, por un lado, y de Italo Santirocchi y Pryscylla Cordeiro, por el otro, abordan aspectos concretos de esos fenómenos. En el caso del primero, es parte de un vasto proyecto institucional con sede en el Instituto Max Planck de Frankfurt, que desde hace varios años estudia la presencia del poder papal en las iglesias del mundo ibérico. En esta ocasión se concentra en la imagen que poseían los juristas brasileños sobre las características y el funcionamiento de los dicasterios romanos. En este trabajo el carácter transnacional de la autoridad papal se analiza en sus diferentes dimensiones: por un lado, el pensamiento jurídico sobre esa autoridad es parte de una red de producción y circulación transnacional que pone en evidencia, en el peso de la literatura de origen europeo, pero no italiano, el carácter multilateral del impulso romanizador; por otro lado, la consideración en suelo brasileño de la validez de las disposiciones de la congregaciones romanas y el peso de esas disposiciones sobre la autoridad episcopal permite evaluar la dimensión, pero también las formas específicas que fue adquiriendo el poder romano en este período y espacio específicos.
El artículo de Italo y Pryscylla Santirocchi analiza aspectos transnacionales de un instituto religioso católico: la Congregación de la Misión. Éste se presentó como uno de los protagonistas del proceso de reforma ultramontana en varias partes del mundo, debido a su cultura religiosa, que se desarrolló desde su creación en el siglo XVII. En la liña de Carlo Fantappiè, los autores reflexionan sobre los esfuerzos de esa congregación para evitar roces entre el contexto local y su propuesta universalizante. Centrando su atención en las misiones, analizan la organización jerárquica y los procesos de disciplinamiento, los instrumentos formativos, las reglas del instituto y los trazos de su cultura misional, para luego mostrar cómo se daba la flexibilización de las reglas y las directrices centrales, así como las consecuencias de la desobediencia a esas reglas, en un contexto geográfico particular: Ceará, provincia del imperio de Brasil. El artículo permite percibir cómo la reforma ultramontana sólo fue posible en diálogo estrecho con la religiosidad popular brasileña a pesar de ser un proceso global.
Notas
5. POULAT, Emile. L’Eglise, c’est un monde. L’Ecclésiosphère.Paris: Èd du Cerf, 1984.
6. TAYLOR, Charles. A Secular Age. Cambridge (Massachussetts): Belknap Press of Harvard University Press. 2007.
7. RÚJULA, Pedro y RAMÓN SOLANS, Javier, El desafío de la revolución : reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios, (Siglos XVIII y XIX). Granada: Comares, 2017. En este sentido, Vincent Viaene afirma que “…in their desire to rewrite the master narrative of modernity, historians of modernization and historians of religion are natural allies.” VIAENE, Vincent. International History, Religious History, Catholic History: Perspectives for Cross-Fertilization (1830-1914). European History Quarterly,Vol. 38(4). 2008, p. 584.
8. O texto de Carlo Fantappiè foi traduzido pela primeira vez e publicado na seção “Texto em Destaque” na página da Almanack no Portal de Periódicos da Unifesp, disponível em: https: / / periodicos.unifesp.br / index.php / alm / article / view / 11453.
Referências
POULAT, Emile. L’Eglise, c’est un monde. L’Ecclésiosphere. Paris: Ed du Cerf, 1984. [ Links ]
RUJULA, Pedro y RAMON SOLANS, Javier, El desafio de la revolucion : reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios, (Siglos XVIII y XIX). Granada: Comares, 2017. [ Links ]
TAYLOR, Charles. A Secular Age. Cambridge (Massachussetts): Belknap Press of Harvard University Press. 2007. [ Links ]
VIAENE, Vincent. International History, Religious History, Catholic History: Perspectives for Cross-Fertilization (1830-1914). European History Quarterly, Vol. 38(4). 2008, p. 584. [ Links ]
Ignacio Martínez – Universidad Nacional de Rosario. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del Conicet y docente regular de Historia Argentina I en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de Una nación para la Iglesia argentina. Construcción del estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX (2013), coautor con Diego Mauro de Secularización, Iglesia y política en Argentina. Balance teórico y síntesis histórica, y coeditor con Natacha Bacolla de Universidad, élites y política. De las reformas borbónicas al reformismo de 1918 (2018). E-mail: [email protected] http: / / orcid.org / 0000-0001-8522-6241
Ítalo Domingos Santirocch – Universidade Federal do Maranhão. Professor adjunto do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFMA. E-mail: [email protected] http: / / orcid.org / 0000-0002-3343-1283
MARTÍNEZ, Ignacio; SANTIROCCH, Ítalo Domingos. [Iglesia Atlântica. Iglesia universal. Iglesia romana. Escenarios de la modernidad Católica en el siglo XIX[. Almanack, Guarulhos, n.26, dez, 2020. Acessar publicação original [DR]
The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic | Gregory P. Downs
On April 17th, 1888, Frederick Douglass addressed a crowd that had gathered in honor of the twenty-sixth anniversary of emancipation in the District of Columbia. Douglass, the most prominent black abolitionist of the century, had recently turned seventy. He might, at this age, have been expected to look back proudly on a career that had helped bring about the liberation of four million slaves. Instead, he despaired. On that day, he described in stark terms what he had witnessed on a recent tour of the Southern States. In the South, “the landholder imposes his price, exacts his conditions, and the landless Negro must comply or starve…we shall find him a deserted, a defrauded, a swindled, and an outcast man-in law free, in fact a slave; in law a citizen, in fact an alien; in law a voter, in fact, a disfranchised man.” Emancipation, Douglass concluded, was “a stupendous fraud-a fraud upon him, a fraud upon the world.”
This scene-and others like it-have dominated the recent historiography of Reconstruction in the United States. Over the past two decades, scholars have engaged in what Carole Emberton calls “Unwriting the Freedom Narrative”-challenging a standard historical synthesis that still focuses on Lincoln’s Emancipation Proclamation as the moment when the Civil War transformed into a war for freedom.3 These narratives have also laid siege to the foundational text in Reconstruction literature-Eric Foner’s Reconstruction: America’s Unfinished Revolution 1863-1877. In 1988, Foner argued that the end of slavery marked a moment of revolutionary possibility for interracial democracy in the United States. For a brief time, a significant number of Southern whites “were willing to link their political fortunes to those of blacks,” in a massive democratic experiment “without precedent in the history of this or any other country that abolished slavery in the nineteenth century.”4 Since then, historians including Amy Dru Stanley, Stephen Kantrowitz, Ari Kelman and many others have questioned the revolutionary potential of Reconstruction. Their work has exposed the deep continuities between slavery and freedom, whether by revealing the roots of contract labor in white anti-slavery ideology, by highlighting the ambiguous meaning of freedom for black abolitionists, or by centering the devastating consequences of Northern victory for indigenous people across the continent.
In The Second American Revolution: The Civil-War Era Struggle Over Cuba and the Rebirth of the American Republic, Gregory P . Downs seeks to restore the revolutionary possibility of Reconstruction. The first part of his story points to the forceful, extralegal transformation of the U.S. Constitution between the years 1865 and 1870 as proof of the revolutionary nature of the times. During these years, the Radical Republicans in Congress relied on military force to compel Southern states to ratify three amendments that radically altered the Constitution. The 13th, 14th, and 15th amendments-which destroyed slavery and granted freedmen full citizenship rights-were only passed because Congress extended its war powers past the date of surrender. This story, largely familiar to U.S. historians, has one important analytical twist. Downs characterizes the Radical Republicans in Congress as “bloody constitutionalists.” In moments of bloody constitutionalism, he argues, “managerial revolutionaries temporarily turn to violence to implement new political systems, then try to return to peace.”5 After the U.S. Civil War, Republican congressmen did not want to enter a state of permanent revolution. Rather, they sought to force through a specific legal transformation-emancipation-and then return to “banal, normal time.”6 To Downs, this category can help explain why Americans so frequently overlook the radical “re-founding” that took place during Reconstruction, and instead hold on to a comforting idea that the Civil War saved the nation.
The second part of Downs’ story moves U.S. Reconstruction out into the Atlantic World. Here, he argues that U.S. Reconstruction was part of a series of “revolutionary waves” that began in Cuba and Mexico, reverberated into the United States, and eventually swept back out again into the Spanish-speaking Atlantic World.7 In order to support this claim, Downs begins chapter two by exploring the role that Cuba played in U.S. antebellum politics. He argues that Cuban annexationists, slaves, and revolutionaries all helped push the questions of Cuban slavery and annexation into center stage in the United States, deepening the divide over slavery that culminated in the secession crisis of 1861. In chapter three, he turns to the revolutionary possibilities that U.S. Reconstruction opened up in Cuba and Spain. Here, he argues that U.S. Reconstruction created widespread, international expectations for the end of slavery and the triumph of democracy.8 In the late 1860s, Cuban and Spanish revolutionaries both embraced these possibilities to launch republican revolutions. In Spain, these men toppled a monarchy; in Cuba, they launched a ten-year war for national independence. In Downs’ telling, the failure of Radical Reconstruction in the United States undermined Cuban independence. In 1870, President Grant refused to intervene on behalf of the Cuban insurgency. As a result, slavery “limped along” in Cuba for another twenty years.
One aspect of this story represents a remarkable challenge to the existing literature on Reconstruction. Throughout The Second American Revolution, Downs sidelines the question of whether Reconstruction marked a moment of lost “promise” for American democracy. Instead, he claims, Reconstruction history demonstrates the likely need for a third re-founding of the United States. “It may be safer to pretend that we live in a self-governing and perhaps self-correcting political machine,” Downs writes. “But the past does not confirm to our wishes. Nor does the future.”9 This stance marks a sharp break with Foner, who has recently suggested that the Reconstruction-era Constitution provided civil rights activists with the foundation for success during the twentieth century.
Yet, the role of Cuba in this argument is never entirely clear. According to Downs, the outcome of Reconstruction was determined by “managerial revolutionaries.”10 These men operated within the boundaries of the U.S. Congress or the U.S. military. Actors outside of the nation-state bear no causal force in bringing about the radicalism of Reconstruction, or its demise; rather, Cuba appears in the narrative as a new way to highlight the revolutionary nature of Reconstruction. As he puts it, “once we see the Civil War within international events, it no longer looks moderate or restorative, in its leaders’ intentions, in its methods, or in its effects.”11
This disconnect is the result of a major omission. In more than a hundred pages, Downs barely mentions the tens of thousands of Republican voters who did desire permanent revolution: the freedpeople themselves. The Republican Party only triumphed as a coalition. Northern industrialists depended on abolitionists and former slaves to destroy the planter class in the United States. Cuban revolutionaries understood this. In 1868, at the height of Radical Reconstruction, liberal elites launched the first war for Cuban independence. Within three months, they had declared all slaves behind enemy lines free. As in the United States, it was the slaves who transformed a conservative war for the nation into a radical war for abolition and democracy.
The radicalism of this moment, then, was rooted in black politics across the Atlantic World. While The Second American Revolution breaks new ground by calling for revolutionary change based on the historical experience of Reconstruction, Downs misses an opportunity to explore the roots of this revolution in a transnational struggle for black freedom. Still, as Downs explains, “this book is less a finished argument about the outcome” of Reconstruction than an invitation to engage in new explorations of transnational history.12 In this respect, the book will certainly succeed.
Notas
3. Carole Emberton, “Unwriting the Freedom Narrative: A Review Essay,” Journal of Southern History 82, no. 3 (May 2016): 377-394.
4. Eric Foner, Reconstruction: America’s Unfinished Revolution (New York: Harper & Row, 1988), xxiv.
5. Downs, The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019), 6.
6. Downs, The Second American Revolution, 6.
7. Downs, The Second American Revolution, 7.
8. Downs, The Second American Revolution, 97.
9. Downs, The Second American Revolution, 54.
10. Downs, The Second American Revolution, 6.
11. Downs, The Second American Revolution, 57.
12. Downs, The Second American Revolution, 10.
Referência
DOWNS, Gregory P. The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 2019. 232p. Eric Foner, Reconstruction: America’s Unfinished Revolution (New York: Harper & Row, 1988), xxiv.
Samantha Payne – Harvard University. Cambridge – Massachusetts – United States of America. Samantha entered the PhD program at Harvard’s University Department of History in 2015. Her research interests include the comparative history of slavery and emancipation, race, and the history of capitalism.
DOWNS, Gregory P. The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019. Resenha de: PAYNE, Samantha. The place of cuba in the global history of reconstruction. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 509-513, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão | Romário S. Basílio e Marcelo C. Galves
Em tempos em que o obscurantismo rodeia a percepção sobre a prática do historiador, o livro Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão, dos historiadores Marcelo Cheche Galves, Romário Sampaio Basílio e Lucas Gomes Carvalho Pinto, expõe as vísceras do métier, de forma a salientar o aspecto crucial da pesquisa e do trabalho em grupo, bem como a importância das agências que ainda financiam pesquisas no país.
Resultado do projeto de pesquisa “Posse, comércio e circulação de impressos na cidade de São Luís”, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista (NEMO), da Universidade Estadual do Maranhão, sob orientação do professor Marcelo Cheche Galves, a obra tem como premissa o reconhecimento de uma efetiva circulação de impressos na capitania e, posteriormente, província do Maranhão, entre o final do século XVIII e o ano de 1834. O livro resgata a existência de um comércio ativo envolvendo impressos, pouco explorado até então. O objetivo da obra é relacionar os impressos que circulavam em São Luís com importantes transformações sociais e econômicas pelas quais passava a cidade.
Ancorada em arquivos brasileiros e portugueses, a pesquisa recolheu, para identificar práticas comerciais e circulação ligadas aos impressos, informações sobre trânsito de alunos entre universidades de Lisboa e a cidade de São Luís, de funcionários régios, de autoridades eclesiásticas e de súditos buscando colocações melhores na máquina administrativa ou condições de sobrevivência. A existência de uma demanda por impressos está ligada ao que os autores definem como “razões práticas” para se ler. Nessa tipologia de impressos práticos, os historiadores elencam bíblias, gramáticas, dicionários e manuais de comércio e de Direito.
A obra faz oposição às produções que articulavam desenvolvimento econômico com desenvolvimento cultural que, segundo os autores, imprimiram sobre os estudos acerca dos impressos um tom elitista e europeizado. Com posições marcadas, os historiadores frisam a emergência de uma cultura escrita que é componente de uma São Luís em movimento.
Para os autores, o conceito de cultura escrita é o oposto do defendido pela historiografia que relacionou tal cultura à erudição. No caso dos estudos do tema no Maranhão, podemos citar Jerônimo Viveiros, que defendeu a quase nulidade de comércio de impressos na região, atrelando a ideia de atraso intelectual à “tardia” adesão da província do Maranhão ao projeto de independência do Rio de Janeiro. Caminhando em sentido totalmente oposto, os autores entendem cultura escrita como uma série de práticas amplas, funcionais e dinâmicas, que não necessariamente são eruditas.
Nesse sentido, a obra está no campo das proposições de Maria Beatriz Nizza da Silva (1973) que estudando a produção, distribuição e consumo de impressos no Rio de Janeiro a partir de 1808, propôs a “dessacralização” do livro, frisando a necessidade de fazer um contraponto aos campos dos estudos sociais e historiográficos que o entendiam de forma presa à ideia de grande obra. Essa abordagem, criticada por Silva e pelos autores de Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão, negligenciou o aspecto comercial dos impressos. Em suma, trata-se da necessidade de se fazer “uma sociologia da leitura” e encarar os livros e os folhetos como objeto comercial.
Sob a influência explícita de estudiosos que trabalharam o livro em sua dimensão social, a obra se propôs fazer uma pesquisa que encarasse o tema de forma pragmática e materialista, centralizando aspectos econômicos e sociológicos que não podem deixar de figurar nessa área de estudos. Encarar de forma materialista os impressos é ter em mente o aspecto de realidade que envolve tais documentos e poder acessar um cenário de transformações de ordem demográfica, social e econômica. A cultura escrita é aqui entendida como um componente de uma cidade em movimento.
Alguns estudos apontaram pistas acerca de fontes que seriam importantes para o desenvolvimento do livro. Márcia Abreu, em Os caminhos dos livros, apontou para a potencialidade da documentação da Real Mesa Censória ao localizar, no período de 1796 a 1826, 350 pedidos de autorizações para envio de livros vindo de Portugal para o Maranhão, número que seria inferior somente aos destinados para o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os números levantados por Abreu corroboram, segundo os autores, com a pertinência de atrelar crescimento populacional e cultura escrita. Além das colaborações importantes de Abreu para o campo, os autores citam ainda as contribuições do estudo de Iara Lis Carvalho Souza, que no livro Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo (1780-1831), apontou para o ano de 1800 a vinda de vários exemplares de “Direito natural”, de Burlamaqui, e da pesquisa de Geraldo Mártires Coelho que, estudando o Grão-Pará na época colonial, referiu-se a remessas de obras de Voltaire e Montesquieu ao Maranhão nos anos de 1813 e 1816.
O livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira, “Impressos, mercadores e autores na cidade do Maranhão”, abarca os capítulos “O Maranhão nos quadros do reformismo ilustrado português: a livraria da Casa do Correio”, “António Manuel e Manuel António, mercadores de livros – atuação dos mercadores de livros”, “O Piolho Viajante no Maranhão, seus leitores e movimentos – a recepção dos escritos”, “Gramáticas e dicionários em circulação pelo Maranhão no início dos Oitocentos – a demanda por determinada literatura, por vezes captada pela oferta” e “O Conciliador do Maranhão: produção, difusão e comercialização de literatura política em tempos de Revolução do Porto”; já a segunda parte, “O que se anuncia e o que se lê: impressos nos jornais de São Luís”, oferece aos leitores os capítulos “’Vendem-se a preços cômodos’: os impressos anunciados em São Luís” e “Catálogo dos impressos anunciados em jornais ludovicenses (1821-1834), precedido de texto com considerações acerca do catálogo.
O capítulo 1estabelece como um lugar privilegiado para observação do comércio de impressos em São Luís a Casa do Correio, que permitia o recebimento, a venda e o envio de impressos na cidade por meio de uma política de distribuição do conhecimento. As principais obras identificadas refletiam o projeto ilustrado português à época, cabendo ressaltar o predomínio de obras ligadas ao aperfeiçoamento técnico da agricultura. Assim, o principal objetivo dos autores no capítulo é discutir a materialidade da ideia de que a sociedade maranhense era, nesse momento, pouco afeita ao letramento e ao projeto de desenvolvimento de Dom Rodrigo de Souza Coutinho.
Ainda no contexto do Reformismo ilustrado, o capítulo 2 investiga a ação de dois mercadores importantes na composição de uma rede de comércio de livros nos espaços luso-brasileiros. O objetivo dos autores aí é entender o comércio no exclusivo comercial da metrópole com a colônia, não no sentido de encarar a relação como sendo parte de um entendimento acerca do conceito de periferia consumidora, mas de mapear e procurar entender dinâmicas estruturais da relação metrópole-colônia. Assim, temos no capítulo algumas considerações acerca da atuação de António Manuel Policarpo da Silva, livreiro em Lisboa e possível autor da obra, que será estudada no capítulo seguinte, O piolho viajante, do comerciante de livros no Maranhão Manuel António Teixeira e da relação que os dois estabeleceram entre si no contexto da Era Pombalina. A documentação trabalhada no capítulo é referente à Real Casa Censória e do Desembargo do Paço. A obra O piolho viajante e seu possível autor, António Manuel Policarpo da Silva é o tema do capítulo 3. Nesse cenário, os autores se esforçam por traçar o movimento de uma obra popular, concluindo que junto a clássicos de literatura religiosa, manuais mercantis, dicionários, gramáticas, literatura jurídica e política, as novelas populares tiveram espaço privilegiado naquele momento.
O capítulo 4 traz um estudo sobre a demanda por determinado tipo de literatura que pôde, segundo os autores, ser captada pela oferta. Além da documentação da Real Mesa Censória e do Desembargo do Paço, privilegiada nos dois capítulos anteriores, os autores se debruçaram sobre os anúncios impressos em jornais que circulavam em São Luís entre os anos de 1821 e 1834. O objetivo do capítulo é captar a movimentação contínua desses títulos na cidade. Na tipologia de livros ofertados, e algumas vezes requeridos pelos anúncios, há o predomínio de dicionários e gramáticas e essa tendência deve-se, de acordo com a hipótese dos autores, ao projeto de imposição da língua portuguesa posto em prática no início dos oitocentos.
Os jornais, que começam a ser fontes privilegiadas, sobretudo após a reunião das cortes de Lisboa, aparecem no capítulo 5 como principal objeto de análise. Segundo os autores, o movimento constitucional e a liberdade de imprensa potencializaram o interesse por certa tipologia de títulos. Assim, o mote do livro, que é o reconhecimento de uma efetiva circulação de impressos na capitania\província do Maranhão, pode ser observado nas páginas do jornal que os pesquisadores colocam em tela neste capítulo, uma vez que a publicização de um comércio de impressos era anunciada no Conciliador de Maranhão.
Já na segunda parte do livro, os historiadores trazem, no capítulo 6, uma análise dos anúncios de livros nos periódicos maranhenses, com o intuito de apreender o gosto literário e prático do público consumidor à época. A identificação de grupos temáticos feita pelos pesquisadores, que indicam maior interesse por publicações a respeito de Direito e Política, estão diretamente relacionadas com o momento de transformações pelas quais passava a sociedade maranhense. Por fim, no capítulo 7, os autores oferecem ao leitor a transcrição de 126 extratos de anúncios de impressos observados nos jornais da cidade entre os anos de 1821 e 1834. Trata-se sem dúvida de um repertório importante para novas pesquisas na área.
Apoiado em vasta pesquisa em arquivos situados em Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís, Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão ilumina um cenário de mudanças de ordem social e econômica, oferecendo uma análise que conjuga a ideia de dimensão social dos impressos com o contexto de transformações pela qual passava a sociedade ludovicense entre o final do século XVIII e o começo do XIX. Sua leitura deixa a sensação de que os tempos de mudanças – no passado como no presente – são particularmente preciosos para os historiadores.
Referência
BASÍLIO, Romário Sampaio; GALVES, Marcelo Cheche; PINTO, Lucas Gomes Carvalho. Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão. São Luís: Editora UEMA, 2019
Danielly Telles – Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos – São Paulo – Brasil.
BASÍLIO, Romário Sampaio; GALVES, Marcelo Cheche; PINTO, Lucas Gomes Carvalho. Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão. São Luís: Editora UEMA, 2019. Resenha de: TELLES, Danielly. Impressos e sua dimensão prática. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 514-519, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist
Não há dúvidas de que a escravidão moderna tornou-se um tema clássico dos debates historiográficos, sobre o qual foram produzidos um sem-número de obras, e que atualmente segue como tema de dissenso de livros, teses e pesquisas. O que é incomum em A metade que nunca foi contada, do norte-americano Edward Baptist, são os debates que este livro gerou para além da esfera acadêmica. Lançado em 2014 nos Estados Unidos, um ano depois da estreia do filme 12 Anos de Escravidão, a obra recebeu uma resenha negativa no jornal The Economist, por não ser uma “história objetiva”, ou científica o suficiente, pois caracterizava senhores de escravos sulistas do século XIX – e outros brancos que lucraram com a escravidão nesse período – como “vilões”, e os negros como “vítimas”. A resenha gerou tamanha polêmica que fez o jornal publicar uma nota de desculpas em uma tentativa de retratação. No entanto, esse foi apenas o epicentro de uma série de debates subsequentes que levaram Baptist e sua obra ao centro das atenções nas discussões sobre o escravismo estadunidense. Não por acaso: o formato escolhido por Baptist para a construção de seu argumento gerou debates historiográficos, os quais comentarei mais adiante, e também atingiu noções consolidadas da memória nacional dos Estados Unidos, assim como da memória sobre a expansão do capitalismo industrial.
Utilizando como fio condutor relatos biográficos de pessoas escravizadas, e cruzando estes relatos com uma variedade de fontes e dados (como cadernos de contabilidade, jornais, debates parlamentares e dados quantitativos mais amplos), Baptist constrói uma narrativa sobre o fenômeno do acirramento da escravidão produtora de algodão no sul nos Estados Unidos após sua independência. Esse acirramento caracteriza um novo tipo de escravidão, uma segunda escravidão [2], moldada para a extração exitosa de excedentes cada vez maiores desse trabalho, que por sua vez, argumenta Baptist, tiveram um papel central na expansão territorial do país, em seu desenvolvimento e no fortalecimento de investimentos e lucros. Em um escopo mais amplo, a nova forma de escravidão algodoeira foi também um pilar fundamental para o surgimento do complexo industrial têxtil da Inglaterra.
A escolha por enfatizar relatos biográficos expõe uma face dura da produção exponencial de algodão oitocentista: as técnicas de tortura, o desmembramento de relações familiares em migrações forçadas e a transfiguração de pessoas negras em mercadorias foram métodos integrantes do desenvolvimento econômico e do progresso da nação das liberdades individuais. Tais relatos se assemelham à narrativa do filme 12 Anos de Escravidão, baseado nas memórias de Solomon Northup, homem livre que foi sequestrado para trabalhar como escravo na Luisiana, cuja história também é citada na obra de Baptist. O livro adentra linhas teóricas e temas clássicos da história econômica, como trabalho e capitalismo, com recursos da história oral e debates sobre temas socialmente vivos [3], como relações raciais e de gênero. Torna-se evidente também a habilidade do autor em trabalhar com a esfera das relações políticas intrincadas, as disputas e pactos entre grupos políticos do norte e do sul dos Estados Unidos. É provável que a opção do autor por esse formato científico-narrativo, junto ao conteúdo chocante dos relatos de escravizados, tenham suscitado a acusação de falta de objetividade por parte da resenha do The Economist. Ou talvez, a crítica tenha partido da ideia de que eventos tão significativos na trajetória do capitalismo, como o desenvolvimento dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, só se concretizaram por meio da acumulação gerada pela crueldade do trabalho escravo. Essa ideia, no entanto, não pode ser vista como alheia ao âmbito científico, constituindo um tema de extensos debates acadêmicos.
Existe um argumento central em A metade que nunca foi contada: a relação simbiótica entre a exploração dos corpos negros – e as formas de tortura desenvolvidas para tal – e a ascensão do capitalismo estadunidense de fins do século XVIII até a Guerra Civil, na segunda metade dos oitocentos. Tal argumento implica em dois pontos a serem analisados à luz da produção científica sobre o tema. O primeiro, no nível nacional, diz respeito ao papel do escravismo sulista na expansão do território e no desenvolvimento econômico do país como um todo. O segundo ponto é a relevância deste escravismo para a expansão industrial inglesa, seguido da pergunta: esta escravidão é capitalista? Tais questões colocam o livro de Baptist no âmbito da chamada Nova História do Capitalismo (NHC), que propõe a revisão dos padrões da história do capitalismo a partir das relações políticas e das experiências dos grupos subalternizados. Outros trabalhos semelhantes da NHC, lançados na mesma época, são Empire of cotton de Sven Beckert (2014) e River of dark dreams de Walter Johnson (2013). [4] Estes três livros foram, por vezes, criticados conjuntamente, por partirem de premissas semelhantes e por terem construído o campo em torno da tríade algodão-escravidão-capitalismo. A maior parte das críticas ao campo atinge um ponto em comum: influenciados pelo trabalho de Eric Williams, bem como pelas reinterpretações de Kenneth Pomeranz e Joseph Inikori, os trabalhos da NHC, especialmente A metade que nunca foi contada, teriam ignorado os argumentos da Nova História Econômica baseados em estudos cliométricos e dados empíricos. [5]
As críticas de Alan Olmstead e Paul Rhode aos aspectos empíricos do livro são das mais extensas. [6] Baptist cita a afirmação de Olmstead e Rhode sobre a quadruplicação da produtividade das fazendas de algodão entre 1800 e 1860, porém invalida a importância da inovação biológica das novas sementes nesse aumento, argumento central dos autores. A calibragem da violência por meio de um sistema de cotas crescentes, que punia escravos por não manterem seu ritmo de colheita, seria o principal motivo da produtividade crescente. O papel da violência foi questionado não apenas por Olmstead e Rhode, mas também por James Oakes, que afirma que Baptist generaliza um cotidiano de torturas que não corresponde à realidade, mas nem por isso as relações do escravismo foram menos cruéis.[7]
Baptist teria também negligenciado que a tese da centralidade do algodão já estava presente no trabalho de Douglass North, e que a Nova História Econômica (NHE) já teria apresentado argumentos contrários: a baixa relevância das exportações de algodão para o PIB, a menor lucratividade em relação ao milho, entre outros.[8] No geral, os números de que Baptist lança mão para sedimentar suas afirmações sobre a centralidade do algodão no desenvolvimento dos Estados Unidos são superdimensionados ou de origem incerta. Ainda que as críticas da cliometria não levem em consideração a complexidade política ou as relações sistêmicas do capitalismo, um engajamento maior com a produção historiográfica deste campo fortaleceria os argumentos do livro.
Um outro ponto de análise em A metade que nunca foi contada é o caráter capitalista da escravidão, especificamente da segunda escravidão do sul estadunidense. Em uma leitura mais tradicional de modos de produção, Eric Hilt questiona a existência de uma relação de dependência do norte em relação ao sul, e Oakes aponta para uma ambiguidade entre a escravidão e o trabalho livre, entre o atraso e a modernidade.[9] Tal ambiguidade dentro das mesmas fronteiras, afirma Oakes, teria sido o próprio estopim da Guerra Civil. Já para John Clegg, a escravidão da qual Baptist fala é capitalista, mas em razão das motivações e mentalidade dos senhores (razões endógenas), e não pela vitalidade de sua produção para a industrialização.[10]
Na realidade, Baptist não se preocupa em definir o capitalismo, mas em mostrar o quanto a escravidão foi necessária para o seu desenvolvimento. Ainda que primordialmente sua leitura seja delimitada por um Estado-nação, é importante levar em consideração a relação subjacente do escravismo algodoeiro com a Revolução Industrial. Gavin Wright aponta que, no período pré-Guerra Civil, as exportações do algodão sulista foram de grande importância para alimentar a indústria têxtil britânica, mas após a abolição tal demanda foi atendida por exportações da Índia, Egito e Brasil e, posteriormente, pela produção do trabalho livre estadunidense. Wright afirma que a relevância da escravidão foi caindo no quadro do capitalismo global, aproximando-se da segunda tese de Williams.[11] Isto significa que a perspectiva de causalidade entre escravidão e Revolução Industrial é frágil. Nas palavras de Dale Tomich: “Essa ‘segunda escravidão’ se desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução”[12]. Aqui surge outra questão: se a escravidão foi relevante, mas findou não por ambiguidades internas, e sim porque perdeu espaço no quadro mais amplo do capital, como ocorreu essa virada?
Algo que tanto Baptist quanto seus críticos podem considerar para responder esta e outras questões é a literatura da segunda escravidão brasileira, além dos trabalhos que se centram na presença imperial britânica na Índia e no comércio oriental. Oakes questiona se as plantations de algodão seriam o melhor lugar para analisar o capitalismo; mas se apenas analisarmos o capitalismo oitocentista em condições “ideais”, nitidamente lucrativas, explicitamente modernizantes e criadoras de tecnologia, não há espaço para entendermos as desigualdades produzidas pelo sistema em nível global. Para Baptist, a segunda escravidão nos Estados Unidos é um fenômeno observado no âmbito nacional e referente à demanda inglesa. Mas se considerarmos os estudos da Segunda Escravidão de Rafael Marquese e Tâmis Parron, o fenômeno da escravidão oitocentista não pode ser compreendido apenas nos Estados Unidos: sua integração com os escravismos cubano e brasileiro formam uma unidade, uma nova divisão do trabalho. Consequentemente, a íntima relação entre o escravismo norte-americano e o escravismo cafeeiro brasileiro moldou preços, gerou impactos recíprocos e formou alianças e conflitos que auxiliam a compreensão da abolição nos Estados Unidos.[13] Tanto a questão do caráter capitalista da escravidão quanto a conjuntura do escravismo sulista ganham novas nuances a partir destes debates.
Em relação à empreitada britânica no Oriente, John Darwin afirma que o desenvolvimento do Império Britânico origina-se na diversidade de relações estabelecidas em diferentes regiões de influência e domínio. Em um quadro de pressões geopolíticas em que a Inglaterra não era hegemônica, a busca pela inserção no comércio com a Índia, China, a antiga Anatólia e o Cáucaso permitiram que o Império Britânico se consolidasse como o entreposto “do comércio do Novo Mundo com o Velho – assim como para o comércio transoceânico entre Europa e Ásia até a abertura do Canal de Suez em 1869” [14]. Assim, a expressividade do fornecimento de matéria-prima estadunidense para as indústrias inglesas deve ser colocada em perspectiva para pensarmos o êxito da Revolução Industrial, já que a presença do Império no Oriente reconfigura o papel dos Estados Unidos para os ingleses.
A importância da escravidão algodoeira do século XIX para a formação dos Estados Unidos e sua integração aos interesses do capitalismo industrial em expansão são pontos importantes trazidos por Baptist e, ainda que sejam necessários ajustes e considerações mais consistentes, sua tese não pode ser descartada tão facilmente. A força de seus argumentos não está apenas nas narrativas e no alcance de sua obra para além dos limites do público acadêmico. Sua exposição traz à tona as contradições de estudiosos liberais, que acreditavam que o fim da escravidão norte-americana era inevitável frente ao progresso, e expõe a falta de diálogo entre as esferas econômica e política em estudos historiográficos prévios. A ampliação dos horizontes de sua obra para além do nacionalismo metodológico será um passo importante para revelar outras partes da história que ainda não foram contadas.
Notas
2. O autor faz menção ao conceito de Segunda Escravidão, de Dale Tomich, sem se aprofundar no mérito de suas premissas teóricas. No entanto, a influência do trabalho de Tomich se faz presente no livro. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
3. O termo faz alusão ao conceito de “questões socialmente vivas”, relativo a temas relevantes socialmente, assim como no campo de estudo historiográfico. LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
4. BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014; JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
5. Referência a tese sobre a centralidade do escravismo para a industrialização britânica em WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; e suas atualizações em POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000; e INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
6. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
7. OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
8. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul, op. cit.
9. OAKES, James, op. cit.; HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
10. CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
11. WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
12. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, p. 87.
13. MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117; e MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60; PARRON, Tâmis. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
14. DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 37.
Referências
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014.
CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60.
MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117.
OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
PARRON, Tâmis Peixoto. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.
TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
Fernanda Novaes – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil.
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019. Resenha de: NOVAES, Fernanda. O capitalismo no quadro escravista dos EUA e a modernidade industrial. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 500-508, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Memórias de Gustav Hermann Strobel. Relatos de um pioneiro da imigração alemã no Brasil | Sergio O. Nadalin
A imigração alemã no Brasil é significativa, principalmente nos três estados do sul do país. O livro “Memórias de Gustav Hermann Strobel” narra a história da família Strobel, que saiu de Glauchau, na Saxônia (região da atual Alemanha), e chegou ao Brasil, juntamente com outros imigrantes germânicos, em 20 de novembro de 1854. Os imigrantes foram levados para a colônia Dona Francisca, atual Joinville, à época província de Santa Catarina. Devido à precariedade da colônia, o pai de Gustav, Christian August Strobel, migrou para São José dos Pinhais, nos arredores da capital da recém-criada província do Paraná.
A história escrita por Gustav Hermann Strobel é uma importante fonte para quem estuda a inserção social dos imigrantes alemães na sociedade paranaense e brasileira de modo geral. O texto, originalmente escrito em língua alemã, recebeu uma primeira tradução em 1987 e foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. A tradução para a língua portuguesa foi realizada a partir de manuscritos reproduzidos ao longo do tempo, já que os descendentes de Gustav faziam cópias do texto para que este não fosse perdido.
Em razão de algumas disparidades nos manuscritos é que o professor Sergio Odilon Nadalin (UFPR), pesquisador do CNPq, e Egon Frederico Michells Ribeiro, descendente de Gustav, se empenharam em uma nova tradução para tentar resolver algumas dessas questões (três cópias dele chegaram ao século XXI). O texto original, muito provavelmente, foi escrito entre 1909 e 1928, não sendo possível datar de forma exata e, ao que tudo indica, não foi escrito de uma única vez (NADALIN, 2015, p.13).
A nova tradução é acompanhada de um posfácio em que a professora Cacilda da Silva Machado (UFRJ) e o professor Sergio Odilon Nadalin (UFPR) fazem uma análise da obra. Nessas considerações, os dois pesquisadores ressaltam como as lembranças individuais de Gustav Hermann Strobel são depositárias das memórias herdadas e/ou compartilhadas pelos pais (NADALIN, 2015, p.195). Muitos dos episódios narrados pelo imigrante alemão fazem referência a um período em que este era uma criança, como, por exemplo, a saída de Glauchau e a viagem de navio para o Brasil, quando Gustav contava apenas cerca de 5 anos de idade.
No posfácio os autores também tecem importantes considerações acerca das imagens do imigrante germânico e do nacional a partir das reminiscências de Gustav. Importante destacar que o texto original foi redigido de forma retrospectiva, ou seja, os fatos descritos dizem respeito a situações ocorridas várias décadas antes. Supondo que o manuscrito tenha sido concluído em 1928, e visto que a família desembarcou na colônia Dona Francisca em 1854, as memórias do autor cobrem mais de 70 anos. Portanto, Sergio Odilon Nadalin e Cacilda da Silva Machado destacam como o discurso de Gustav Hermann Strobel está ancorado na sua vivência em sociedade e na memória coletiva, seja para reforçar ou para negar pontos de vista (NADALIN, 2015, p.215).
As Memórias, propriamente ditas, estão divididas em dezoito capítulos, tendo um capítulo complementar que inexistia na edição em língua portuguesa publicada em 1987. O memorialista descreve não apenas fatos vivenciados por ele, mas também narra acontecimentos transmitidos principalmente por seus pais, Christian e Christiana (reforçando o que foi dito acima sobre o discurso social presente nas linhas grafadas). Assim, podemos entender como, grosso modo, os sete ou mesmo oito capítulos iniciais relatam fatos ocorridos na época em que Gustav tinha menos de 10 anos de idade.
A exposição dos motivos para a família deixar a Saxônia, as expectativas e a decepção ao desembarcarem em Dona Francisca, bem como a mortalidade a bordo do navio que cruzou o Atlântico trazendo a família e demais pessoas da Europa para o Brasil são lembranças que ajudam a compreender o processo (e)imigratório transatlântico. Os eventos narrados por Gustav, portanto, não se resumem ao processo vivido apenas pela família Strobel. Era difícil a decisão de deixar a Europa para embarcar numa aventura em direção à América, pois a possibilidade de regresso era mínima. Será, então, que os imigrantes estavam conscientes da quase nulidade da chance de regressar à Glauchau, ou qualquer outra região da atual Alemanha, caso o encontrado no Brasil não correspondesse às expectativas?
De acordo com o capítulo 4 das “Memórias de Gustav Hermann Strobel”, a maioria dos germânicos que chegaram no mesmo navio, não só estavam decepcionados com o cenário que encontraram em Dona Francisca como foram tomados de espanto
À medida que avançávamos rio acima, o silêncio tomava conta dos viajantes […] A decepção era visível nos rostos de cada um, pois a vegetação fechada que víamos nas margens era um tanto assustadora (NADALIN, 2015, p.40).
Concomitantemente à desolação, veio a revolta; os conterrâneos de Christian August Strobel se sentiram enganados. Porém, o regresso à Europa era algo deveras irreal para imigrantes que chegaram à América gastando as poucas economias que possuíam: “Todos estavam dispostos a retornar à Europa. Fácil dizer, mas difícil realizar” (NADALIN, 2015, p.42).
O contraste entre a expectativa do momento da partida com a realidade no desembarque obrigou o patriarca da família a migrar. Christian Strobel saiu a pé de Joinville em direção a São José dos Pinhais à procura de emprego; após um período de tempo providenciou para que a esposa e os filhos fossem ao seu encontro. Posteriormente a família ainda migrou para Campo Largo da Roseira e, depois, para Curitiba. Essas constantes mudanças demonstram como a vida do imigrante no Brasil não está marcada pela imobilidade espacial e muito menos à fixação definitiva em uma gleba de terra. Mas é necessário lembrar que o pai de Gustav era carpinteiro, portanto possuía um ofício que lhe permitia buscar trabalho em centros urbanos e não depender exclusivamente dos produtos da terra.
As Memórias desses pioneiros da imigração alemã ajudam a pensar as dificuldades dos imigrantes (não apenas de origem germânica), bem como também permitem analisar as táticas de sobrevivência em um novo espaço social. Enquanto Christian trabalhava longe de casa exercendo seu ofício de carpinteiro, sua esposa Christiana, junto com filhos menores, cultivavam alimentos no quintal, tanto para a subsistência como para gerar algum excedente que pudesse ser vendido ou trocado. Como o pai de Gustav passou a ser (re)conhecido entre a “comunidade” germânica, não raro a casa servia de hospedagem a alguns migrantes, de origem alemã principalmente.
A questão étnica está presente em todo o texto de modo implícito, mas em alguns pontos ela fica explícita. No capítulo 11 Gustav fala de uma corporação de escavadores, homens que abriam valetas para delimitar as propriedades, onde todos tinham origem germânica. O autor das Memórias sempre está relacionando a vida da família e o trabalho desta com o fluxo de novos alemães que chegavam e partiam (o capítulo 12 é exemplar a respeito disso). Claro que sempre sem desconsiderar os contatos culturais cada vez mais estreitos com os brasileiros e demais grupos imigrantes de outras origens.
Entre muitos episódios interessantes, um caso contado no capítulo 13 diz respeito à questão religiosa dos imigrantes. Gustav lembra que em determinada ocasião um imigrante, amigo da sua família, saiu dos arredores de Curitiba em direção à Joinville para conseguir um padre alemão que ouvisse sua Confissão. Embora houvesse padres latinos na região, o homem não conseguia ficar em paz se não confessasse com sacerdote da mesma origem que ele e na sua língua materna. A viagem não era simples, pois estradas entre a capital do Paraná e Santa Catarina eram praticamente inexistentes na segunda metade do século XIX, e o meio de transporte era basicamente o lombo de uma montaria (que poucos possuíam) ou as solas dos sapatos.
As memórias da família Strobel serviram também de fonte para que Sergio Odilon Nadalin (2007), a partir dos prenomes escolhidos para os membros da família, ao longo dos séculos XIX e XX no Brasil, pudesse analisar a identidade teuto-brasileira em Curitiba. A forma de nomear as pessoas pode trazer consigo elementos de distinção étnica:
ao optar por um nome de batismo, os pais de uma criança são ou estão influenciados por uma determinada herança, ou seja, os nomes são emprestados de um estoque cultural, e a maneira de grafá-los refere-se à língua falada e escrita (NADALIN, 2007, p.17).
Portanto, o fator língua é fundamental para o estudo da identidade teuto-brasileira em Curitiba. Por isso o esforço do imigrante alemão que viajou dezenas de quilômetros em busca de um confessor, conforme explicitado anteriormente, é compreensível na construção étnica no Brasil. Da mesma forma que as escolhas de nomes não são aleatórias, conforme ressaltado (NADALIN, 2007).
A endogamia também é um fator importante no estudo da identidade construída pelos imigrantes de origem germânica no Brasil. No período de 1870 a 1939 na Comunidade Evangélica Luterana da capital paranaense, chegava a 87% os casamentos em que os dois noivos eram de origem alemã (NADALIN, 2012, p.56). Mas, não podemos concluir que os imigrantes de origem alemã vivessem isolados, inclusive a etnicidade se constrói e é mais visível no contato com o diferente, conforme apontado por Fredrik Barth (2011). A percepção da marca étnica, seja pelos nomes de batismo ou pela endogamia nas uniões matrimoniais, só é possível de análise na comparação com quem não faz parte da comunidade teuto-brasileira.
Essa distinção étnica em face do “outro” pode ser vislumbrada no capítulo 13. Nele há menção à alegria que os carpinteiros da família Strobel sentiam por terem um ferreiro da mesma origem, com quem conseguiam seus instrumentos de trabalho: “Estávamos felizes por termos agora um ferreiro alemão que confeccionava boas ferramentas para nós” (NADALIN, 2015, p.115. Grifo original). A questão étnica fica explícita nessa informação, pois a qualidade de tais apetrechos estava diretamente ligada à origem de quem os fabricava/fornecia. Ainda no capítulo 13, Gustav narra a admiração dos brasileiros com as técnicas alemãs de construção.
Nos capítulos finais a narrativa de Gustav versa, entre outros aspectos, a respeito das construções executadas pelo pai, e por ele também, na capital paranaense, demonstrando as mudanças na urbe e a contribuição alemã nessas transformações. Também há no capítulo 16 menção à ineficiência brasileira e às hostilidades entre alemães e franceses devido à guerra franco-prussiana. Essas duas questões são descritas em razão dos problemas na gestão do Hospital da Misericórdia. Devido aos desmandos dos brasileiros no hospital, freiras enfermeiras da França foram chamadas para gerir a instituição. Apesar de pontuar as animosidades que as freiras tinham em relação aos pacientes de origem alemã, Gustav não deixa de ressaltar que elas em pouco tempo restauraram a ordem no hospital (NADALIN, 2015, p.163).
Mas essas questões não diminuem a riqueza do texto escrito por Gustav Hermann Strobel. São justamente esses posicionamentos do autor que permitem uma análise dos contatos culturais e da construção de uma identidade teuto-brasileira. As “Memórias de Gustav Hermann Strobel”, escritas pelo filho varão mais velho da família, Gustav, demonstram como a identidade e a cultura alemã no Paraná se formou e se transformou ao longo do século XIX e início do século XX, à medida que os contatos culturais aumentaram, às vezes de forma amistosa e às vezes de modo conflituoso.
As reminiscências de Gustav Hermann Strobel permitem que as análises tomem diversos caminhos: possibilita a conjugação de memórias individuais e coletivas; propicia a análise do passado e sua relação com o presente; dá ênfase na construção e transformação da sociedade paranaense; ressalta como as identidades se constroem no contato com o outro.
Portanto, a nova tradução coordenada pelo professor Sergio Odilon Nadalin não é esforço vão. As reminiscências de Gustav Strobel, relançadas em livro pelo Instituto Memória, cumpre o desejo do autor de perpetuar a história da família Strobel na memória das futuras gerações (ele mesmo havia incumbido seus descendentes de redigir cópias do manuscrito). Além disso, a nova edição amplia o acesso a uma fonte histórica que tem servido para problematizar aspectos da teuto-brasilidade.
Referências
BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUIGNAT, Philippe; STREIFFFENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade: seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. 2ª ed. São Paulo: Ed. Unesp, 2011.
NADALIN, Sergio Odilon (Org). Memórias de Gustav Hermann Strobel. Relatos de um pioneiro da imigração alemã no Brasil. 2. ed. Curitiba: Instituto Memória, 2015.
______. A constituição das identidades nacionais nos territórios de imigração: os imigrantes germânicos e seus descendentes em Curitiba (Brasil) na virada do século XX. Revista Del CESLA, Varsóvia, n.15, p.55-79, 2012. Disponível em:. ______. João, Hans, Johann, Johannes: dialética dos nomes de batismo numa comunidade imigrante. História Unisinos, São Leopoldo, v.11, n.1, p.14-27, jan./abr. 2007. Disponível em:
Lourenço Resende da Costa – Doutorando em História pela UFPR, Mestre em História pela UNICENTRO, professor de História pela SEEDPR. Bolsista CAPES.
NADALIN, Sergio Odilon (Org). Memórias de Gustav Hermann Strobel. Relatos de um pioneiro da imigração alemã no Brasil. 2. ed. Curitiba: Instituto Memória, 2015. Resenha de: COSTA, Lourenço Resende da. As memórias de um imigrante alemão no Brasil: a História da família. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.25, p.603-608, dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883) | Marcello Musto
Karl Marx seguramente figura entre os autores mais debatidos e analisados nos últimos cem anos. A vasta bibliografia que toma o pensamento de Marx por objeto poderia sugerir que falta pouco a ser dito de forma original. No entanto, a produção intelectual em torno de Marx parece escapar a este itinerário lógico e surge como uma fonte inesgotável de reflexões que, de diferentes maneiras, segue instigando e propiciando um renovado debate. É esta capacidade de constante atualização que alimenta as diversas tradições no âmbito das culturas marxistas e, mesmo, o renovado (e variado) interesse do pensamento crítico de forma geral.
Se é inegável, por um lado, que a vida e obra de Marx jamais deixaram de ser objeto de pesquisa ao redor do mundo, por outro, no período aberto após o fim da União Soviética e o ocaso do chamado “socialismo real”, o legado do pensador alemão parecia encontrar-se numa encruzilhada fatal. A crise econômica de 2008 mudou sensivelmente este cenário, renovando o interesse em Marx e o afirmando como um dos autores mais debatidos no século XXI. Não apenas suas análises e elaborações teóricas ganharam um novo impulso junto ao grande público, mas também sua trajetória de vida desperta curiosidade, como atesta o sucesso do filme O jovem Karl Marx, dirigido por Raoul Peck e lançado em 2017. Neste contexto, o livro O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883), escrito por Marcello Musto e publicado em 2018 pela editora Boitempo, surge como uma importante contribuição na busca por preencher lacunas e por aprimorar a nossa compreensão do legado de Marx. Leia Mais
Concebendo a liberdade / Camillia Cowling
O livro de Camillia Cowling publicado nos Estados Unidos, em 2013, e recentemente traduzido para o português já se constitui uma leitura obrigatória para historiadoras, historiadores e demais pessoas interessadas em conhecer aspectos da luta de pessoas escravizadas na Diáspora. Em Concebendo a liberdade a autora apresentou uma pesquisa comparativa entre Havana (Cuba) e Rio de Janeiro (Brasil) na qual “mulheres de cor” apareciam na linha de frente da luta por liberdade legal para elas próprias e suas crianças nas décadas de 1870 e 1880.
Ao prefaciar a obra Sidney Chalhoub foi muito feliz ao lembrar a acolhida que o livro de Rebeca Scott a Emancipação Escrava em Cuba teve no Brasil, ainda na década de 1980, evidenciando o interesse do público brasileiro em saber mais sobre este processo em Cuba, colônia Espanhola que assim como o Brasil e Porto Rico foi um dos últimos redutos da escravidão nas Américas.
Mais de três décadas desde a tradução do livro de Scott, a pesquisa de Cowling chegou ao Brasil em um momento que embora já possamos contar com vários estudos de referência para o conhecimento a respeito da escravidão e da liberdade muitos lacunas ainda estão por serem preenchidas, a exemplo, das especificidades da experiência das mulheres – escravizadas, libertas e “livres cor”.
Felizmente, o alerta das feministas negras, especialmente a partir da década de 1980 de que as mulheres negras tinham um jeito específico de estar no mundo ganhou novo impulso nos últimos anos, notadamente, devido ao processo que resultou na Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, ocorrida no Brasil, em 2015, cujos desdobramentos já podem ser percebidos na sociedade brasileira e tem inspirado pesquisadoras e pesquisadores no desafio de reconstituir esse passado.
Inserida no campo da história social e utilizando uma escala de tempo pequena para descortinar a agência feminina negra, Cowling esteve atenta também para questões mais amplas do período investigado como às conexões atlânticas entre Cuba e Brasil no contexto da “segunda escravidão”. Isso permite que a leitora e o leitor possam notar que embora tivessem optado por um processo de abolição gradual da escravidão ambos vivenciaram processos paralelos e distintos um do outro.
A obra foi dividida em três partes e subdividido em 8 capítulos. Neste texto destaco alguns aspectos, dentre vários outros, que chamaram minha atenção de maneira especial. Primeiramente, saliento que Cowling conseguiu remontar o itinerário de duas libertas tornado visíveis as marcas deixadas por elas tanto em Havana como no Rio de Janeiro, de modo que personagens tradicionalmente invisibilizadas pela documentação e, até mesmo, pela historiografia tiveram seu ponto de vista descortinado nas páginas de seu livro.
Os fragmentos da experiência de Romana Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes remontados pela autora é a demonstração de um esforço investigativo de fôlego e bem sucedido. As questões levantadas e o exercício de imaginação histórica da pesquisadora tornaram possíveis que a partir do ponto de vista dessas mulheres possamos saber como pensavam várias outras de seu tempo e compreender os sentidos de suas escolhas, bem como daquelas feitas por seus familiares, escrivães, curadores e integrantes do movimento abolicionista.
A liberta Romana que comprara a própria liberdade um ano antes de migrar para Havana, em 1883, encaminhou uma petição dirigida ao governo-geral de Cuba reivindicando a liberdade de suas 4 crianças, María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves que estavam em poder de seu ex-senhor, Manuel Oliva. Quase um ano depois, foi a vez da liberta Josepha dar início a uma ação de liberdade na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de retirar sua filha, Maria, ingênua, com apenas 10 anos, do domínio de seus ex-senhores José Gonçalves de Pinho e sua esposa, Maria Amélia da Silva Pinho.
Assim como outras tantas pessoas, Romana e Josepha eram migrantes que a despeito das dificuldades das cidades, usaram a seu favor as possibilidades que as mesmas ofereciam na busca pela liberdade, além disso, como ressaltou a autora as chances de uma pessoa escravizada conseguir a liberdade morando nas áreas urbanas eram maiores do que aquelas que moravam nas áreas rurais.
De acordo com Cowling as duas libertas se apegaram as brechas da lei e fizeram omesmo tipo de alegação para contestar a legitimidade do domínio senhorial. EnquantoRomana declarou que sua filha era vítima de negligência e abuso sexual, Josepha alegou que suas crianças não estavam recebendo educação. Foi com base nessas denúncias que os senhores foram acusados de maus tratos, o que implicava na perda do domínio sobre as mencionadas crianças, conforme a legislação de Cuba e do Brasil respectivamente determinava.
No livro de Cowling, a leitora e o leitor interessado no tema pode verificar que as perguntas feitas a documentos como petições, ações judiciais, correspondências, jornais, obras literárias, imagens e legislação explicitam que as mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor” sempre estiveram no centro da luta por liberdade legal. Isso porque as noções de gênero foram determinantes para o modo como elas vivenciaram a escravidão e consequentemente influenciaram em suas escolhas na luta pela conquista da manumissão. Além disso, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, elas que sempre estiveram na linha de frente das disputas judiciais foram colocadas ainda mais no centro do processo da abolição gradual da escravidão.
As Romanas e as Josephas foram muitas nas duas cidades portuárias investigadas pela autora e com o objetivo de conseguir a própria liberdade e de suas crianças, elas se apegaram a argumentos legais tomando como base a legislação, como a Lei Moret de 1870 e a Lei do Patronato de 1880, em Cuba; e a Lei do Ventre Livre de 1871, no Brasil, mas também se apegaram a argumentos extralegais baseados em valores culturais como o“sagrado” direito a maternidade, apelando para piedade e a caridade das autoridadespara os quais levaram suas demandas de liberdade para serem julgadas.
Para Cowling, sobretudo, a retórica da maternidade era tão forte que era utilizada tanto por mulheres ao reivindicarem a liberdade de suas filhas e filhos como nos casos em que eram os filhos que buscavam libertar suas mães, e mesmo, nos casos em que os pais apareceram junto com as mães tentando libertar suas crianças, a opção era por colocar a maternidade no centro.
Não poderia deixar de trazer para este texto aquele que a meu ver é um dos pontos mais fortes da obra. Trata-se da opção da autora de enfrentar o tema da violência sexual contra “mulheres de cor”, aspecto da vida de muitas dessas personagens, ainda pouco explorado pela historiografia brasileira, seja devido ao sub-registro dessa violência na documentação disponível que era escrita em sua maioria por homens da elite e autoridades muitos dos quais também proprietários de cativas, seja devido à própria tradição de priorizar outros aspectos da experiência das pessoas.
Para a autora a tradição de violar o corpo de “mulheres de cor” era naturalizada entre os senhores e os homens da lei tanto que os primeiros não viam qualquer impedimento à prática de estuprá-las. Por isso mesmo, a falta de proteção extrapolava a condição de cativas e nem mesmo a liberdade legal era garantia de proteção ou reparação contra aqueles que as forçassem a ter relações sexuais com eles ou com outros (muitas escravizadas eram forçadas a prostituição por suas proprietárias e proprietários).
No entanto, se por um lado, ao se depararem com denúncias de violência sexual as autoridades geralmente posicionavam-se a favor dos agressores, inclusive responsabilizando as próprias “mulheres de cor”, prática que tinha a ver com a imagem que esses homens de maneira geral faziam desse grupo social considerado por eles como lascívias e corruptoras das famílias da elite. Por outro, ao procurar à justiça para denunciar a violência sexual elas explicitavam sua própria compreensão sobre si mesmas. Ao fazer isso Romana e várias outras estavam dizendo que acreditavam ter conquistado para si e para suas filhas o direito de poder dizer não para um homem com quem não quisessem fazer sexo.
Cheguei ao epílogo da obra convencida por Cowling de que embora Romana e Josepha tenham vivido em lugares diferentes e nem se quer se conhecessem, caso tivessem tido a oportunidade de se encontrar naqueles anos cruciais de suas vidas, elas teriam muito que conversar. Inevitavelmente suspeito ainda que várias mulheres negras do século XXI que tiverem acesso as minúcias do itinerário das personagens trazidas no trabalho terão a sensação de que também poderiam participar da conversa.
Por fim, acredito que as questões levantadas ao longo da obra sob vários aspectos servirão de inspiração para historiadoras e historiadores empenhados na reconstituição tanto quanto possível da vida de mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor”, bem como de seus familiares e das pessoas com as quais elas se aliaram na construção de outros tantos processos coletivos de luta por liberdade legal.
Karine Teixeira Damasceno – Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura (PUC-Rio), Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Tradução: Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas: UNICAMP, 2018. 440p.. Resenha de: DAMASCENO Karine Teixeira. “Mulheres de cor” no centro da luta por liberdade legal em Havana e no Rio de Janeiro. Canoa do Tempo, Manaus, v.11, n.2, p.294-297, out./dez., 2019. Acessar publicação original.
Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira 1760-1876 | Ilana Peliciari Rocha
De que maneira o Estado brasileiro atuou como senhor de escravos? A questão é colocada pelo livro “Escravos da Nação”, da historiadora Ilana Peliciari Rocha. O estudo é oriundo de sua tese de doutorado, defendida em 2012. A autora, que tem experiência em história demográfica, já desenvolveu pesquisas sobre a população escrava do município de Franca (SP) no século XIX e a respeito do fluxo imigratório para São Paulo no período republicano. Atualmente, Rocha é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e tem publicado artigos que abordam a trajetória de escravos e escravas da nação na história brasileira.
No livro em questão, Rocha investiga uma peculiaridade: a condição pública atribuída a alguns escravos no Brasil. Já de início a autora explica que os “escravos da nação” se tornaram uma categoria específica no Brasil após a expulsão e o confisco dos bens da Companhia de Jesus pela Coroa portuguesa, o que se deu em 1760. De acordo com ela, a partir desse evento é possível traçar, por meio da análise de documentação coeva (como cartas e ofícios, relatórios dos ministérios do Império, legislação e recortes de jornal), as formas de tratamento direcionadas aos “escravos públicos” espalhados em fazendas e outros estabelecimentos localizados em distintas regiões do Brasil. A administração desses cativos coube, no século XIX, às instituições vinculadas ao Estado imperial e perdurou até, precisamente, o ano de 1876, quando expirou o prazo que, segundo a legislação, era necessário para que tais cativos entrassem em posse de suas liberdades.
Segundo a avaliação de Rocha, os estudos historiográficos sobre a presença de escravos da nação nas fazendas e fábricas do Brasil mostraram, de maneira isolada para cada estabelecimento e localidade, que a administração desses cativos teria acompanhado o modelo da escravidão privada ou tradicional. A autora buscou acrescentar a esses trabalhos um olhar mais atento para o caráter público de tais escravos, com destaque para aqueles mantidos na Fazenda de Santa Cruz, na província do Rio de Janeiro, e na Fábrica de Ferro São João de Ipanema, na província de São Paulo. Sua proposta principal é compreender em que medida a administração desses escravos permite apreender o significado de “coisa pública” no Brasil entre o final do século XVIII e o último quartel do século XIX. Para isso, a pesquisadora leva em conta o conceito de “patrimonialismo” e dialoga com as obras de Raimundo Faoro, Fernando Uricoechea e José Murilo de Carvalho.
A estrutura do livro, inteligentemente pensada, colabora para o entendimento do estudo. A obra é composta por três partes bem articuladas, nas quais são abordados, respectivamente, os percursos dos escravos após a expulsão dos jesuítas, as concepções compartilhadas a cada época sobre tais cativos e os aspectos das experiências cotidianas desses escravos nos estabelecimentos do Estado. Ao longo dos capítulos, Ilana Peliciari Rocha compara o tratamento destinado a esses cativos com outras experiências ocorridas entre senhores e escravos, no âmbito do que chamou de “escravidão privada ou tradicional”, de modo que seja possível empreender o “significado de ser público para o escravo e também para o Estado” (p. 20). Os argumentos estão bem fundamentados tanto nas narrativas produzidas pelos contemporâneos quanto na projeção de dados quantitativos que auxiliam o leitor a visualizar os perfis dos escravos nacionais e as características da escravidão pública.
Na primeira parte do livro, em que é identificado o início de um cativeiro “público” no Brasil, Rocha discorre sobre os caminhos dos escravos após o confisco dos bens dos jesuítas, em 1760. Segundo ela, os escravos adquiridos pela Coroa portuguesa, então chamados “escravos do Real Fisco”, tornaram-se “patrimônio público” sem que houvesse legislação uniforme para o seu tratamento. Seja pela dificuldade de estabelecer um regimento homogêneo para estabelecimentos distintos, seja pela eficácia do controle administrativo desenvolvido pelos religiosos inacianos, a manutenção das propriedades e dos cativos confiscados deu continuidade – ao longo de todo o período colonial – ao modelo adotado pelos jesuítas.
Em seguida, a segunda parte apresenta as concepções e, sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelos membros do governo imperial no trato dos escravos da nação. Aqui, a análise concentra-se em meados do século XIX – período em que a documentação oficial permitiu perceber, com maior recorrência, a presença de cativos “públicos”. A autora mostra que houve a tentativa inicial de vender tais escravos a particulares, mas que o governo imperial acabou adaptando-se à condição de proprietário. Havia um sistema de trocas entre as fazendas e fábricas para suprir as necessidades de mão de obra, além de regulamentos para o controle e a manutenção da rotina produtiva nesses estabelecimentos públicos.
Quanto a esta segunda parte do livro, cabe destacar o capítulo que aborda a “visão oficial” sobre os escravos nacionais. Nele, Rocha busca dimensionar o impacto da escravidão pública nos debates políticos de meados do século XIX brasileiro e perpassa alguns temas caros ao período, como abolicionismo, patrimonialismo e liberalismo. De acordo com seu entendimento, a administração dos cativos “públicos” pelo Estado imperial teve um papel relevante na época, pois intensificou as discussões em torno da manutenção da escravidão “privada” na década de 1860. Segundo ela, “[…] como sancionadora da escravidão, a presença deles [dos escravos da nação] não gerava incômodos, mas no momento em que o Estado passou a ter uma nova atitude e as questões emancipacionistas ganharam vulto, isso influenciou as políticas públicas para com eles” (p. 171).
Entretanto, Ilana Peliciari Rocha também expõe os limites dos posicionamentos que questionaram a escravidão e o uso de escravos pelo governo imperial nesse período. Ao analisar os discursos do Parlamento do Império e um embate entre o periódico Opinião Liberal e a Mordomia-mor – repartição responsável pelos escravos da Fazenda de Santa Cruz -, ela identifica que a defesa da liberdade dos escravos da nação sofreu reveses devido à preocupação de que o assunto se estendesse à abolição do sistema escravista. Na compreensão da autora, tais discussões mostram que houve uma contradição entre o discurso liberal e as práticas do governo imperial, bem como o uso dos escravos nacionais no âmbito privado – o patrimonialismo. Juntos, tais aspectos teriam dificultado a aprovação de medidas favoráveis à alforria dos escravos da nação e, ao mesmo tempo, postergado o fim da escravidão particular no Brasil.
Especificamente sobre o “patrimonialismo”, Rocha acompanha a perspectiva de José Murilo de Carvalho e entende que a escravidão pública esteve relacionada à “administração patrimonial” empreendida pela burocracia nascente do século XIX brasileiro. Ela avalia, por meio da historiografia e das fontes, a complexidade que envolveu o uso de cativos pelo Estado: de um lado, o uso de escravos da nação para fins privados era admitido porque foi recorrente e não foi “efetivamente combatido” (p. 188); de outro lado, em alguns locais, como a Real Fábrica de Pólvora da Estrela, tal prática foi repreendida. A dificuldade do tratamento de tal patrimônio público esteve associada, ainda segundo sua leitura, à proximidade dos estabelecimentos com a sede do governo imperial e do Imperador, o qual teria influenciado uma postura “paternalista” em relação aos cativos. Para a autora, é possível afirmar que o Estado imperial, quando atuava como proprietário de escravos, foi patrimonialista, pois prevaleceu a confusão entre as esferas pública e privada na administração dos escravos da nação.
Vale observar que a “visão oficial”, tal como disposta por Rocha neste capítulo, dá centralidade aos embates entre liberais e conservadores no Brasil do Oitocentos. De certa forma, as atividades administrativas das instâncias do Estado e das instituições que mantiveram os escravos da nação, apresentadas ao longo de todo o estudo, ficaram em segundo plano nessa análise. Assim, é preciso sublinhar que não apenas as discussões no Parlamento e na imprensa, mas as diferentes medidas direcionadas aos escravos – presente nos regimentos, ofícios e relatórios – compõem a “visão” que o Império brasileiro pôde revelar sobre a escravidão pública e os escravos nacionais na época.
A última parte do livro de Ilana Peliciari Rocha é dedicada às ocupações e às experiências dos cativos mantidos na Fazenda de Santa Cruz, que foi usada como residência de passeio do imperador, e daqueles que se encontravam na Fábrica de Ferro de Ipanema. A autora conta que nesses estabelecimentos houve grande diversidade quanto às funções desempenhadas pelos escravos e que as oficinas manufatureiras permitiram que alguns deles se especializassem. Motivadas mais pelas demandas casuais dos administradores do que pela orientação de um regimento geral, a profissionalização e a diversificação das atividades nem sempre eram vantajosas para os cativos, os quais muitas vezes foram deslocados dos estabelecimentos em que viviam com suas famílias para trabalhar em outros locais, inclusive em propriedades particulares.
Nesta terceira parte, Rocha elenca ainda tópicos conhecidos na historiografia da escravidão, como a resistência escrava e a obtenção de alforrias, e aponta que os escravos da nação também recorreram às fugas ou aos pedidos de liberdade, mas de maneira distinta dos cativos “privados”. Enquanto as dificuldades de supervisionar a rotina de trabalho nos estabelecimentos favoreceram as fugas, a condição pública contribuiu, em muitos casos, para obtenção de alforrias. Aliás, apesar das ponderações feitas na segunda parte do livro, a autora conclui que a discussão parlamentar sobre a liberdade dos escravos da nação, iniciada na década de 1860, teve grande impacto na vigência da escravidão privada no Brasil. Segundo sua perspectiva, o debate que culminou na Lei do Elemento Servil, de 1871, teria impulsionado o discurso abolicionista e, até mesmo, “antecipado” a abolição aprovada em 1888.
Em suma, pode-se dizer com a investigação de Rocha que “ser público” para o Estado imperial brasileiro teve como característica o problema de “ser possuidor” de escravos para manter o funcionamento de seus estabelecimentos e de ter que lidar com um patrimônio disputado na sociedade oitocentista. Para os escravos da nação, “ser público” era estar sob o controle de um senhor disperso, algumas vezes favorável à liberdade, mas de qualquer forma presente em sua rotina e seus percursos. Os aspectos abordados indicam que este estudo contribui para ampliar as indagações, os debates historiográficos e a compreensão, entre os leitores interessados de hoje, sobre uma faceta pouco conhecida da história da escravidão e do Estado senhor de escravos no Brasil.
Referências
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: O Público e o Privado na Escravidão Brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018.
ROCHA, Ilana Peliciari. O escravo da nação Florencio Calabar: da Fábrica de Pólvora da Estrela para a Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Nucleus (Ituverava), v. 15, n. 2, p. 7-2-13, 2018. Disponível em: <Disponível em: http://nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/3011 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. ‘Escravas da nação’ no Brasil Imperial. História, histórias, Brasília-DF, v. 4, n. 8, p. 44-61, 2016. Disponível em: <Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10944 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. Imigração Internacional em São Paulo: retorno e reemigração, 1890-1920. Novas Edições Acadêmicas, 2013.
ROCHA, Ilana Peliciari. Demografia escrava em Franca: 1824-1829. Franca: UNESP-FHDSS, 2004
Larissa Biato Azevedo – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Câmpus de Franca. Mestre em História e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Câmpus de Franca. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018. Resenha de: AZEVEDO, Larissa Biato. O estado imperial: um senhor de escravos “pouco definido”. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 612-618, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Construtores do Império – defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais 1823-1834
Dentre os estudos mais recentes que se debruçam sobre o processo de construção do Estado nacional no Brasil, a obra de Carlos Eduardo França de Oliveira – vencedora do 5º Prêmio de Teses da Anpuh – se destaca como inovadora e polêmica. Resultado de Doutorado defendido em 2014, ela desconfia, como escreve Cecília Helena Salles de Oliveira no prefácio, do “saber já sabido” e das certezas prévias. Isso pelo motivo de se inscrever em um movimento de renovação historiográfica que, sobretudo nas últimas duas décadas, amparando-se em exaustiva exploração de fontes e referenciais teórico-metodológicos diversos, tem contribuído para o esclarecimento de aspectos fundamentais da sociedade brasileira no século XIX.
Durante muitas décadas, a história do período imperial brasileiro foi pensada a partir de duas temáticas essenciais: a revolução liberal como projeto inacabado e a escravidão. Resguardadas suas especificidades, as leituras tradicionais sobre as origens, as instituições e o percurso do Brasil independente, baseando-se em paradigmas do ideário liberal formulados no Oitocentos e (re)configurados à luz das interpretações posteriores, apontavam ao menos para três grandes assertivas: a conservação de uma incômoda herança colonial que impossibilitou o efetivo desenvolvimento de cidadãos; o profundo desarranjo das ideias e práticas políticas europeia e estadunidense aplicadas à dinâmica do liberalismo brasileiro, marcado pelo cativeiro de africanos; e, por último, porém não menos importante, a fase imperial do Brasil como momento desprovido de perfil próprio, sendo mera etapa entre a época colonial e a republicana de sua história.[3]
Ao propor uma análise da ascensão de políticos paulistas e mineiros no processo de formação do Estado nacional brasileiro entre 1823 a 1834, enfatizando-se a criação das esferas do poder provincial em São Paulo e Minas Gerais, bem como a projeção desses agentes no cenário político da Corte fluminense, Oliveira vincula-se a um conjunto maior de estudos renovados sobre a formação do Império do Brasil. Essas interpretações, inspiradas por questões contemporâneas e pelas crescentes análises desenvolvidas nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras a partir da segunda metade do século XX, vêm repensando a supremacia do “econômico” sobre as práticas e o imaginário dos agentes históricos, fazendo cair por terra conclusões que sublinham o suposto “atraso” da sociedade brasileira em relação à modernidade, sua intangibilidade e inconsistência no século XIX, como também a incompatibilidade entre liberalismo e a lógica escravista.[4]
Desse modo, unindo-se ao rol de análises que revalorizaram os estudos políticos em uma ampla variedade de temas, da cultura política ao constitucionalismo, da formação dos espaços públicos e formas de sociabilidades às identidades e às transformações das mentalidades dos agentes que experienciaram as rupturas entre os séculos XVIII e XIX, [5] o autor coloca em outra ordem de importância o papel da cultura e das iniciativas dos indivíduos, especialmente de paulistas e mineiros, na formação da sociedade brasileira e consolidação do projeto liberal moderado. Baseando-se em repertório amplo de fontes variadas, como documentos oficiais e periódicos, assim como em uma bibliografia abrangente e atualizada, Oliveira joga luz sobre o arranjo de relações que envolveram instituições e homens, marcando a consolidação da província como novo lócus de poder.
No primeiro capítulo, Oliveira explora os vínculos entre política e economia nas províncias de São Paulo e Minas Gerais nos primeiros anos do Império, chamando a atenção para os grupos e sua incorporação no processo de construção da nova ordem monárquica-constitucional com sede no Rio de Janeiro. Esse processo, de um lado, assumiu lugar primordial ao assegurar a integridade do novo Estado e, de outro, permitiu a esses mesmos círculos a conquista de participação política na Corte. Problematizando a tese decadentista (segundo a qual as dinâmicas das duas províncias estagnou após o declínio da produção aurífera mineira), o autor defende que, mais do que redutos de nomes consagrados no processo de Independência, São Paulo e Ouro Preto foram importantes arenas de disputa e articulação política em que parcelas socioeconômicas plurais, vindas de variadas partes das províncias, batalhavam pelo poder.
Evitando intepretações rígidas que unem segmentos socioeconômicos específicos a orientações políticas particulares seguindo um fio único de interesses, o autor convida o leitor a olhar para a diversidade de situações e fidelidades que coloriam um quadro mais amplo de relações políticas, econômicas e sociais da época. Assim, como contraponto à vertente mais tradicional, Oliveira implode categorias como “centro” e “província”, “interesse nacional” e “interesse local”, enfocando as formas negociadas com que mineiros e paulistas foram concebendo suas províncias como espaços essenciais de articulação política e poder.
No segundo capítulo, o autor detém-se na exposição pormenorizada dos principais aspectos dos conselhos provinciais – Conselho da Presidência e Conselho Geral – em São Paulo e Minas Gerais, principalmente seu funcionamento, ação política e participação na composição do poder nessas regiões. Oliveira trata, primeiro, da dinâmica do Conselho da Presidência e da atuação dos presidentes de província, relativizando a historiografia que caracteriza o Primeiro Reinado como momento “centralizador”, no qual os chefes do Executivo provincial seriam meros “delegados” a serviço de D. Pedro. O autor tece sua problematização com perícia, apontando como a atuação dos vice-presidentes – sujeitos escolhidos nas próprias localidades – e do Conselho da Presidência serviram de contrapeso ao poder dos presidentes. Ademais, o autor afirma que os Conselhos da Presidência paulista e mineiro, ultrapassando o papel de órgãos consultivos a serviço dos presidentes de província, se elevaram a âmbito privilegiado de prática política, seguindo os moldes de um regime representativo preocupado com a defesa dos preceitos monárquico-constitucionais.
Na segunda parte, Oliveira apresenta o processo de instalação dos Conselhos Gerais nas províncias de Minas Gerais e São Paulo, conforme previsto na Carta de 1824. A partir da exposição da relação entre esses órgãos, câmaras municipais e finanças provinciais, o autor delineia um panorama em que aponta como o aparelhamento político-administrativo das províncias, ligado às realidades locais e certa margem de autonomia para geri-lo, foi chave para a manutenção e consolidação do Estado monárquico-constitucional.
Para dar conta das formas como políticos paulistas e mineiros ocuparam o Legislativo do Império a partir de 1826, Oliveira apresenta e discute os aspectos fundamentais da representação e do encaminhamento dos assuntos provinciais na Câmara dos Deputados e no Senado. Na primeira parte, ele aborda a composição das bancadas mineira e paulista na Câmara dos Deputados. Explanando uma temática pouco explorada, o autor matiza o enfrentamento que ocorreu no Parlamento, especialmente na câmara baixa, como simples embate entre os herdeiros de um suposto conflito entre “portugueses” e “brasileiros” na Independência. Afirma que o âmbito da Câmara dos Deputados se configurou como espaço de matizes e nuances, no qual a distinção entre os grupos políticos não pode ser compreendida como elemento preexistente à luta política. Tampouco havia uma simetria entre inserção econômica e posicionamento político, como também uma dicotomia entre províncias e Corte.
Há que mencionar ainda que o autor aborda um dado importante não desenvolvido por muitos estudos: o de como os grupos políticos parlamentares teriam se inserido no sistema eleitoral das províncias paulista e mineira, forjando-se no espaço local para, a partir dele, se rearticular na Câmara dos Deputados. Longe de estabelecer uma simplificadora correspondência entre fidelidades de origem, representação e aprovação de pautas provinciais, baseada em uma relação de causa e efeito, Oliveira põe em exibição uma realidade mais cambiante, em que a composição das bancadas paulista e mineira nas três legislaturas da câmara baixa dependeram da convergência de um emaranhado de fatores como distintas concepções de representação e projeto de Estado, questões político-institucionais, alianças (inter)provinciais, rivalidades entre os grupos políticos, tensões sobre perspectivas diversas a respeito dos negócios e de ocupações dos espaços administrativos. Portanto, conclui que o encaminhamento das necessidades provinciais na Câmara dos Deputados foi um processo complexo que não se diluía na transposição automática das demandas das províncias para o Legislativo.
Dando prosseguimento à discussão sobre a maneira como os representantes provinciais deram vazão às demandas das suas províncias, um segundo movimento, ainda relacionado à primeira parte, dá conta da análise do engajamento do Senado no tocante às demandas que partiam de São Paulo e Minas Gerais. De novo, o autor rompe com afirmações prévias, relativizando a ideia de um Senado fechado em si mesmo, atento apenas às estratégias de contenção da câmara baixa. Pelo contrário, Oliveira assume que tais assertivas desembocaram em deduções simplistas e perigosas. Apesar do envolvimento menor do Senado com as propostas dos Conselhos Gerais, não se pode dizer que a casa vitalícia era desalinhada das causas provinciais. Mesmo diante da sua maior autonomia frente às bases eleitorais das províncias, perceber o Senado superficialmente como instrumento político em prol do monarca e de seus ministros, provoca o autor, seria cair no jogo retórico dos liberais, produzido especialmente pelos moderados da época.
Na segunda parte, o autor tematiza a questão do comprometimento dos deputados com as propostas dos Conselhos Gerais, sobretudo daqueles que ocuparam as duas instituições, a fim de encarar se eles eram “homens da província”, ou seja, seus representantes no Parlamento. No fim da análise, o autor conclui que as pautas dos Conselhos Gerais serviram para os parlamentares como instrumento de luta e negociação política, no qual assegurar os interesses provinciais nem sempre foi o objetivo final. Além do mais, essa dinâmica teria sido permeada por um encadeamento complexo de relações entre os eleitores, conselheiros-gerais, deputados e senadores, perpassado por outros fatores como enfrentamentos políticos, heterogeneidade das bancadas provinciais, autonomia dos legisladores em relação às bases eleitorais e existência de tópicos considerados mais relevantes do ponto de vista nacional. Nesse sentido, Oliveira esvazia categorias como “interesse local” e “interesse nacional”, já que para esses legisladores ao fazer política provincial, direta ou indiretamente, eles estavam dando conta também da política nacional e vice-versa.
Dividido em cinco partes, o quarto e último capítulo é o maior do livro. Na primeira parte, o autor apresenta em linhas gerais o clima de tensão e redefinição de forças que caracterizou o contexto político após a saída de D. Pedro, um quadro marcado pelas discussões em torno de uma reforma constitucional do país nascente. O autor faz uma ponderação metodológica relevante, recomendando ao especialista que evite descrições estanques, tendo em vista a fluidez que os termos “moderados”, “exaltados” e “caramurus” possuem. A coerência programática desses grupos, forjada pelos próprios coevos, pesava menos do que sua função política influenciada pelas tensões em jogo.
Na segunda parte, Oliveira sugere que a elaboração de um movimento de reforma constitucional atrelou-se à intensificação da investida liberal contra o governo pedrino no Primeiro Reinado, o que também gerou uma fratura entre os grupos liberais, particularmente acerca das relações entre Legislativo e Executivo. Nessa lógica, os debates sobre a reforma da Carta de 1824 travados depois da abdicação de D. Pedro I, em 1831, retomariam, sob nova luz, questões já presentes no triênio de 1821 a 1823, sobretudo as relações entre centro e província, as atribuições que caberiam ao Poder Moderador, a existência do Conselho de Estado e a vitaliciedade dos senadores, solapadas com o fechamento da Constituinte por D. Pedro. Toda essa discussão não se restringiu só aos setores oficiais da luta política. Ela alargou o espectro social de ação política, como aponta o autor na terceira parte, percebida nos debates levados a cabo pelos círculos dos alunos do Curso Jurídico de São Paulo e vários periódicos mineiros e paulistas. Toda a tensão em torno da reforma constitucional desencadeou uma restruturação do campo de luta política.
Na penúltima parte, o autor não economiza esforços para demonstrar que as discussões em torno do projeto de reforma constitucional propunham mudanças radicais na estrutura política do Império, permeada pelas ideias de federação que seriam exploradas a fundo pela imprensa e pelos heterogêneos grupos políticos. Com o adensamento da inevitabilidade da reforma, tanto ela quanto o sistema federativo em si acabaram ganhando uma conotação positiva em meio à então resistente ala moderada, que via na ampliação dos poderes provinciais, especialmente de cunho legislativo e fiscal, uma maneira para se garantir no poder, resguardando a continuidade da monarquia-constitucional. Na última parte, o autor apresenta as discussões que culminaram no Ato Adicional, apontando que as maiores polêmicas em relação à reforma constitucional repousaram nas atribuições das Assembleias Legislativas. Aqui o pesquisador, mais uma vez, assume uma postura revisionista, amparando-se em autoras como Miriam Dolhnikoff e Maria de Fátima Gouvêa, encarando a execução da reforma como parte de um arcabouço legal maior que vinha sendo gestado anteriormente.
Baseado em uma bibliografia vasta e atualizada, como também em variedade de fontes de natureza diversas, Carlos Eduardo França de Oliveira tece apontamentos e questionamentos pertinentes sobre um momento complexo da história do estabelecimento do Estado nacional brasileiro. Sem se deter em um único segmento social em São Paulo e Minas Gerais e, muitas vezes, apontando o que acontecia em outras províncias do Império, o autor esboça o emaranhado de relações múltiplas e cambiantes que esses indivíduos teceram, sem que tal dinâmica se restringisse à cooptação de forças pelo poder central na Corte ou outras associações unilaterais. Desse modo, ancorado nesse processo de ampla complexidade, o autor ressignifica episódios importantes do período, fazendo cair por terra ideias pouco fluídas como “centro” vs. “província” e “interesse nacional” vs. “interesse provincial”.
Notas
1. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Guarulhos – São Paulo.
2. Graduada em História e mestranda do Departamento de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista FAPESP, processo nº 2018/11696-0. E-mail: [email protected]
3. MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Liberalismo, monarquia e negócios: laços de origem. In: ______ (orgs.) Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013, p. 10-11.
4. Ibidem, p. 11.
5. GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América ibérica (c. 1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 183, 2. Semestre 2013.
Referências
GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América ibérica (c. 1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 183, 2. Semestre 2013.
MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Liberalismo, monarquia e negócios: laços de origem. In: MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles (orgs.) Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.
OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. Construtores do Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834 [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017.
Claudia de Andrade1-2 – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Guarulhos – São Paulo. Graduada em História e mestranda do Departamento de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista FAPESP, processo nº 2018/11696-0. E-mail: [email protected]
OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. Construtores do Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834 [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. Resenha de: ANDRADE, Claudia de. O império negociado: agentes provinciais no ajuste da ordem no Brasil independente. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 619-626, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá – Minas Gerais século XIX) | Juliano Custódio Sobrinho
Localizada no sul da Mantiqueira, no sul da Capitania de Minas G, no sul da Capitania de Minas Gerais e próxima ao nordeste da Capitania de São Paulo, a Freguesia de Itajubá se configura como uma região fronteiriça, local de passagem e de rotas comerciais, mas também de habitação e permanência. Seu povoamento data do início do século XVIII, decorrente dos fluxos migratórios ocasionados pela busca por ouro na região que, aparentemente, não prosperaram. Seu núcleo populacional se deslocou no início do século XIX, precisamente em 1819 e, em 1862, foi elevada à categoria de cidade, consolidando-se onde se localiza atualmente. Em Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX), Juliano Custódio Sobrinho aborda a dinâmica interna da Freguesia de Itajubá, suas estruturas produtivas, bem como sua inserção no circuito mercantil do sudeste brasileiro, especialmente na primeira metade do século XIX.
Com base no levantamento, identificação e caracterização do perfil socioeconômico da freguesia, o autor revela uma dinâmica rede de abastecimento interno, impulsionada sobretudo pela agropecuária voltada ao mercado local e regional, bem como ao consumo das unidades produtivas internas. Mercadorias como gado bovino, gado suíno e seus produtos derivados associavam-se a uma crescente produção de bens de raiz e investimentos em escravaria. Valendo-se do método analítico da história serial e da perspectiva da História Social, o autor, podemos dizer, contribui para o crescente campo da “História Social da escravidão”.
Dentre as fontes consultadas, privilegia a investigação de inventários post mortem pertencentes ao Fórum Wenceslau Braz (Itajubá, MG). Menciona também o uso de Listas Nominativas e Mapas de População, para os anos compreendidos entre 1831 e 1835, disponíveis no banco de dados do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR/UFMG), além de visitar outros acervos paulistanos e mineiros, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Cúria Metropolitana de São Paulo, o Centro de Estudos Campanhense Monsenhor Lefort, e o Banco de Dados do Arquivo Histórico Ultramarino. O estudo das fontes se volta não só para uma abordagem quantitativa, senão também qualitativa dos dados, buscando compreendê-los em conjunto.
Segundo Custódio Sobrinho, até a década de 1970 a historiografia pouco se debruçou sobre a dinâmica interna das sociedades coloniais, secundarizando as especificidades regionais e o funcionamento do mercado interno. Trata-se de uma perspectiva historiográfica que não está superada e segue ancorada em um modelo explicativo que compreende as sociedades coloniais a partir das relações externas, invisibilizando suas próprias dinâmicas e especificidades. Não obstante, muitos são os estudos que protagonizam a economia mineira e a vertente historiográfica que privilegia os estudos regionais tem se ampliado, especialmente a partir da década de 1970, quando houve uma inflexão historiográfica no viés interpretativo, protagonizando novos agentes e abarcando novas fontes.
O autor é Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e atualmente é professor da Universidade Nove de Julho (Uninove). O livro é resultante de sua dissertação de mestrado, apresentada em 2009 à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sob orientação da Profa. Dra. Carla M. Carvalho de Almeida, que assina o generoso prefácio. Com 193 páginas, o livro divide-se em quatro capítulos: I – Povoamento e riqueza na capitania do ouro, II – Poder e privilégios entre os “melhores da terra”, III – Escravizados nas páginas dos inventários e IV – Produção agropecuária e perspectivas de mercado.
O primeiro capítulo, “Povoamento e riqueza na capitania do ouro” é subdivido em três tópicos: “A economia colonial nas Minas”, “Mercado interno e a historiografia revisitada” e “A freguesia de Itajubá”. Nele, o autor descreve a formação da freguesia de Itajubá dentro de um panorama mais amplo e discute como o seu desenvolvimento é abordado nos debates sobre a economia colonial mineira. Grosso modo, pode-se dizer que a produção historiográfica define a extração aurífera como determinante da economia mineira e descreve um cenário, a partir do declínio da mineração, em que a extrema estagnação econômica invisibilizou todo um circuito mercantil dedicado à produção interna, em especial a agropecuária.
É inegável que a história de Minas Gerais está intimamente ligada às atividades de mineração, no entanto seu declínio não deve ser compreendido como estagnação econômica, como se houvesse simplesmente engessado dali por diante. Trata-se de um processo importante cujo decaimento resultou em uma dinamização da economia voltada ao mercado interno, inclusive decorrente da necessidade de rearticulação dessa mesma economia diante das transformações do contexto. Para o caso de Itajubá esses rearranjos são verificáveis, por exemplo, na produção agropecuária, e o autor demonstrou que o fortalecimento do mercado interno estava plenamente em consonância com a lógica escravista da sociedade em que se circunscrevia. Nesse sentido, os estudos regionais ampliam o debate no sentido de evidenciar as especificidades locais, demonstrando uma complexidade socioeconômica muito maior inerente às suas próprias lógicas de organização. É a partir desse método interpretativo que Custódio Sobrinho se debruça, como que por uma lupa, fugindo a homogeinizações e generalizações que desapercebem toda uma rede de relações que se articulava internamente.
O segundo capítulo, intitulado “Poder e privilégios entre os ‘melhores da terra’”, também se organiza em três subtítulos: “Percepções demográficas”, “Indivíduos e relações sociais” e “Vida material e hierarquia na freguesia”. Aqui, podemos conferir uma melhor explanação e cotejamento de informações acerca da demografia e do perfil socioeconômico da região em estudo, compreendendo as hierarquias, distribuição de riquezas e vida material por meio da análise em conjunto dos inventários post mortem com os dados levantados por meio do Banco de Dados Populacional do CEDEPLAR-UFMG. A partir de 125 inventários, Listas Nominativas e Mapas de População, o autor evidencia uma sociedade extremamente estratificada, cujos privilégios se expressam, por exemplo, nos bens de herança. Mais que um levantamento quantitativo, Custódio Sobrinho qualifica esses dados, revelando questões sociais em dimensões mais amplas.
O terceiro capítulo, “Escravizados nas páginas dos inventários”, versa sobre a participação dos negros escravizados nas atividades produtivas de Itajubá (suas partes são “Posse de cativos na freguesia”, “A participação escrava” e “Sujeitos, ações e identidades”). O autor procurou traçar o perfil destes sujeitos e compreendê-los enquanto agentes, buscando lançar luzes em suas formas de agir, reagir e resistir. Compreendidos enquanto posse, o levantamento de escravos foi feito também a partir dos inventários post mortem. Nesse caso, as limitações inerentes a esse tipo documental deixam dúvidas acerca de sua suficiência para compreendermos efetivamente a participação dos negros nas unidades produtivas e na própria consolidação da Freguesia de Itajubá. Um arrolamento maior de outras espécies documentais contribuiria melhor para o propósito. De todo modo, Custódio Sobrinho deixa claro não se tratar do objetivo central da pesquisa e sua contribuição se verifica ao demonstrar o quão expressiva foi a participação de pessoas escravizadas nas atividades voltadas ao abastecimento interno em uma freguesia da província que, segundo o autor, deteve o maior contingente de escravos do Império em sua estrutura produtiva.
Pode-se inferir, ainda, que a expressiva importação de cativos para a região deve-se, fundamentalmente, à expansão e diversificação socioeconômica, especialmente a partir do declínio da mineração que impôs a rearticulação da economia. O autor menciona que a província de Minas Gerais se tornou a maior detentora de escravos e assim permaneceu até a abolição da escravidão, em 1888. A produção de alimentos na região também atende à manutenção dos afluxos na importação de escravos durante todo o século XIX e se intensifica com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro. Para além disso, constata em Itajubá uma situação não rara no Brasil oitocentista, mas ainda pouco tratada pela historiografia, em que a mão de obra escrava trabalhava lado a lado com a mão de obra familiar, no caso das pequenas propriedades. De forma mais ampla, Custódio Sobrinho se vale do mapeamento da posse de cativos como indicativo para melhor compreender a estratificação social e a hierarquização das unidades produtivas.
Por fim, o quarto e último capítulo, “Produção agropecuária e perspectivas de mercado”, é também o mais extenso. Dividido em quatro partes (“Produção mercantil”, “Composição dos bens nos inventários”, “Padrões de riqueza e utilização da terra” e “Terras de cultivo, campos de criar: a agropecuária na freguesia”), esse é o capítulo que, talvez, melhor situe o autor dentro de sua própria obra. São oito tópicos que se preocupam em discutir a participação de Itajubá no contexto regional, isto é, sua inserção na produção mercantil sul mineira e sua relação com o Rio de Janeiro. Aqui, o autor se volta a uma caracterização das unidades produtivas, rurais e urbanas, a fim de evidenciar a diversidade econômica da região. Reafirma, ainda, o expressivo envolvimento dessas unidades com o abastecimento interno e a massiva participação das pessoas escravizadas, composta sobretudo por cativos nascidos na região (crioulos).
A partir de um estudo de caso, Juliano Custódio Sobrinho nos apresenta um trabalho pertinente e pormenorizado acerca das estruturas econômicas na Freguesia de Itajubá no Brasil oitocentista. Voltada fundamentalmente ao mercado interno, a pesquisa é provocativa na medida em que demonstra uma complexa rede de relações econômicas e sociais, mais ampla e diversa que a imagem estanque que se pressupunha pela historiografia até a década de 1970. Uma narrativa que se consagrou entre os historiadores que centravam o argumento da dependência econômica externa enquanto modelo explicativo para as colônias e sob um viés que se sedimentava no pressuposto de um capitalismo comercial. Neste sentido, ao passo em que se privilegiava territórios voltados à macroeconomia escravista e de exportação, invisibilizou-se todo um mercado interno do sudeste brasileiro, seus agentes e suas dinâmicas próprias de organização.
Para além dos interessados no caso específico de Itajubá, o livro é indicado àqueles que almejam compreender melhor como se engendram as relações econômicas e sociais que envolvem o sudeste brasileiro no século XIX, bem como os distintos grupos que aí se verificam e se conformam. Por meio da Demografia Histórica enquanto método analítico, o autor buscou caracterizar e compreender as estruturas daquela sociedade, as práticas que a orientam e os agentes que a organizam, para além da dicotomia senhor-escravo. Nesse sentido, nos informa sobre uma sociedade altamente estratificada e hierarquizada, envolvida em uma dinâmica rede de abastecimento interno e que se fundamentava sobretudo na diversidade agropecuária. Ao longo de seu livro, o autor nos revela o entrecruzamento de histórias de uma elite local, emaranhada por relações de parentesco, conflitos por heranças e articulações pela manutenção do patrimônio, junto às diversas formas de cotidiano e resistência dos sujeitos subalternos, sobretudo a população negra escravizada. A obra confere um espectro mais plural para a compreensão de economia e sociedade do centro-sul do Brasil.
Referência
CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX). São Paulo: Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 2017.
Karina Oliveira Morais dos Santos – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Graduada em História pela Universidade Federal de São Paulo; Mestranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-UNIFESP) e bolsista FAPESP. Atualmente em mobilidade internacional enquanto aluna visitante na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). E-mail: [email protected]
CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX). São Paulo: Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 2017. Resenha de: SANTOS, Karina Oliveira Morais dos. História serial e economia de abastecimento no Sul de Minas. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 627-633, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
An Archaeology of the Political: Regimes of Power from the Seventeenth Century to the Present / Elías J. Palti
As is generally known, things turned out differently. The binary scheme of the twentieth century3 did not dissolve into the unambiguity of a market‐liberal world domination, but led to a new obscurity.4 The political proved to be very resistant to politics. It was obviously not finished with a bored administration of what had been achieved. Rather, the space of the political, in which the formations and institutions of collectives are disputed, proved to be still unfinished and inconclusive. The lines of conflict have multiplied and changed constantly since the end of the Cold War. The world appeared to be confused by the resurrection of actors long believed to have been overcome, who suddenly populated the field of politics again: Nationalisms, fundamentalisms, and populisms have since experienced an unforeseen renaissance, even though not only the teachings of the Enlightenment, but also the dialectics of the Enlightenment5 had promised that all this would finally be overcome.
Since the end of the twentieth century, one can continue to wonder how lively, tricky, and imaginative the political is. Neither political nor historical analysis has stopped asserting that atavistic elements could reappear, that historical backwardness could creep into our present, or that a relapse into the Middle Ages could be observed (quite apart from the fact that this would be an insult to the Middle Ages). Donald Trump, Jair Bolsonaro, Brexit, nationalist governments in Hungary, Poland, Austria, Italy, or talk of a struggle between believers and unbelievers—all these phenomena are not simply undead from the past who do not want to disappear. Instead, we are dealing with a new constitution of the political, for the appropriate description of which we do not yet seem to have the right language.
Against this background, it is only too understandable to ask the question of what this political could be in a historical and theoretical sense, this political in which fundamental questions of collectives are disputed. The Argentine historian Elías José Palti chooses a double approach in his “archaeology of the political.” He doubts the existence of a quasi time‐independent essence of the political and tries to emphasize its historical emergence. He recognizes three decisive phases in the history of the political that can be roughly discerned in the seventeenth century, around 1800, and in the twentieth century. In addition to the historical description, Palti also undertakes a theoretical reflection, beginning with the almost classical starting point of Carl Schmitt, followed by the discussion as it has developed in particular since the late twentieth century with the participation of Lefort, Rancière, Badiou, Agamben, Mouffe, Laclau, and others. One cannot claim that since then it has really been clarified what exactly this substantiated adjective “the political” is supposed to address. But that is probably what makes this concept so attractive (for me as well), that, unlike “politics,” it does not pretend to be clearly definable. It is precisely blurriness and flexibility that characterize the political.
Palti wants to nail this jelly to the wall with historical tools. He marks the beginning of the political in the seventeenth century:
The opening up of the horizon of the political is the result of a crucial inflection that was produced in the West in the seventeenth century as a consequence of a series of changes in the regimes of exercise of power brought about by the affirmation of absolute monarchies. It is at this point that the series of dualisms articulating the horizon of the political emerged, giving rise to the play of immanence and transcendence hitherto unknown. (xviii)
Even though I have great sympathy for a privileging of the seventeenth century due to my own research focus, I am not sure whether this setting is convincing. Especially in the world of (formerly) Roman Catholic Christendom after the Reformation, one can certainly find many reasons to let the political begin in this constellation. But to identify the “absolutist monarchies” as a starting point then runs the risk of appearing a little too Hegelian (for it was Hegelianism that contributed decisively to the establishment of the concept of “absolutism,” because it regarded it as a necessary step in the establishment of the “modern state”).6
Why should the political have become relevant only in absolutism? One can hardly imagine a form of human cooperation and opposition in which the political should not have been important. Let’s take the fresco cycle by Ambrogio Lorenzetti from the fourteenth century about good and bad government in the Palazzo Pubblico of Siena, a popular example to illustrate medieval understandings of politics—but also an example of a problematization of the political.7 Or let us take the even more well‐known metaphor of the king’s two bodies.8 In my opinion, both examples could serve to explain Palti’s central concern, namely the relationship between immanence and transcendence. It is their mediation that for him is at the center of the question of the political, namely how the meaning and goal of the political can be justified with a view to a superordinate context (whatever name it may answer to). Palti calls this connection the “justice effect.” But this question also arose before the seventeenth century, albeit perhaps in the opposite direction: it was not so much the transcendent that was in question, but the immanent that had to prove itself in the name of the transcendent.
Palti has this connection in mind. The first chapter of his book is devoted to the “theological genesis of the political.” In it he explicitly poses the question of how the political has developed out of the theological, namely in clear demarcation from this precursor model. For Palti, the political is thus fundamentally new and fundamentally different from the theological attempt to determine the relationship between transcendence and immanence. Thus, he distinguishes himself from Giorgio Agamben, who in The Kingdom and the Glory9 emphasized the continuity between the two discourses. Palti even understands his entire argumentation as a reply to Agamben, whose argument he wants to refute (184).
If it were up to me to choose between Palti and Agamben, I would vote for Agamben. In the context of this review, this will lead me to disagree with some of Palti’s arguments. These responses do not mean, however, that this is a bad book. On the contrary, I would strongly recommend reading it for thematic, methodological, and theoretical reasons. However, my view of the problems presented here is partly different.
Let us begin with some methodological considerations: Palti presents a conceptual history with which he explicitly wants to set himself apart from a history of ideas. For quite understandable reasons, he considers the history of ideas to be anachronistic because it transfers current ideas to past conditions and examines their occurrence there.
One may, however, suspect that his conceptual history does not escape anachronism either. For example, if Palti (in parallel to Koselleck’s “Sattelzeit”10) identifies a “Schwellenzeit” (threshold time) between 1550 and 1650 in which the political gradually detached itself from the theological—isn’t that already an anachronistic statement? Doesn’t one have to know already that one has crossed a threshold before one can state that there was a corresponding threshold time? Isn’t it fundamentally anachronistic to have information at one’s disposal of which past contemporaries could not yet know anything, namely that their approach to the questions of transcendence and immanence could still be relevant in the early twenty‐first century?
In other words, can there be any historical approach at all that is free of anachronism? And by that I don’t mean the case of chronologically wrong classification, of manual error. I mean the mixing of times: Historical questioning must be anachronistic insofar as it brings times that are not simultaneous into contact with one another—and this happens in a highly productive way.
Another difficulty with conceptual history arises from Palti’s claim not to want to rely on ideas alone, like the history of ideas (whatever might be meant by “ideas”). He aims rather at “analyzing how the terrain within which those options could take shape was historically articulated” (28). However, if you look at the terrain that is being paced here, it turns out to be rather sparsely populated. Palti bases his argumentation on a few selected examples whose representativeness is not always plausible. He analyzes extensively Greco’s painting The Burial of the Count of Orgaz, the writing “Defensio fidei” by Francisco Suarez, plays by Shakespeare, Calderón, Racine, and Lope de Vega, the essay by the Capuchin monk Joaquin de Finestrad entitled “El vasallo instruido” from the late eighteenth century, examples from serial music, as well as political and legal theoretical treatises by Carl Schmitt and Hans Kelsen. This is not a complete enumeration, but these are the essential examples that Palti refers to in order to prove the conceptual development of the political over three centuries. Why these persons and artifacts should be representative for the corresponding development is not always clear. One could well have imagined a different selection—above all, a selection that could have illustrated completely different paths of development.
I would like to explain this by using the example of the discussion about absolutism. Palti assumes that absolutism, with the changed position of the monarch, also fundamentally changed the constitution of the political. One can see it that way. This has often been done in traditional historiography on this subject. But what Palti completely ignores are the other stories that can be told about the European seventeenth century and about absolutism.
Doubts about the model of absolutism have been expressed for decades. They condensed into an international debate in 1992, when Nicholas Henshall’s book The Myth of Absolutism was published.11 Since then, the general assessment has been that although there was a political theory of absolutism in the seventeenth century, in practice it permanently failed and reached its limits. This can be well substantiated for the supposed prime example of absolutism, the French monarchy.
Now the debate about whether absolutism has functioned as political practice or not would not have to play a major role for Palti’s conceptual history—because he does not care about the question of actual implementation. What is striking, however, is the limitation that Palti imposes in his description of absolutism and the seventeenth century. He describes this period at least with a view to the political as if absolutism had been the clearly dominant model. And that is not the case. There have been numerous other strands of discussion and practices in which the political has become relevant in this period: republicanism, utopias, communalism, resistance theory, uprisings, revolutions. With reduction and unification, however, Palti’s conceptual history, which claims to take the historical contexts into account, falls into a similar imbalance as the history of ideas itself, from which he wants to distinguish himself.
The reductionism Palti applies is ultimately intended to illustrate the break that he needs in the history of the political in order to make his thesis plausible. He superimposes his idea of the birth of the political in absolutism with a secularization thesis à la Max Weber: the disenchantment of the world. Now, in absolutism, the monarch has the task of creating the unity that no longer goes without saying. I would rather say: Absolutism brings with it (on the theoretical level) a shift in the political discussion, but does not represent a discursive rupture. The theological does not disappear. It moves to new places.
An essential concern of Palti’s becomes clear with this supposed break caused by absolutism—as well as a clear difference from Agamben’s argumentation in The Kingdom and the Glory. Whereas Agamben emphasizes the continuity that exists between theological and secular justifications of the political, Palti emphasizes the break. The political, which raises its head in the seventeenth century, represents something fundamentally new for him.
I, too, would rather emphasize continuity—and this with examples that are in part quite similar to those of Palti. It is therefore less a matter of diametrical views, but of different interpretations of quite similar facts.
What is connected with this is not least the question of the historical location and the essential characteristics of modernity. If one emphasizes with Palti a break in the seventeenth century (the otherwise classic historical site of modern self‐affirmation, the Enlightenment of the eighteenth century, plays a rather minor role in its depiction), then one first identifies ex negativo a period that is characterized above all by not yet being like “the present” and by not yet living in the circumstances that “we” do. Those in the present can constitute themselves by distinguishing themselves from the premodern (living in a different time or a different space).
If one understands, as already said, the political (in contrast to politics) as the unfinished and unclosable space in which questions of the organization of collectives are negotiated, then Palti is certainly right when he states that something not insignificant changed in this space in the seventeenth century. But is it a clear rupture?
I would rather say it is a reversal of the signs while retaining the basic problem—and in this respect I also distrust the self‐description of modernity. The problem of the political is shifting into transcendence. Although until the seventeenth century, the afterlife could be regarded as a fixed point and the here and now an uncertain problem zone, the transcendent increasingly became a problem in the wake of the Reformation. In this world one had to come to other forms of (self‐)insurance.12 And in this immanent world, other (modern) forms of transcendentally oriented ways of faith were developed, which structurally had (and have) similarities with the supposedly premodern ones: the belief in growth, progress, nation, subject, and so on.13
With the help of Niklas Luhmann, the question could be raised as to how system–environment relations were redesigned and which boundaries were actually used to enable the distinction between immanence and transcendence.14 One could then probably conclude that in the seventeenth century this distinction underwent a new shaping. The question now gradually became conceivable whether God makes decisions for the world, or whether transcendent connections must be created from immanent processes. Legitimation, one could say with Luhmann, succeeded now less and less with an otherworldly God, but had to be achieved with worldly procedures.15
The question now, however, is whether with this shift a new epoch dawned, even a new world arose in which the political, which had never existed before, first came to light.
Starting from the break with absolutism, Palti’s depiction takes further steps in chronological order. One chapter is devoted to the late eighteenth and early nineteenth centuries and the emergence of democracy. It refers to Latin America, and more specifically to the political theory of Joaquín de Finestrad. Also in this historical context, which is usually identified with the code “French Revolution,” the argumentation continues: How can a new transcendence be founded from immanence?
Around 1800, this question arises in the context of the emergence of the nation. Here, with “history,” another God‐substitute is used to answer the question of transcendence. With the help of “history,” the nation is detached from the political and becomes naturalized (103). And in such procedures I see more continuities than Palti does, because there are structural similarities between the functions that “God” and “history” take over.
Palti then describes the twentieth century in the sense of a return to the Baroque—on the one hand. For as in the seventeenth century, dualisms break open, reason and history, truth and knowledge, politics and society fall apart. On the other hand, however, in the twentieth century (unlike in the Baroque) transcendence no longer holds the promise of an all‐encompassing unity. Rather, it is the source of contingency that causes systems and orders to falter. To explain this development with the help of serial music, as Palti does, is possible, but not immediately comprehensible. Palti at least claims that the fundamental matrix that can be observed in serial music is underpinned by contemporary thinking about the political. In spite of sympathy for twentieth‐century new music, this connection is not immediately obvious to me. Here a little more argumentative reasoning would have been necessary.16
Palti summarizes the developments of the twentieth century as an age of form in which the historical and evolutionary of the nineteenth century were replaced by the discontinuous. Every new form (and serial music is an example of this) is made possible by a comprehensive reconfiguration of the system (125–126).
Finally, Palti identifies three epochs in his archaeology of the political: the epochs of representation (Baroque), of history (around 1800), and of form (twentieth century). In each of these epochs, the question of the relationship between transcendence and immanence is clarified in different ways.
If we move from Palti’s analysis further into our own present in the early twenty‐first century, we might conclude that, after the three phases of the constitution of the political that Palti introduced, we now find ourselves in the already implied situation of exuberant complexity of the political, precisely because coordinates believed to be certain have been lost, and established strategies no longer seem to function. The closer Palti moves to the early twenty‐first century, the more important emptiness becomes in describing the political. He identifies the concept of the subject as an empty signifier (51, 142) and treats paintings by Kazimir Malevich and Robert Rauschenberg that deal with the emptying of the picture surface (172–176).
In this very emptiness, I would also like to identify the culmination point that is constitutive for discussions about the political. Because the unfinished and unclosable space of the political has no ultimate anchor point, some collectives are quite desperately busy setting such a point. In the afterlife, in the origin, in the telos—wherever it may be found, sooner or later it turns out to be a void. And it is precisely with such empty spaces that collectives seem to have problems. Therefore, I consider postfundamentalist theories (also treated by Palti) to be very helpful in tackling this problem.17
Palti seems to me, however, to meet the problem of the empty foundation of the political only halfway, because he names and describes it, but immediately encloses it again in a historical representation including an epoch model. So Palti’s three phases are too simple. They are too simple because there are only three, and they are too simple because they are too clear. Palti is thus stymied in the interpretation he analyzed for the nineteenth century, the epoch of history. The linear sequence of the models of the political in his argument ultimately becomes the foundation of the political par excellence: the political exists because there is the specific history of the political. This entails the danger that everything is subject to the historical—with the exception of history itself.
Palti’s epochalization of the political thus goes hand in hand with the danger of fundamentalization. Each epoch designation carries the message that, thanks to it, one has found out what a certain time now really “is.” However, the critic of the “jargon of authenticity,” Theodor W. Adorno, has already stated (and explicitly with respect to the Baroque) that epoch designations are incapable of expressing historical complexity. They grasp only mediocrity, but could hardly cover anything that was not subordinate to this average.18 The same must be said of Palti’s Archaeology of the Political: an instructive, scholarly book that offers many insights, but which, with its epochalization, does not do justice to the complexity that arises in the dynamics between the temporal and the political. For these dynamics we probably need a new language, new forms of description, which are not yet available to us as a matter of course.
How about taking seriously the offers of avant‐garde painting that Palti quotes toward the end of his book? What if the white surface of a painting by Malevitch or the erased drawings of a Rauschenberg were taken as an opportunity to reflect more closely on questions of emptiness, negation, representability, and unrepresentability, especially in the historiographical context? Then it would not only be a matter of the possibilities of describing the political, but also of the possibilities of depicting the historical.
It is here that a problem with Palti reveals itself, which seems to me worth discussing about his approach. He relies too much on the historical as the backbone of his argumentation and presentation. For as right and important as it is to question the constitution of the political, it must seem strange to use the historical as its unquestioned support.
It would have been interesting to see how Palti’s argumentation would have changed if he had not relied on the linear logic of chronology, but had made even clearer the respective references and actualizations over time. His view from the seventeenth century to the present would have offered some clues, because it was not by chance that the Baroque was revalued by the discussions about postmodernism and that philosophers such as Spinoza, Pascal, or Leibniz have received much more attention since the end of the twentieth century.
The subject of the political would thus enable the investigation of the folds of time that become relevant when presences refer to absent times. These references are indeed not always linear, but much more creative and complex than the idea of the timeline suggests. Another history of the political would arise in this way. But it, too, would show (in another way) what Palti had intended in his book: that the political is not time‐independent in character.
Notes
1. Jean François Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).
2. Lutz Niethammer, Posthistoire: Has History Come to an End? (New York: Verso, 1992); Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).
3. Alain Badiou, The Century (New York: Polity Press, 2007).
4. Jürgen Habermas, “The New Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies,” Philosophy & Social Criticism 11, no. 2 (1986), 1–18.
5. Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment [1947] (Stanford: Stanford University Press, 2002).
6. Reinhard Blänkner, “Absolutismus”: Eine begriffsgeschichtliche Studie zur politischen Theorie und zur Geschichtswissenschaft in Deutschland, 1830–1870 (Frankfurt am Main: Lang, 2011).
7. Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher,” in Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit: die Argumentation der Bilder, ed. H. Belting and D. Blume (Munich: Hirmer, 1989), 85–103.
8. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology (Princeton: Princeton University Press, 1957).
9. Giorgio Agamben, The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Stanford: Stanford University Press, 2011).
10. Reinhart Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time (Cambridge, MA: MIT Press, 1985).
11. Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy (London: Longman, 1992).
12. The sociologist Elena Esposito has convincingly described this process with respect to the seventeenth century insofar as she has shown the new possibilities of designing other realities by means of probability calculus and fictional literature: Elena Esposito, Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007).
13. Karl Löwith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History (Chicago: University of Chicago Press, 1949).
14. Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000).
15. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren (Neuwied and Berlin: Luchterhand, 1969).
16. For another description of the connection between politics and New Music, see Alex Ross, The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century (New York: Picador, 2007).
17. Oliver Marchart, Post‐foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007). Similar arguments can be found in a still very current book by Leo Shestov, All Things Are Possible (New York: R. M. McBride & Co., 1920).
18. Theodor W. Adorno, “Der mißbrauchte Barock,” in Gesammelte Schriften, vol. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 401–422.
Achim Landweh
PALTI, Elías José. An Archaeology of the Political: Regimes of Power from the Seventeenth Century to the Present. New York: Columbia University. Press, 2017. 235p. Resenha de: LANDWEH, Achim. The (dis)continuous history of the political. History and Theory. Middletown, v.58, n. 3, p.451-459, sept. 2019. Acessar publicação original [IF].
African Thought in Comparative Perspective – MAZRUI (HU)
MAZRUI, Ali. African Thought in Comparative Perspective. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013. 369 p. OLIVEIRA, Silvia. Pensamento africano em perspectiva comparada. História Unisinos, 23(3):475-477, Setembro/Dezembro 2019.
Assente no profissionalismo e na crítica científica, a presente obra traz a público, num único volume, uma coletânea de artigos publicados por Ali Mazrui ao longo da sua carreira, onde apresenta não só os resultados das suas pesquisas enquanto historiador, pesquisador, professor, analista e cientista político, mas igualmente as suas ideias e convicções enquanto cidadão africano, como o mesmo faz questão de se identificar. Apesar de ser pouco abordado no espaço lusófono, a sua experiência, o seu intelecto, o seu carisma, a sua defesa do pan-africanismo e a sua dedicação à causa africana fazem dele um “dos mais prolíficos escritores africanos do nosso tempo” (p. xi), assim como uma referência na produção de conhecimento sobre África, nas suas múltiplas dimensões, com destaque para a pesquisa sobre o Islão e os estudos pós-coloniais.
African Thought é um livro realista e, ao mesmo tempo, apaixonante na medida em que, ao lermos, vemos o cenário de África ser descortinado, ampliando, desse modo, a compreensão do leitor em relação ao continente e aos africanos, de um modo geral, mostrando igualmente que, ao contrário da “irrelevância histórica para a qual foi relegado” (Mazrui, 2013, p. 10), este é detentor de um “repertório intelectual riquíssimo” (Mazrui, 2013, p. XII) que precisa de ser explorado, compreendido, explicado e valorizado. A riqueza das temáticas abordadas e analisadas, que vão desde o “legado dos movimentos de libertação, a convergência e a divergência africana, o pensamento islâmico e ocidental, ideologias nacionalistas, o papel da religião na política africana e o impacto da filosofia clássica grega na contemporaneidade” (Mazrui, 2013, p. XI), visa precisamente cumprir estes pressupostos. Dada a complexidade do objeto de estudo, os editores organizaram este volume em cinco secções autónomas, cada uma delas dividida em capítulos.
A primeira secção – Africanidade comparada: identidade e intelecto – apresenta as teorias e os preconceitos “meio-diabólicos” (Mazrui, 2013, p. 4) que alimentaram, durante séculos, a exploração e a colonização do continente e dos africanos, caracterizados como “crianças imaturas” (Mazrui, 2013, p. 5), “pré-históricos” (Mazrui, 2013, p. 8), “cultural e geneticamente retardados” (Mazrui, 2013, p. 10), posicionados como os menos civilizados na escala evolutiva estabelecida pelo próprio ocidente, catalogações que serviram de pretexto e justificativa para o tráfico de escravos e alimentaram ideias e teorias como o darwinismo social e as conhecidas teorias da modernização e da dependência. Segue-se uma abordagem sobre a legitimação e reconhecimento da filosofia africana enquanto fonte de sabedoria, sendo identificadas três escolas filosóficas, nomeadamente a) escola cultural, também conhecida como etnofilosofia, que assenta na tradição oral e é classificada pelo autor como uma escola de massas, abrangendo os períodos pré-colonial, colonial e pós-colonial; b) ideológica, que reúne as ideias dos ativistas políticos e seus líderes, abrangendo sobretudo o período colonial e pós-colonial, cuja caraterística principal passa pela utilização das línguas ocidentais, sendo por isso considerada mais elitista; c) crítica ou racionalista, composta essencialmente pelos filósofos académicos, enquadrados nas universidades.
Posteriormente, Mazrui identifica as cinco maiores tradições do pensamento político em África, nomeadamente, a) conservadora, ou solidariedade tribal, assente na continuidade (da tradição) em detrimento da mudança. Esta engloba três subtradições: the elder tradition (o respeito pelos mais velhos), the warrior tradition (a tradição dos guerreiros) e the sage tradition (a sabedoria); b) nacionalista, que surge parcialmente como resposta à arrogância da colonização branca, podendo assumir diferentes dimensões, nomeadamente, nacionalismo linguístico, religioso, rácico, pan-africanismo, etnicidade (unidade tribal), nacionalismo civilizacional; c) liberal-capitalista, com ênfase no individualismo económico, na iniciativa privada, assim como na liberdade civil; d) socialista, e) internacional ou não alinhamento. O autor salienta ainda o papel e a importância da memória coletiva identificando, para o efeito, quatro funções da mesma, nomeadamente: preservação, seleção, eliminação e invenção, bem como a questão dos arquivos africanos que assentam sobretudo na tradição oral.
Ao alertar para a necessidade de compreensão e distinção entre relativismo histórico (diferença entre épocas históricas) e relativismo cultural (diferença em termos de valores entre sociedades) no início da segunda secção, o autor introduz a temática sobre a presença do Islão no mundo e em África, constituindo este, a par da africanidade e da influência ocidental, uma das suas heranças, denominada pelo autor de triple heritage (tripla herança). Posteriormente, Mazrui apresenta a sua teoria sobre a existência de cinco níveis de pan-africanismo: 1) Subsariano, que congrega a união dos povos negros ao sul do Sara; 2) Trans-Subsariano, a unidade do continente como um todo, tanto ao norte como ao sul do Sara; 3) Transatlântico, que engloba igualmente a sua diáspora pelo mundo; 4) Hemisfério Ocidental, união dos povos descendentes de africanos e que se encontram no ocidente; 5) Global, a conexão de todos os negros e africanos pelo mundo. É feita ainda referência à Negritude como movimento cultural, no qual o autor distingue duas categorias, nomeadamente: a literária, que inclui não só a literatura criativa, mas igualmente aspetos da esfera política e social, e a antropológica que corresponde a um estudo romantizado de uma comunidade tribal africana por um etnógrafo africano.
É a partir da filosofia e da construção do conhecimento que Mazrui reflete sobre a influência que a filosofia ocidental exerce(u) sobre os africanos, sobretudo sobre os nacionalistas. Composta por seis capítulos, a terceira secção é dedicada à construção do nacionalismo africano e às suas diferentes manifestações. O autor defende que a herança greco-romana foi utilizada pelo ocidente com propósitos sombrios, servindo como justificação para a colonização, sendo o exemplo belga na República Democrática do Congo (RDC) o mais pragmático de todos. Assim sendo, o autor defende que a Negritude não é mais do que “a resposta do homem negro à mística greco-romana” (Mazrui, 2013,p. 146). Mas é igualmente essa mesma filosofia que influencia o pensamento africano, em particular os nacionalistas, tornando-se eles próprios, de certa maneira, filósofos, ao beberem e defenderem, posteriormente, as teorias de Hobbes, Rousseau e Lénin, entre outros autores, que estarão na base da luta pela igualdade e libertação do continente, constituindo por isso três formas de resistência, nomeadamente, 1) tradição guerreira: assente na cultura indígena; 2) resistência passiva: técnica utilizada por Gandhi; 3) revolução marxista, tendo como exemplo os casos das ex-colónias portuguesas, nomeadamente, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.
No entanto, a luta não se circunscreveu às fronteiras do continente, sendo que a diáspora também arregaçou as mangas e deu o seu contributo; exemplos dessa luta são Frederick Douglas e Du Bois. Outros aspetos igualmente importantes para a compreensão da dinâmica política contemporânea do continente prendem-se com a questão do religioso, da tradição, da cultura e, consequentemente, da ética, na análise dessas temáticas. E o autor chama a atenção para a sua importância na quarta secção, a mais curta de todas as secções. De uma forma bastante simples, porém, completa, são-nos apresentadas as características do religioso em África, nomeadamente, a) étnicas, b) não expansionistas, c) universalistas, d) ausência das sagradas escrituras, tendo como base a tradição oral, e) língua nacional, f) não separação dos assuntos terrenos e espirituais, ou seja, não se assentam na fé. Outras peculiaridades culturais que fazem do continente aquilo que ele é, como o casamento, os casamentos inter-raciais, a poligamia, entre outras, são igualmente analisadas por Mazrui, que alerta para a exercem no quotidiano dos africanos ainda na contemporaneidade e pelo fato de nos ajudarem a perceber a atual situação do continente, funcionando igualmente como pressupostos de análise do pós-colonial.
Nos seis capítulos que compõem os Ensaios Conclusivos, o autor traz a debate temáticas mais contemporâneas, que têm levado a uma continuidade da ideia periférica que se construiu e se continua a construir sobre o continente, nomeadamente, pós-colonialismo, multiculturalismo, modernidade, democracia, globalização, entre outras. Ao alertar para a necessidade de pensarmos e debatermos o pós-colonial ou o que “Said chamou de orientalismo e Mudimbe chamou otherness” (Mazrui, 2013, p. 287), Mazrui relembra a tripla herança africana e aponta para os diferentes instrumentos de que o ocidente tem feito uso para manipular o discurso que vai contra a visão do mundo implantada pelo próprio ocidente, monopolizando e perpetuando, deste modo, os seus próprios paradigmas em relação ao “Outro” (Mazrui, 2013, p. 288), numa tentativa de continuar a dominar, mostrando a sua supremacia, da qual a globalização se apresenta como o exemplo mais flagrante.
Apesar da obra estar disponível apenas em língua inglesa, o que constitui uma condicionante para os não falantes dessa língua, não podemos deixar de realçar que, pela riqueza de informações e pela crítica científica que serve de base para a sua análise, estamos em presença de material de consulta obrigatória para qualquer ramo do saber, não só direcionado para a área dos estudos sobre África, mas igualmente sobre a temática da produção do conhecimento sobre o pós-colonial, numa perspetiva macro. Com efeito, uma das suas inovações é precisamente a transdisciplinaridade do autor na análise dos diferentes temas com destaque para a sistematização teórica do pensamento político africano, a sociedade africana, filosofia, multiculturalismo, globalização, bem como a visão global que emprega nessa análise, levantando mais questões do que dando respostas às interrogações iniciais. Por outro lado, a sua riqueza bibliográfica dá-nos igualmente pistas para futuras leituras e pesquisas sobre as diferentes temáticas, alimentando desse modo o debate científico e abrindo caminhos futuros de pesquisa.
Pela sua importância, não podemos igualmente deixar de referir aspetos que a podem fragilizar, como o fato do autor não aprofundar o debate sobre a responsabilidade das elites africanas pela atual situação em que se encontra o continente, as falhas no processo de construção da democracia, assim como em relação à realidade que enfrentam os africanos na contemporaneidade, os desafios e expectativas em relação ao futuro. Talvez seja esse o propósito, ou seja, despertar em cada um dos leitores outras interrogações que conduzam à produção de mais conhecimento sobre o continente, desmistificando, deste modo, a ideia preconcebida e obscura que se foi construindo ao longo dos séculos.
Notas
2 A partir dessa parte da resenha, os trechos em itálico são grifos presentes no livro.
Silvia Oliveira – Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Assis, Avenida Dom Antonio, 2100 – Parque Universitário, 19.806-900 Assis, São Paulo, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: [email protected].
Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX) – MAGALHÃES (RHHE)
MAGALHÃES, Justino. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Lisboa: Educa; Unidade de I&D de Ciências da Educação, 2010. 644p. Resenha de: CARVALHO, Bruno Bernardes. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Revista de História e Historiografia da Educação, Curitiba, Brasil, v. 3, n. 9, p. 198-204, setembro/dezembro de 2019.
A obra “Da Cadeira ao Banco: Escola e Modernização (Séculos XVIII – XX)”, de autoria de Justino Magalhães, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é leitura essencial aos pesquisadores da História da Educação. Partindo da metáfora que dá título ao livro, o autor faz uma incursão pelos séculos XVIII ao XX, munido pela erudição que lhe é peculiar. Além do profundo trabalho de pesquisa, o autor nos oferece uma visão sobre a “história da longa duração”, isto é, o processo histórico de constituição da escola e da educação escolar enquanto instituintes e institutos da Modernidade na Europa. Adotando a perspectiva da síntese historiográfica, pela visão ampliada do processo de escolarização, o conjunto de análises e reflexões apresentadas na obra são importantes contribuições à historiografia educacional, pois faz emergir categorias de análise, que servem de aporte para outras investigações, como por exemplo: estatalização; nacionalização; governamentação; regimentação; cultura escrita; e munícipio pedagógico, discutidas em artigos e livros anteriores por Justino Magalhães.
O livro divide-se em três partes: Questões Introdutórias; Parte I – História do Educacional Escolar Português; e Parte II – Da Cadeira ao Banco. A primeira é composta por ensaios que versam sobre a História da Educação, enquanto área de pesquisa, e a escola como objeto historiográfico. Magalhães (2010) ressalta o vínculo existente entre história e educação, e entre educação e sociedade. Coloca em relevo a educação e o educacional escolar como elementos basilares da Modernidade, aqui entendida como o longo ciclo histórico que abrange os séculos XVIII a XX. Também destaca que a escola e a cultura escolar, no desenvolvimento histórico, tornaram-se constitutivas e instituintes da Modernidade, desempenhando papel de relevo na modernização da sociedade e no processo de constituição dos estados nacionais. Nesse âmbito, a educação, e mais especificamente a educação escolar, mediante a generalização da cultura escrita, forneceu as bases de legitimação para constituição e afirmação do Estado em relação à sociedade. Pensada e institucionalizada como forma de regenerar a sociedade via consecução da cidadania, a escola evoluiu assentada no paradoxo modernização-tradição, de preparar o futuro pela reafirmação do passado. Questões que ele procura demonstrar tomando por mote a análise do caso português, objeto do capítulo seguinte. Além deste argumento central, o tópico introdutório contém reflexões sobre a História, a prática historiográfica e a pesquisa em História da Educação, sendo que o autor defende uma perspectiva epistemológica que perpasse diferentes dimensões espaço-temporais: curta, média e longa duração; local, regional e nacional; em escalas micro, meso e macro.
Já na Parte I, História do Educacional Escolar Português, Magalhães procura “reconstituir” a gênese e desenvolvimento da escola em Portugal, buscando estabelecer a cronologia desenvolvimento do sistema educativo português, tomando sempre em consideração o educacional escolar, como resultante da relação escola-sociedade. O período analisado (séculos XVIII – XX) é caracterizado por ciclos: es-tatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Progressivos e integrativos, cumulativa e lentamente resultaram na institucionalização da escola em Portugal, numa perspectiva da História enquanto processo.
A estatalização compreende o período que vai de 1752 quando Marquês de Pombal assume o poder, até 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Compreende, assim, o seguinte feixe de características e processos: a ênfase da escrita como elemento de estruturação e organização do social; a escolarização do ensino e da cultura escrita; a escrita e a escola enquanto condição e instância de civilidade, ou seja, a emergência de “um proto-sistema escolar”, conforme nominado pelo autor, pois com esta estrutura “embrionária” se estabelece o “Subsídio Literário”. Neste cenário a instrução adquiriu centralidade, tornando-se matéria de interesse público, desígnio a ser assumido pelo Estado. Iniciava-se a transfiguração da educação em tecnologia do social, como meio de racionalização da sociedade e do estado nacional.
A partir da implantação do liberalismo em Portugal (1820), o desenvolvimento histórico educacional português promove um processo de nacionalização, já que a ênfase passa a recair na consolidação da nacionalidade portuguesa. A instrução pública acena com centralidade na construção de uma identidade pátria, a escola e a cultura escolar são nacionalizadas, mediante alguns processos a se destacar: a nacionalização curricular; a burocratização da estrutura escolar; a normalização pedagógica; protagonismos das instâncias locais, em especial as paróquias e municípios; adoção e reforço da língua vernácula como base da cultura escrita e da cultura escolar. Escola e nacionalidade caminharam associadas no período em questão, valorizando-se o nacional, as tradições e os valores pátrios, visando a construção de uma portugalidade.
O terceiro período histórico do desenvolvimento educacional português, trabalhado por Magalhães, século XIX, é caracterizado como ciclo em que a educação escolar se estrutura num sentido de maior organização e burocratização. Para Magalhães a escola nacional, além de reconfigurar o sentido do escolar, instala a governamentação, ou a burocratização do educacional escolar, com vistas a modernizar a escola e, por conseguinte, transformar a sociedade. O Estado português assume maior protagonismo na organização da escola, instituindo normas de escrituração escolar, uniformizando o currículo, criando órgãos de governo para inspeção do ensino, ampliando o aparelho pedagógico-administrativo, profissionalizando o magistério, enfim, variadas ações no sentido de conferir uma racionalidade burocrática à educação. Organizando a escola, pretendia-se o ordenamento e a regeneração da sociedade.
Há que se destacar também neste ciclo de governamentação, o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução em Portugal. Muito embora as ações empreendidas pelo governo português indiquem uma centralidade, com o estado nacional promovendo a normatização do escolar, os municípios portugueses contavam com certa porção de autonomia, resultado da descentralização administrativa, constituindo-se como “municípios pedagógicos”, espaços não somente de ação e decisão política, mas territórios essencialmente pedagógicos, educacionais, envolvendo-se diretamente na organização da instrução em seus domínios. É possível afirmar que exista uma autonomia regulada, ou seja, uma descentralização normatizada, em que as instâncias locais contavam com certo grau de autonomia, ao passo que o estado nacional, sobretudo, por meio da inspeção de ensino, normatizava e conferia uma racionalidade burocrática a educação escolar.
Por fim, o quarto ciclo histórico caracterizado pelo autor, a regimentação, define um período de vínculo e condicionamento entre escola e regime político. Trata-se de uma aproximação, ou mesmo de uma fusão entre os ideais do regime político instituído e a educação, entre a escola e o Estado. A escola é literalmente regimentalizada, ou nas palavras de Magalhães (2010), tem-se a “prevalência do Estado, arrastando e arrestando a escola para si” (p.349), uma aliança entre escola e regime com vista ao progresso do país. O período de regimen-tação abrange tanto a República quanto o Estado Novo em Portugal1. Durante o período republicano a tônica recai em republicanizar a escola, a fim de se republicanizar o país. Fundem-se neste sentido os ideais de cidadania, republicanismo, nacionalismo, patriotismo. A escola republicana objetivava formar o cidadão republicano, o homem novo. A escola emerge neste período consolidada enquanto tecnologia do social, como meio de ordenação e progresso da sociedade. pela via da escolarização pretendia-se a regeneração do social. E no que se refere ao chamado Estado Novo em Portugal, tais concepções são ainda mais acentuadas durante a administração salazarista: reforça-se a ideologização do ensino, com forte apelo cívico-nacionalista. Conforme metáfora do autor, “do velho se fez novo”, o Estado Novo se apropria da regimentação do educacional republicana, reincidindo sobre o teor nacionalista.
Na Parte II da obra, “Da Cadeira ao Banco”, o autor retoma os quatro ciclos históricos apresentados na seção anterior, agora tomando por argumento central a cultura escolar e seu processo histórico de constituição. Somente aí temos claramente apresentado o conceito presente na metáfora da “Da cadeira ao Banco”: assim como a criança, que ao entrar na escola levava consigo sua própria cadeira, e ao passo de seu desenvolvimento intelectual ascendia à bancada e à mesa central, a escola enquanto instituição social, também pode ser entendida metaforizada num processo de crescimento, que perpassa segundo o autor, dois séculos de história. Nesta parte da obra a cronologia não é mais o ponto principal da análise, mas sim os aspectos gerais e mais profundos que caracterizam o desenvolvimento da escola em sua relação intrínseca com a sociedade. Magalhães destaca que: “O processo de passagem da cadeira ao banco/ bancada espelha a evolução da instituição escolar, no plano interno e na sua relação com a sociedade (…)” (p. 414).
Da cultura escolar em Portugal, instituída historicamente e instituinte do social, são indicados os vetores centrais do processo de constituição do escolar em Portugal: a universalização da escola e da cultura escrita ao longo destes dois séculos; a escola concebida como como tecnologia do social, via de legitimação e consolidação do Estado-Nação; o paradoxo escolar de construção do futuro pela preservação da tradição, ou em outras palavras, a contradição escolar de pretensamente fornecer os meios de regeneração e progresso da sociedade, mediante a reafirmação de valores pátrios e da tradição; o crescente processo de regulamentação e burocratização do educacional escolar, aliado as ideologias dos regimes políticos; o caráter essencialmente educacional da Modernidade, na estreita e complexa relação existente entre modernidade, cultura escrita, escola, cidadania e estado-nação. Em linhas gerais, esta segunda parte da obra cristaliza a concepção de que a cultura escrita como meio, e a escola como centro, caracterizam a Modernidade enquanto processo civilizacional, destacando a relevância e o significado histórico do processo de escolarização como instância de modernização da sociedade portuguesa.
Importante mencionar que o autor dedica um capítulo especial para análise da realidade educacional brasileira, demonstrando inclusive diálogo fértil com pesquisadores brasileiros. Empreendendo uma análise comparada, analisa os ciclos históricos do educacional no Brasil, tomando por base as mesmas categorias do caso português: estatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Dentre outras questões, Magalhães (2010) destaca o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução primária brasileira, apontando para uma municipalização da instrução.
Numa inapropriada síntese, dada a complexidade e profundidade da obra em tela, aos que se interessarem pela leitura e pelo vai-vém “Da Cadeira ao Banco”, será possível ter uma melhor compreensão da relação existente entre escola, sociedade e Modernidade. Enquanto tecnologia do social a escola é instituto e instituinte, fator de modernização. À imagem da criança que adentra à escola com sua cadeira, somos conduzidos pelo autor, que espelhando a ação do mestre nos insta a aprofundar nosso entendimento sobre o processo de escolarização, tomando nosso lugar na bancada ao centro da sala.
Notas
1 A implantação da República em Portugal data de 1910, enquanto o Estado Novo tem sua origem em 1926, perdurando até 1974, sendo também este último período denominado de salazarismo.
Bruno Bernardes Carvalho – Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (Brasil). Contato: [email protected].
Noites circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no século XIX – DUARTE (RBH)
A segunda edição de Noites Circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no século XIX, de Regina Horta Duarte, chegou aos leitores em 2018. Na sua primeira edição (Campinas: Ed. Unicamp, 1995), o livro foi saudado como trabalho muito bem escrito e cativante (Mello e Souza, 1996) e considerado referência para estudos sobre teatro e circo no Brasil (Silva, 1996). Os que lerem a nova edição constatarão que a obra não envelheceu e continua digna desses elogios. Leia Mais
Bram Stoker e a Questão Racial. Literatura de horror e degenerescência no final do século XIX | Evander Ruthieri da Silva
Proponho analisar o livro Bram Stoker e a Questão Racial. Literatura de horror e degenerescência no final do século XIX (2017), livro de estreia do jovem historiador Evander Ruthieri da Silva, e que teve como base sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Nele Ruthieri faz um trabalho primoroso de história social dos intelectuais, nos mostrando as redes de sociabilidade em que Bram Stoker circulava, a articulação entre seu projeto literário e o seu projeto intelectual.
Queremos com essa análise colocar em evidência essas categorias (redes de sociabilidade, circulação e projeto literário), apontando como hipótese o uso intuitivo delas, em outras palavras, evidencia que seu intento será ir além das simples verbalizações que dará novas possibilidades de ver o mundo literário. Gostaríamos de apontar nesse texto os caminhos escolhido pelo autor como uma possibilidade de pensar a história dos intelectuais a partir da relação autor-obra-leitor. Isto me permitirá, com mais liberdade, imaginar e compreender as formações discursivas que circulam nesse período, bem como aferir o movimento das categorias mencionadas acima. Leia Mais
Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970 – CLARK (THT)
Catherine Clarke. Foto: Comparative Media Studies – MIT /
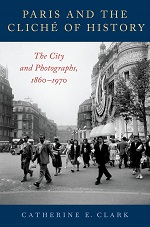
In this social history of photography, Catherine E. Clark demonstrates that the visual discourses and methodologies used to document the historical and urban landscape of France’s capital were constantly being reconceptualized over the course of the nineteenth and twentieth centuries. Journalists, curators, city officials, amateur and professional photographers, and societies contributed to a history of Paris that was inextricably linked with a history of photography. Woven into the book’s narrative is an institutional history of the Bibliothèque historique, the Musée Carnavalet, the Fédération nationale d’achats des cadres (FNAC), and the Vidéothèque de Paris vis-à-vis the local/national initiatives and photography contests they sponsored that punctuated, but also commemorated, larger historical shifts such as Haussmannization, the Occupation and Liberation of Paris, Americanization, and “les trente glorieuses.” By examining photographic collections spawned by these events, Clark presents a colorful portrait of how the French, but also foreign tourists, saw the city and interpreted its past, present, and future amid urban transformation.
The book begins with the overarching question: What is the history of preserving, writing, exhibiting, theorizing, and imagining the history of Paris photographically? (p. 1). These concerns are deftly addressed together in each of the five chapters, tracing the way in which understandings of the photographic image—its purpose, function, and the history it purported to communicate— shaped and were shaped by commercial and non-commercial interests. Building on earlier scholarship produced by cultural theorists such as Guy DeBord, Roland Barthes, and Susan Sontag, who view visual spectacle as a metaphor for changing relationships within the city, Clark adds her own original interpretation, arguing that the production, preservation, and use of photographs influenced, informed, and determined how people thought about Paris as a museum city and engaged with it physically (p. 216).
Chapter 1 focuses on Haussmannization, a city works project that precipitated the first major effort to document the destruction of “Vieux Paris.” Through the process of modernization, municipal authorities, archivists, and museum directors slowly shifted their reliance on more traditional forms of visual historical documentation (e.g., maps, paintings, and sketches) to the photograph as they discovered its inherent value as a piece of “objective” historical evidence. A method of scientific visual history, as Chapter 2 illustrates, came to the fore and introduced new “modes of seeing history” by the turn of the century (p. 2). Now considered “an objective eyewitness to history,” the photograph gave rise to photo-histories that were more didactic in their narration of historic events, providing explanations to viewers of how they should interpret the image.
Chapter 3 shows how the Occupation and Liberation of Paris engendered different “mode[s] of reading the photo” (p. 3). Through the practice of repicturing, heavily censored yet seemingly innocent photo-histories of famous Parisian landmarks kept the French revolutionary tradition alive by including a combination of visual forms that would recall acts of resistance embedded in viewers’ historical imagination. Seven years later, the Bimillénaire de Paris of 1951 reduced the photographic image to a visual cliché, and the subjects who figured in those pictures to typologies. Celebrating the last 2,000 years of French history, the Bimillénaire assumed a political bent and “appealed to those who sought to promote Paris as the commercial capital of Europe, backed by centuries of culture and history, not as an intellectual capital of revolutionary political thought” (p. 132). Chapter 4’s discussion of the city’s attempt to promote Paris as modern and futuristic in promotional posters, traveling exhibits, and magazines depended upon older models of seeing history and reading representations that attested to both change and continuity. Chapter 5 examines “C’était Paris en 1970,” a photo contest commissioned by the store FNAC that involved over 15,000 amateur photographers photographing everyday life within Paris (p. 174). Yet the very title of the contest underscored more of what had changed in the last 110 years of photographic documentation and collection rather than what remained the same. Whereas the historical value of a nineteenth-century photograph had taken decades to appreciate, historical value was immediately conferred the moment the photo was taken by the last third of the twentieth century.
This well-researched book will be of interest for those studying urban history, the history of Modern France, visual culture, and archival management. With over eighty illustrations, there is no lack of material with which to engage students. Its slim size and readily accessible prose is appropriate for both upperlevel undergraduates and graduate students, as it complements more in-depth theoretical discussions and debates on the politics of memory and the effects of technology in shaping national and local identities. Its interdisciplinary treatment of photography, publishing, the history of Paris, and the recording, preservation, and promotion of that history makes this an intriguing and indispensable text.
Lela F. Kerley – Ocala, Florida.
[IF]Porous Borders: Multiracial Migrations and the Law in the U.S.-Mexico Borderlands – LIM (THT)
LIM, Julian. Porous Borders: Multiracial Migrations and the Law in the U.S.-Mexico Borderlands. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2017. 320p. Resenha de: BELL-WILSON, Chloe. The History Teacher, v.52, n.4, p.719-720, ago., 2019.
Borderlands history, already a crowded field, has found a new, multiracial, multinational narrative in Julian Lim’s Porous Borders: Multiracial Migrations and the Law in the U.S.-Mexico Borderlands. In her introduction, Lim sets out clearly what she intends to do: mitigate the history about erasure and reveal the history of the multiracial past that “has become so hidden, erased from geographical and historical landscape of the borderlands and the nation itself” (p.5). Spanning the 1880s to the 1930s and using rich archival sources from both sides of the Mexican-American border, she shows how the borderlands was never just a space where people of two opposing nationalities vied for dominance. Instead, it was a complicated place that saw the intersection of Native Americans, white (or more white) Mexicans and Americans, black peoples, and Chinese peoples.
Lim looks mainly at the border town of El Paso, Texas, tracing its foundation as a small backwater to its growth into a thriving commercial metropolis, thanks to the arrival of the train. As a border town, El Paso proves an effective window into larger ideations of race, class, and nationalities from both the United States and Mexico. She also examines the sister city of Ciudad Juárez, just on the other side of the border, to illuminate similarities and differences in the two countries.
For a large portion of her work, Lim draws upon legal evidence to substantiate her claims. Some of what she draws upon is well known, like the Treaty of Guadalupe Hidalgo and the Chinese Exclusion Act. But in her assessment, she adds a layer of complexity by showing not only how those in power expected their legislation to function, but also how everyday people circumvented them or, indeed, used them to their own advantage. The Chinese, she explains, were able to flout the Exclusion Act by trickling into El Paso through Mexico. They also used, for a time, racial blending to avoid detection, successfully masquerading as Mexican to cross into the United States. She also makes use of more everyday court cases, like those of miscegenation, workers compensation, and race classification. Though the prohibition of black/white relationships in twentiethcentury America is well known, Lim adds to the interrogation of interracial relations by investigating the way the courts attempted to regulate intermarriage between Chinese, Mexican, and African Americans. In doing so, she shows how socio-cultural norms translated into legal proceedings, and vice versa.
Additionally, Lim’s commitment to showing a well-rounded, inclusive narrative produces an analysis that shows how racial and national identity intersect to create complicated lives. One of her strongest points to this effect is her analysis of how African Americans, after finding themselves rejected by Mexico as either immigrants or tourists, identified even more strongly as proud Americans, even as conditions in the Jim Crow South continued to deteriorate for them. She also carefully traces agency for each group across the entire period she assesses. She opens her work with a detailed assessment of the role Native Americans had in constructing the borderlands, showing that their patterns of commerce, travel, and living in fact set the stage for how the borderlands developed. Rather than abandoning their narrative after both Mexico and the United States forcibly displaced them, however, she then follows their story through the rest of her work.
For example, in 1916, the Apache acted as scouts for the U.S. military during the retaliatory Punitive Expedition in response to the feared invasion of Pancho Villa. Thus, importantly, Lim asserts the continued presence and role of Native Americans at the border.
With clear, well-written prose, Porous Borders provides an illuminating narrative that would be useful for both undergraduate and graduate students looking to understand more about the evolvement of the Mexican-American border into what it is today. For secondary school teachers, Lim’s complex understanding of landmarks in history, like treaties and major immigration legislation, can be used to help students understand the difference between intentions of those in power and the realities of everyday life. Overall, Lim provides a fascinating insight into a period and a narrative that too often faces neglect in borderlands history. Her balance of cultural and legal history in the borderlands provides insight into how large-scale events play out at the local level—a useful conceptualization neatly applied and worth copying.
Chloe Bell-Wilson – California State University, Long Beach.
[IF]Unredeemed Land: An Environmental History of Civil War and Emancipation in the Cotton South – MAULDIN (THT)
MAULDIN, Erin Stewart. Unredeemed Land: An Environmental History of Civil War and Emancipation in the Cotton South. New York: Oxford University Press, 2018. 256p. Resenha de: SCHIEFFLER, G. David. The History Teacher, v.52, n.4, p.720-722, ago., 2019.
Erin Stewart Mauldin’s Unredeemed Land is the latest addition to the vast body of literature that explains how the Civil War and emancipation transformed the rural South. Whereas previous scholars have highlighted the war’s physical destruction, economic consequences, and sociocultural effects, Mauldin, an environmental historian, examines the profound ecological transformation of the Old South to the New. Using an interdisciplinary methodological approach, she argues that the Civil War exacerbated southern agriculture’s environmental constraints and forced farmers—“sooner rather than later”—to abandon their generally effective extensive farming practices in favor of intensive cotton monoculture, which devastated the South both economically and ecologically (p. 10).
Mauldin contends that most antebellum southerners practiced an extensive form of agriculture characterized by “shifting cultivation, free-range animal husbandry, slavery, and continuous territorial expansion” (p. 6). Although the South’s soils and climates were not suitable for long-term crop production, most farmers circumvented their environmental disadvantages by adhering to these “four cornerstones” (p. 6). Ironically, however, these very practices made the South especially vulnerable to war. When the Civil War came, Union and Confederate soldiers demolished the fences that protected southern crops, slaughtered and impressed roaming livestock, razed the forests on which shifting cultivation and free-range husbandry hinged, and, most significantly, destroyed the institution of slavery on which southern agriculture was built. Mauldin’s description of the Civil War’s environmental consequences echoes those of Lisa M. Brady’s War Upon the Land (2012) and Megan Kate Nelson’s Ruin Nation (2012), but with an important caveat: in Mauldin’s view, the war did not destroy southern agriculture so much as it accelerated and exacerbated the “preexisting vulnerabilities of southern land use” (p. 69).
After the war, southern reformers and northern officials urged southern farmers, white and black, to rebuild the South by adopting the intensive agricultural practices of northerners—namely, livestock fencing, continuous cultivation, and the use of commercial fertilizers as a substitute for crop and field rotation. Most complied, not because they admired “Yankee” agriculture, but because the “environmental consequences of the war—including soldiers’ removal of woodland, farmers’ abandonment of fields because of occupation or labor shortages, and armies’ impressment or foraging of livestock—encouraged intensification” (p. 73). Interestingly, many southerners initially benefited from this change. Mauldin contends that the cotton harvests of 1866-1868 were probably more successful than they should have been, thanks to the Confederacy’s wartime campaign to grow food and to the fact that so much of the South’s farmland had lain fallow during the conflict. In the long run, however, this temporary boon created false hopes, as intensive monoculture “tightened ecological constraints and actively undermined farmers’ chances of economic recovery” (p. 73). Mauldin argues that most of the southern land put into cotton after the war could not sustain continuous cash-crop cultivation without the use of expensive commercial fertilizers, which became a major source of debt for farmers. At the same time, livestock fencing exacerbated the spread of diseases like hog cholera, which killed off animals that debt-ridden farmers could not afford to replace. Finally, basic land maintenance—a pillar of extensive agriculture in the Old South—declined after the war, as former slaves understandably refused to work in gangs to clear landowners’ fields and dig the ditches essential to sustainable farming. Tragically, many of those same freedpeople suffered from planters’ restrictions of common lands for free-range husbandry and from the division of plantations into tenant and sharecropper plots, which made shifting cultivation more difficult. And, as other scholars have shown, many black tenants and sharecroppers got caught up in the crippling cycle of debt that plagued white cotton farmers in the late nineteenth century, too.
Mauldin’s story of the post-war cotton crisis is a familiar one, but unlike previous scholars, she shows that the crisis was about more than market forces, greedy creditors, and racial and class conflict. It was also about the land. Despite diminishing returns, southerners continued to grow cotton in the 1870s, not only because it was the crop that “paid,” but also because ecological constraints, which had been intensified by the war, encouraged it. Instructors interested in teaching students how the natural environment has shaped human history would be wise to consider this argument. They should also consider adding “ecological disruptions” to the long list of problems that afflicted the New South, as Mauldin persuasively argues that the era’s racial conflict, sharecropping arrangements, and capital shortages cannot be understood apart from the environmental challenges that compounded them (p. 9).
In the 2005 Environmental History article, “The Agency of Nature or the Nature of Agency?”, Linda Nash urged historians to “strive not merely to put nature into history, but to put the human mind back in the world.” With Unredeemed Land, Erin Stewart Mauldin has done just that and, in the process, has offered one way in which history teachers might put the Civil War era back in its natural habitat in their classrooms.
David Schieffler – Crowder College.
[IF]Accounting for Slavery: Masters and Management – ROSENTHAL (THT)
ROSENTHAL, Caitlin. Accounting for Slavery: Masters and Management. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019. 312p. Resenha de: MUHAMMAD, Patricia M. The History Teacher, v.52, n.4, p.724-725, ago., 2019.
Scholars have written extensively concerning the Trans-Atlantic slave trade’s intricate financial regime promoted through multi-lateral treaties, slaving licenses, nation states, private companies, and slavers, proprietors, and bankers who financed and insured this barter in human commodities. In Accounting for Slavery, Professor Caitlin Rosenthal outlines municipal slavery business structures primarily in the West Indies; with slaveowners at the highest rank, followed by overseers and attorneys who were property managers. Using the terms “proprietor,” “balance,” “tally,” “middlemen,” and “employees,” Rosenthal transposes this verbiage with “plantation owner,” “bottom line,” “slaves,” “skilled workers,” “overseer,” and “watchmen”—demonstrating the level of accounting practices slaveowners developed.
Interlaced with technical nomenclature, the author includes historical events that affected plantation operations, such as the Maroon Rebellion in Jamaica and more frequent occurrences of sabotage of production output and plots to escape slavery’s brutality. She furthers her analysis by discussing crimes against humanity such as branding and torture as false incentives to increase labor production and compliance. Thus, enslaved people were forced to work against their will and were also chastised for fighting against a system in which human rights violations were systemically committed against them.
The author also discusses how slave codes encouraged plantation owners to maintain accurate records of their slaves’ whereabouts. Local authorities fined slaveowners for failure to abide by these laws, which only complemented their accounting practices. Both municipal and transnational law reflected Europeans’ desire to maintain control of their extended empire through hierarchies that negotiated with established Maroon communities of formerly enslaved people.
Although these communities were not acknowledged as a nation state, they had authority to enter a bi-lateral treaty with England in 1739 to preserve their autonomy with a condition precedent to not accept any additional runaway slaves.
Rosenthal then examines the impact of absentee proprietorship, in which plantation owners returned from the West Indies to England, seeking to maintain accountability of both land and slave. Consequently, these slavers authored plantation manuals (accounting guidelines) to track slaves, harvest, land, and productivity, referred to as “quantification.” Arguably, these standards were the financial antecedent to generally accepted accounting practices used to evaluate professional standards of modern bookkeeping for Western corporations. The slavers also furthered transnational law through lobbying with the British Parliament, securing their interests in sugar markets and a form of anti-dumping preventative measures under international trade law, as well as opposing the nascent trend in public international law to abolish the slave trade. The author argues that their records had a mitigating effect on the regulation of plantation slavery enforced by local officials, requiring slavers to adhere to graduated punishments that they recorded as evidence in their own defense.
Thereafter, Rosenthal dissects the methodology of plantation accounting, including ledgers, balance sheets, sticks used by slaves to account for livestock tallied annually, and eighteenth-century slaveowners’ advent of pre-formatted forms and double bookkeeping. These written records became evidence for British abolitionists to use against West Indian slavers since they not only detailed the loss of productivity, but also the loss of slaves’ lives resulting from the violence and torture they bore at the hands of slave masters.
Rosenthal then assesses rating systems based on historical records that affected the price of slaves as further evidence of their commodification. For instance, she employs the usage of “depreciation” in relation to an enslaved person’s decline due to disobedience, age or health. Value and (human) capital reinforced the disparity of rights between the enslaved and the master, with one person determining the other person’s worth based on what could be extracted by force or used as collateral for purchase of other tangible property.
Lastly, the author discusses the effects of the Civil War and Reconstruction on both slavers and enslaved. Slavers had the ability to quit the land and negotiate.
However, the agreements enslaved people signed were usually under duress, and former slaveowners had a greater bargaining position due to literacy, land ownership, prior financial gain from their former slaves, and the use of black codes to keep freed peoples subordinate.
The author uses primary sources to illustrate the development of accounting practices, through organization, law, and politics, making the text valuable for historians and graduate students specializing in those matters. With assiduous care, Rosenthal successfully depicts municipal slavery’s evolution from scattered processes to maintain control of slaves and land into a sophisticated, individual business venture that documented crimes against humanity and ironically supported the institution’s inevitable extinction.
Patricia M. Muhammad – Independent Researcher.
[IF]
An Empire of Print: The New York Publishing Trade in the Early American Republic – SMITH (THT)
SMITH, Steven Carl. An Empire of Print: The New York Publishing Trade in the Early American Republic. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2017. 264p. Resenha de: ARENDT, Emily J. The History Teacher, v.52, n.4, p.727-728, ago., 2019.
New York City has long been considered the center of the American publishing industry. Although scholars have examined the mid-nineteenth-century figures— titans like George Palmer Putnam and the Harper Brothers—who are often credited with establishing the Big Apple’s preeminence in the book trade, Steven Carl Smith offers a rewarding glimpse into the lesser-known figures who preceded them and laid the crucial groundwork for print culture to flourish in the United States. Tracing the rise of New York’s publishing industry from the 1780s through the 1820s, Smith demonstrates how those involved in the book trade (printers, publishers, and booksellers) built local, regional, and national networks that allowed them to supply domestically manufactured books to a “population that had an insatiable appetite for knowledge” (p. 5).
Smith accomplishes this task through five extraordinarily well-researched case studies, most of which are organized around a key figure in the industry. The first looks at Samuel Loudon, an on-again, off-again state printer, to illustrate how printers helped rebuild political communication networks following the Revolution. Next, Smith uses William Gordon’s history of the American Revolution and its roundabout path to publication in the United States to argue that the domestic publishing industry played a vital role in the project of nation building. His next chapter reveals the power of printers to divide rather than unite Americans by exploring the bookshop politics of John Ward Fenno, a devoted Federalist who challenged Republican competitors and reflected the growing partisan spirit gripping the country by the late 1700s. The next case study focuses on the literary fairs that proved pivotal in crafting the trade into a movement for national self-sufficiency, as printers and publishers convinced booksellers and consumers to buy American-made rather than imported texts. The final chapter surveys the emergence of a national book trade as exemplified in the work of Evert Duyckinck, an enterprising capitalist involved in the sale and distribution of texts—especially cheap schoolbooks—that he solicited based on a keen understanding of what American readers wanted and needed. These examples demonstrate the key role played by early printers, publishers, and merchants in making New York’s publishing trade nationally significant.
Although An Empire of Print primarily offers an in-depth look at some major players in the emergence of a domestic publishing industry, Smith also provides a useful contribution to bigger debates over the rise of the market economy and the creation of a national print culture that connected Americans together through the act of reading. Indeed, he very successfully shows that the distribution networks built by men like Fenno and Duyckinck helped shape a national market for printed works well before 1830. Although it is intuitive that the creation of a national print market would entail the emergence of an “imagined community” of diverse readers, further examination of reception alongside distribution is warranted. In all, however, Smith’s impressive use of newspapers, personal correspondence, estate inventories, account books, and other financial records offers ample evidence to support his contentions.
While this monograph will prove essential reading to scholars interested in the history of the book in early America, it is probably not appropriate reading for most students at the secondary level or in college survey courses. I can imagine, however, that motivated educators would find much of interest and use in preparing lessons on the early republic. In particular, the chapters on print and ideology could be used as background for really excellent lessons incorporating primary sources into the classroom. For instance, Gordon’s History of the Rise, Progress, and Establishment, of the Independence of the United States, the topic of Chapter 2, is readily available in digitized forms and could be excerpted for students to explore how printers in the late 1700s “helped shape the new nation’s understanding of its history and its possibilities for the future by creating a national reading public attentive to its recent past” (p. 46). The third chapter on Federalist John Ward Fenno could likewise provide inspiration for educators interested in helping students explore the rancorous partisan print culture of the 1790s so readily apparent in periodicals from the time. Well-written and meticulously researched, this volume offers an important look at how New York’s publishing industry helped shape the social, economic, and political life of the early republic.
Emily J. Arendt – Montana State University Billings.
[IF]Frontiers of Science: Imperialism and Natural Knowledge in the Gulf South Borderlands, 1500-1850 – STRANG (THT)
STRANG, Cameron B. Frontiers of Science: Imperialism and Natural Knowledge in the Gulf South Borderlands, 1500-1850. Williamsburg, VA: Omohundro Institute of Early American History and Culture and Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2018. 376p. Resenha de: CLUXTON, Hadley Sinclair. The History Teacher, v.52, n.4, p.728-730, ago., 2019.
On the cusp of the nineteenth century, astronomers employed by Spain and the United States set out to survey the boundary between Spanish Florida and the United States as negotiated in the 1795 Treaty of San Lorenzo. Armed with a variety of scientific apparatus and a bevy of enslaved black men, the two imperial parties—both, ironically, headed by men of British descent—began the arduous task of making the astronomical observations that would establish the new line between nations. Each side boasted of their astronomical prowess, and each side denigrated the other’s supposed failures. However, it was not these imperially funded astronomers who ultimately decided the fate of this expedition. By their own admission, the surveyors never could have hacked their way through the dense foliage or persevered through the Mississippi River’s swamplands without the involuntary assistance of the enslaved black men rented out from nearby plantations. Furthermore, the entire expedition came to a screeching halt in 1800, when the armed resistance of Creek and Seminole peoples forced the empires to abandon their boundary survey. This is but one of many fascinating case studies that historian Cameron B. Strang presents on the production of natural knowledge in the Gulf South in Frontiers of Science: Imperialism and Natural Knowledge in the Gulf South Borderlands, 1500-1850.
Taking cues from one of his mentors, the inimitable historian Jorge Cañizares- Esguerra, Strang joyously exhumed from the archives rich and entangled narratives on the production of natural knowledge in the Gulf South borderlands and presented these histories in all their glorious complexity. The positive influence of other mentors can also be seen in Strang’s work: Jan Golinski’s constructivism, James Sidbury’s work on race, and Julia Rodriguez’s histories of science in Latin America. In Frontiers of Science, Strang presents a mosaic of case studies highlighting a diversity of Gulf South borderlands places, voices, and branches of natural knowledge. Incorporating a variety of knowledge practices—including astronomy, cartography, conchology, now-debunked phrenology, botany, and ethnography—these case studies defy the myth that only Anglo-Americans in the original thirteen colonies participated in the production of natural knowledge in America, or that scientific knowledge merely diffused outward from metropole to periphery. Rather, Strang argues that “natural knowledge and imperialism evolved together” (p. 21) and that indigenous peoples; free and enslaved blacks; Europeans from France, Spain, and Britain; Anglo-Americans; and creoles all formed part of a rich, polycentric network of intellectual exchange often characterized by loyalties as malleable as political boundaries.
The case studies in Frontiers of Science could make worthwhile readings for undergraduate or graduate classes in the history of science, intellectual history, U.S. history, Latin American history, indigenous history, or black history, just to name a few. Although Strang regularly emphasizes the interconnectedness between imperialism and the production of knowledge, he also builds a strong case demonstrating the importance of free and enslaved blacks in the history of natural knowledge that could (and should) be included in any classroom, given appropriate professorial curating. Until U.S. imperialism ossified the United States’ control over the region, blacks in the Gulf South participated at nearly every level of natural knowledge production. In addition, Anglo-American plantation owners who generously supported the advancement of science did so with wealth created through the labor of enslaved blacks—blacks who were actively oppressed intellectually as well as physically. To this end, Strang presents evidence that white supremacists in the Gulf South wielded science to actively construct the lie of black intellectual “inferiority” in order to justify slavery. As Strang stated, “the routes that supported slavery and science were often one and the same throughout the greater Caribbean” (p. 178). Students at every age deserve to learn about the historical ways in which Anglo-Americans created and perpetuated the structural inequality that persists to this day.
One challenge with incorporating this book into a pre-existing curriculum is the fact that it defies easy categorization. While the book flows well through a variety of case studies, Strang does not oversimplify his narratives. Furthermore, the histories stretch from 1500 to 1850 and include multiple imperial, indigenous, and African or African-descended groups, which poses serious issues of periodization.
This (much-needed) presentation of the entangled nature of knowledge production creates problems when trying to squash a round story into a square framework.
If a curricular rewrite is not feasible, one suggestion might be to excerpt case studies where they fit into a pre-existing outline. Another suggestion is to change the frameworks within which we study and teach history.
Strang calls for diversity in places and voices, as well as a more inclusive understanding of what constitutes “science.” Apart from a dearth of female perspectives, this book achieves that goal. Frontiers of Science is an intellectual love song to the Gulf South’s forgotten histories of natural knowledge, a quilt of intriguing case studies that relish in their inability to be readily categorized and constrained within our narrow historiographic frameworks. Strang’s book is a solid contribution to a burgeoning field—the history of natural knowledge in the Atlantic World—a field perhaps not in the process of consolidation, but rather in the process of decolonization.
Hadley Sinclair Cluxton – Odyssey School (Asheville, North Carolina).
[IF]Dizendo-se autoridade: polícia e policiais em Porto Alegre (1896-1929) – MAUCH (RTF)
MAUCH, Cláudia. Dizendo-se autoridade: polícia e policiais em Porto Alegre (1896-1929). São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2017. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 12, n. 2, ago.-dez., 2019.
O trabalho desenvolvido por Cláudia Mauch se apresenta como uma importante referência para o estudo da História da polícia. Nele o leitor encontrará uma análise minuciosa sobre a história policial e o trabalho dos policiais na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre os anos de 1896 e 1929. Embora não seja a pretensão dessa obra, ela preenche uma lacuna deixada pela historiografia que versa sobre a temática, sobretudo devido a perspectiva escolhida pela autora para discutir o papel dos policiais no processo de policiamento desse universo.
Logo no início dessa obra, a autora desempena um balanço historiográfico a respeito da história da polícia, pontuando nesse processo algumas considerações que sugerem novas possibilidades de trabalho referente à temática. Para tal, a pesquisadora aponta um conjunto muito diversificado de documentos, cuja variedade de fontes e as metodologias utilizadas no seu tratamento se traduzem numa riqueza em detalhes do universo sociocultural analisado. Nesse sentido, o volume documental utilizado para a realização do trabalho, juntamente com a capacidade de análise da autora é algo invejável a qualquer pesquisador.
As considerações presentes no livro, a respeito da história da polícia, nos ajudam a pensar que a decisão tomada por um policial acerca do que deveria ser feito na sua prática cotidiana estava prevista não só na lei e nos regulamentos. Amparada em algumas referências importantes sobre essa questão, a obra nos leva ao entendimento que essa prática era balizada tanto pela lei e regulamentos da instituição a qual os policiais pertenciam, quanto pelas avaliações que os mesmos faziam dos acontecimentos e dos indivíduos neles envolvidos.
Com certa maestria, a autora nos induz ao melhor entendimento acerca do estudo da História da polícia. E amparada num referencial bibliográfico temático atual e muito rico, Cláudia Mauch desenvolve uma significativa contribuição, envolvendo discussões teóricas, reflexões conceituais muito pertinentes à temática. Além disso, seu trabalho apresenta um amadurecimento metodológico que possibilita novos horizontes aos estudiosos dessa área.
A obra é organizada em três capítulos, com os quais a autora apresenta uma argumentação mais sistematizada sobre a história da polícia e do trabalho dos policiais na cidade de Porto Alegre, entre os anos de 1896 e 1929. A autora analisa mais especificamente o sistema policial organizado e montado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul a partir de 1896. Para além dessa tarefa, o objetivo é nos mostrar o funcionamento desse sistema policial montado no final do século XIX, sobretudo os seus desdobramentos na Primeira República. Nesse sentido. Longe de fazer uma história puramente descritiva, Cláudia Mauch aponta alguns elementos muito importantes para melhor entender como ocorreu esse processo, pois as tensões políticas da época estavam circunscritas nessa implantação. Isso induz o leitor ao entendimento das dificuldades vivenciadas pelas autoridades para a implantação das polícias dessa capital, bem como dos limites orçamentário e outros problemas que foram enfrentados nesse projeto, tendo em vista as disputas políticas daquele contexto.
Esta análise aponta como as instituições policiais de uma forma mais ampla e os policiais em suas particularidades eram vulneráveis aos conflitos políticos da sociedade na qual estavam cincunscritos. Na realidade por ela estudada, a polícia se inseria num jogo político local, o que, em alguns momentos, tornava o ambiente de trabalho muito tenso e, de certa forma, pode ter comprometido a função das instituições policiais no que diz respeito ao zelo pela segurança pública.
A argumentação da autora sugere que naquele contexto, os governantes e as autoridades policiais definiam algumas prioridades específicas para atuação das polícias estadual e municipal. E neste caso, tais prioridades se definiam a partir dos interesses políticos do grupo que governava. Em meio a uma explanação dos esforços para se montar esse sistema policial, a obra destaca como ele buscou responder aos desafios que a urbanização e sua transformações impunham a esse projeto de policiamento. Além dessas questões urbanísticas, o livro mostra as tensões enfrentadas no relacionamento entre Polícia Judiciária e Polícia Administrativa, como algo que limitava o policiamento local.
A sugestão dos argumentos apresentados ao longo o primeiro capítulo, indica que o sistema policial projetado pelas lideranças republicanas do final do século XIX não era algo estático. Esse projeto de policiamento, embora influenciado por toda carga ideológica e política das elites locais, fora implantado com alguns objetivos específicos, mas se reformulou e adaptou aos desafios impostos naquele contexto.
Cláudia Mauch constrói uma história social dos policiais, enfatizando esses sujeitos como um grupo de trabalhadores. Ao fazer isso, a autora sugere uma perspectiva historiográfica que se baseia em novas interpretações referente aos sujeitos históricos. Para tal, ela recorre a um estudo quantitativo dos registros pessoal da Polícia Administrativa de Proto Alegre, tomando como ponto de partida para sua investigação histórica, os registros contidos nos livros de matrícula desses indivíduos. E com base nessa documentação, mais especificamente em alguns aspectos fornecidos pela fonte referente à vida desses sujeitos, a saber, procedimentos de recrutamento, percentual de renovação dos quadros, punições e promoções, bem como o tempo de permanência de seus ingressantes, a historiadora, de forma muito competente, traça um perfil social dos policiais municipais, bem como da instituição em questão.
Em meio a um vasto universo numérico, o leitor se depara com uma articulação entre uma análise quantitativa muito substancial e um um conjunto de críticas sobre esse universo quantitativo. Suas explanações quantitativas são conectadas a alguns casos que a autora busca mostrar ao leitor como algumas questões se davam na prática. Longe de ser um capítulo meramente descritivo sobre o perfil social dos policiais municipais e das ações da instituição, Cláudia Mauch nos presenteia com uma bela articulação entre uma perspectiva quantitativa e uma análise mais reflexiva sobre esse universo. Para tal, a autora recorre à alguns gráficos e tabelas que destacam o universo numérico que ela encontrou, sobre idade, escolaridade, origem, estado civil, profissão anterior, conduta profissional na polícia, tempo de permanência na instituição, dentre outras questões que são pontuados no livro.
Ao logo do texto, a autora nos mostra uma proeza muito importante para os estudos da história da polícia, quando a mesma destaca a trajetória desses policiais, seus dramas, indisciplina, relações de apadrinhamento, personalidades. Elementos estes que apontam para perfis dos homens que compunham aquela polícia; indivíduos que formavam o corpo policial de Porto Alegre no contexto em análise. Com base numa vastidão numérica, a historiadora enfatiza os limites e incongruências que faziam parte do corpo policial dessa cidade, destacando que poucos faziam da polícia uma carreira ou profissão.
Nesse sentido, o livro proporciona ao leitor, compreender como funcionava o recrutamentos daqueles “agentes da ordem”, suas origens sociais, bem como a trajetória de muitos deles. A partir desse perfil mais amplo desenhado pela obra sobre esses indivíduos, é possível identificar algumas trajetórias de certos policiais.
Baseada nos relatórios judiciais, registros de ocorrências e inquéritos administrativos, Cláudia Mauch discorre sobre os inúmeros conflitos e situações em que os policiais se envolveram. Seu propósito é analisar as condições de vida e trabalho desses sujeitos. Em meio a essa questão, a autora discute elementos que fundamentavam as representações policiais sobre “autoridade” e masculinidade. Para tal, Cláudia Mauch recorre a uma gama de referências para discutir questões referentes à ambiguidade da posição de classe dos policiais e da cultura policial, sobretudo a partir das relações que esses policiais estabeleciam com a vizinhança. A obra destaca que era muito comum os conflitos envolverem questão da honra masculina, algo que catalizava as relações desses indivíduos.
Uma das intensões da autora é entender até que ponto as relações estabelecidas pelos policiais refletiam distanciamento daqueles grupos que as autoridades buscavam vigiar. Ela salienta que em meio a esse suposto distanciamento havia uma forte aproximação, pois, geralmente, eles faziam parte do mesmo universo sociocultural policiado. Vigiar a vizinhança não era uma tarefa tão simples, pois é possível que os problemas desse universo mais aproximavam os policiadores que os afastavam dos grupos menos privilegiados. Circunscrito em meio aos problemas cotidianos, a honra se tornava um elemento que impulsionava a violência e dificultava mais as relações. Em alguns momentos, a noção de “autoridade” é apontada pela autora como algo que acirrava essas relações, motivando confusões e mortes.
“Dizendo-se autoridade” é uma obra na qual o leitor encontrará uma mescla entre rigor acadêmico e leveza na escrita. No término da leitura, temos o entendimento que se trata de uma grande contribuição para a História da polícia, presente numa obra de fácil compreensão para a o público em geral. Portanto, fica o convite para que o leitor tire suas próprias conclusões referente a este significativo livro.
Wanderson B. de Souza – Mestre em História pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB; Possui graduação pela UNEB. Tem experiência na área de História, com ênfase nos seguintes temas: História da Polícia e da Criminalidade, Identidade, Violência Urbana, Relações de Poder, Diversidade e Cidadania; Tenho atuado como formador em cursos de capacitação/atualização de professores para ao Ensino de História, com ênfase em História da África e Cultura Afro-Brasileira. Colaborador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-brasileiros – AFROUNEB/UNEB.
As Vidas de José Bonifácio | Mary Del Priore
Veio a público uma biografia sobre um dos personagens mais controversos e emblemáticos da história do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva. E, redigida por uma das mais importantes autoras brasileiras, com uma vasta produção acadêmica, a historiadora Mary Del Priore. A obra é destinada tanto aos especialistas, como ao público em geral. Leia Mais
Darwinismo, raça e gênero: projetos modernizadores da nação em conferências e cursos públicos (Rio de Janeiro, 1870-1889) | Karoline Carula
A década de 1870 assinala o momento da chegada ao Brasil das “ideias novas”, como destacou Silvio Romero. Entre estas ideias, uma, o darwinismo, logrou grande sucesso entre os pensadores que buscavam fazer do Brasil um país moderno e civilizado. O darwinismo sofreu diversas apropriações e direções discursivas, sendo isto perceptível nas discussões que ocorriam nos jornais e revistas da Corte. Como exemplo dessa ampla difusão do darwinismo, temos o encontro do cientista francês Louis Couty com um fazendeiro de nome Tibiriçá. Dizia Couty (1988, p.98): “Estava eu percorrendo os títulos dos livros que via sobre a mesa de meu anfitrião, [Charles] Darwin, [Herbert] Spencer” e admitia “sem surpresa que os via ali, e que os via trazerem as marcas de uma leitura prolongada”.
O leitor que abrisse os jornais, como a Gazeta de Notícias ou o Jornal do Commercio , entre as décadas de 1870 e 1880, encontraria várias chamadas para conferências e cursos públicos na Corte que tratavam dos mais diversos assuntos discutidos pela ciência na época, quase todos perpassados pela perspectiva do darwinismo. O homem de letras desse período tinha uma ampla programação de ciência para realizar nos espaços públicos da capital do Império. Decorriam disso discussões e sociabilidades novas, permeadas pelas várias interpretações da teoria de Charles Darwin. Esse assunto é objeto de exame do livro Darwinismo, raça e gênero , escrito por Karoline Carula e publicado pela Editora Unicamp. O livro é resultado de sua pesquisa de doutoramento em história social defendida na Universidade de São Paulo. Atualmente, Carula é professora de história na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Leia Mais
Montevideo, ciudad obrera. El tiempo libre desde las izquierdas (1920-1950) | Rodolfo Pirrini Beracocheia
A través de esta obra el historiador Rodolfo Porrini acerca al lector a una faceta de la vida de los trabajadores montevideanos poco conocida: el uso del tiempo libre. Este acercamiento se produce a partir de la mirada de tres corrientes de izquierda con destacada influencia en el medio local en los treinta años estudiados (comunistas, socialistas y anarquistas). A través de estas el autor busca dar a conocer un aspecto generalmente ignorado en la historiografía de los trabajadores y los sectores populares en el Uruguay que priorizan el estudio de sus formas de protesta, organización y expresiones ideológicas. Subyace también un cuestionamiento a la imagen del Uruguay como «país de capas medias» que ha llevado a la invisibilización de sus rasgos obreros. Asimismo, brega por jerarquizar la importancia del tiempo de no-trabajo y reconocer su especificidad.
El libro es una edición, pensada para alcanzar un público amplio, de la tesis de Doctorado en Historia de la Universidad de Buenos Aires titulada Izquierda uruguaya y culturas obreras en el «tiempo libre»: Montevideo (1920-1950) dirigida por la historiadora Mirta Zaida Lobato. Esta tesis obtuvo el primer premio en la categoría «Ensayo de Historia, biografías y temas afines» rubro inédito de los Premios Anuales de Literatura del año 2014 del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Leia Mais
La prensa de Montevideo, 1814-1825. Imprentas, periódicos y debates públicos en tiempos de revolución | Wilson González Demuro
El libro del historiador Wilson González Demuro concentra su foco en la prensa durante los tiempos revolucionarios en el Río de la Plata para analizar qué y cómo se debatía durante ese tramo tan intenso en la región. ¿Qué ideas se debatían? ¿Qué circulaba en la prensa? ¿Quiénes escribían y para qué? son algunas de las preguntas que abren este trabajo. La pluma, la escritura de opinión formó parte de la contienda y en ese sentido puede decirse que la prensa ocupó un lugar como parte activa del proceso revolucionario. El libro se propone analizar la producción de impresos, sus condiciones, autores y tejer hipótesis acerca de sus lectores. Desde la Historia conteptual se propone recorrer las voces: libertad y opinión pública. Aunque esas sean sus opciones principales no descuida el análisis de otros conceptos relacionados como lo son revolución, independencia y orden.
En la introducción, el autor expone detalladamente el proceso recorrido, las opciones teóricas y metodológicas empleadas y propone un adecuado recorrido de los antecedentes sobre el tema. Dentro de la Historia que tienen por objeto los medios de comunicación, muchos de los trabajos se han ocupado más del soporte, su descripción y crecimiento que del estudio de las circulación de ideas y los debates allí producidos. El conjunto de impresos analizados revela su diversidad en cuanto a las formas, periodicidad y tamaño pero también en cuanto al lugar donde están actualmente. Los 24 periódicos estudiados fueron publicados en Montevideo entre 1810 y 1824. La mayoría de ellos están en Uruguay mientras que otros están fueron ubicados en Buenos Aires y en Madrid. Leia Mais
Pois temos touros: touradas no Brasil do século XIX | Victor Andrade de Melo
O livro “Pois temos touros: touradas no Brasil do século XIX”, publicado em 2017 pela editora 7 Letras, foi organizado pelo professor Doutor Victor Andrade de Melo – docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando nos Programas de Pós-Graduação em Educação e História Comparada; coordenador do Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer; e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Reconhecido por suas pesquisas sobre as práticas físicas de cunho historiográfico, Victor Andrade de Melo junto de mais cinco pesquisadores publicaram a referida obra, dedicando-se exclusivamente às dinâmicas tauromáquicas. Constituído por oito capítulos, o livro analisado tem a intenção de auxiliar os leitores a entender as atividades realizadas com touros em algumas cidades brasileiras, na Península Ibérica e em Moçambique, focando em revelar apontamentos sobre as origens históricas e antropológicas das dinâmicas tauromáquicas em cada contexto investigado. Leia Mais
O Velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883) | Marcello Musto
Nas últimas décadas, sobretudo após o desmembramento da URSS, muitos críticos do marxismo alçaram sucesso editorial. Não foram poucos os que, assim como Francis Fukuyama, declararam “o fim da História”. O que se seguiu foi uma recusa às abordagens e aos conceitos que adotavam uma interpretação a partir das estruturas socioeconômicas e da categoria de “classe”, para uma divisão das pautas sociais e temas que movimentos políticos, mais individualizados e fragmentados, apropriaram-se a partir de uma perspectiva liberal. Nessa conjuntura, certos clichês acadêmicos foram repetidos à exaustão, a ponto de perder sua base crítica. Reducionismos recorrentes acerca do marxismo defendiam que essa corrente de pensamento seria economicista, determinista, eurocêntrica e teleológica.
Novas pesquisas e trabalhos de divulgação buscam contribuir para o campo teórico do marxismo, que sempre se mostrou muito rico em argumentos socioeconômicos e em percepções histórico-conjunturais. É nesse sentido que o trabalho O Velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883), publicado no Brasil pela editora Boitempo, em 2018, do sociólogo e filósofo italiano Marcello Musto, é essencial para fortalecer os campos de pesquisa das humanidades, sobretudo a pesquisa histórica, com o propósito de superar os limites impostos pelos chavões já mencionados. Leia Mais
O poder na aldeia. Redes sociais, honra familiar e práticas de justiça entre os camponeses italianos (Brasil-Itália) | Maíra Ines Vendrame
René Gertz, um dos maiores estudiosos da imigração e da colonização alemã no Rio Grande do Sul, recentemente elaborou uma catalogação e, com isso, tornou disponível on line a bibliografia científica editada no Brasil sobre seu principal objeto de pesquisa. Foram catalogados sobre o tema da imigração e colonização alemã em torno de 3750 publicações. iii
É muito provável que, se alguém se esforçasse para compilar uma bibliografia sobre a imigração e colonização italiana no estado do Brasil Meridional, o resultado seria análogo, ou o elenco de produções, quem sabe, ainda mais extenso. Frente a uma produção que poderíamos, sem dúvida, definir como “inacabada”, como fez alguns anos atrás Matteo Sanfilippo, referindo-se àquela relativa à emigração italiana tout court num único biênio iv, é justificável portanto perguntarmo-nos o que mais possa existir de um livro, como esse de Maíra Ines Vendrame, aprofundando un caso singular de estudo – o da Colônia Silveira Martins – num campo já amplamente discutido da historiografia, ou o que se pode dizer ainda da história da imigração italiana no Rio Grande do Sul? Leia Mais
Armed in America: A History of Gun Rights from Colonial Militias to Concealed Carry – CHARLES (THT)
CHARLES, Patrick J. Armed in America: A History of Gun Rights from Colonial Militias to Concealed Carry. New York: Prometheus Books, 2019. 558p. Resenha de: BABITZKE, Cari S. The History Teacher, v.52, n.3, p.524-526, may., 2019.
Patrick J. Charles opens this new synthesis of the history of firearms rights and advocacy with a warning to scholars: if historians of firearms and gun rights politics in the U.S. adhere to the accepted principles of scholarly inquiry, the contours of the debate and the field must shift. According to Charles, far too much historical work on firearms has been “principled on legal advocacy, political activism,” and “expanding the meaning and the scope of the Second Amendment as broadly as possible” (p. 15). Rather than abandon the field to these alternative histories, Charles draws on his own lengthy career in legal history alongside new research into source materials such as hunting and shooting magazines, newspapers, and manuscript collections to understand the evolution of gun rights politics and rhetoric and the rise of the “Standard Model” interpretation of the Second Amendment.
Charles begins by narrowing the temporal boundaries of the debate over the Second Amendment. After the Civil War, the majority of Americans reached a consensus regarding access to arms—namely, that “state and local governments maintained broad police powers to regulate dangerous weapons in the interest of public safety…so long as they did not utterly destroy the armed citizenry model of the Second Amendment,” without encroaching on the individual’s right to armed self-defense in “extreme cases” (p. 313). This consensus fractured during the second half of the twentieth century, as firearms advocates—notably in organizations like the National Rifle Association (NRA)—pushed for a more expansive reading of the Second Amendment. According to Charles, from 1970 to 1980, a substantial amount of this advocacy included the active recruitment of academic scholars to develop and promote a literature reworking the historical meaning of the Second Amendment. This academic push culminated in a new “Standard Model” of the amendment, claiming protection for personal firearms ownership uncoupled from its longstanding connections to militia service and civic republicanism. From 1980 to 1999, Charles argues, studies funded by the NRA and other gun rights organizations effectively revised the field, substituting the Standard Model for the militia-centric understanding of the Second Amendment (p. 280).
At the turn of the twenty-first century, proponents of the Standard Model received a major boost when Attorney General—and NRA member—John Ashcroft modified the Department of Justice’s longstanding position on the Second Amendment.
According to Charles, once the DOJ shifted its position on the Second Amendment, the Standard Model became accepted in federal courts. In United States v. Emerson (2001), the Fifth Circuit Court of Appeals became the first appellate court to adopt the Standard Model. In 2008, the Supreme Court waded into the debate, taking up District of Columbia v. Heller. In its majority opinion, the Court sided with the Standard Model, interpreting the Second Amendment as protecting an individual right to own firearms. And finally, in McDonald v. City of Chicago (2010), the Supreme Court applied the Standard Model of the Second Amendment to the states.
Armed in America makes two important contributions to scholarship and teaching on the gun rights debate. In his chapter, “The Birth of the Gun-Rights Golden Age,” Charles examines the late twentieth-century rise in advocacy, offering a concise yet thorough timeline for the interpretive shift in the Second Amendment and important changes in the national legal structure regarding individual firearms ownership. This chapter provides integral information to students interested in the evolution of the legal right to arms in the United States.
But Charles offers a second teaching tool. While presenting this history, he keeps the process of scholarly inquiry front and center. To educators engaged in scholarly training, this book serves as a keen example for budding scholars.
Charles’ research project is front and center—developing a research question; understanding the state of the field and his place therein; locating and using primary sources—and he acknowledges his challenges in working with such a contentious subject and the ever-present reality of today’s gun politics.
Cari S. Babitzke – Boston University. Acessar publicação original
[IF]
The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion – JACKSON (THT)
JACKSON, Peter. The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. New Haven, CT: Yale University Press, 2017. p. Resenha de: IGMEN, Ali. The History Teacher, v.52, n.3, p.527-529, may., 2019.
It is an intimidating if not impossible task to review Peter Jackson’s book, The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. First and foremost, Jackson is one of the founders of the study of the Mongol, and Central Eurasian history in general. The second reason is the encyclopedic breadth of this book, which may be regarded as is an extensive accompaniment to his seminal 2005 book, recently published in second edition, The Mongols and the West. Jackson begins his book by referring to the new corrective scholarship that does not focus solely on the destructive force of the Mongol invasions with a clear statement that he is “concerned equally to avoid minimizing the shock of the Mongol conquest” (p. 6). He also acknowledges the superior siege technology of these “infidel nomads” as opposed to the urbanized societies of Central Eurasia (p. 6). His book tells the story of these infidel masters over the Muslim subjects, mostly from the view of the latter, especially because Jackson examines the role of Muslim allies, or client rulers of the Mongols. One of the main goals of this book is its emphasis on the Mongol territories in Central Asia as opposed to more extensively studied Jochid lands (the Qipchaq khanate or the Golden Horde) and the Ilkhanate. Despite this particular goal, Jackson makes sure we do not forget about Chinggis Khan’s offspring such as Qubilai Khan, who ruled lands as far away as China.
Jackson’s book investigates how the Mongols came to rule such large Islamized territories in such a short time. It also examines the sources, including the wars between Mongol khanates and the extent of destruction of the Mongol conquest, while describing their relationships between the subjugated Muslim rulers and their subjects. The introductory chapter on Jackson’s sources provides detailed information on the writings of mostly medieval Sunni Muslim authors along with two Shī’īs, refreshingly relying on those who mostly wrote in Persian and Arabic, including the newly discovered Akhbār-i mughūlan by Qutb al-Din Shīrāzī (p.145), as opposed to Christian and European travel accounts.
The book is divided into two parts: the first part explores the Mongol conquest to ca. 1260, and the second covers the period of divided successor states with an epilogue that elaborates on the long-term Mongol impact on the Muslim societies of Central Eurasia as late as to the nineteenth century. Although the intricate if occasionally dense first part on the conquest is necessary, educators like myself will find it most useful. It is intriguing to learn about the extent of interconnectedness of the conquered Muslim societies in Eurasia and their Mongol rulers, while understanding the limitations of commercial, artistic, and religious exchanges.
We also learn about the strategic regional Muslim leaders’ relations with the Mongol conquerors. The account of the evolution of the linguistic conversions makes the story even more fascinating. The negotiations between those local rulers who kept their thrones and the Mongol victors tell a more interesting story than the existing accounts of Mongol despotism. The case in point is Jackson’s discussion of the potential of Muslim women in gaining agency under the Mongol rule. Jackson’s analysis of the extent of the repressive laws and taxes provide possible new explanations of the Mongol rule. Furthermore, his analysis of the relationship between the Tājīk bureaucrats and the Mongol military seemed particularly enlightening to me, who is interested in the dynamics of civilian and military interactions. Jackson points out that “the fact that civilian and military affairs were not clearly differentiated added to the instability,” referring to the late thirteenth-century Ilkhanate era (p. 412). The final two chapters complicate the Islamization processes in the Mongol successor states, explaining the lengthy and sporadic nature of conversions.
Without giving away Jackson’s conclusions on Islamization, I can say that he provides a highly nuanced history that challenges any linear and teleological accounts of the Mongol conquest of the Islamic lands. In addition to the breadth and wealth of information, Jackson’s book is generous to the scholars of the Mongols, including younger scholars such as Timothy May. The mostly thematic character of the book results in a shifting chronology, which assumes that the readers possess some previous knowledge of this complex history. Most of the book provides an insight to the intricate history of Mongol politics in conquered lands. The exquisite maps, images, chronologies, and glossary make the book more legible to those readers who may pick it up without prior knowledge of this history. The particular military strategies, coupled with the political intrigue of the Mongols led to a fusion of Muslim, Mongol, and other indigenous cultures, not always destroying what existed before the conquest. Peter Jackson’s book is a worthy reflection of this sophisticated history that is suitable for advanced and graduate students and scholars who possess the basic knowledge of the Mongol conquest and Islamic societies and cultures of the region.
Ali Igmen – California State University, Long Beach.
[IF]
An Economic and Demographic History of São Paulo – 1850-1950 – LUNA; KLEIN (RBH)
Este livro é continuação do volume anterior, que tratava dos períodos colonial e imperial. Nesta nova obra, os autores estabelecem como balizas temporais os anos de 1850 e 1950. Juntos, os dois volumes buscam analisar as histórias econômica e social de São Paulo, desde o período colonial até a primeira metade do século XX. Leia Mais
State Building in Boom Times: Commodities and Coalitions in Latin America and Africa – SAYLOR (RBH)
Os fatores históricos relacionados à construção de instituições públicas mais fortes têm sido sistematicamente estudados em muitas disciplinas. No entanto, as condições e os processos históricos que fortaleceram certas instituições públicas em alguns países, mas não em outros, permanecem pouco compreendidas. State Building in Boom Times suscita novo interesse por esse tema ao analisar as condições para a construção do Estado para além da Europa. Com esse objetivo, o livro destaca o papel dos setores exportadores de matérias-primas no fortalecimento das instituições públicas durante períodos de forte crescimento econômico. Leia Mais
The Cause of All Nations. An International History of the American Civil War | Don H. Doyle
“You cannot see, because
it is your everyday life, (…) the
magnitude of the events through
which you are passing in the
light of their influence on the rest of the world”.
We are now sufficiently familiar with the idea of a global and transatlantic history to understand the importance of The Cause of All Nations to this field in general history and U.S. history in particular. What we still might not be completely familiar with is the idea that the American Civil War was an event of international proportions in many senses: economic, social, political, and ideological. Therefore, its outcomes can no longer be constricted to U.S. formation, reinforcing the idea that this was a “fratricide” accident within the narrative of national formation in the United States, but that its influence has reached places far beyond the U.S. and can also be considered a breaking point in a global scope. And, although the question of how to produce a transatlantic, Atlantic, or global history is still object of debate and questioning by its own scholars, in this book we will find that the author masters it: he is able to use local, regional, national and transnational lens throughout his narrative, making it look like an easy enterprise.
The importance of the Civil War as an international event of great proportions is what the American historian Don Doyle, the McCausland Professor of History at the University of South Carolina, demonstrates in his book. He has developed the theme of secession in a comparative perspective for many years (Nations Divided: America, Italy, and the Southern Question; Nationalism in the New World, co-edited with Marco Pamplona; Secession as an International Phenomenon, a collection of essays) and teaches American history, nationalism, and Southern History. With broad experience in the U.S. and other countries such as Italy and Brazil, he has demonstrated American and non-American historians that, far from being an event “as American as apple pie”,the American Civil War not only can be seen from an international and Atlantic perspective, but that this outlook is necessary, especially from the point of viewof the American continent.
Parting from the idea that the Civil War is inserted in a much broader moment of history, “the crisis of the 1860s”, we are able to understand international reactions, fears, expectancies and politics that surrounded one of the most, if not the most studied theme in American history. Don H. Doyle’s main thesis is that the Civil War mattered a great deal to the Western world in the second half of the nineteenth century. And it mattered because it was not simply an intestinal war, fought only by American soldiers on American soil, but it represented a struggle over fundamental themes of the time, such as republicanism, freedom, national sovereignty, and slavery. It is in that sense that the Civil War can be perceived as “the cause of all nations”. And, although we all acknowledge the outcomes of the war, and the growth of the United States as a world potency, the future of the war was not defined at the time, and the international community of states and nations in the nineteenth century had a close eye on what was going on in the U.S.
Thus, rather than imposing an international framingof the conflict, Doyle asserts that this work actually “retrieves a commonplace understanding of the time”. This idea has already been brought by other historians that have affirmed the importance of the issues at stake in the “Civil War Era”, such as nationalism, democracy, liberty, equality, race, majority rule and minority rights, central authority and local self-government, the use and abuse of power, and the horrors of an all-out-war – are as alive in the early twenty-first century as they were in the mid-nineteenth century.
This is demonstrated in a fluid, exciting, and coherent narrative that follows the chronological events of the war engaged through different topics, characters and diplomatic disputes distributed throughout 12 chapters and based on an extensive variety of sources: diplomatic and personal correspondences, newspapers, pamphlets, translations, images, posters, and official documents from several nations.
One of the main issues pointed out by Prof. Doyle is that the United States was not only viewed as a nation growing in size and importance, but it virtually represented the major successful republican experiment to the world. In face of the failure of the republican movements of 1848 in Europe, it is not surprising that a government of the people and by the people, and a republic of such large dimensions (the only other example was Switzerland) was seen as doomed to failure. Conservatives in Europe expected this failure to assert that Monarchy was, as it had always been, the best method of government. On the other hand, the remains of the republican and liberal movements in Europe and the successfully republican, but very troubled governments, in Latin America looked at the U.S. with the hope they would one day thrive as theirneighbor, and counted on its protection from European incursions, in thesis guaranteed by the Monroe doctrine.
We are reminded of the great power that the press had gained by the 1860s, especially due to “print technology and the expansion of literacy, which made cheap publications and mass-audience possible” (p.3), which contributed to the understanding of the war and to the debates over it. As an event that has been analyzed from so many perspectives, the author chooses here to demonstrate that not only it mattered economically to the world (the relationship of the western world with the American cotton has been very well stablished), but its struggle over republicanism, freedom, and slavery was a central issue, especially through the eyes of the world and the need of international recognition from both the Union and the Confederate sides. The author also affirms that in its need of diplomacy and international support, the American Civil War pioneered what we now call public diplomacy, “the first, deliberate, sustained, state-sponsored programs aimed at influencing the public mind abroad” (p.3). From that perspective he sets himself apart from a strictly diplomatic history of the Civil War, building his arguments upon how an international public opinion was built over the war, and how it influenced and was influenced by the events, debates, and particular matters in their own nations.
Divided in three parts, “Only a Civil War”, “The American Question”, and “Liberty’s War”, we are guidedthrough the definition of the Civil War on both sides, its international scope and outcomes. In the first part, composed of 3 chapters, we are drawn to understand onemain question: what was the United States fighting for?The question issued by Garibaldi about whether the war was being fought over slavery or not, expressed the “moral confusion over just what the Union was fighting for” (p.24).How the Union and the Confederacy placed themselves internationally to guarantee, on one side, that governments did not recognize the CSA (Confederate States of America), and, on the other, to be recognized as a belligerent state is the main question in this part of the book. That is, the ideological and discursive dispute based on the idea of a “right” to secession in the realm of international law and within the American Constitution. Doyle affirms, nonetheless that this “legal quarrel (…) obscured a far more salient question as to the reason for secession” (p.29). That reason was being questioned by the international community and it was being answered through public diplomacy as Union and CSA struggled for support. And, although both sides initially tried to elude it, “every one of South Carolina’s grievances centered on slavery” (p.30). British, Spanish, and French declarations of neutrality threatened the Union and gave strength to the Confederacy, a diplomatic battle that would be stretched by the military victories of the CSA. Lincoln’s inaugural address in 1861 sought to place the Civil War as an international conflict, based on the principle of international law and the perpetuity of the union, and placed, once again, the extinction of slavery as a secondary matter: “the main issue before the public was already ‘Union or Disunion’, not slavery or abolition” (p.65). Apparently, however, Europeans were not at all concerned with local politics and the rights to secession. In that sense, it would be better to place the war upon “a higher moral basis”, and Europeans from different social sectors began to answer Garibaldi’s questions for themselves.
The second part of the book – The American Question – shows how the conflict was growing in the minds of the world as a global struggle, particularly as a crisis of life and death to the republican experiment “within the context of alternating swells of revolutionary hope and reactionary oppression that radiated through the Atlantic world in the Age of Revolution” (p.85). Republicanism, democracy, natural rights, and slavery, social change and structure, the delights of the conservatives in Europe and the fears of the liberals in view of the War:all that came to earth in the eyes of international observers of the conflict. Extreme democracy was at its death bed and the Empire powers, Britain, Spain, and France resurged and believed it possible to restore their authority. The imbrications of European politics concerning the Americas and their old colonies, as well as the role of foreign views on the conflict, which made their way to the U.S. through important translations of books and pamphlets, demonstrated how intellectuals were elaborating their own meaning of the conflict, helping to place the Civil War as an ideological conflict between slavery and freedom, monarchy and republicanism. It became definitely a global matter. The last chapter of Part II demonstrates how the Civil War became an internationalized conflict not only intellectually, but also in the battle front. Don H. Doyle brings to light the “Foreign Legions” that added up the military layers of the Union army, constituting among immigrants and sons of immigrants “well over 40 percent of the Union’s foreign-born soldiers” (p.159). Although this is not an unprecedented theme in the studies of the Civil War, Don H. Doyle is able to place their participation in a broad understanding of why these immigrants were so willing to fight for America within the international understanding of the Civil War and the construction of the American nation.
In the final part of the book, “Liberty’s War”, the author demonstrates how the war was defined not only as a war over slavery, but also as a struggle between democratic and monarchical governments and ideals, that is, the struggle for the people’s freedom. In that sense, he unveils the “Confederacy’s shift to the right” (p.186), referring to the support from the French sought by the CSA. This meant that not only was the South fighting for slavery, but to do so it was willing to support and negotiate with conservative European governments and to accept their interference in the American continent, including by offering what “can only be described as a magnificent bribe” (p.203) in the form of a very advantageous and long-term commercial treaty, in exchange for Napoleon III’s declared support of the South. The year of 1862 represented the greatest threat of foreign intervention in the Americas, and in that sense, a threat to all republican governments. The Union’s soft power was also directed at broadening the idea of “national preservation” to all governments by the people in the world, “the outcome of the American contest would decide nothing less than the fate of democracy” (p.215).
How the Union and CSA continuously fought in the field of public diplomacy for this narrative is one of the main points placed by DonH. Doyle, arguing that, considering all the military and political world powers engaged and interested in the outcomes of the American conflict, this diplomatic war was as important as the battlefields in American soil. Throughout the last part of the book, the author is able to discuss the significant changes occurring in Europe, not only towards the American Civil War and slavery, but also towards republicanism, particularly in face of the movement for national consolidation in Italy, leaded by Garibaldi and Mazzini, up to what he calls a “Republican Risorgimento”, which again altered the ideological frames of Europe and the Americas.
This book is not an attempt to account for the Civil War in its totality, it is not a new book on what was the Civil War, its causes and consequences, or how its main events and battles developed. Rather, it offers the opportunity to envision it as an international event that was part of a much broader crisis, which carried beneath it fundamental struggles, problems, and dilemmas that regarded the Western world at the second half of the nineteenth century. The American Civil War had a profound impact on the international relations of the early 1860s and high economic, social and ideological issues were at stake: a “struggle that shook the Atlantic world and decided the fate of slavery and democracy” (p.313). This book places the U.S. among other nations that, to survive as a unified national state, depended upon the support and approval of European and American nations. In this sense, it relates the future of the United States to that of other transatlantic relations and vice-versa. In doing this, not only he helps to give one step further towards the rupture with the idea of exceptionalism in American history, he also goes past its traditional links with Europe, including Latin America as part of the world being built in the 1860s, with its own contradictions and expectations. For Brazilian historians, it gives the opportunity to also step back from our own ideas of exceptionalism in the history of Brazil, understanding the political, economic, and ideological interconnections among the American continent, and that transatlantic history is a possible and fruitful path to do so.
Referência
DOYLE, Don H. The Cause of All Nations.An International History of the American Civil War. New York: Basic Books, a member of the Perseus Books Group, 2015.
Juliana Jardim de Oliveira – Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto – Minas Gerais – Brasil. Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Viçosa (2007), mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (2010), doutoranda do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Ênfase em História da construção dos Estados Nacionais na América, particularmente Argentina, Brasil e Estados Unidos. Atualmente pesquisa a Guerra Civil dos EUA como evento internacional e seu impacto nos debates parlamentares brasileiros.
DOYLE, Don H. The Cause of All Nations.An International History of the American Civil War. New York: Basic Books, a member of the Perseus Books Group, 2015. Resenha de: OLIVEIRA, Juliana Jardim de. The war of brothers that changed the world: the U.S. civil war and the 1860s. Almanack, Guarulhos, n.21, p. 609-616, jan./abr., 2019. Acessar publicação original [DR]
The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre – the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. I. B. | Márcia Abreu e Ana Cláudia S. Silva
É recorrente a ideia, trazida especialmente pelos clássicos estudos sociológicos, de que a intensa conexão entre as nações ocorreu devido aos avanços técnicos e informacionais desenvolvidos durante o século XX, sobretudo em seu último quartel. Graças à rede mundial de computadores, os fluxos de deslocamentos de pessoas e a comunicação online favorecem a troca de informações e conhecimentos entre os vários países do globo, além de promover a ampliação das fronteiras no campo econômico e despertar novas modalidades de conflitos políticos. E se parte desses processos de fluxos mundiais já estivessem – para usar uma metáfora da época – a pleno vapor no século 19? Foi com base em indagações como essa que Márcia Abreu (Universidade Estadual de Campinas) e Ana Cláudia Suriani (University College London) organizaram The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre, the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. Sua ideia central é que ao longo do século XIX havia fortes indícios da formação de uma “Aldeia Global” como conhecemos hoje.
Segundo o argumento geral do livro, as decisivas transformações socioculturais do Oitocentos puderam correr o mundo graças às Revoluções Atlânticas do final do século XVIII, ao crescimento demográfico sem precedentes na história humana e ao avanço tecnológico visível nas chamadas linhas de conexão (estradas de ferro, navios a vapor, cabos telegráficos). O encurtamento da distância e o maior contingente populacional aceleraram a circulação de símbolos e ideais culturais, entre eles o dos impressos. Circulando com muito maior liberdade e alcance através do Atlântico, jornais, livros, magazines, circulares, panfletos e folhas volantes se tornaram mercadorias internacionais e vetores das trocas culturais entre as nações. No século XIX era possível a manutenção do que, hoje, intitula-se globalização cultural.
The Cultural Revolution é resultado do projeto temático “A circulação transatlântica de impressos: a globalização da cultura no século XIX”, que reúne uma série de pesquisas, inseridas no campo da micro-história, que pretendem compreender a “revolução cultural silenciosa”, para utilizar a noção de Jean-Yves Mollier (Université Saint-Quentin Yvelines). O objetivo do grupo foi o de analisar os impressos e a circulação de ideias entre Brasil e demais países da Europa entre 1789 e 1914, intervalo inspirado no clássico de Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios. Com características transnacionais, The Cultural Revolution reúne trabalhos de cientistas nacionais e estrangeiros de diversas áreas como a história, a sociologia, a antropologia e a literatura. Tal ponto denota a intenção de interdisciplinarizar as Ciências Humanas, passo fundamental para responder à questão que motivou a pesquisa: como se deram as transferências culturais entre a Europa e a América do Sul no século 19?
O livro possui quatro partes, e a primeira delas, Methodology Issues, como o próprio nome indica, consiste em analisar as questões metodológicas. Os três capítulos dessa parte tratam da análise dos agentes, do suporte, da materialidade e dos textos a partir das perspectivas da história do livro, ou da imprensa periódica, e da história da leitura. O primeiro capítulo, de Roger Chartier (École des Hautes Études en Sciences Sociales), analisa simultaneamente o texto para publicação e a fabricação do livro, dado que os escritos estariam sujeitos a mudanças de acordo com a produção editorial. “What is at stake here is not only the production of the book, but of the text itself in its material and graphic forms” (p. 17). Tal noção já se encontra em trabalhos anteriores do autor. Entretanto, a questão amplia-se agora às mercadorias ideológicas transnacionais, uma vez que é possível abordar como ocorreram as apropriações de livros e impressos confeccionados em determinado espaço e adaptadas para outra realidade.
No segundo capítulo, Jean-Yves Mollier (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) preocupa-se com a história da formação da casa editorial e da profissionalização do editor, analisados segundo aspectos socioeconômicos, ideológicos e políticos. Além da construção cultural dos objetos, Mollier considera o aspecto material e lucrativo da elaboração dos impressos. Esse espaço de produção e concorrência gerou o início da profissionalização do editor, que, não apenas empenhado em disseminar a cultura, também almejou a obtenção de lucros quando adequou conteúdos, fossem textos ou gravuras, para livros e outros suportes impressos, a fim de fazer circular as obras dentro de um espaço transnacional.
Após abordagens sobre o livro, a leitura e o editor, encontra-se o trabalho de Tania Regina de Luca (Universidade Estadual Paulista). A autora debruçou-se sobre o gênero impresso periódico, principalmente jornais e revistas. O texto abordou dois aspectos do fazer historiográfico em torno dessas publicações. O primeiro disserta sobre o universo mais amplo do uso de documentos para a pesquisa histórica que surgiu, sobretudo, com a renovação teórica e metodológica. O segundo ocupa-se com a metodologia aplicada ao estudo da imprensa, em particular a revista, como forma de analisar os problemas históricos de uma época que vão além das transferências culturais.
Com a primeira parte dedicada ao tratamento metodológico dos livros, editores e periódicos, as demais partes de The Cultural Revolution discorrem sobre os três seguimentos inseridos em contextos históricos específicos. A segunda, intitulada “Editing, selling and reading books between Europe and Brazil”, aborda pesquisas em torno de suportes de impressos, livros e periódicos, com foco nas casas editoriais e “editores” em formação.
À luz da abordagem de Mollier, João Luís Lisboa (Universidade Nova de Lisboa) tratou da profissionalização do editor em Portugal. Se num primeiro momento a elaboração de impressos tinha o intuito de informar sobre a política ou disseminar entretenimento, a partir da segunda metade do século 19 iniciou-se o processo de vulgarização de conteúdos variados, principalmente por meio de revistas. Tal mudança necessitou de maior demanda de trabalho e maior agilidade, o que ocasionou o início da profissão de editor na virada para o século XX. Por sua vez, Lúcia Granja (Universidade Estadual Paulista) versou sobre a expansão do mercado livreiro e do desenvolvimento da impressão de livros no Brasil do Oitocentos. Assim como Lisboa, Granja também observou com atenção os agentes em torno do comércio de livros e suas vinculações políticas com os episódios do país. Sua análise destaca Baptiste-Louis Garnier (1823-1893), elo crucial na corrente de circulação de impressos entre Europa e América do Sul. A segunda parte da obra encerra-se com o artigo de Claudie Ponciani (Université Sorbonne Nouvelle), dedicado à figura do engenheiro francês Louis-Léger Vauthier (1815-1901). Vauthier fora pela reforma infraestrutural de Pernambuco, além de vendedor de livros franceses sobre questões técnicas de engenharia e sobre ideais do “socialismo romântico”. O texto inseriu Vauthier na legenda passeur (mediador), noção discutida por Michel de Espagne, que também trouxe à tona a problemática das transferências culturais. Atualmente, a noção de mediação tem sido trabalhada pela historiadora Diana Cooper-Richet, integrante do projeto Transfopress que visa à análise de periódicos em língua estrangeira publicados na França.
Com o título “Cultural exchanges through periodicals”, a terceira parte do livro dedica-se à investigação dos periódicos pela perspectiva das trocas culturais. Eliana de Freitas Dutra (Universidade Federal de Minas Gerais) analisou, sob o ponto de vista da materialidade, como sugere Tania de Luca, a Revue des Deux Mondes (1829-), editada na Cidade Luz e, a título de curiosidade, a preferida de D. Pedro II. Recortando sua análise entre os anos 1870 e 1930, a autora observou o aumento de colaboradores e uma maior discussão sobre diversos países. Na época, o Brasil figurou em várias páginas como alvo de debates que o exibiam como país não desenvolvido por possuir natureza tropical abundante. Os textos de Ana Claudia Suriani da Silva, bem como de Adelaide Machado (Universidade Nova de Lisboa) e Júlio Rodrigues da Silva (Universidade Nova de Lisboa), tomaram os periódicos como fonte de pesquisa. Suriani trabalhou com a moda francesa difundida por impressos franceses e pelos brasileiros Correio das Modas, Novo Correio das Modas e A Estação; e Adelaide Machado e Júlio Silva, com problemáticas mais amplas resultantes da integração cultural, como a imigração entre Brasil e Portugal, ponto discutido nas folhas ilustradas Jornal do Brasil (1897-8) e Portugal-Brasil (1899-1914), ambos de Lisboa.
A quarta e última parte do livro, “Plays and novel between Europe and Brazil”, volta-se para a análise ideológica dos teatros e romances modernos, difundidos no século XIX pelos autores ingleses Ann Radcliffe (1767-1823) e Sir Walter Scott (1771-1832). Com o objetivo de comparar e intersectar os diversos interesses de leitores do Brasil, França e Portugal, Márcia Abreu analisou trabalhos de ficção que circularam entre o Rio de Janeiro e Paris. Daniel Melo (Universidade Nova de Lisboa) também se debruçou sobre o gosto dos novos públicos-leitores brasileiro e português, porém com o intuito de examinar o desenvolvimento da leitura em distintos grupos sociais. Por fim, dois artigos examinaram a difusão da produção teatral francesa (tanto a dramática como a lírica). Jean-Claude Yon (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) abordou a disseminação dos espetáculos em diversos espaços nacionais ao longo do século XIX, a fim de demonstrar o apogeu do teatro francês no início do século e o seu declínio no desfecho do Oitocentos. Orna Messer Levin (Universidade Estadual de Campinas) associou as peças teatrais no Brasil aos impressos periódicos com a finalidade de demonstrar que ambos revelaram a predominância da cultura francesa no país. Levin ainda chamou a atenção para a produção de outras nacionalidades em convívio com a francesa, pois, apesar da hegemonia da língua de Voltaire, a competitividade teria aberto espaço para a expansão do mercado e a profissionalização de editores e de profissionais do teatro no início do século XX.
Ao abordar a circulação de objetos e ideias através de um mercado em expansão entre o Brasil e a Europa, a obra The Cultural Revolution of the Nineteenth Century evidenciou encontros culturais transatlânticos de primeira grandeza. Do ponto de vista da escrita da história, o livro é um contraponto à historiografia nacionalista-desenvolvimentista que suprimiu documentos e fontes de origem estrangeira em detrimento de produções vernaculares. Graças à história do livro e da leitura, em consonância com a história cultural, os historiadores e outros estudiosos das Ciências Sociais vêm demonstrando que a flexibilização das fronteiras nacionais é muito mais antiga do que se pensa. A “Aldeia Global” de hoje teve suas próprias formas de existir antes da internet, seus bits e bytes.
Referência
ABREU, Márcia; SILVA, Ana Cláudia Suriani. The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre, the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. I. B. Tauris: London, New York, 2016.
Helen de Oliveira Silva – Universidade Estadual de São Paulo (UNESP). Assis – São Paulo – Brasil. Graduada em História e Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Assis. Bolsista Fapesp, processo nº 2017-20828-4. E-mail: [email protected]
ABREU, Márcia; SILVA, Ana Cláudia Suriani. The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre, the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. I. B. London, New York: Tauris, 2016. Resenha de: SILVA, Helen de Oliveira. Entre Brasil e Europa: a Revolução Cultural do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.21, p. 617-622, jan./abr., 2019. Acessar publicação original [DR]
“Maps in Newspaper: Approaches to Study and Practices in Portrayin War since the 19th Century” | André Novaes
Fazer a leitura de Maps in newspapers: approaches to study and practices in portraying war since the 19th century é, sem dúvida, percorrer uma obra ímpar. Primeiramente, por seu formato não tão comum na produção acadêmica do Brasil, trata-se de uma monografia que compõe o primeiro volume da coleção Brill Research Perspectives in Map History, da editora holandesa Brill, que propõe trabalhos aprofundados sobre uma determinada perspectiva da história da cartografia e suas abordagens.1 Em segundo, mas não menos importante, também se destaca a particular riqueza das abordagens metodológicas que o texto explora para a pesquisa e compreensão das construções cartográficas, particularmente aquelas da imprensa.
De ímpar, torna-se também uma obra necessária no sentido de colocar em diálogo as diversas abordagens para o estudo dos mapas em sua pluralidade de formas. Mais da metade de suas páginas são destinadas a essa densa discussão, que o autor desenvolve com fluidez, aportado em uma variedade de autores que nos faz sentir viajando entre ideias. Trata-se de uma espécie de confluência de todo trabalho que André Novaes vem construindo sobre o universo dos mapas na imprensa, desde seu mestrado, passando pelo doutorado, até seus mais recentes projetos de pesquisa. Leia Mais
Ciudad de voces impresas. Historia cultural de Santiago de Chile, 1880- 1910 | Tomás Cornejo
Las repercusiones de un asesinato, ocurrido en 1896, son la excusa que Tomás Cornejo utiliza como plataforma de observación histórica para analizar el surgimiento de nuevos circuitos culturales en la capital chilena entre 1890 y 1910. La muerte de Sara Bell (y las implicancias de su pareja, de la empleada doméstica y amante del asesino, del juez del caso, de la Policía, etc.) permite estudiar las formaciones discursivas, los distintos géneros escriturales, sus autores y productores y, especialmente, los receptores de esas publicaciones que caracterizaron a la cultura santiaguina a fines del siglo XIX y en la primera década del XX. Sin embargo, no se trata de un trabajo de historia cultural cerrado, es decir, donde los objetos de investigación son autosustentables y se explican por sí mismos; por el contrario, el autor da cuenta de qué forma el asesinato que origina la investigación, solo se entiende en el contexto posterior a la guerra civil de 1891, que fue el escenario que ambientó la discusión sobre esa muerte trágica.
El primer capítulo aborda la situación de Chile en el cambio de siglo, con particular énfasis en el clima político y las transformaciones sociales que vivió la sociedad del período. Esta parte del libro, que se podría decir oficia de introducción, cumple con lo que se señaló más arriba y es la necesaria relación entre un contexto y los artefactos culturales a trabajar, para plantear que es imposible entender la aparición de estos últimos sin tomar en cuenta la coyuntura. Leia Mais
Dibujar la nación. La Comisión Corográfica en la Colombia del siglo XIX | Nancy P. Appelbaum
Este libro fue originalmente publicado en inglés con un título diferente, Mapping the Country of Regions. The Chorographic Commission of NineteenthCentury Colombia (The University of North Carolina Press, 2016), y recibió en 2017 el Premio Iberoamericano al Libro Académico sobre el siglo XIX de la Latin American Studies Association (LASA). Reflejo de una política editorial que procura una mayor circulación para un libro importante, el nuevo título refiere a una práctica que fue común a varias de las nacientes repúblicas latinoamericanas: cartografiar el territorio sobre el que pretendían ejercer soberanía. lo cual, con el fin de prestigiar esa labor y justificar el alto costo que esas expediciones exigían, se contrataron muchas veces expertos extranjeros para dirigirlas, como fue el caso de Claudio Gay (1830-1841) en Chile, o del propio Agustín Codazzi, primero en Venezuela (1830-1840) y luego en la República de Nueva Granada (1850- 1859). Leia Mais
History Education and (Post)Colonialism. International Case Studies – POPP et al (IJRHD)
Susanne Popp. www.researchgate.net /

This anthology on colonialism discusses the reasons for its upcoming in different parts of the world as a fundamental contribution to the development of modern times, and the substantial impact the decolonization process has on the new modern era after World War II. In the introduction the editors make an overview of the content of the book, which has the following structure: Part 1: Two essays, Part 2: Three narratives, Part 3: Five debate contributions and Part 4: Three approaches.
The editors also present the fundamental problems in the study of colonialism and postcolonialism, and quote UN resolution 1514 from 1960: All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Consequently, one of the questions raised in education is to what extent actual history teaching in schools represents and communicates the items of colonization and decolonization as well in the former colonies and in the countries of colonizers. The process of globalization has in the last decades made this question urgently relevant and moreover inspired to formulate the question of culpability.
In the wake of decolonization and globalization, especially Europe and the US have experienced a migration movement, which inspire classes to reflect on questions of inequality, and the former subordinates right to travel to high developed countries. This challenge to the national history might lead to fundamental changes in syllabus and teaching, which prompt a focus more on global history and postcolonial studies. As the editors point out: history educationalists need to take the issue of the ‘decolonization of historical thinking’ seriously as an important task facing their profession.
It is not possible in this review to refer and comment all 13 contributions in detail. However, I will present a thematic discussion of the four parts.
In part 1 Jörg Fisch, professor of History, University of Zürich, Switzerland, discusses the concepts of colonization and colonialism. He presents and reflect on the conceptual development on from the Latin idea of ‘colere and colonus’, in the late renaissance changed into ‘colonialist and colonialism’. The last concept is ‘aimed at making political, economic, cultural and other gains at the cost of his competitors and is often consolidated into colonial rule.’ Whereas the colonus occupied contiguous territory, the colonialist thanks to his technological superiority conquered land distant from the colonizer’s own country. The result was foreign rule, which required a new theoretical basis: Francisco de Vitoria postulated in 1539 that all peoples had the right to free settlement, trade and free colonization.
Another theory was that the indigenous populations had the right to be fully sovereign. Above those two theories, raw power was to decide to what extent the one or the other should be respected, if any of them. When the national state in the 19th century came into being in Europe and when ideas from the French Revolution gained impact in the Americas, independence was the answer. But this was not the end of colonialism which developed in the same period in the not yet unoccupied areas of Asia and Africa. Colonies became in the period from 1850 to 1914 part of European based empires divided between the big powers at the conference in Berlin in 1884-85. The process was called imperialism. World War I changed this development fundamentally, Germany lost all its colonies and the indigenous elite in the colonies began to question their subaltern status. After World War II the process of decolonization began, and the concept of anticolonization gained momentum in the aforementioned UN declaration form 1960. As Fisch underlines, the postcolonial world was not synonymous with a just world. In ‘Colonialism: Before and After’ Jörg Fisch has written a well-structured presentation of the main lines of this complex phenomenon and the conceptual development. His article is an appropriate opening to the following chapters in the anthology.
Jacob Emmanuel Mabe, born and raised in Cameroon, now a permanent visiting scholar at the French Center of the Free University of Berlin, has written a chapter on: ‘An African Discourse on Colonialism and Memory Work in Germany’. His aim is to demonstrate the significance of the concept of colonialism in intellectual discourse of Africans and to show how the colonial question is discussed in Germany.
It was the intellectuals among the colonial peoples who formed the critical discourse against European colonial rule in Africa, which Mabe calls a ‘ruthless territorial occupation’. The first materialization of this opposition to European rule was the formation of the ‘Pan- African Movement’ maybe inspired by the US-based initiative: ‘Back to Africa Movement’, which culminated in the founding of the Republic Liberia in 1879. On African soil, however in the interwar years a new concept was developed by especially Leopold Sédar Senghor, who was to become one of the most dominant voices among African intellectuals. He and his followers used the concept ‘Negritude’ and the aim was to create a philosophical platform for the promotion of the African consciousness by means of a literary current, a cultural theory and a political ideology. Mabe gives a short description of the reasons for the many barriers for the fulfilment of Senghor’s program.
Mabe ends his article with a discussion of the German attitudes to its colonial past. When the decolonizing process took off after World War II, the Germans were mentally occupied with the Nazi-guilt complex, which in comparison to the regret of the brutal treatment of the Africans, was much more insistent. Nonetheless, Mabe indicates that researchers of the humanistic tradition in the two latest decades have ‘presented some brilliant and value-neutral studies which do justice do (to) both European and, in part African epistemic interest. However, a true discipline of remembering which is intended to do justice to its ethics and its historical task can only be the product of egalitarian cooperation between African and European researchers.’ Florian Wagner, assistant professor in Erfurt, ends his chapter with a presentation of African writers in modern post-colonial studies. In competition with the USSR Western historians invited African writers to contribute to a comprehensive UNESCO publication on the development of colonialism. Wagner’s aim is to underline that transnational historiography of colonization is not, as often has been thought, a modern phenomenon, but has been practiced by European historians over the last century. His main point is that although nationalism and colonialism went hand in hand, transnational cooperation in the colonial discourse has been significant. It is an interesting contribution, which partly is a supplement to the chapter of Fisch according to use of concepts about the colonial development. It brings a strong argument for the existents of a theoretical cooperation between the European colonial masters, notwithstanding their competitive relations in other fields.
This statement can give the history teacher a new didactical perspective, as Wagner emphasizes in his conclusion: ‘Colonialism can provide a basis of teaching a veritable global history – a history that shows how globality can create inequality and how inequality can create globality.’ Elize van Eeden, professor at the South West University, South Africa, has written a chapter on: ‘Reviewing South Africa’s colonial historiography’. For more than 300 years South Africa has had shifting colonial positions, and consequently the black and colored people had to live as subalterns. The change of government in 1994 also gave historians in South Africa new possibilities, although the long colonial impact was difficult to overcome. For a deeper understanding of this post-colonial realities it is important to know African historiography in its African continental context. Elize van Eeden’s research shows that the teaching in the different stages of colonialism plays a minor role in university teaching. Therefore, new research is needed, exploiting the oral traditions of the subaltern people, and relating the local and regional development to the global trends. As van Eeden points out: ‘A critical, inclusive, comprehensive and diverse view of the historiography on Africa by an African is yet to be produced.’ Van Eeden’s contribution gives participant observers insight into especially South Africa’s historiography and university teaching and provide a solid argument for the credibility of the former quotation.
In the third chapter on narratives, written by three Chinese historians: Shen Chencheng, Zhongjie Meng and Yuan Xiaoqing: ‘Is Synchronicity Possible? Narratives on a Global Event between the Perspectives of Colonist and Colony: The Example of the Boxer Movement (1898-1900)’, the aim is to discuss the didactical option partly by including multi-perspectivity in teaching colonialism and multiple perspectives held by former colonies and colonizers, instead of one-sided national narratives, partly teaching changing perspectives, instead of holding a stationary standpoint. Another aim is to observe ‘synchronicity of the non-synchronous’ inspired by the thinking of the German philosopher Reinhard Koselleck. The chapter starts with a short description of the Boxer War, which forms the basis for an analysis of the presentation of the war in textbooks produced in China and Germany, i.e. colony and colonizer. Then the authors provide an example to improve synchronicity in teaching colonialism, followed by didactic proposals.
The Boxer War ended when a coalition of European countries conquered the Chinese rebellions and all parties signed a treaty. Germany in particular demanded conditions which humiliated the Chinese. This treaty is of course important, however at the same time, one of the Boxer-rebels formulated an unofficial suggestion for another treaty, which had the same form and structure as the real treaty, however, the conditions war turned 180 degrees around, for example, it forbade all foreign trade in China. The two treaties were in intertextual correspondence and expressed the demands of the colonizer and the colonized. The question is whether the xenophobic Boxers in fact were influenced by western and modern factors or whether the imperialistic colonizers were affected by local impacts of China? The ‘false’ treaty was used as a document in the history examination in Shanghai in 2010, with the intention of giving the students an opportunity to think in a multi-perspective way, and to link the local Chinese development to a global connection. Nonetheless, the didactical approaches in history teaching in schools are far behind the academic state of the art. It is an interesting contribution to colonialism, but it is remarkable that the authors do not use the concept of historical thinking.
In the third part of the anthology, there are five contributions. Raid Nasser, professor of Sociology, Fairleigh Dickinson University, discusses the formation of national identity in general and its relations to cosmopolitanism. The idea of a global citizenship conflicts with nationalism and the differentiations according to social, economic and ethnic divisions, and Kant is challenged by Fanon.
Nasser’s own research concerns the history textbooks in the three counties where the state has a decisive say in determining the content of those books and therefore it might have a decisive influence on the identity formation of the pupils, in this case from the year four to twelve. How much room is there for cosmopolitanism? This is a question which Nasser has thoroughly addressed in this chapter.
Kang Sun Joo, professor of Education, Gyeongin National University South Korea, discusses the problems with the focus on nation-building in the history teaching in former colonies and the need for new ‘conceptual frames as cultural mixing, selective adoption and appropriation.’ She gives an interesting view on the conformity of western impact on Korean history education.
Markus Furrer, professor of History and History Didactics, teacher training college Luzern, examines post-colonial impact on history teaching in Switzerland after World War II. He has the opinion that we all live in a post-colonial world, including countries with no or only a minor role in colonial development. He emphasizes that there are ‘two central functions of post-colonial theory with relevance to teaching: (1) Post-colonial approaches are raising awareness of the ongoing impact and powerful influence of colonial interpretive patterns in everyday life as well as in systems of knowledge. (2) In addition, they enable us to perceive more clearly the impact of neo-colonial economic and power structures.’ He analyzes six Swiss textbooks and concludes that there is a need in this regard for teaching materials which enable students to understand and interpret the construction and formation process which eventually end with ‘Europe and its others’.
Marianne Nagy, associate professor of History, Karoli Gáspar University, Budapest, has made an examination of history textbooks used in Hungary in 1948-1991 on the period between 1750 and 1914 when Hungary was under Austrian rule. This is an examination of Hungary’ s colonial status seen from a USSR- and communistinfluenced point of view. In the communist period only one textbook was accepted, and in this book, Austria was perceived as a kind of colonial power which controlled Hungary for its own benefit. The communist party had the intention to present Habsburg rule in a negative light, with the wish to describe Hungary’s relation to USSR as a positive contrast. Today the Orbán-led country uses the term colony in relation to the EU.
Terry Haydn, professor of Education, University of East Anglia, has made an explorative examination of how ‘empire’ is taught in English schools. His findings are somewhat surprising. In the history classes of the former leading colonizing country, most schools taught ‘empire’ as a topic, however with emphasis on the formative process of colonization and not ‘the decline and fall’. Haydn has with this short study focused on an item which should be the target of more comprehensive research.
The last three chapters concern the teaching of colonialism in a post-colonial western world. Philipp Bernard, research assistant at Augsburg University in Germany, discusses the perspectives in teaching post- against colonial theory and history from below. His basic assumption is that: ‘No region on the earth can evade the consequences of colonialism’, therefore, ‘A post-colonial approach emphasizes the reciprocal creation of the colonized and the colonizers through processes of hybridization and transculturation.’ The aim of teaching, in this case in the Bavarian school, is to achieve decolonization of knowledge. The author gives interesting reflections from his teaching which could be of inspiration in the schools both of colonized and colonizing countries.
Dennis Röder, teacher of History and English in Germany, writes about ‘visual history’ in relation to the visual representation of Africa and Africans during the age of imperialism. The invention of the KODAK camera in 1888 brought good and cheap pictures, which could be printed and studied world-wide. Soon those pictures could be used in education, and thereby history teaching got a new dimension, and a basis for critique of the white man’s brutal treatment of the natives. These photos were used in the protests against Belgian policy in Congo. Röder emphasises that the precondition for the use of photos as teaching material is the need for some methodological insight both on behalf of the pupils and students. Moreover, it is important to select a diverse collection of photos so that all sides of life in the colonies are represented. Then it would be possible to make a ‘step toward the visual emancipation and decolonization of Africans in German textbooks.’
Karl P. Benziger, professor of History, State University of New York, College at Fredonia, in the last chapter of the anthology has reflected on the interplay between the war in Vietnam as a neocolonial enterprise and the fight for civil rights in the US. Benziger discusses different approaches to teaching those items in high schoolclassrooms. An interesting course was staged as a role play on the theme: The American war in Vietnam. The purpose of the exercise was ‘to develop students’ historical skills through formulating interpretations and analyses based on multiple perspectives and competing narratives in order to understand the intersection between United States foreign and domestic policy from a global perspective.’
The editorial team should be acknowledged for its initiative. The anthology could be perceived as a didactical patchwork which gives inspiration to new research in the subject matter as well as innovations in history didactics. The current migration moveme would prompt to include colonialism and post-colonialism in history teaching and moreover these aspects are part of any pupil’s/student’s everyday life.
Harry Haue
[IF]
Escritos de liberdade: literatos negros/racismo e cidadania no Brasil oitocentista | Ana Flávia Magalhães Pinto
Anualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados a respeito das desigualdades por cor no país. Em tempos de “pós-verdade”, de ataque às instituições de pesquisa, de fake news divulgadas por fontes duvidosas, de convicções rápidas e não fundamentadas, mas que recebem status de verdades absolutas, é sempre bom lembrar que a desinformação oculta a forma como as desigualdades de hoje se vinculam às de ontem. De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE em 2019, os negros (soma de pretos e pardos) tornaram-se 55,8% da população brasileira. Entretanto, as pessoas brancas permanecem recebendo os salários mais elevados, continuam sendo majoritárias entre o ocupantes dos cargos gerenciais e seguem tendo as taxas mais elevadas de frequência escolar em todas as idades.1 Leia Mais
O Império e as Províncias: configurações do estado nacional brasileiro no século XIX / Outros Tempos / 2019
Caro leitor, a nova edição da Revista Outros Tempos apresenta o Dossiê O Império e as Províncias: configurações do estado nacional brasileiro no século XIX. Ao convidar estudiosos dos Oitocentos para a reflexão sobre a diversidade de questões compreendidas por essa temática, apontamos para algumas possibilidades, como: a história dos mecanismos jurídicos, fiscais e militares e sua configuração nas províncias; as expressões políticas no campo doutrinário e os embates do espaço público, como a imprensa da Corte e das províncias; as expressões literárias e artísticas, e a pluralidade de identidades políticas coletivas que engendram.
Quanto aos pontos de observação dessas questões, também propusemos olhares múltiplos: do centro político em sua percepção sobre as províncias, a visão a partir de uma província em particular, ou uma determinada articulação entre elites provinciais, sem esquecer as perspectivas comparadas e / ou de história conectada que permitam pensar a problemática no plano do continente americano e dos debates europeus coevos.
O resultado foi uma grata surpresa. Sobre as províncias, representadas por Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, recebemos contribuições que preservaram / ampliaram as abordagens propostas inicialmente pelo Dossiê.
Em relação ao Maranhão, as abordagens variaram entre a recuperação de trajetórias individuais (Luisa Moraes Silva Cutrim – “Massa de brasileiros transatlânticos”: a reinserção do negociante Antonio José Meirelles no Maranhão pós-independência (1825-1831)), a análise da atuação de órgãos provinciais, como o Conselho Presidial (Raissa Gabrielle Vieira Cirino – “Vigiar a ordem pública em conformidade das leis”: trabalhos do Conselho de Presidência do Maranhão nos primeiros anos do Brasil Império (1825-1829)) e de grupos políticos radicados na província (Yuri Costa – Escalas de poder: grupos políticos no Maranhão oitocentista e sua relação com a Corte do Império).
Sobre a província de Minas Gerais, as contribuições também gravitaram entre a recuperação de trajetórias (Luciano Mendes de Faria Filho e Dalvit Greiner de Paula – Do Conselho da Província à Assembleia Geral: os homens e as ideias em torno de Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850)) e a atuação de órgãos provinciais, desta feita, a Assembleia Legislativa (Kelly Eleutério Machado Oliveira – As províncias do Império: a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o regresso conservador (1835-1842)).
Outros grupos políticos também foram contemplados nesse Dossiê. Em primeiro plano, como no caso de Pernambuco (Paulo Henrique Fontes Cadena – A divisão do poder. Pedro de Araújo Lima, os irmãos Cavalcanti de Albuquerque e os Rego Barros entre Pernambuco e o Centro no Século XIX), ou em torno de temáticas que despertavam interesses e conflitos de grandes dimensões, como a questão da propriedade da terra no Rio Grande do Sul (Cristiano Luís Christillino – Mosquetes, penas e muita negociação: a aplicação da Lei de Terras na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul).
Em todos esses artigos, de modos distintos, esteve presente a articulação entre as províncias e a corte, perspectiva acrescida por uma análise dessa relação sob o ponto de vista da administração do Império (Andréa Slemian – Pelos “negócios da província”: apontamentos sobre o governo e a administração no Império do Brasil (1822-1834)).
O Dossiê conta ainda com perspectivas comparadas e conexões que contemplam outros espaços, para além do território que se conformava como o Império do Brasil. Uma “mirada transnacional” conectou interesses das províncias brasileiras e Guerra Civil nos Estados Unidos (Juliana Jardim de Oliveira e Oliveira – Interesses provinciais no Brasil nos anos da Guerra Civil norte-americana: uma mirada transnacional sobre relações entre o império e as províncias); noutra perspectiva, tomamos contato com a construção do estado nacional no México (Rodrigo Moreno Gutiérrez – Provincias, reinos, estados e imperio: El problema de la articulación territorial de la Nueva España a la República Federal Mexicana).
Além dos artigos, o Dossiê brinda o leitor com uma entrevista de Miriam Dolhnikoff a Wilma Peres Costa. Referência para as discussões que inspiraram a proposição desse Dossiê, a autora também participa dessa edição por intermédio da resenha de uma de suas recentes publicações: História do Brasil Império, Contexto, 2017, por Edyene Moraes dos Santos. Outra resenha, também articulada ao debate aqui proposto, é do livro de Marco Morel: A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito, Paco Editorial, 2017, por Bruno da Fonseca Miranda.
O Dossiê conta ainda com um estudo de caso, centrado na tensão entre liberdade de expressão / imprensa e as formas de controle e repressão na década de 1820 / 1830 (Roni César Andrade de Araújo – Um processo de jornalismo à época da Independência: Maranhão, 1829- 1832). Cabe lembrar que a imprensa caracterizou-se como elemento-chave nesse processo de construção de espaços públicos de representação política, que transparecem, invariavelmente, nas pesquisas que compõem esse Dossiê.
Apresentamos ainda quatro artigos livres, situados em espaços-tempos distintos do século XX, eventualmente conectados, como na proposta que articula Revolução Russa e imprensa anarquista no Brasil (Leandro Ribeiro Gomes – Revolução Russa no Brasil: o imaginário e cultura política da imprensa anarquista (1917)). Outras aproximações, agora entre campos de estudo, são apresentadas em artigo sobre relações inter-raciais e racismo em Luanda, a partir do diálogo entre história e literatura (Washington Santos Nascimento – O casamento do preto Marajá com a branca Arlete: relações amorosas e racismo em “Os discursos do Mestre Tamoda” de Uanhenga Xitu). A questão racial é também tema de outro artigo, centrado na trajetória do intelectual brasileiro Clóvis Moura (José Maria Vieira de Andrade – Os dilemas de um intelectual “transitivo”: Clóvis Moura e a constituição de uma rede de sociabilidade antirracista no Brasil). Por fim, apresentamos artigo centrado na relação entre organizações empresariais e trabalhadores da construção civil durante a ditadura civil-militar (Pedro Henrique Pedreira Campos – Ditadura e classes sociais no Brasil: as organizações empresariais e de trabalhadores da indústria da construção durante o regime civil-militar (1964-1988)).
Assim, chegamos ao 16º ano e a 27ª edição. Boa leitura a todos!
Marcelo Cheche Galves
Wilma Peres Costa
(ORGANIZADORES)
GALVES, Marcelo Cheche; COSTA, Wilma Peres. Apresentação. Outros Tempos, Maranhão, v. 16, n. 27, 2019. Acessar publicação original [DR]
Raza y política en Hispanoamérica – PÉREZ VEJO; YANKELEVICH (RHYG)
PÉREZ VEJO, Tomás; YANKELEVICH, Pablo (coords.). Raza y política en Hispanoamérica. Ciudad de México: Iberoamericana, El Colegio de México y Bonilla Artiga Editores, 2018 (1ª edición 2017). 388p. Resenha de: ARRE MARFULL, Montserrat. Revista de Historia y Geografía, Santiago, n.41, p.199-205, 2019.
El conjunto de trabajos presentados en esta compilación realizada por Tomás Pérez Vejo y Pablo Yankelevich, que en total suman diez, incluyendo dos capítulos de los compiladores, es un apronte serio y actualizado del ya muy referido –aunque nunca agotado– tema de la construcción nacional en las diversas repúblicas americanas. El elemento novedoso en este caso es la sistemática inserción de la discusión sobre la “raza” que guía cada uno de estos trabajos, en un esfuerzo por hacer converger los idearios de identidad nacional que emergieron en América tras las independencias y las conflictivas relaciones político-sociales evidenciadas en estos espacios, a las que, con cada vez más fuerza y honestidad, definimos como racializadas .
Para los compiladores, proponer el análisis de estas dinámicas nacio- raciales en los siglos XIX y XX aparece como necesario ya que, según indican, “no es que la raza formase parte de la política, sino que era el fundamento de la política misma” (p.12). Partiendo, así, de esta premisa, los diez autores convocados ensayan y demuestran cómo es que las ideologías racialistas que se gestaron en América desde la conquista o desde el siglo XVIII ilustrado, calaron profundamente y configuraron de manera compleja las propuestas romántico-nacionalistas, liberales y cientificistas de los siglos XIX y XX –a lo menos–, hasta mediados del siglo pasado. Leia Mais
Clases dominantes y desarrollo desigual. Chile entre 1830 y 2010 – FISCHER (RHYG)
FISCHER, Karin. Clases dominantes y desarrollo desigual. Chile entre 1830 y 2010. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado, 2017. 213p. Resenha de: BUSTAMANTE OLGUÍN, Fabián. Revista de Historia y Geografía, Santiago, n.39, p.211-215, 2019.
Chile es probablemente uno de los países con mayor libertad económica en el mundo, con un sistema de libre mercado que ha permitido un inédito poderío de los grandes grupos económicos, sin precedentes en la historia de Chile. Es más: se podría destacar que nuestro país sería nada menos que la “Corea del Norte del capitalismo”, según señalaba un fallecido periodista, apuntando a la radicalidad de este nuevo fundamentalismo, que es el neoliberalismo.1
Sin embargo, en el nombre de la apologética “libertad de emprender actividades económicas”, estas elites han arrebatado la oportunidad de ganancia a miles de chilenos, lo que ha llevado a diversos sectores de la sociedad –a partir del 2011 con las protestas estudiantiles–, a criticar el modelo existente ante las evidentes desigualdades sociales producto de la excesiva concentración de la riqueza en un mercado pequeño como es el chileno. Leia Mais
Inclusão & educação – LOPES; FABRIS (REi)
LOPES, M. C.; FABRIS, E. H. Inclusão & educação. Belo Horizonte: Autêntica: 2013. Resenha de: FREITAS, Márcia Guimarães de; SILVA, Lázara Cristina da. Revista Entreideias, Salvador, v. 8, n. 1, p. 7-26, jan./jun. 2019.
O livro Inclusão e Educação foi escrito por Maura Corcini Lopes e Eli Henn Fabris, ambas professoras doutoras da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e participantes do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão (GEPI/CNPq), que é formado por pesquisadores de distintas universidades do estado do Rio Grande do Sul (RS). Esses pesquisadores têm em comum a pesquisa no campo da educação e o interesse em estudar a emergência da inclusão, alicerçando-se em uma perspectiva pós-estruturalista, que busca, principalmente na concepção de Michel Foucault e autores afins, pensar, entender e tensionar os campos discursivos em que a inclusão emerge. As autoras destacam que o GEPI está na retaguarda das discussões e questionamentos encontrados neste livro, e que esse grupo tem sido o precursor dos estudos que utilizam a abordagem foulcaultiana sobre o tema da inclusão.
A obra problematiza, numa perspectiva geral, a preocupação crescente com a inclusão, e especificamente com a inclusão escolar no Brasil, ao considerar que a inclusão ocupa um status de imperativo de Estado e torna-se uma das estratégias para que o ideal da universalização dos direitos individuais, no caso, a educação para todos, seja considerado como uma possibilidade. Inclusão como imperativo de Estado implica, pelo seu caráter impositivo, ninguém poder deixar de cumpri-la e nenhuma instituição ou órgão público pode refutá-la; significando, ainda, que deve atingir a todos, independentemente dos desejos dos indivíduos.
O texto busca olhar o tema inclusão provocando nele rachaduras que possibilitem problematizá-lo, sem limitar-se à mobilização pela obediência à lei, pelo caráter salvacionista ou pela necessidade de mudanças que são exigidas do país no tempo presente. Indo além, busca pensar a inclusão na perspectiva do interesse de ter nossas condutas dirigidas de forma mais coerente com a noção de educação para todos.
As autoras consideram que tensionar a inclusão inscreve-se na problematização do governamento e da governamentalidade.
Os estudos foucaultianos se concentraram em pesquisar como governamos os outros e como governamos a nós mesmos, tendo como objetivo examinar o aparecimento de diferentes práticas de governamento que organizam instituições e regulamentam condutas. De acordo com Veiga Neto (2002), as palavras governamento e governamentalidade seriam palavras mais adequadas para se problematizar os processos de regulamentação das condutas de uns sobre os outros, bem como das ações dos sujeitos sobre si mesmos.
O livro discute a inclusão como uma estratégia do Estado brasileiro para fazer acontecer um tipo de governamentalidade neoliberal alinhada com nosso tempo. Na contemporaneidade, a arte de governar se constitui de práticas de uma racionalidade econômica que opera, tanto sobre as condutas de cada indivíduo, quanto sobre a população que se quer governar. Nesse sentido, a escola passou a ser um espaço útil para o Estado, que, por princípio de governo, necessitava disciplinar e manter sob controle os indivíduos e segmentos sociais que ameaçassem a ordem social. Assim, nos séculos XIX e XX, desenvolve-se um modo de vida que exige que a escola seja capaz de educar indivíduos para a racionalidade, para a autocondução e o autogoverno, sendo o indivíduo responsabilizado pelo que lhe acontece e por gerir sua própria independência.
As autoras afirmam que, para entender a inclusão, é interessante conhecer os conceitos de normação e de normalização, pois ambos constituem, no presente, as práticas que determinam a inclusão. O primeiro conceito é típico de uma sociedade disciplinar, enquanto o segundo é típico de uma sociedade que uns consideram de seguridade e outros de controle ou de normalização. Importante é conhecer também o conceito de normalidade, utilizado entre os especialistas da saúde e da educação, sendo que todos esses conceitos partem da noção de norma.
O texto fundamenta-se em Ewald (1993, p. 86) para explicar o conceito de norma como “[…] um princípio de comparação, de comparabilidade, de medida comum que se institui na pura referência de um grupo a si próprio, a partir do momento em que só se relaciona consigo mesmo”. Pode-se entender que, além de ser instituída no grupo e pelo grupo, a norma tem um caráter fundamentalmente prescritivo. Lopes e Fabris (2013), buscando embasamento em Ewald (2000), afirmam que a norma, ao funcionar como um princípio de comparabilidade e de medida, age com a intenção de incluir todos, de acordo com critérios construídos no interior dos grupos sociais e a partir deles. Assim, pode-se dizer que a norma é criada a partir das variações do grupo de indivíduos que ela observa, classifica e normaliza. É uma invenção construída mediante observações baseadas nas relações estabelecidas entre os sujeitos, em suas formas de se comportar e de se desenvolver.
Como já dito anteriormente, nos dispositivos disciplinares, a norma atua na população por normação, o que significa que primeiro se define a norma e depois os sujeitos são identificados, sempre de forma dicotômica, como normais ou anormais, deficientes ou não deficientes, etc. Já nos dispositivos de seguridade, a norma atua por normalização, ou seja, parte-se do normal e do anormal, dados a partir das diferentes curvas de normalidade, para determinar a norma. Na contemporaneidade, a normalização é constituída a partir do normal nas comunidades e ou grupos sociais; ou seja, primeiro está dada a normalidade aos grupos, depois se estabelece o normal para esse grupo; e a partir desse normal instituído nesses grupos sociais, pode-se apontar o anormal. As técnicas de normalização objetivam fazer com que o indivíduo seja normalizado através da naturalização da sua presença, e se enquadre em uma das distribuições permitidas pela curva da normalidade, para que seja permitido seu reconhecimento frente à sociedade. De um modo geral, é o que Foucault chama de processo de normalização através da inclusão.
Na atualidade, a inclusão se materializa como uma alternativa econômica para que os processos de normação e normalização se efetivem, e outras formas de vida não previstas –empreendedorismo, autossustento e autonomia– se expandam, visando a minimizar os prejuízos causados por práticas discriminatórias a determinados segmentos da população ao longo da história.
As autoras consideram que os termos exclusão, inclusão e in/exclusão são leituras possíveis no presente, e que Foucault (2003), ao diferenciar os movimentos de exclusão, reclusão e inclusão, enfatiza as práticas sociais que caracterizam os chamados indivíduos a corrigir – os loucos, os deficientes, os perigosos, entre outros. Esses indivíduos, antes chamados de anormais e incorrigíveis, passam a ser tratados como alguém a recuperar.
Assim, tais sujeitos deixam de ser excluídos. No entanto, sem que haja rompimento das práticas de exclusão e reclusão, a inclusão se apresenta como uma forma econômica de cuidado e educação da população. Salienta-se, no entanto, que, na inclusão delineada nos séculos XX e XXI, formas sutis e muitas vezes perversas de exclusão e reclusão estão implicadas. Ou seja, na modernidade, há uma “[…] reinscrição e uma ressignificação das práticas de exclusão e reclusão na lógica dominante da inclusão” (p. 62).
O texto analisa também a educação especial e seu lugar nas práticas de inclusão, optando, não pelo desenvolvimento de um histórico da educação especial, e sim pela análise da educação especial a partir das políticas públicas. As autoras propõem uma discussão, mostrando que existem múltiplos significados para a expressão políticas públicas. Assim, ao se referir à educação especial, as autoras intencionam mostrar que, desde os seus primórdios, quando a educação especial está dentro de uma concepção terapêutica clínica, está inscrita numa reação de inclusão, pois, em sua origem, significa uma nova forma de governar, mobilizada pelo capitalismo de inspiração keinesiana; que é o estado de bem-estar social, tendo como uma das características mais significativas a implantação e o fortalecimento de políticas sociais por meio de serviços de atendimento à população.
As autoras salientam que as características das legislações, como o espírito de solidariedade, que marcou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024 de 1961; o espírito de profissionalização, que marcou a LDB nº 5692 de 1971; e o parecer do Conselho Federal de Educação nº 848/72, marcado pelo espírito de desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos, denotam que, na base do atendimento especializado e da própria educação especial, podese perceber condições de possibilidades para que, no século XXI, a inclusão se insira como preocupação central e como uma das finalidades da educação nacional para as pessoas com deficiência (educação especial). O texto baseia-se em Varela (2002) para dizer que o surgimento da educação especial origina-se das pedagogias disciplinares e corretivas, caracterizadas pelo processo contínuo de normalização sobre o corpo, buscando sua correção e adestramento.
Por fim, as autoras fazem algumas conexões entre os diversos usos e significados de inclusão que circulam no campo da educação brasileira, salientando que a dispersão analítica dificultou uma abordagem e a definição no campo analítico e, por isso, optaram por apresentar interpretações mais abertas, de cunho sociológico, político e filosófico, que determinam as possibilidades de surgimento dos usos da inclusão no campo da educação do presente.
Referências
EWALD. François. Foucault, a norma e o direito. 2. ed. Lisboa: Vega, 2000.
VEIGA-NETO, Alfredo. Coisas do governo… In: RAGO, M.; ORLANDI, L. B. L.; VEIGA-NETO, A. (org.). Imagens de Foucault e Deleuze: ressonâncias nietzschianas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
Márcia Guimarães de Freitas – Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: [email protected]
Lázara Cristina da Silva – Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: [email protected]
A monarquia no cinema brasileiro: Metodologia e análise de filmes históricos | Vitória Azevedo da Fonseca
A monarquia no cinema brasileiro: Metodologia e análise de filmes históricos. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. A monarquia no cinema brasileiro: metodologia e análise de filmes históricos é um livro de autoria da historiadora brasileira Vitória Azevedo da Fonseca. Proveniente de sua dissertação de mestrado desenvolvida pela Universidade de Campinas, se propõe analisar dois filmes que tratam, sob diferentes perspectivas, o período monárquico brasileiro e o processo de independência do país. São eles: Independência ou Morte, de 1972, dirigido por Carlos Coimbra, e Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, lançado em 1995, sob a direção de Carla Camurati.
A obra é dividida em quatro capítulos precedidos por uma apresentação assinada por Leandro Karnal, e encerrado com as considerações finais da autora e as referências. Inicialmente, Fonseca apresenta alguns métodos que devem ser levados em consideração ao propor uma análise de filmes históricos, destacando autores como Ismail Xavier, Jacques Aumont, Jean-Claude Bernadet, Marcel Martin, Marc Ferro e Marc Vernet, sem estabelecer um específico para seguir e optando pela mescla de metodologias. Seguindo a ideia proposta por Vanoye, a autora argumenta que a primeira medida a se fazer ao analisar uma película é descompô-la em partes, estabelecendo relações em seguida, para, dessa forma, compreender a estrutura narrativa construída (p. 10). Leia Mais
Visões e discursos sobre o “estar doente”: os papéis sociais estabelecidos pelas instituições de saúde, no século XX e início do XXI / Albuquerque: Revista de História / 2019
A alteridade como patologia: os discursos médicos e seus usos políticos
O dossiê Visões e discursos sobre o “estar doente”: os papéis sociais estabelecidos pelas instituições de saúde, no século XX e início do XXI chega aos leitores, num momento em que vivemos uma pandemia que já causou milhares de mortes e que tem agravado, não só uma crise econômica mundial, mas também, a desigualdade social em diversos países, inclusive no Brasil. O isolamento social, medida preventiva adotada, traz consigo uma série de questões sobre a desigualdade social que, há muito, vem sendo silenciadas e negligenciadas. Ações simples, que são verbalizadas e repetidas (quase) como palavras de ordem nos diversos veículos de comunicação e redes sociais, #LaveAsMãos e #FiqueEmCasa, revelam que aspectos básicos, como a moradia e o acesso à rede de saneamento básico, ainda são um privilégio a que muitos não têm acesso. Em que pese a relevância das discussões que podem surgir desse evento e seus desdobramentos, é importante salientar sua importância para compreender melhor a sociedade em que vivemos e os debates aqui propostos.
Ao investigar histórica e historiograficamente as relações de poder que perpassam o adoecer e o curar, não se pode deixar de pensar qual é o papel social da Medicina, seja no início do século passado ou deste, com suas transformações e permanências. De outra parte, cabe também a pergunta: como o Estado lidou (e tem lidado) com as diversas demandas da área da saúde pública? Embora a comunidade médica tenha feito parte de um projeto civilizador para o Brasil – tornando patológicos comportamentos socialmente “indesejáveis” – baseado em mecanismos de normatização e disciplinarização dos indivíduos, nem sempre houve as condições necessárias para combater e debelar as epidemias. Quanto às instituições responsáveis por implementar as medidas profiláticas, o improviso foi, muitas vezes, o único recurso disponível para lidar com o despreparo das equipes auxiliares, a escassez de recursos, mas também com os “alienados”, os doentes e os mais pobres. O que não quer dizer, que a população não protestasse contra as medidas implementadas, muitas vezes, de forma impositiva e violenta, como no caso (emblemático) da Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1904.
Nota-se, então, como o discurso médico e das instituições sanitárias e de saúde foi empregado em diversas ocasiões (e epidemias), pelo Estado, para justificar o controle sobre os indivíduos. Roberto Machado, ao publicar A Danação da Norma, constrói uma trajetória das políticas de saúde no Brasil e pontua que é no século XIX que o saber médico investiu sobre as cidades e as dinâmicas sociais ali presentes. O século XX representa, por sua vez, o momento em que o saber médico institucionalizado, com o aval do Estado, passa a alcançar diversos espaços sociais, dialogando com discursos provenientes de outras áreas do conhecimento, tais como a Educação, a Engenharia, a Arquitetura, o campo do Direito, por exemplo. Com isso, os discursos sobre o estar doente ganharam sentidos políticos que auxiliaram na elaboração e execução desses projetos. Também ajudaram a transformar o saber médico e consolidar sua relevância em diversos grupos sociais.
Nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, o Estado autoritário brasileiro, alicerçado em uma política coronelística, utilizou a medicina para estabelecer uma divisão social entre os que, teoricamente, conseguiam compreender as políticas de saúde e os que não teriam condições para isso. Os elementos que sustentaram esse discurso médico-político, que culminou em projetos sanitaristas violentos, foram baseados na Antropologia Criminal de Cesare Lombroso, que auxiliou na consolidação dos discursos racistas durante a primeira metade do século. Com base em suas teorias, foi possível judicializar uma série de grupos que, não por acaso, eram formados por negros e mestiços, justificando assim, um projeto de branqueamento da população (muito mais mestiça e negra do que com traços europeus) que estava em curso desde o final do século XIX. Houve, também, uma brutal medicalização dos indivíduos fora dos padrões de normalidade pretendidos, bem como dos espaços frequentados por eles.
Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, as relações entre as ciências e o discurso político se estreitam, ganhando uma nova dimensão com a Marcha para o Oeste. O projeto político de “civilizar” o sertão teve como intuito a mudança cultural de diversos indivíduos, legitimado por discursos excludentes por parte do Estado. No entanto, havia outras ações previstas dentro dessa agenda política. É neste contexto que se inserem as discussões apresentadas por Diego Moraes, no artigo O discurso eugenista como instrumento político na transição das Repúblicas: a institucionalização do “Perigo Amarelo” no âmbito da Constituinte de 1934. O autor discute como, naquele momento, houve não somente a medicalização da diferença, mas também o uso do discurso médico e científico como argumento jurídico para desqualificar imigrantes asiáticos. Alcir Lenharo, em A Sacralização da Política, reforça a existência dessa mentalidade ao afirmar que medicina, engenharia e educação foram as bases do processo político varguista. Ao longo de quinze anos de um governo autoritário, foi possível trazer à luz projetos de sanitarização que funcionaram muito mais como controle do que benefício para as populações.
Nos anos 50, tendo em vista o segundo governo de Getúlio Vargas e seu projeto de modernidade para o país, houve a continuidade do discurso baseado na necessidade de uma pátria saudável para alcançar o progresso tão desejado. Para tanto, era preciso unir a nação por meio de uma sociedade com saúde, disciplinada ou medicalizada. Parte desse debate está presente no artigo O desenvolvimento das Instituições Psiquiátricas no Rio Grande do Sul até 1950 – O que sabemos pelas pesquisas historiográficas, no qual Lisiane Ribas Cruz situa o estado da arte sobre o tema naquele período. Trata-se de uma contribuição relevante, uma vez que articula esse projeto nacional e seus mecanismos, ao contexto regional.
Na década de 1960, durante o regime militar, surgiram novas discussões sobre o papel dos profissionais de saúde, sinalizando algumas mudanças. No entanto, a invisibilidade social que algumas doenças provocavam, como no caso da tuberculose ou da lepra (cujo nome fora mudado para hanseníase, na década de 1960, por causa do estigma ligado a ela) e, mais recentemente, da AIDS, indicam algumas permanências. Um exemplo disso são as discussões em torno do isolamento de soropositivos, nos anos 80; os inúmeros hospitais psiquiátricos que recolheram milhares de pessoas, mesmo que em graus menos severos, escondendo-os da sociedade. Neste grupo, também se enquadram as relações entre crime, violência e loucura, em uma sociedade violenta e que precisa lidar com sujeitos duplamente marginalizados: são infratores e loucos. Essas reflexões estão presentes no artigo Condenados da Margem: Luta Antimanicomial e o Louco Infrator em Goiás, de Éder Mendes de Paula.
Em Os povos alto-xinguanos e o modelo assistencial em saúde operacionalizado em contextos de intermedicalidade: encontros de saberes, negociações e conflitos, Reginaldo Silva de Araújo apresenta novos elementos, ampliando essa discussão, do ponto de vista temático. Ao mesmo tempo, atualiza sua temporalidade: os anos 2000. Do ponto de vista metodológico, o artigo evidencia as aproximações entre as ciências humanas e o fazer historiográfico, de modo a contribuir para o enriquecimento das reflexões propostas neste dossiê. Além das questões ligadas à posse de terras, que tem resultado em conflitos violentos e genocidas, as comunidades indígenas sofrem com a falta de médicos, recursos físicos e de equipamentos para assistência médica. Principalmente, com a falta de preparo das equipes para lidar com as especificidades culturais dessas comunidades.
Mais recentemente, também tem sido discutida a eficácia do isolamento compulsório para usuários de drogas ilícitas, mas também de pessoas cujos comportamentos são socialmente “indesejáveis” e que, por isso, também são considerados patológicos. Assim, ainda hoje, buscase homogeneizar (por meio de um mecanismo que é perpassado pelo discurso médico, jurídico, geopolítico, entre outros), uma população que é, por princípio, constituída por comunidades tão diversas em suas características, sociabilidades, sistema de crenças e práticas. Em tempos de pandemia, de divulgação em massa de informações falsas e da reiterada desvalorização do conhecimento científico, inclusive das recomendações da Organização Mundial de Saúde, corre-se o risco de pensar que a história se repete, o que, sabemos, é uma armadilha. No entanto, cabe a nós observar como esse mecanismo discursivo se manifesta hoje, e qual seu papel dentro do projeto político neste início de século. Boa leitura!
Referências
LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas: Papirus, 1986.
MACHADO, Roberto. A Danação da Norma. Medicina Social e Constituição da Psiquiatria no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1978.
Carla Lisboa Porto (Centro Universitário Sagrado Coração)
Éder Mendes de Paula (Universidade Federal de Jataí)
Organizadores
PORTO, Carla Lisboa; PAULA, Éder Mendes de. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.11, n.22, 2019. Acessar publicação original [DR]
As dimensões da resistência em Angoche: da expansão política do sultanato à política colonialista portuguesa no norte de Moçambique (1842- -1910) – MATTOS (AN)
MATTOS, Regiane Augusto de. As dimensões da resistência em Angoche: da expansão política do sultanato à política colonialista portuguesa no norte de Moçambique (1842- -1910). São Paulo: Alameda, 2015. p. 308. Resenha de: PEREIRA, Matheus Serva. Entre experiências, agências e resistências: complexos de interconexões e a coligação contra o colonialismo no norte de Moçambique (1842-1910). Anos 90, Porto Alegre, v. 26 – e2019503 – 2019.
Entre experiencias, agencias y resistencias: complejos de interconexiones y la coalición contra el colonialismo en el norte de Mozambique (1842-1910) Among experiences, agencies, and resistances: the interconnection complex and the coalition against colonialism in northern Mozambique (1842-1910)
O florescimento e a consolidação de uma dinâmica historiografia africanista produzida no Brasil, nos últimos quinze anos, permitiu a ampliação das temáticas, objetos e espaços pesquisados. Uma das nações africanas que mais viu crescer o interesse de estudantes e investigadores brasileiros foi justamente a de Moçambique. Sinais dessa vitalidade podem ser encontrados na recente premiação da tese de Gabriela Aparecida dos Santos, vencedora do Prêmio Capes de Teses 2018, que versa sobre a construção e as redes de poder do Reino de Gaza, existente no século XIX entre as atuais fronteiras da África do Sul, Suazilândia, Zimbabwe e Moçambique. Outros exemplos são os dos sucessivos eventos sobre a África Austral, como o Seminário Internacional Cultura, Política e Trabalho na África Meridional, realizado na Unicamp em 2015, ou a II Semana da África: Encontros com Moçambique, ocorrido em 2016, na PUC-Rio, dedicado inteiramente aos estudos sobre Moçambique e sua História. Nessa ocasião, em específico, pude participar da organização Entre experiências, agências e resistências: complexos de interconexões e a col igação. . . 2 de 9 do evento ao lado das pesquisadoras Carolina Maíra Moraes e Regiane Augusto de Mattos, esta última autora do livro As dimensões da resistência em Angoche: da expansão política do sultanato à política colonialista portuguesa no norte de Moçambique (1842-1910), publicado pela editora Alameda.
Resultado de sua tese de doutorado, defendida em 2012, na Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Leila M. G. Leite Hernandez, o livro é um importante contributo para a História da África. Na obra, as relações políticas africanas no norte de Moçambique, dos diferentes agentes sociais e políticos envolvidos nessas relações e do esforço colonial português no seu desmantelamento, são investigadas a partir da complexidade do conceito de resistência. Nesse sentido, a investigação histórica produzida por Regiane de Mattos emprega esse conceito para refletir sobre as experiências e agências africanas no contexto colonial de promoção e implementação das suas ferramentas de dominação.
A argumentação central presente em As dimensões da resistência em Angoche está no exercício de análise de diferentes grupos sociais africanos como agentes históricos, com objetivos diversos, trazendo uma série de questões teóricas e desafios metodológicos que vão sendo encarados na medida em que a autora investiga a existência de universos culturais distintos existentes no norte de Moçambique. Para isso, Regiane Mattos lança mão de uma ampla variedade de fontes, localizadas em coleções documentais no Brasil, em Portugal e em Moçambique. O cruzamento das fontes impressas, como os relatos dos militares e governadores gerais, com àquelas localizadas, especialmente, no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, e no Arquivo Histórico de Moçambique, em Maputo, demonstram a preocupação da autora em conectar seus alinhamentos teóricos e metodológicos com uma História empiricamente embasada. Existe um trabalho empírico primoroso de recolhimento e de cruzamento de fontes não necessariamente inéditas, mas que são colocadas sob novos caminhos interpretativos. O desafio em trabalhar com uma base documental proveniente de diferentes formatos e objetivos é encarado pela autora com o seu desbravar de textos em variadas línguas, como o português e o árabe-suaíli, salientando, sempre que possível, as múltiplas possibilidades de traduções que os portugueses produziram para os escritos existentes na língua local. Com isso, as vozes africanas que emergem dos papeis do passado são investigadas como contínuos sistemas de conversões de significados, elaborados de próprio punho, traduzidos para o vernáculo português ou existentes nas entrelinhas das palavras escritas pelos portugueses.
A ideia de rede de relações sociais, culturais, econômicas e políticas construída a partir das experiências específicas dos grupos africanos analisados no livro é traduzida pela autora a partir do uso da expressão “complexo de interconexões”. É exatamente a partir dessas interações existentes entre os sultanatos do litoral norte moçambicano, sobretudo o de Angoche, o intenso diálogo desses com sultanatos do Índico, especialmente o de Zanzibar, as chefaturas macua-imbamelas do interior e a presença crescente das forças colonizadoras portuguesas na região, que a autora utiliza para explicar a formação de uma coligação de resistência. Constituída no final do século XIX por um aglomerado plural de chefaturas africanas, que possuíam uma vasta gama de imbricadas relações, organizaram-se com o objetivo concreto de oporem-se à presença colonizadora portuguesa na região.
Ao elencar variados grupos sociais africanos para o centro da interpretação, a autora identifica uma necessária análise das conjunturas sociais, culturais, políticas e econômicas específicas pelas quais foram construídas as alianças entre distintos atores políticos e militares no norte de Moçambique. Essa guinada analítica denota, por um lado, uma constante, por vezes cansativa, mas importante contextualização das formações sócio-políticas africanas. Por outro lado, demonstra uma capacidade refinada de leitura crítica das entrelinhas de suas variadas fontes, apresentando uma não linearidade da expansão colonial de Portugal sobre o território. O que quero dizer com isso é que Regiane de Mattos consegue, ao longo de sua obra, apresentar a ação colonial como um processo histórico composto por agentes sociais que tiveram que lidar com as debilidades de seus poderes e as rápidas mudanças promovidas pelos conflitos perpetrados pelos portugueses na sua busca por uma efetivação de sua dominação.
Ao promover uma análise das ações desses sujeitos sociais a partir de suas próprias configurações e contextos sociais, culturais e políticos, a noção de resistência que emerge em sua obra se desvincula do exercício de buscar uma linearidade explicativa entre as ações contrárias ao colonialismo. Nesse sentido, o diálogo estabelecido ao longo do livro com a historiografia que se debruçou sobre o sultanato de Angoche está centrada na maneira pela qual essa empregou o conceito de resistência. Chamando a atenção para o pequeno número de pesquisas existentes sobre o norte de Moçambique para o período estudado, Regiane de Mattos apresenta ao leitor um panorama sobre a bibliografia produzida a partir da década de 1970 sobre as respostas africanas nessa região à expansão colonial portuguesa. Diferentemente do posicionamento de Malyn Newit, Nacy Hafkin, René Pélissier, Aurélio Rocha e Liazzat Bonate, autores elencados por Mattos como aqueles que dedicaram especial atenção à temática de sua pesquisa, As dimensões da resistência em Angoche pretende contrapor-se à noção de que a resistência à dominação colonial perpetrada pelas chefaturas islamizadas do norte de Moçambique tiveram como principal e, por vezes, exclusivo objetivo a manutenção de privilégios obtidos com o comércio de escravizados.
Segundo Mattos, essa bibliografia trouxe importantes contributos. Porém, ao problematizar a coligação estabelecida pelos agentes africanos contra os intuitos externos europeus de controle a partir da primazia econômica do desejo de continuidade da produção baseada na escravatura, teriam estabelecido análises anacrônicas ou moralizantes. Pélissier, por exemplo, os interesses econômicos da continuação do comércio de escravos foram o principal fator unificador na região, pois seria inexistente qualquer “consciência étnica”, sobretudo entre os macuas. Numa linha semelhante, Aurélio Rocha diminui a importância da presença do Islã como forma de estabelecimento de laços que fossem para além das elites e, consequentemente, capazes de produzir redes amplas de interesses. Ao mesmo tempo, pressupõe uma correlação causal de efeito entre as razões das revoltas do sultanato de Angoche contra os portugueses e as ações europeias contrárias ao tráfico de escravos e, com isso, a impossibilidade do uso do termo resistência. Afinal, no sentido empregado por Rocha e Nacy Hafkin, como o mesmo conceito usado para explicar as lutas nacionalistas de oposição ao sistema colonial e que denotava um sentido de libertação poderia ser empregado para compreender ações africanas “até mesmo no sentido contrário ao do nacionalismo”1?
Questionando a existência de conexões lineares entre as ações africanas, de meados do século XIX e início do século XX, contrárias ao colonialismo e as lutas nacionalistas dos anos 1960, consequentemente posicionando-se nos debates sobre o emprego da noção de resistências na historiografia africanista, a autora lança novas luzes aos estudos sobre o norte de Moçambique durante o contexto de rápido desmantelamento das sociedades existentes naquela região. A multiplicidade de fontes empregadas, não necessariamente inéditas, é encarada de maneira singular a partir de procedimentos teóricos e metodológicos que lançam novas luzes sobre a formação da coligação de resistência como resultado da própria constituição e fortalecimento do sultanato de Angoche ao longo do século XIX. Regiane de Mattos presenteia-nos com uma consistente defesa da vitalidade 4 de 9 do conceito de resistência para interpretar as ações africanas, sem reduzi-las às dicotomias entre aqueles que colaboraram ou combateram a presença colonial.
Mattos estabelece um diálogo privilegiado com obras clássicas da historiografia africanista especializadas na temática da resistência, como as de Terence Ranger, Allen Isaacman e Barbara Isaacman, e com outras mais recentes que a problematizam, como os questionamentos de Frederick Cooper sobre a vitalidade do conceito ou o repensar da noção de insurgência apresentado na coletânea organizada por Jon Abbink, Mirjam Bruijn e Klass van Walraven. Seu intuito, com isso, é o de lançar seu olhar sobre as fontes e a bibliografia especializada para realizar “uma abordagem mais matizada da resistência” (MATTOS, 2015, p. 26). Aproximando-se de uma perspectiva recorrente do uso do conceito pela historiografia brasileira que dedicou especial atenção à história da escravidão, do negro e do pós-abolição nas Américas e no Atlântico, resistência é compreendida no livro como “o conjunto de ações, sem elas individuais ou organizadas em nome de diferentes grupos, elitistas ou não, não necessariamente incluindo violência física, como respostas às interferências políticas, econômicas e/ou culturais impostas por agentes externos e consideradas, de alguma maneira, ilegítimas pelos indivíduos que a elas foram submetidos” (MATTOS, 2015, p. 26).
Infelizmente, a autora não aponta para a íntima vinculação existente entre a historiografia sobre o passado africano produzida no Brasil e a noção que emprega ao longo do seu livro sobre a resistência, relação vital para a sua capacidade analítica singular das dinâmicas redes entre os grupos sociais africanos do norte de Moçambique. Dada a centralidade do conceito para a obra e a trajetória da autora, teria sido importante que a Regiane de Mattos indicasse como o crescimento significativo da historiografia africanista produzida no Brasil no século XXI e o seu uso relativamente distinto do conceito de resistência em comparação às perspectivas africanistas desenvolvidas em cenários acadêmicos africanos ou europeus deve-se, dentre muitos fatores externos ao meio acadêmico, à proliferação das investigações de trabalhos pioneiros sobre essas temáticas no meio historiográfico brasileiro dos anos 1980 e 1990. As transformações pelas quais os trabalhos de historiadoras e historiadores passaram nesse contexto promoveram uma interpretação de classes, grupos ou indivíduos a partir de perspectivas da História Social que privilegiavam suas perspectivas, experiências e ações, em detrimento de análises estruturantes. Muitos desses trabalhos foram inspirados pelas variadas perspectivas da micro-história italiana,2 pelas obras de E. P. Thompson,3 e por uma bibliografia norte-americana sobre as experiências afro-americanas.4 O balanço historiográfico lançado em 1977 por Allen Isaacman e Barbara Isaacman, Resistance and collaboration in southern and central Africa, c. 1850-1920, citado por Mattos como crítico ao emprego do termo resistência, estabelece paralelos que poderiam ser interessantes de serem explorados entre a virada historiográfica brasileira citada anteriormente. Ao analisar as complexas abordagens existentes no campo da História da África a respeito do tema da resistência africana ao colonialismo europeu, Allen e Barbara Issacman apontam para uma percepção sobre o conceito de resistência para analisar as ações diárias de insatisfação dos africanos durante a vigência da dominação colonial europeia, como cabível de ser influenciada justamente por pesquisas realizadas nos anos 1970 sobre as ações escravas nos EUA. Citando Eugene Genovese e o livro A terra prometida: o mundo que os escravos criaram, livro lançado em 1974 e de grande alcance no Brasil, comparam as ações dos africanos colonizados com as dos escravizados na América:
Like the slaves in the American South, many oppressed workers covertly retaliated against the colonial economic system. Because both groups lacked any significant power, direct 5 de 9 confrontation was not often a viable strategy. Instead, the African peasants and workers expressed their hostility through tax evasion, work slowdowns, and destruction of European property. The dominant European population, as in the United States, perceived these forms of day-to-day resistance as prima facie evidence of the docility and ignorance of their subordinates rather than as expressions of discontent.5
No entanto, o que parece ser relevante para a crítica bibliográfica do conceito de resistência para a análise das ações africanas no passado colonial está relacionado aos processos de construção dos Estados independentes no período pós-colonial. As fundamentais críticas ao eurocentrismo elaborada nos contextos das descolonizações verteram para análises que reduziam as possibilidades dos africanos de participarem ativamente da confecção de suas histórias a partir de zonas de identificações contextuais que fossem variantes ao longo do tempo e do espaço. Ao mesmo tempo, muitos dos grupos que assumiram para si os desafios de promoção dos Estados africanos após suas independências justificaram posturas autoritárias a partir de narrativas que usavam um suposto passado de resistência ao colonialismo como forma de corroboração das privações de liberdade contemporâneas e formas de repressões a grupos sociais questionadores dos rumos que estavam sendo tomados no período pós-colonial.6
Nesse sentido, diferentemente da historiografia brasileira, a historiografia africanista, sobretudo anglófona, dos anos 1990, foi marcada por uma crítica à validade do termo resistência como conceito e como categoria empírica de análise. Seu emprego em interpretações que reduziam o colonialismo a um sistema de dominação promovedor de uma sociedade binária dividida exclusivamente entre colonizados e colonizadores ou como limitador das motivações e possibilidades das ações africanas para com as relações de poder instituídas, renegaram-no a uma visão de sua suposta incapacidade explicativa.
Não cabe aqui produzir uma interpretação sobre o itinerário ou a genealogia do emprego do conceito de resistência. Quero apenas destacar que as leituras distintas e, porém, tangenciais, sobre o uso e a validade do conceito são, em determinados círculos acadêmicos, entendidas como um impeditivo de sua aplicabilidade. O consenso atual parece estar na necessidade de evitar análises que retratem de forma monolítica aqueles que dominaram e, principalmente, aqueles que foram dominados. Isso não quer dizer que inexiste um valor da resistência como conceito ou como fenômeno histórico. Como conceito e como prática, analisar a ação dos “de baixo” a partir da ideia de resistência continua sendo fundamental para promover interessantes e inovadoras análises das experiências de sujeitos, aos quais lhes eram negados terem vozes durante suas vidas, ao mesmo tempo em que movimenta pautas contemporâneas de movimentos em prol de igualdades e da dignidade humana. Seguindo essa perspectiva, Regiane de Mattos privilegia a ação africana a partir de suas interfaces relacionais baseadas em laços de lealdade, parentesco, doações de terras, pelo comércio e pela religião islâmica como pontos focais de sua análise. É na totalidade dessas teias de relações que a autora constitui sua noção de complexo de interconexões. Consequentemente, aproxima-se de uma perspectiva de uma história total sobre as interações entre sociedades africanas e produções de regimes coloniais que orientam sua visão na leitura das fontes selecionadas. Como a autora recorrentemente chama atenção na sua obra, a procura por
[…] elementos de caráter nacionalista na coligação de resistência no norte de Moçambique pode ter provocado uma simplificação da análise dos fatores desencadeadores da resistência 6 de 9 e das formas de mobilização das diferentes sociedades envolvidas, ressaltando-se apenas o caráter econômico dos objetivos dessa coligação. Também pode ter influenciado um tipo de análise mais restrita, que não considera a dinâmica da resistência em seus diversos aspectos e dimensões (MATTOS, 2015, p. 30).Ao reorientar o olhar analítico sobre a coligação da resistência, Regiane de Mattos distancia- -se das interpretações historiográficas predominantes que a compreendem por meio da primazia econômica como justificativa da configuração dessa associação para promover a oposição política e militar ao colonialismo português. A autora não deixa de lado a importância, ao longo do século XIX, do comércio de escravos para a formação e expansão do poder de Angoche. Porém, graças a sua abordagem teórico-metodológica, identifica nesse aspecto mercantil uma das muitas justificativas para a união das elites locais contra o avançar colonial português e não àquela primordial. Sua leitura detalhada dos documentos, combinada com os campos bibliográficos que cita, também faz com que não seja promovida uma interpretação que entenda a resistência constituída no norte de Moçambique a presença colonial como cabível de uma avaliação moralizante que precisa ser feita sobre uma possível natureza menos nobre existente na coligação. Evitando embaraços contemporâneos de um passado indigno de ser definido como resistente ao colonialismo, a escravidão e o comércio de escravos são entendidos como elementos constitutivos daquela sociedade que se encontravam em rápida transformação. Como resposta à prerrogativa econômica de manutenção da escravidão e do comércio de escravos que direcionou as interpretações existentes, o que temos em As dimensões da resistência em Angoche é o estudo primoroso da complexidade das relações sociais e políticas que vão para além do desejo de manutenção, pelos membros das elites africanas, dessa forma de exploração humana. Regiane de Mattos consegue, sobretudo nos três primeiros capítulos de sua obra, quando mergulha sua análise nas relações familiares, de poder e religiosas, apontar para a diversidade de fatores que sustentaram o apoio entre as sociedades macuas do interior e suaílis do litoral.
A necessidade de compreender as dinâmicas específicas dos contextos históricos advogada por Regiane de Mattos pode ser percebida, por exemplo, no seu exame do papel da etnia e de sua incapacidade explicativa das experiências e ações dos africanos do norte de Moçambique. A categorização dessas populações em grupos étnicos estanques, promovida pelo colonialismo, é pouco eficaz para compreendermos as dinâmicas interconexões que terminaram por promover respostas individuais ao colonialismo ou à organização supra étnica da coligação de resistência. A autora identifica os etnômios descritos nas fontes portuguesas como produtos da modernidade. Ou seja, como fenômenos constitutivos e constituintes do final do século XIX e início do XX precisam ser analisados a partir de uma perspectiva histórica não essencializada. Nesse sentido, a construção das características dos macuas e das sociedades suaílis tem sido percebida como a construção de realidades móveis contextuais. Por um lado, o exercício interpretativo existente em As dimensões da resistência em Angoche desconstrói historicamente o objeto étnico promovido pelo poder colonial que, desconhecendo e negando a história, apressado em classificar, nomear e hierarquizar para estabelecer a distinção e a justificativa da dominação, construiu, promoveu e engessou etiquetas étnicas. Por outro lado, de maneira semelhante ao esforço em afastar-se das noções de resistência existentes no período das independências nacionais, a obra de Mattos termina por contrapor-se à apropriação dos clichês da etnologia colonial que foram acomodados pelos Estados independentes africanos, muitas vezes como forma de justificar novas práticas de dominação. Ao historicizar as 7 de 9 etnias do norte de Moçambique, especialmente a macua, Mattos não nega a validade da categoria etnia ou dos etnômios para analisar a maneira pela qual os sujeitos sociais africanos organizavam suas vidas antes e durante a colonização. O que a autora faz é uma abordagem que privilegia uma interpretação das etnias como capaz de auxiliarmos na reflexão sobre as sociedades africanas como inter-relacionais, compostas por sobreposições e entrecruzamentos.
Ao destrinchar a impossibilidade de compreensão plena da resistência em Angoche e no norte de Moçambique como parte de planos para a perpetuação do comércio de escravos e de solidariedades étnicas, outros aspectos tornam-se relevantes para constituírem o que Regiane de Mattos chama de “dimensões da resistência”. A ideia de dimensões presente no livro aparece no sentido de variados fatores que convergiam para uma posição contrária à presença portuguesa, como as relações familiares, sobretudo as baseadas na matrilinearidade, as doações de terras que consolidavam alianças estratégicas e o Islã como aglutinador de práticas e perspectivas. A ação de resistir, portanto, deve ser entendida como uma defesa de uma autonomia política, principalmente no que tange às linhas sucessórias de poder, e, comercial, por meio do controle das trocas econômicas contra a crescente interferência colonial portuguesa.
Unir-se contra a ameaça da perda de autonomia política e econômica estaria baseado numa leitura africana das conjunturas futuras que se desenhavam naquele presente conflituoso. Ou seja, as ações dos sujeitos e grupos sociais são compreendidas em As dimensões da resistência em Angoche dentro da complexidade do jogo de forças quando da construção do colonialismo português na região. É exatamente ao explorar o processo de edificação das relações de parentesco, da expansão do Islã na região pelas elites e pelas bases daquelas sociedades, das trocas comerciais, ou seja, de toda uma vasta gama de fios que se entrecruzavam para compor uma dinâmica social, operacionalizadas de acordo com as demandas das circunstâncias, que Regiane de Mattos consegue caminhar na contramão da historiografia sobre o norte de Moçambique para esse período histórico. O que a autora consegue evidenciar em sua obra é que a coligação de resistência foi feita com base em um passado de trocas que solidificaram relações que foram acionadas na medida em que o colonialismo se projetou como um sistema de dominação. Sua análise da coligação da resistência como uma luta pela preservação daquilo que se encontrava ameaçado pelos “mecanismos de exploração impostos pelo governo português, como o controle do comércio e da produção de gêneros agrícolas e de exportação, a cobrança de impostos e o trabalho compulsório” (MATTOS, 2015, p. 269), características primordiais da dominação colonial portuguesa, é solidamente percebida como base para as redes de lealdade construídas ao longo do século XIX, que culminaram na possibilidade de uma mobilização e formação coletiva contra os avanços dominadores portugueses. No entanto, uma característica escorregadia existente no conceito de resistência, em determinados momentos, escapa da análise existente em As dimensões da resistência em Angoche. As imbricadas relações políticas que ocasionavam conflitos entre as chefaturas africanas, nesse caso, em específico contra a expansão do poderio do sultanato de Angoche, apontam para as diversas direções que o conceito pode trazer consigo. Como a própria autora assinala, a contenda entre a pia-mwene Mazia e o xeque da Quitangonha é emblemática dos conflitos na região. A primeira foi acusada de mandar matar o segundo, em 1875, pois este estaria lhe devendo o pagamento da venda de escravos e impedindo a realização desse comércio. Para a autora, a atitude da pia-mwene deve ser lida pelo prisma da resistência à interferência portuguesa sobre os processos sucessórios de poder e como símbolo da luta pela manutenção da autonomia política. Essa é uma interpretação 8 de 9 sustentada com maestria ao longo do livro, já que o mando do assassinato também teria ocorrido, como é argumentado de maneira sólida, porque o xeque estava buscando ampliar seu poder por meio do apoio dos portugueses. Esse apoio não é compreendido como uma força totalizante capaz de controlar na sua plenitude todas as possibilidades de ações africanas existentes naquele cenário político ou como um plano predeterminado pelo poder metropolitano português que foi sendo implementado, na medida em que a dominação europeia na região superou as resistências locais. Como é apresentado ao longo do livro, os portugueses no norte de Moçambique, pelo menos até a última quinzena do século XIX, possuíam diminuta capacidade de implantar qualquer projeto efetivo de dominação, recorrendo a arriscadas parcerias que desestabilizavam as linhas sucessórias predominantes. Isso não quer dizer que os portugueses atuassem apenas como mais uma força dentro daquele contexto político. A ação portuguesa, em prol do que veio a se constituir numa dominação colonial a partir do século XX, é compreendida e explicitada como um processo que, como tal, precisou lidar com encontros e desencontros decorrentes de uma aplicabilidade prática. No entanto, o que cabe questionar é o porquê de o conceito de resistência ser apenas empregado na relação ou entre as chefias ou populações africanas e o poder colonial português. Afinal, se a agência africana é elevada para o centro da análise, não poderíamos supor que o xeque, que viria a ser assassinado, estava usando o apoio português para resistir ao poder reinante materializado na figura da pia-mwene, que havia sido consolidado pelas relações matrilineares de parentesco entre macuas do interior e suaílis do litoral?
As dimensões da resistência em Angoche é uma obra que solidifica o trabalho de uma pesquisadora rigorosa, com hipóteses inovadoras e que acrescenta importantes contributos para o debate sobre o conceito de resistência no contexto de dominação colonial europeia na África. Uma característica importante que deve ser salientada e que demonstra a vitalidade da obra de Regiane de Mattos se encontra nas portas que a mesma abre para pesquisas futuras. Ao criticar a bibliografia que entende a resistência do sultanato ao colonialismo como uma “resistência opressora” que deve ser renegada por não visar uma ideia específica de liberdade, como a existente na resistência nacionalista da segunda metade do século XX, a autora permite extrapolarmos suas interpretações para buscarmos a compreensão de como outros grupos sociais daquelas sociedades africanas, especialmente grupos excluídos ou marginalizados que não chegaram a ser analisados, como, por exemplo, os escravizados, interpretaram, experimentaram, agiram e engajaram-se no contexto de transformação das estruturas sociais do mundo que viviam, levadas a cabo pelas (in)gerências promovidas pela implementação do colonialismo português na região.
O livro é também o pontapé dado por Regiane de Mattos para o enfrentamento de hipóteses históricas que poderão ser estudadas em um futuro que espero não esteja muito distante. A própria autora possui um papel pioneiro e central para que esse desejo se concretize o mais rápido possível, já que, conjuntamente com o seu livro, fomos premiados com a disponibilização online do fantástico Acervo Digital Suaíli,7 um trabalho coletivo de parceria entre Brasil e Moçambique que disponibiliza fontes e bibliografias sobre a costa oriental africana. Projetos como esse tornam possível a continuidade de uma rica produção historiográfica brasileira sobre o passado africano que tomou forma nos últimos quinze anos.9 de 9
Notas
1 ROCHA, Aurélio. O caso dos suaílis, 1850-1913. In: REUNIÃO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE ÁFRICA: RELAÇÃO EUROPA-ÁFRICA NO 3º QUARTEL DO SÉCULO XIX, 1., 1989, Lisboa. Anais… Lisboa: Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, Instituto de Investigação Científica e Tropical, 1989. p. 606 apud MATTOS, Regiane Augusto de. As dimensões da resistência em Angoche: da expansão política do sultanato à política colonialista portuguesa no norte de Moçambique (1842-1910). São Paulo: Alameda, 2015. p. 23.
2 Um balanço sobre a micro-história italiana pode ser encontrado em LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
3 É fundamental perceber a influência que E. P. Thompson promoveu em variados campos historiográficos ao criticar as interpretações das sociedades em categorias derivadas de modelos estanques que não levavam em consideração contextos específicos a partir das maneiras pelas quais os próprios sujeitos históricos interpretaram e agiram de acordo com suas experiências. Ver: THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e história social. In: THOMPSON, E. P. A peculiaridade dos ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. Ou, THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1981. p. 17.
4 Dentre muitas obras influenciadoras dessas perspectivas para o meio historiográfico brasileiro, ver: GENOVESE, Eugene. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; FONER, Eric. O significado da liverdade. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 8, n. 16, p. 9-36, 1988; LINEBAUGH, Peter. Todas as montanhas Atlânticas estremeceram. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 3, n. 6, p. 7-46, 1983; LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico Revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
5 ISAACMAN, Allen; ISAACMAN, Barbara. Resistance and collaboration in southern and central Africa, c. 1850-1920. The International Journal of African Studies, v. 10, n. 1, p. 48, 1977.
6 Para uma reflexão sistemática sobre a história da produção historiográfica sobre a África e uma análise crítica da relação entre os movimentos nacionalistas, a construção dos Estados independentes e a produção do passado africano, ver: MILLER, Joseph C. History and Africa/Africa and History. The American Historical Review, v. 104, n. 1, p. 1-32, fev. 1999; RANGER, Terence. Nationalist Historiography, Patriotic History and the History of the Nation: the struggle over the past in Zimbabwe. Journal of Southern African Studies, v. 30, n. 2, p. 215-234, jun. 2004.
7 O projeto pode ser acessado pelo seguinte link: http://acervodigitalsuaili.com.br.
Matheus Serva Pereira – Doutor em História e Pós-Doutorando na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail: [email protected].
Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos | Adriana P. Campos, Kátia S. da Motta, Geisa L. Ribeiro e Karulliny S. Siqueira
Organizado por Adriana Pereira Campos, Geisa Lourenço Ribeiro, Karulliny Silverol Siqueira e Kátia Sausen da Motta, a obra “Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos”1 traz consigo um relevante debate acerca da multiplicidade de relações existentes no Brasil oitocentista. A contribuição de dez autores para a realização do livro, objetivou diversificar a história política do Império, por meio da inclusão de províncias e atores políticos variados. Assim, trazendo novo sentido ao contexto imperial. O livro é resultado de debates entre pesquisadores que participaram do III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2018.
Ao nos debruçarmos sobre a obra, percebemos a multiplicidade de relações políticas contidas no Brasil Império que formavam um todo na trajetória contextual.
Retirar a lupa somente dos denominados “grandes acontecimentos” e dos principais atores políticos comumente ressaltados na historiografia é também traçar uma história política diversa em estrutura e significados. Neste sentido, a obra analisada percorre entre províncias distintas e personagens políticos ressignificados, promovendo assim, diversas participações para os acontecimentos do período, para além da Corte ou dos “grandes homens”.
Em primeiro momento, a obra contempla a temática “Biografias e trajetórias políticas” expressando a história de personagens políticos do Império que transcendem a historiografia tradicional. Vale ressaltar, a necessidade de colocar em evidência novos personagens políticos, enriquecendo o debate historiográfico com a criação de novos esquemas a serem analisados. Assim, Cecília Siqueira Cordeiro traz a análise do personagem político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, propondo um novo olhar sob as decisões políticas do liberal que é comumente recordado pela historiografia como o defensor do Brasil na causa da Independência. Rememorando, através da análise de um opúsculo, que num primeiro momento Antônio Carlos defendeu a união de Brasil e Portugal no contexto da emancipação, evidenciando uma mudança de comportamento da figura em momento posterior. Deste modo, a autora não encontra um desarranjo na trajetória política do personagem, todavia, um indivíduo alinhado a cultura política da sua época. Ademais, Cecília Cordeiro traça a trajetória historiográfica da figura deste Andrada, e a timidez de sua relevância diante de seus irmãos José Bonifácio e Martim Francisco.
A autora Adriana Pereira Campos, conduz em sua pesquisa a trajetória política de Marcelino Duarte, um padre, redator e natural da Província do Espírito Santo que foi uma das vozes exaltadas que entoaram na Corte. A análise da historiadora revela a carreira de um padre exaltado cujo pensamento político se distinguia da cultura política de sua província natal. Assim, o estudo de Campos contribui para o debate acerca do pluralismo de opiniões que circulavam nas províncias do Império e a relação que esses indivíduos possuíam com o Rio de Janeiro.
Na segunda parte da obra, intitulada “Disputas políticas e partidárias”, contemplam-se as efervescências política na Corte e nas províncias. Logo, Rafael Cupello Peixoto, debruçado sob o tema da construção da identidade nacional brasileira, investiga a Carta de Barbacena, representada no passado como símbolo da nacionalidade brasileira, ou seu valor profético acerca do resultado da conjuntura política do Primeiro Reinado.
Indicando aspectos do jogo político no entorno da Corte Palaciana de Pedro I, a análise da fonte indicou ao autor duas tendências da direita conservadora dentro dos áulicos: os tradicionalistas e os conservadores. Ademais, Peixoto expõe cada vertente e o jogo político da época.
Ampliando a escala para o Maranhão, Roni César de Araújo dedica-se ao estudo da construção da identidade brasileira naquela província, compreende, através da análise de periódicos, que o “novo espírito”2 do Brasil chegou naquela localidade em momento posterior à Corte. Neste sentido, Araújo expõe que o antilusitanismo alcançou a imprensa da província em 1825, sendo precedido pela fidelidade ao governo português. Além disso, explica as relações de conveniências expressas na região.
A terceira parte da obra abarca o “Sistema representativo e práticas políticas”, destacando a dinâmica das eleições no Império, pondo em relevância a pluralidade existente no período, no momento em que destaca a realidade do processo eleitoral em algumas províncias. Assim, Rodrigo Marzano Munari salienta a participação popular no sistema representativo em São Paulo. O autor questiona a visão de passividade da população menos abastada da sociedade imperial. Estes indivíduos, em sua perspectiva, se configuravam como atores políticos envolvidos por vontades próprias, interferindo e agindo no processo eleitoral. Ademais, Munari chama atenção para um outro olhar que a sociedade possuía acerca do sistema representativo, pois, além do voto, participavam do processo por meio de petições, queixas ou até mesmo se armando contra a vontade dos poderosos.
Ana Paula Freitas traz em sua investigação o papel da província de Minas Gerais na estruturação do Estado Nacional, considerando a importância da participação dos deputados mineiros na Reforma Eleitoral de 1855. Deste modo, a autora destaca a importância do parlamento brasileiro no sistema representativo, ressaltando a trajetória do tema até sua aprovação. Assim, analisando os resultados da reforma no ano posterior a sua aprovação, Freitas conclui que a Lei de Círculos resultou na pluralidade do parlamento e ampliou a sua representatividade.
Trazendo o debate acerca da representação no Império brasileiro, Kátia Sausen da Motta expõe de que maneira se configurava o período pré-eleitoral e as relações entre votantes e aspirantes aos cargos políticos na Província do Espírito Santo. Revelando aspectos eleitorais da época e a particularização da localidade, a autora demonstra o empenho dos candidatos e suas estratégias para garantir a vitória no pleito. Neste sentido, salienta a utilização de chapinhas nos jornais da província com o intuito de divulgar as candidaturas.
Aproximando a escala para o Nordeste, Williams Andrade de Souza constrói a sua análise através da eleição de vereadores na Câmara Municipal de Recife na primeira metade do século XIX. O autor expõe o perfil dos candidatos e votantes, suas filiações e a representatividade emanada no município. Assim, Souza apresenta o processo eleitoral para além da manutenção das elites, manifestando as peculiaridades e os desvios do processo, propondo uma complexidade de compreensão ao tema, revelando a participação de cidadãos comuns de forma ativa no movimento. Além disso, evidencia o processo da ampliação de votantes no período e a heterogeneidade presente nos pretendentes aos cargos.
A quarta parte da coletânea se intitula “Linguagens e ideias políticas”, abordando especificamente os momentos finais do Império, debatendo a linguagem da propaganda republicana na Província do Espírito Santo e as discussões acerca da escravidão na localidade, por meio da imprensa local. Deste modo, Karulliny Silverol Siqueira traça a trajetória do republicanismo no século XIX, explicando seus diversos significados, sua heterogeneidade em práticas e de recursos linguísticos. Dessa maneira, a autora traz a especificidade da província do Espírito Santo, onde o radicalismo dificilmente aflorava, trazendo o significado do republicanismo primeiramente ao municipalismo, onde os redatores de Cachoeiro de Itapemirim reclamavam a centralidade dos monarquistas na capital da localidade.
Por fim, Geisa Lourenço Ribeiro esboça a linguagem da abolição no periódico O Constitucional, pertencente ao Partido Conservador na província. A autora propõe a revisão da retórica do jornal, pois, embora o discurso de benevolência ao fim da escravidão, a trajetória linguística do O Constitucional revelaria o contrário, expondo um abolicionismo de última hora, por conveniência. Assim, o estudo da fonte indicou uma trajetória escravista no idioma da folha, e que no fim buscou trazer para o Partido Conservador o advento da emancipação. Ademais, expõe a especificidade do abolicionismo na província do Espírito Santo, permeada por uma linguagem imbuída de moderação.
Ao analisarmos a peculiaridade da pesquisa de cada autor, não encontramos uma unidade de relações no Império, entretanto, a multiplicidade de significados políticos no território brasileiro. Esse tipo de historiografia concorda com o aspecto de Max Weber na qual a análise consiste em uma História no sentido variável, onde o indivíduo possui a direção das relações sociais no momento em que configura sua relação com o outro (DIAS; MAESTRO FILHO; MORAES; 2003). Assim, consideramos o estudo das particularidades como o estudo da criticidade sobre as macroestruturas, onde as individualidades, ao se afastarem da realidade como um todo, promoverão, uma compreensão das redes existentes para a formação dessa totalidade.
Neste sentido, consideramos obra de extrema relevância para o debate da cultura política do Império brasileiro. A análise das distintas províncias e os diversos personagens políticos promovem um entendimento dos conflitos existentes para a formação da realidade do território. Essa diversidade de conexões não confunde ou empobrece a História do Brasil Império, todavia promove uma amplitude no debate enriquecendo-o e instigando a possibilidade cada vez mais abrangente de estudo.
referências CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019.
DIAS, Devanir Vieira; MAESTRO FILHO, Antônio Del; MORAES, Lúcio Flávio R. O paradigma weberiano da ação social: um ensaio sobre a compreensão do sentido, a criação de tipos ideais e suas aplicações na Teoria Organizacional. Revista de Administração Contemporânea. v.7 n.2, p. 57-71, Abr/Jun. 2003.
LUSTOSA, Isabel. O debate sobre os direitos do cidadão na imprensa da Independência.
In.: RIBEIRO, Gladys Sabina; FERREIRA, Tânia Maria Tavares Bessone (Org.).
Linguagens e práticas da cidadania no século XIX. São Paulo: Alameda, 2010.
Notas 1 O livro é resultado de debates entre pesquisadores que analisam o século XIX, cujo objetivo é transitar entre as esferas locais e o nacional. É também o desfecho das discussões ocorridas em outubro de 2018 durante o III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2 O autor elucida que o termo destacado foi estudado por Isabel Lustosa, quando esta tratava do tema na imprensa fluminense, cujo significado expressava às “expectativas sobre a nova Ordem”. Cf. LUSTOSA, 2010.
Drlely Neves Coutinho – Graduada em História pela Faculdade Saberes. Aluna Especial de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail:[email protected].
CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019. Resenha de: COUTINHO, Drlely Neves. As províncias formam um Império: a pluralidade das relações políticas no Brasil oitocentistas. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.1, 2019. Acessar publicação original [IF].
História & distopia: a imaginação histórica no alvorecer do século 21 – BENTIVOGLIO (RTF)
BENTIVOGLIO, Júlio César. História & distopia: a imaginação histórica no alvorecer do século 21. Serra: Milfontes, 2017. Resenha de: DILLMANN, Mauro. Fazer histórico-pós-moderno como atividade ética e filosófica diante de múltiplos passados. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 12, n. 1, jan.-jul., 2019.
Professor de Teoria da História na Universidade Federal do Espírito Santo, Júlio César Bentivoglio é autor do enxuto porém significativo livro “História & distopia”, publicado pela editora Milfontes, em 2017 (108 páginas). Nele o historiador aponta para as mudanças pelas quais a investigação do passado e os modos de entender e narrar a história sofreram ao longo do século XX, uma vez que tais tarefas (não apenas realizadas pelos historiadores) se depararam, nas últimas décadas, a uma abertura a muitos passados (possíveis, incontroláveis, diferentes) socialmente considerados. Esse reconhecimento teórico, filosófico e social da multiplicidade de leituras do passado abalou as certezas do conhecimento histórico e seus estatutos de verdade carregados desde o final do século XIX (p. 13). Bentivoglio defende que entre o final do século XX e início do XXI houve a emergência de uma “nova” imaginação histórica, de concepção pós-moderna e distópica. A história abandonaria o singular, a utopia, o passado totalizante, otimista, desejado e pacífico, tratando-se, a partir de então, de “histórias” elaboradas com pessimismo, preocupação, ceticismo, de passados incertos, indesejados, estilhaçados. Esta discussão sobre as novas concepções e possibilidades de produção de história se insere no debate contemporâneo da teoria da história, sendo que outros historiadores brasileiros também têm dedicado especial atenção ao tema.2 Embora dialogue relativamente pouco com a historiografia brasileira, Júlio Bentivoglio se aproxima bastante dessas reflexões, ao procurar problematizar um novo conceito de história e as apreensões contraditórias do passado no presente.
Situado nessa perspectiva que busca encarar a tradição disciplinar, o autor tem o mérito de trazer à discussão os entendimentos da história distópica. Por distopia, entende “um deslugar”, “um lugar e sua negação”, um “lugar em deslocamento” (p. 17), um “mau lugar”, “a desfiguração da própria possibilidade da utopia” (p. 85). Assim, o entendimento de passado, para os historiadores, seria múltiplo, e não um ponto fixo e pronto a ser localizado e recuperado. Nesse caso, destacam-se os diferentes modos de entender os passados, as discordâncias, as interpretações, os questionamentos, as tensões, as diversas narrativas, os variados discursos, os sentidos forjados, as capacidades de produção, as projeções. A história, as estórias e qualquer modalidade de consciência histórica seriam, portanto, distópicas.
Nesta reflexão, Bentivoglio destaca o principal elemento em pauta, que, por sinal, já é tema recorrente entre os historiadores: a concepção de história e o estatuto de verdade histórica. Trata-se de pensar a mudança de uma concepção de história pautada na “verdade”, no “correto”, na “certeza”, no massificado, no homogêneo, no singular para uma história pautada na suspeição da verdade, no “relativo a…”, nas possibilidades, nas incertezas, nas reconstruções, nas tensões, na multiplicidade, na heterogeneidade, na diferença.
Amparado em Hayden White e Frank Ankersmit, entre outros pensadores do século XX, Bentivoglio argumenta que o passado fixo, que ocupa um único lugar, um lugar de verdade, foi, já há algum tempo, questionado, reconhecendo-se a existência de passados possíveis a partir das possibilidades de imaginação. Passou-se de uma ideia de passado possível de ser esgotado para passados incompletos e imprecisos, acionados em espectros, a partir dos quais os historiadores tentam ordenar em narrativa. O autor traz como exemplo as narrativas construídas para explicar o passado recente brasileiro, especialmente a destituição da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, ora encarado como golpe, ora como impeachment numa disputa por esgotar, fixar ou representar esse passado (p. 19). Bentivoglio aponta claramente que “a narrativa jamais é um veículo neutro”, sendo necessário reconhecer a intenção do historiador-autor, que não esgota nem o passado nem o contexto construído, mas os inventa na tentativa de controlar e buscar consenso (p. 22). E essas invenções das histórias (note-se o plural) ocorrem no presente e dialogam com as formações discursivas vigentes, caracterizadas – entre outros aspectos – pelas disputas de sentido (p. 57). Assim, as narrativas históricas devem ser entendidas considerando o “universo do historiador”, o “seu estado de espírito”, a “sua urdidura do enredo”, as “suas ferramentas analíticas”, o “seu quadro teórico” (p. 91), suas posturas éticas e seus usos políticos.3 Além disso, na dinâmica da criação narrativa atual, Bentivoglio atenta para um aspecto importante na produção e difusão dos conhecimentos históricos “inventados”: o de que importa “menos saber se o historiador é marxista ou historicista e mais se suas análises são pertinentes ou eficazes” (p. 58).
A questão que se coloca atualmente na historiografia brasileira parece ser a de que os historiadores insistem na manutenção de suas ficções científicas utópicas que distopicamente controlam os passados possíveis reduzindo-os a lugares fixados por interpretações mais consagradas, ao passo que as narrativas distópicas que defendem passados alternativos são menos numerosas e bastante combatidas. Em contrapartida, a sociedade manifesta, visivelmente níveis significativos de ceticismo em relação ao passado típicos do presentismo. Ou seja, no Brasil, o realismo histórico resiste na universidade, mas não é convicção na sociedade. Diante desse quadro, nas narrativas construídas sobre o passado, científicas ou não, presencia-se, cada vez mais a descrença nas utopias (p. 58).
Nessa relação com o tempo marcada pela valorização do presente (o presentismo) e pela ânsia de passados, a narrativa dita histórica passa a ser reconstruída constantemente,4 dependendo dos interesses e das atribuições de significados por parte de indivíduos, grupos ou sociedades. Assim, espera-se uma narrativa que dê conta de explicar e compreender o passado e o presente de determinados contextos sob variadas argumentos: ou pela necessidade de entendimento do passado que não passa, ou pelo dever de memória, ou pela intencionalidade de justiça, ou pela reparação histórica, ou ainda pela possibilidade de aprender com erros e acertos no melhor estilo mestra da vida.
Para Bentivoglio, o predomínio do estranhamento entre passado e presente e a restrição de projetos eficazes de futuro possibilitaram “a abertura radical do passado, que hoje se apresenta como uma caixa de Pandora aos historiadores” (p. 56). Sobre os historiadores pairam desconfianças sociais, notadamente diante da ausência de consensos, e sobre a história, de modo geral, paira alguma descrença.5 Por conseguinte, as narrativas do passado não fornecem uma apresentação positiva de futuro – não todo e qualquer futuro, mas o futuro que pertence ao regime moderno de historicidade, enquanto locomotiva da história, como destacou Hartog6 – ao contrário, indicam perspectivas temerárias, céticas, incômodas e duvidosas (p. 82),7 embora a capacidade de produzir futuros (e de compreendê-los) tenha se multiplicado.8 De igual modo, Hartog9 já teria refletido sobre o sentido da história, enfatizando que “crer em história” não implica, necessariamente, “crer que ela tem um sentido”, ao passo que o fazer história pode se acomodar tanto à crença quanto à descrença. Então, se a história perdeu a capacidade de fornecer “guias para a ação transformadora”,10 é pertinente a constatação de Bentivoglio de que “as carências de sentido histórico têm sido preenchidas por curiosidades mais prementes do cotidiano” (p. 85).11 Encarando esses dilemas pós-modernos, Bentivoglio defende não apenas a história como ciência, mas também como arte. Aponta para o caráter narrativo (ficcional) da história, mas sem abandono dos ideais científicos e dos elementos de realismo que conferem reconhecimento social para os passados possíveis. São, para o autor, os limites éticos da ciência (histórica) e o entendimento de que fazer história é uma atividade filosófica, que permitem a construção de uma análise do passado despretensiosa em relação à “revelação” do “passado verdadeiro”. Amparado em Hayden White, o autor afirma que “toda história já é, em si, relativista; mesmo que seus autores não se proclamem relativistas” (p. 78-79). Assim, o conceito de história tradicional não daria conta das expectativas atuais na teoria da história, apontando, talvez de modo um pouco apressado, para “quatro pecados” da história moderna: reducionismo, funcionalismo, essencialismo e universalismo (p. 84).
A história hoje, numa perspectiva pós-moderna, traria expectativas muito mais difusas, relacionais e complexas. E a crítica à essa história distópica estaria na fragmentação temática e no risco do relativismo, este último, na verdade, localizado “nas discordâncias entre como se produz a história e o modo como ela é pensada” (p. 49). Ou o passado seria acionado em sua suposta integridade, ou seria construído em seu deslocamento, muito mais a partir da “cabeça dos historiadores” (p. 49). O autor defende que os historiadores, hoje, não podem deixar de considerar “como os fatos são retratados por meio da narrativa” e ainda que, nas suas estratégias narrativas, considerem os diferentes passados e seus deslocamentos (p. 79).
A história defendida por Júlio Bentivoglio é aquela que se constrói com pertinência, eficácia, afetividade e ética, incorporando o que chama de “fruição”, pois potencializaria “experiências subjetivas com o passado” (p. 88). A ética seria a tônica principal a limitar quaisquer “liberdades expressivas dos historiadores” (p. 91) na articulação das suas narrativas.
Em síntese, História & distopia é um livro inteligente, bem escrito, carregado de metáforas que permitem refletir, do início ao fim, sobre as possibilidades da escrita da história e da produção (não apenas por parte dos historiadores) de narrativas e sentidos para ela na contemporaneidade.12 Destaco a interessante relação estabelecida com a obra literária Frankenstein para comparativa e metaforicamente se referir às transfigurações do passado realizadas por narrativas históricas produzidas com imaginações distópicas. Embora algumas ideias sejam constantemente reforçadas ao longo do texto, a obra não perde seu tom primoroso e sua qualidade teórica de reflexão sobre o fazer histórico, podendo interessar a todos os historiadores e historiadoras – dos iniciantes aos mais experientes –, independente dos domínios específicos em seus campos de pesquisa.13
2 O historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior vem realizando, há tempos, inúmeras problematizações tanto sobre a crise da história como metanarrativa quanto sobre a conformação dos objetivos do saber histórico, entre os quais despontaria como fundamental a formação de subjetividades menos reacionárias às transformações de toda ordem (ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. História: a arte de inventar o passado. Bauru: Edusc, 2007). Um outro exemplo, mais recente, é do historiador Rodrigo Turin que tratou de pensar a crise da forma, do lugar, da identidade da história e a condição para elaboração de uma “nova imaginação disciplinar” (TURIN, Rodrigo. Entre o passado disciplinar e os passados práticos: figurações do historiador na crise das humanidades. Tempo, Niterói, vol. 24, n. 2, p. 186-205, maio/ago. 2018).
3 Veja-se o ensaio de Caroline Bauer e Fernando Nicolazzi, que apontam com perspicácia para os usos públicos e políticos da história. Eles consideram que hoje há um deslocamento da antiga questão sobre a “serventia” da história para os modos e as formas pelas quais a história é “usada” (BAUER, Caroline; NICOLAZZI, Fernando. O historiador e o falsário. Usos públicos do passado e alguns marcos da cultura histórica contemporânea. Varia História, Belo Horizonte, v. 32, n. 60, p. 807-835, set/dez. 2016, p. 819). Sobre ética, responsabilidade e função do historiador, veja-se também DUMOULIN, Olivier. O papel social do historiador: da cátedra ao tribunal. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2017, p. 19-22 e TURIN, Rodrigo. Entre o passado disciplinar e os passados práticos, Op. Cit., p. 192.
4 Nesse sentido, veja-se HARTOG, François. Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo. Trad. Andréa Sou de Menezes et. al. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 140; ROUSSO, Henri. A última catástrofe. A história, o presente, o contemporâneo. Trad. Fernando Coelho e Fabrício Coelho. Rio de Janeiro: FGV, 2016, p. 30.
5 Conforme HARTOG, François. Crer em História. Trad. Camila Dias. Belo Horizonte: Autêntica, 2017, p. 15-16.
6 Ibidem, p. 223.
7 HARTOG, François. Regimes de Historicidade, Op. Cit., p. 17-41.
8 Veja-se HARTOG, François. Crer em História, Op. Cit., p. 25; e também PEREIRA, Mateus; ARAÚJO, Valdei. Reconfigurações do tempo histórico: presentismo, atualismo e solidão na modernidade digital. Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 23, n. 1 e 2, p. 270-297, jan./dez., 2016, p. 280-286.
9 HARTOG, François. Crer em História, Op. Cit., p. 23.
10 A analítica de Hartog (Crer em História, Op. Cit., p. 224) é inspirada em Marcel Gauchet.
11 A disciplina história, nesse sentido, tem perdido alguma legitimidade social e, segundo Turin, tem sido constrangida a justificar sua existência, sua inserção social, já que seu lugar institucional e “seu papel pedagógico são colocados em questão” (TURIN, Rodrigo. Entre o passado disciplinar e os passados práticos, Op. Cit., p. 196-197).
12 Um desses sentidos, curiosamente, tem sido o de recuperar consensos e lugares para a história. Guldi e Armitage destacaram: “Em qualquer momento de divergência política, a síntese histórica pode ajudar a recriar um consenso onde o consenso foi perdido” (GULDI, Jo; ARMITAGE, David. Manifesto pela história. Trad. Modesto Florenzano. Belo Horizonte: Autêntica, 2018, p. 183). Já Hartog (Crer em História, Op. Cit., p. 231), embora um tanto lastimoso pela decomposição do regime moderno de historicidade, defende a “capacidade de nossas sociedades” em “articular de novo as categorias do passado, do presente e do futuro, sem que venha a se instaurar o monopólio ou a tirania de nenhuma delas”. Entre os sentidos práticos e os sentidos disciplinares, a história parece estar à procura de uma nova inserção no presente, como destacou Rodrigo Turin ao se questionar sobre a capacidade das novas demandas sociopolíticas implicarem o “esvaiamento dos critérios internos” e “disciplinares legados pela tradição” (TURIN, Rodrigo. Entre o passado disciplinar e os passados práticos, Op. Cit., p. 192).
13 Tal afirmativa ganha relevância se considerarmos que estudos sobre a condição da história ainda seriam motivo de desprezo por parte da comunidade historiadora brasileira, mesmo que tenham sido crescentes as pesquisas sobre teoria da história e história da historiografia. Foi o historiador Temístocles Cezar, em recente publicação, quem destacou que “a regra geral” é “a despreocupação com os modos de pensar a prática do fazer do historiador” (CEZAR, Temístocles. Ser historiador no século XIX: o caso Varnhagen. Belo Horizonte: Autêntica, 2018, p. 178).
Mauro Dillmann – Endereço profissional: Rua Alberto Rosa, 154, Pelotas – RS. E-mail: [email protected]. Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Instituto de Ciências Humanas – UFPEL.
Escravos e Senhores na Terra do Cacau: alforrias, compadrio e família escrava (São Jorge dos Ilhéos, 1806-1888) – GONÇALVES (RTF)
GONÇALVES, Victor Santos. Escravos e Senhores na Terra do Cacau: alforrias, compadrio e família escrava (São Jorge dos Ilhéos, 1806-1888). Ibicaraí: Via Litterarum, 2017. Resenha de: SANTOS, Zidelmar Alves. Sobre escravos e senhores na terra do cacau (Ilhéus, sul da Bahia). Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 12, n. 1, jan.-jul., 2019.
A história do sul da Bahia está intrinsecamente ligada à saga do cacau. A literatura regional, principalmente as obras de Jorge Amado e Adonias Filho, contudo, contribuiu para a construção de uma memória que, se não apagou o passado colonial e escravocrata de Ilhéus e região, o omitiu, deixando-o no esquecimento.
Não podemos esquecer que o sul da Bahia estava inserido no contexto da escravidão, o que fortalece a ideia de que a riqueza advinda com os “frutos de ouro” foi construída ao custo muito sangue e suor não apenas de trabalhadores livres, mas também de escravos e negros libertos.
O livro Escravos e senhores na terra do cacau: alforrias, compadrio e família escrava (São Jorge dos Ilhéos, 1806-1888), de autoria do historiador Victor Santos Gonçalves, lança nova luz às relações estabelecidas entre os senhores, donos de grandes, médias e pequenas propriedades rurais, e escravos, que buscavam, além da sobrevivência, conquistar a liberdade, ainda que precária.
O trabalho é fruto de dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da UFBA entre 2012 e 2014 e possui prefácio da historiadora Maria de Fátima Novaes Pires. A obra é dividida em três capítulos. Em um primeiro momento, analisa a formação do espaço socioeconômico da vila de Ilhéus, destacando-a, a partir do século XVIII, principalmente como uma vila produtora de mantimentos. Aponta que, ao longo da primeira metade do século XIX, experimentou um crescimento populacional de forma gradual, que continuou na segunda metade deste século, seguindo o rastro do desenvolvimento econômico que pode ser observado pelo aumento das exportações de cacau e pelo tráfico ilegal de escravos africanos.2 Esse crescimento populacional, contudo, vai ao encontro dos discursos de crise de mão de obra construídos pelo governo provincial, que passou a estimular a criação de colônias agrícolas no sul da Bahia a partir dos anos 1850. Henrique Lyra salienta que “a criação de núcleos coloniais agrícolas na região Sul da Província estava diretamente ligada a uma política governamental para, muito mais que proporcionar a fixação de colonos como proprietários de terras, direcionar para aquela região o excedente populacional existente na Província”.3 Isso gerou “um fluxo migratório do centro e do norte para o sul da Província”4 em um momento em que a população escrava diminuía por conta da proibição do tráfico negreiro.
A leitura da obra de Gonçalves, inclusive, faz a relação “exportação de cacau – trafico negreiro” saltar aos olhos do leitor, descartando a concepção de que a lavoura cacaueira na comarca de Ilhéus desenvolveu-se única e exclusivamente por meio do trabalhador livre. O historiador Carlos Roberto Arléo Barbosa, por exemplo, destaca o envolvimento de grandes fazendeiros de cacau com a escravidão. Observe: grandes fazendeiros, com auxílio de escravos, plantaram cacau em suas propriedades. Em Castelo Novo, Sá Homem Del Rei, com 52 escravos, transformou o engenho de açúcar em fazenda de cacau, com 50 mil pés. Fortunato Pereira Galo, com 23 escravos, plantou 200 mil pés. O Dr. Pedro Cerqueira Lima, de família de traficantes de escravos, de Salvador, comprou a Fazenda Almada com 35 escravos. Depois, o seu filho, Pedro Augusto Cerqueira Lima, em 1892, possuía 200 mil pés de cacau. Outras propriedades cacauicultoras surgiram nessa época, como as dos Lavigne e as de Pedro Weyill.5 O desenvolvimento da lavoura cacaueira no sul da Bahia se deu em um momento em que o número de engenhos no estado passava por grande crescimento ao longo do século XIX, principalmente no interior, conforme indica Katia Mattoso: No final do século XVIII, a Bahia tinha 260 engenhos; em 1818, Spix e Martius encontraram 511. Num famoso ensaio sobre a fabricação de açúcar, o futuro Marquês de Abrantes arrolou 603 em 1833. Mais tarde, em 1853, em relatório a Assembleia Provincial, o presidente da Província falou em 759 engenhos registrados. Finalmente, em 1875, Manuel Jesuíno Ferreira citou 839 engenhos, 282 dos quais equipados com máquinas a vapor.6 Isso ratifica a hipótese de que a mão de obra escrava utilizada nos engenhos de açúcar era aproveitada ao mesmo tempo no plantio, não apenas do cacau, bem como de outras monoculturas estabelecidas em outras áreas do estado baiano.
Em um segundo momento, Gonçalves traça um painel da escravidão em Ilhéus, concebendo ela nos quadros do Antigo Regime português, que legitimava as desigualdades sociais. Assim, investiga os processos de busca pela liberdade por meio de vias legais. Destaca-se o caso do escravo Vicente, por exemplo, que não conseguiu provar à justiça que seu pai havia desembarcado no Brasil após a promulgação da lei que proibia o tráfico em 1831.7 No entanto, a conquista da liberdade poderia acontecer pelo mecanismo da alforria, seja ela onerosa (condicional e incondicional) ou gratuita (condicional e incondicional). O fato é que, em Ilhéus, “até as últimas décadas da escravidão, os escravos lutaram e pagaram vários preços pela sua liberdade”8 visto que muitas alforrias eram concedidas de forma condicional, o que sugere que estas dependeram da habilidade de negociação dos escravos para com seus senhores9.
O trabalho de Elciene Azevedo10 sobre lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo, por exemplo, demonstra outras nuances na busca pela liberdade, como a atuação e influência do movimento abolicionista sobre os escravizados, onde destaca-se a figura do poeta e advogado abolicionista Luiz Gama. Robert Slanes, em Na senzala, uma flor11, por outro lado, já havia demonstrado a importância da construção de laços familiares entre escravizados, utilizando como recorte empírico a região de Campinas. Procede, dessa forma, uma forte crítica às visões clássicas do escravismo, que reduzia os negros a animalidade e desenfreada promiscuidade sexual, o que impedia a constituição da família escrava, família esta que, conforme aponta Gonçalves, impulsionou as manumissões em Ilhéus.
Gonçalves, por fim, analisa os significados das cartas de alforria para senhores e escravos: “os senhores viam nela um reforço de poder, prestígio e ampliação de subordinados, já os cativos percebiam-na como um passo para ascender socialmente à condição de libertos”.12 A família escrava e o compadrio fortaleceram as iniciativas por manumissões, ao passo que funcionavam como elementos de resistência às dificuldades impostas pelo regime escravista. Em 1840, o Tenente-Coronel Egídio Luiz de Sá, por exemplo, alforriou seu afilhado João, cinco anos de idade. Recebeu de seu pai, José Fillippe, a quantia de duzentos mil reis. Ainda que tenha sido cobrada uma quantia, “a família escrava e o compadrio impulsionaram a carta de liberdade de João”13 o que ratifica a tese de Gonçalves.
A obra de Victor Santos Gonçalves, Escravos e Senhores na Terra do Cacau, dessa forma, constitui-se enquanto uma importante contribuição para a historiografia da escravidão em Ilhéus, principalmente se considerarmos que os trabalhos sobre esse universo escravocrata ainda são escassos. As fontes primárias utilizadas pelo autor, a exemplos de processos-crime, cartas de alforria, registros notariais, registros de casamento e de batismo, dentre outras, coletadas principalmente no Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB, no Centro de Documentação e Memória Regional – CEDOC da UESC, no Arquivo da Cúria Diocesana de Ilhéus e na Secretaria da Catedral de São Sebastião de Ilhéus, indicam vários caminhos para novos pesquisadores, pois demonstram diversas possibilidades de análise, o que ratifica a ideia de que há muito a ser feito. Considerando ser este o livro de estreia do pesquisador, pode-se dizer que trata-se de um trabalho de peso. Embora escravos e senhores tenham na terra do cacau seu campo de ação, os “frutos de ouro”, o latifúndio e os coronéis não são os protagonistas. Isso demonstra que o historiador lançou um olhar diferenciado para o universo escravocrata do sul da Bahia, privilegiando as relações sociais e estratégias de resistência de minorias que foram silenciadas pela historiografia e pela literatura regional.
2 GONÇALVES, Victor Santos. Escravos e Senhores na Terra do Cacau: alforrias, compadrio e família escrava (São Jorge dos Ilhéos, 1806-1888). Ibicaraí: Via Litterarum, 2017, p. 66-71.
3 LYRA, Henrique Jorge Buckingham. A “crise” de mão-de-obra e a criação de colônias agrícolas na Bahia: 1850 – 1889. In: CARRARA, A. A.; DIAS, M. H. Um lugar na história: a capitania e comarca de Ilhéus antes do cacau. Ilhéus: Editus, 2007, p. 253.
4 Ibidem, p. 247.
5 BARBOSA, Carlos Roberto Arléo. São Jorge dos Ilhéus: um panorama histórico. In: PÓVOAS, Rui do Carmo. (Org.). Mejigã e o contexto da escravidão. Ilhéus: Editus, 2012, p. 432. 6 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia, Século XIX: uma província no Império. 2. Ed. Tradução de Yedda de Macedo Soares. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 462.
7 GONÇALVES, op. cit., p. 135-139.
8 Ibidem, p. 205-206.
9 Entre 1806 e 1888 foram registradas 251 cartas de alforrias em inventários, testamentos e no Livro de Notas do Município de Ilhéus. Destas, 69,7% envolviam pagamento e/ou condição e apenas 25,5% eram totalmente gratuitas. Apenas uma carta (4,8%) não teve tipologia identificada por Gonçalves (2017, p. 233).
10 AZEVEDO, Elciene. O Direito dos Escravos: lutas jurídicas e abolicionistas na Província de São Paulo na segunda metade do século XIX. 2003. 232 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
11 SLANES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava: Brasil Sudeste, século XIX. 2. Ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.
Zidelmar Alves Santos – Mestrando em Letras: Linguagens e Representações pela UESC, Ilhéus, Bahia. Graduado em História e Especialista em História do Brasil pela mesma instituição. Endereço profissional: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rod. Jorge Amado, Km 16 – Salobrinho, Ilhéus – BA, 45662-900. E-mail: [email protected].
Candidata a la corona: La infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas – TERVANASIO (HU)
TERVANASIO, Marcela. Candidata a la corona: La infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2005. 284 p. Resenha de: ACRUCHE, Hevelly Ferreira. Uma princesa entre dois mundos: Carlota Joaquina e o projeto de regência na América. História Unisinos 23(1):124-127, Janeiro/Abril 2019.
No contexto das comemorações do bicentenário da vinda da Corte portuguesa para o Brasil e do início do processo das revoluções de independência na América ibérica, eventos comemorativos foram realizados, livros foram publicados, promovendo uma maior interlocução entre pesquisadores interessados no tema ao revisitar questões até aquele momento abandonadas pelo senso comum e/ou satisfeitas por certo consenso historiográfico. Novas lacunas passaram a ser tratadas no universo destes eventos e a constante busca pelo preenchimento e elaboração de novas questões permite que sempre nos voltemos ao tema das independências, cuja importância não se esgota na figura de grandes homens e heróis nacionais2.
Período conturbado, o início do Oitocentos nos apresenta novas leituras em torno de ideias como representação, soberania e poder, as quais foram revistas de modo a atender as demandas dos pesquisadores em busca de uma maior compreensão das mudanças e das expectativas de um conjunto de sociedades que viviam num mundo convulsionado pelos efeitos da Independência dos Estados Unidos (1776), da Revolução Francesa (1789), da Revolução Haitiana (1794) e do surgimento do Império Napoleônico (1799-1815) com todas as suas peculiaridades no conjunto do equilíbrio europeu e americano. No bojo destas transformações, houve a construção de valores e ideais opostos aos modelos sociais e políticos vigentes. A colonização na América encontrava-se ameaçada pelos preceitos de igualdade e de representatividade política, pois os espaços coloniais foram ganhando crescente importância no seio das metrópoles europeias.
No decorrer dos últimos anos, historiadores de várias nacionalidades têm se debruçado no tema das revoluções que culminaram na independência dos atuais países latino-americanos. No âmbito das Américas, os trabalhos pioneiros de Tulio Halperín-Dongui e José Carlos Chiaramonte propõem uma reflexão sobre a construção dos Estados-Nação e suas implicações no continente3.
O trabalho de João Paulo Garrido Pimenta (2002) tem apontado as relações entre guerra e identidades no contexto pelas lutas pela posse da Província Cisplatina, o atual Uruguai. Outro trabalho importante a ser considerado é Independencias iberoamericanas: nuevos problemas y aproximaciones, coletânea organizada pela professora Pilar Quirós (2015).
Esta última tem trazido à tona uma série de reflexões em torno do caráter internacional das independências latino-americanas.
Embora o Brasil tenha levado mais tempo para tornar-se independente de Portugal em relação às colônias hispânicas, a presença da Família Real foi fundamental para a compreensão de diversas facetas de nossa história nacional, assim como de uma história internacional e atlântica. E uma dessas facetas incorpora a figura da princesa Carlota Joaquina, membro da dinastia dos Bourbon e princesa de Portugal ao contrair matrimônio com o príncipe D. João, aos 10 anos de idade. Eles assistiram às abdicações ao trono espanhol e ao cativeiro do rei Fernando VII, irmão da Infanta, nas mãos de Napoleão Bonaparte entre 1807 e 1814. Pessoa vista sob uma série de lentes de análise na literatura, na produção cinematográfica, nos materiais didáticos e acadêmicos, Carlota Joaquina era uma princesa espanhola que partia para o Rio de Janeiro em meio às turbulências ocorridas com seus familiares na Europa.
Diversas vezes apresentada como uma mulher “ambiciosa, conspiradora e dona de um caráter audaz e temerário”, a Infanta espanhola assumiu um papel importante no decorrer dos problemas enfrentados pela Espanha e, consequentemente, pelo Império espanhol após a deposição de Fernando VII. Situação até aquele momento inesperada, o trono vacante tornou-se problemático aos súditos do rei tanto no âmbito das relações internas de poder como no conjunto mais amplo das relações internacionais; isso, por sua vez, garantiu novas possibilidades de representação no meio político e permitiu que a figura de Carlota Joaquina se apresentasse como uma opção de poder frente a um governo estrangeiro. Na historiografia brasileira, o trabalho de Francisca Nogueira de Azevedo (2003) mostra Carlota Joaquina como personagem político importante: de uma mulher marcada por uma visão excêntrica e destinada à alcova, descortina-se uma mulher com poder político, ciosa de suas prerrogativas monárquicas e atuante.
Este momento de protagonismo político remete às aspirações desta mulher em torno da manutenção de sua linhagem, do ordenamento social e das relações de poder com base na lógica do Antigo Regime. Ao se colocar como herdeira do trono espanhol, em substituição ao seu irmão, Carlota Joaquina abria outra possibilidade de governo para seus súditos, forma esta abraçada por alguns e rechaçada por outros em nome de projetos políticos mais ou menos audaciosos. A diplomacia aparece como aliada importante a projetos políticos de médio e longo prazo, os quais envolviam tanto o continente europeu quanto a América. Portanto, uma das alternativas vigentes para a Infanta era se portar enquanto depositária da soberania espanhola para pleitear a Coroa e, consequentemente, o império colonial hispânico. Isso, por sua vez, nos permite o afastamento do senso comum com relação a princesa espanhola, ainda que a mesma seja limitada pelas questões de gênero de seu tempo.
O trabalho de Marcela Tervanasio, especialista em história política argentina e ibero-americana nas primeiras décadas do século XIX, remete-nos a um universo conspiratório e intrigante cujo epicentro era Carlota Joaquina.
Observar a princesa enquanto objeto nos coloca diante de um tema importante, porém pouco estudado – à exceção da pesquisa de Francisca Nogueira de Azevedo, citada anteriormente. Os “silêncios” historiográficos em torno desta figura emblemática foram acumulados ao longo dos anos, de modo que a mesma se tornou desprovida de importância em inúmeras obras.
Ao procurar afastar-se desta leitura, repleta de preconceitos, especialistas têm repensado o carlotismo como parte de série de redes que uniram as monarquias ibéricas tanto na América quanto na Europa. Este parece ser o maior esforço de Tervanasio em seu livro: ressaltar uma espécie de geografia em torno das repercussões do carlotismo e – por que não? – das possibilidades (reais ou ilusórias) de uma mulher assumir o poder na monarquia espanhola. Ao nos apresentar uma leitura dinâmica e conectada dos processos históricos, numa relação de ir à Europa e vir para a América e vice-versa, a autora ressalta como as ideias da Infanta espanhola incidiram em conflitos importantes para um mundo contemporâneo em construção: absolutismo versus liberalismo; o poder das Juntas provinciais versus a regência em nome do Rei e, não menos importante, colonialismo versus revolução.
Dentro do campo da história política e em meio à série de escolhas teórico-metodológicas efetuadas pela autora, o livro pode ser tratado em partes, embora seja dividido em capítulos. Um primeiro momento consiste na apresentação do trono vacante e como a natureza jurídica espanhola tratou da questão nos idos de 1808. O decorrer do texto nos aponta quais possibilidades a princesa teria numa situação inesperada como aquela. Já num segundo momento, a ideia de soberania aparece como elo fundamental ao projeto carlotista em oposição às outras opções de governo para a Espanha, representadas pelas Juntas provinciais. Os capítulos 2 e 3 se entrelaçam no sentido de tratar da discussão sobre a soberania na América e na Península na medida em que, em meio aos conflitos de autoridade e à instabilidade política vivida, a figura de Fernando VII foi elevada a um patamar de Rei amado e desejado, ao passo que a América hispânica passava a ser vista como parte cada vez mais importante do Império. Assim, a presença da Infanta na América era crucial aos interesses espanhóis e também lusitanos, pois o Rio da Prata era uma região estratégica aos objetivos geopolíticos da dinastia dos Bragança.
Gradualmente, a formação de uma identidade política e institucional entrava em oposição às justificativas baseadas em direitos dinásticos, destacando-se as fragilidades do projeto de Carlota Joaquina no conjunto do Império espanhol. A ideia de “americanizar o império” era vista como uma ameaça às relações de poder estabelecidas entre a Espanha e suas colônias, subvertendo a ordem colonial ao ponderar a possibilidade de uma princesa assumir a regência na América e, por conseguinte, disputar direitos ao trono no futuro. Tais inquietações foram expressas desde manifestos até ações de espionagem para burlar a busca de apoio a uma regência sediada na América. Nesta linha de raciocínio, os diversos interesses dos impérios atlânticos europeus estavam imbricados, e o apoio ou não a Carlota Joaquina era interpretado de distintas formas.
Em continuidade a uma dimensão geográfica e espacial dos impactos do carlotismo, Tervanasio dedica dois capítulos à América: um ao conjunto do continente e outro especificamente à cidade de Buenos Aires. Enquanto seus projetos foram rechaçados por muitos espaços coloniais, na cidade de Buenos Aires, uma parte da elite portenha passou a ser favorável ao possível reinado de Carlota Joaquina. Dentre estes membros, destaca-se a figura de Manuel Belgrano, um dos artífices do processo de independência, em 1810. Especificamente no capítulo 4, “Las dos máscaras de la monarquía”, Tervanasio se debruça sobre os sentidos da palavra independência a fim de revisar pressupostos da historiografia tradicional inspirados na concepção de que, em nome do rei Fernando VII, os sentimentos de independência eram encobertos.
A perspectiva de um sentimento de independência e a ideia de uma nacionalidade preconcebida têm sido refutadas na produção historiográfica dos últimos anos. Contudo, a percepção dos apoios angariados pelo projeto de regência espanhola na América nos mostra a viabilidade de uma terceira via de governabilidade, ainda que mantendo intactas as estruturas e a ordem colonial.
Tervanasio nos mostra como a imprensa, os políticos locais e a princesa levaram a sério esta terceira via de governabilidade. Uma “guerra de papéis” ressaltando os prós e contras da regência mostrava o empenho de muitos em apoiar ou destruir o projeto. O receio do domínio dos Bragança, sobretudo na região meridional, era importante, porém não se apresenta como única chave de interpretação dos interesses envolvidos pelas elites criollas locais e os peninsulares na Espanha.
No decorrer do capítulo 4, um dos mais interessantes do livro, percebemos como foi possível a construção de uma retórica política para que Carlota Joaquina partisse do Rio de Janeiro em direção a Buenos Aires a fim de ser coroada regente no Rio da Prata. Porém, os efeitos da revolução de 1810 contribuíram para pensar o impacto das propostas de regência da Infanta no seio dos conflitos locais. A regência passava a ser, por um lado, um mal menor se comparado à criação de uma Junta em nome de Fernando VII na capital do Prata. Por outro, esse mal menor não garantia sucessos para a via reformista, o que fez com que os maiores representantes do carlotismo se transformassem em líderes do processo revolucionário e, consequentemente, depositários da soberania do rei.
No último capítulo se revela o impulso da Infanta em realizar seu propósito de assumir seu lugar na Península, ocupando o trono de seu irmão, sem abrir mão do restante do Império já envolvido pelos movimentos de independência. Nesse sentido, antes de realizar uma tentativa de golpe de Estado, Carlota Joaquina procurava manter a legitimidade do irmão dentro dos limites que ela conhecia e em que fora formada: a defesa da linhagem, da família e da casa, elementos estes diminuídos pelos efeitos das ondas liberais e pela perspectiva de transformação social. O retorno de Fernando VII ao poder, em 1814, “apagou” os anseios do projeto de Carlota Joaquina, que se resignara à sua posição anterior. Contudo, o retorno do rei abria uma nova luta tanto na Espanha quanto na América: restauração versus revolução.
Distante de ser uma biografia narrativa e factual, o livro nos desperta para o labirinto de possibilidades nas quais Carlota Joaquina estava política e diplomaticamente inserida. Por um viés político, a princesa estava diante de possibilidades concretas de governar na América, o que era sumamente interessante para o propósito de união das coroas ibéricas, invertendo a lógica das relações coloniais. Diplomaticamente, a irmã de Fernando VII buscava conferir legitimidade ao seu projeto de governo ao assegurar que o rei reassumiria o poder tão logo saísse do cativeiro, evidenciando as desconfianças em torno de sua figura feminina e, também, em torno do conjunto dos Bragança e seus interesses expansionistas, destacadamente no Rio da Prata. Ao longo do livro, podemos observar uma série de escolhas efetuadas pela princesa no intuito de proteger os seus interesses naqueles anos incertos.
A incerteza é, para fins deste livro, a pedra de toque para a compreensão do período e, ao mesmo tempo, evidencia o quanto o carlotismo era um projeto político passível de ser implantado no mundo colonial hispano-americano e não uma mera conspiração política contra o rei. Os caminhos percorridos pela princesa para galgar o poder e o retorno de Fernando VII ao poder nos remetem a um labirinto onde, ao final do seu percurso, um monstro os espera: a crise dos valores coloniais e do poder absoluto.
Referências
ANNINO, A.; GUERRA, F.-X. (org.). 1994. De los imperios a las naciones: Iberoamérica. Fórum Internacional das Ciências Humanas.
Paris, Ibercaja, 620 p.
AZEVEDO, F.N. de. 2003. Carlota Joaquina na corte do Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 400 p.
CARVALHO, J.M. de. 2008. D. João e as histórias dos Brasis. Revista Brasileira de História, São Paulo, 28(56):551-572.
https://doi.org/10.1590/S0102-01882008000200014 CHIARAMONTE, J.C. 2007 [1997]. Ciudades, provincias, estados: orígenes de la Nación Argentina, 1800-1846. Buenos Aires, Emecé. 645 p.
CHUST, M. 2008. Reflexões sobre as independências ibero-americanas.
Revista de História, 159:243-262.
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i159p243-262 HALPERÍN-DONGUI, T. 2005 [1972]. Revolución y guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Argentina. 480 p.
LUSTOSA, I. 2008. O período joanino e a eficiência analítica de alguns textos desbravadores. Revista da Casa de Rui Barbosa / Fundação, 2(2):353-371.
MELLO, E.C. de. 2004. A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo, Ed. 34, 264 p.
PAMPLONA, M.A.; MADER, M.E.N. (org.). 2007. Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas: região do Prata e Chile.
São Paulo, Paz e Terra, 299 p.
PIMENTA, J.P.G. 2002. Estado e nação no fim dos impérios ibéricos no Prata: 1808-1828. São Paulo, Edusp. 266 p.
QUIRÓS, P.G.B. de (org.). 2015. Independencias ibero-americanas: nuevos problemas y aproximaciones. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 383 p.
SCHULTZ, K. 2008. Versalhes Tropical: Império, monarquia e a corte real portuguesa no Rio de Janeiro, 1808-1821. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 444 p.
SLEMIAN, A.; PIMENTA, J.P.G. 2008. A corte e o mundo: uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil. São Paulo.
Notas
2 Alguns trabalhos importantes nessa discussão são Lustosa (2008), Carvalho (2008), Slemian e Pimenta (2008) e Schultz, Kirsten. Versalhes Tropical: Império, monarquia e a corte real portuguesa no Rio de Janeiro, 1808-1821. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, (2008). Uma posição crítica ao processo de independência, ressaltando que a vinda da corte lusitana atendeu aos interesses do Centro-Sul em detrimento do Nordeste, é a do historiador e diplomata Evaldo Cabral de Mello (2004). Outra iniciativa importante e de debates profícuos foi o Congresso Internacional 1808: a corte no Brasil, realizado na Universidade Federal Fluminense, março de 2008.
3 Halperín-Dongui (2005 [1972]); Chiaramonte (2007 [1997). Para refletir sobre a temática das identidades e construção de nacionalismos nas Américas, ver também Pamplona e Mader (2007). Alameda. 180 p.
Hevelly Ferreira Acruche – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Largo São Francisco de Paula, 1, Centro, 20051-070 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected].
História da Fronteira Sul – RADIN et al (HU)
RADIN, J. C.; VALENTINI, D. J.; ZARTH, P. A. (org.). História da Fronteira Sul. Chapecó: Editora UFFS, 2016. 352 p. Resenha de SCHMITT, Ânderson Marcelo. Uma História da(s) fronteira(s): possibilidades de análise sobre uma região limítrofe. História Unisinos 23(1):128-132, Janeiro/Abril 2019.
Este livro é uma coletânea de 16 textos que fazem um apanhado de vários assuntos considerados importantes para a história e para a memória do sul do Brasil. Os méritos de uma proposta neste sentido, em um período em que cada vez mais se discute a internacionalização – ou dissolução – das fronteiras geopolíticas e do conhecimento, são vários. A construção do Estado-nação brasileiro foi possível, sobretudo, pela amálgama de locais diversos em um mesmo aparato administrativo, processo este que redimensionou pátrias locais do Antigo Regime português, em um transcurso não necessariamente pacífico. As explicações para características e problemas atuais de diferentes regiões brasileiras podem ser encontradas, desta forma, em diversos recortes temporais, variando entre a curta e a longa estrutura. Esta é a proposta geral em que se pretende que seja pensada a fronteira sul no livro organizado por Radin, Valentini e Zarth.
A fronteira é tema de pesquisa recorrente na História. No entanto, quando o historiador norte-americano Frederick Turner ressignificou a fronteira nos seus estudos sobre a expansão para o oeste estadunidense, os limites deixaram de estar conectados exclusivamente por questões políticas e passaram a possuir outras abordagens (Knauss, 2004). A Frontier Thesis, de Turner, assim como a obra aqui apresentada, aposta em fatores econômicos, culturais e sociais para a fluidez das fronteiras. Vale a pena se registrar a existência de poucos estudos sobre esta região chamada de fronteira sul do Brasil. Projetos neste sentido têm surtido bastante sucesso, porém, tratam de temáticas ou regiões bastante específicas. As obras “História do campesinato na Fronteira Sul”, organizada por Paulo Zarth (2012); “Colonização, conflitos e convivências nas fronteiras do Brasil, da Argentina e da Paraguai” (2015), organizada por Delmir Valentini e Valmir Muraro, e, mais recentemente, “Big Water: The Making of the Borderlands between Brazil, Argentina, and Paraguay” (2018), de organização de Frederico Freitas e Jacob Blanc, são exemplos neste sentido. Desta forma, o livro aqui resenhado apresenta um pioneirismo ao tratar da fronteira sul a partir de uma abordagem multitemática. Os autores dos capítulos são reconhecidos por suas pesquisas, e ao agrupá-los se demonstrou que há uma coesão regional que tangencia as temáticas abordadas.
Por mais que não haja no livro uma divisão interna entre os temas abordados, é possível perceber interesses comuns implícitos entre os textos. O capítulo introdutório escrito por Paulo A. Zarth, por exemplo, faz uma profícua discussão teórica sobre a função da História, da memória, e sobre como a ideologia do progresso e o mito do vazio demográfico marcaram as identidades sulinas.
Ao demonstrar que a história regional também é uma “guerra de histórias”, ressalta a função das pesquisas acadêmicas e seu contraponto às histórias tradicionais escritas por historiadores diletantes e que por vezes predominam na criação do imaginário local e da cultura histórica de uma região. Adelar Heinsfeld, por sua vez, complexifica esta discussão e interpreta a existência, a função e os usos da fronteira. Heinsfeld destaca algo que se encontra nas entrelinhas de todo o livro: “As fronteiras e os países não estiveram sempre onde estão, bem como não existiram sempre. Ambos não são mais que construções da história humana, resultado e expressão de processos sociais” (p. 30). Interpreta-se que a fronteira-linha político-administrativa pode ser enganosa, escondendo pontos que devem ser abordados para além – ou através – delas.
Os capítulos de Valmir Francisco Muraro, Antonio Marcos Myskiw e Tau Golin acrescentam os elementos empíricos à discussão teórica sobre a fronteira. Muraro estuda a formação fronteiriça entre Brasil, Argentina e Paraguai, dando destaque, em um primeiro momento, à Questão de Palmas ou Misiones, embate diplomático entre Brasil e Argentina pelo controle do que hoje é uma vasta região entre o sudeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, no início do período republicano. O autor salienta, com muita razão, a importância dos atores sociais presentes na região no século XIX e XX, buscando compreender a fronteira de acordo com o “sentido atribuído pelos indivíduos que ocupam, organizam, disputam ou convivem em determinados espaços geográficos próximos e pertencentes a países diferentes” (p. 168). Afasta-se, desta forma, da ideia de que a fronteira se construiu apenas por uma imposição política consubstanciada em acordos firmados entre governos.
O capítulo escrito por Antonio M. Myskiw frisa os acordos de construção da fronteira com os países platinos, indo também até a Questão de Palmas. Analisa como movimentos insurrecionais – como a Guerra dos Farrapos (1835-1845) – ou guerras externas nas quais o Brasil se envolveu diretamente – como a Guerra da Cisplatina (1825-1828) e do Paraguai (1864-1870) – foram importantes na delimitação territorial. Estes conflitos também tiveram influência nas relações entre líderes políticos dos países vizinhos e seus congêneres brasileiros. Porém, o principal mérito de sua análise é regressar até o período colonial para buscar as origens da ocupação europeia e dos acordos territoriais entre os impérios ibéricos, como o Tratado de Madrid, de El Pardo e de Santo Ildefonso.
Sem a compreensão destes acordos, torna-se impossível entender a conjuntura territorial que conformou a fronteira meridional na época da independência e que continuou a ser delimitada por quase um século. Quando trata dos conflitos em que o Brasil se envolveu durante o século XIX, Myskiw acaba, de forma implícita, por sugerir que o processo de formação do Estado brasileiro se deu por meio da preparação para estes embates fronteiriços. Aproxima- se, assim, do olhar lançado por Charles Tilly (1996) sobre os estados nacionais europeus – modelo seguido por diversos historiadores que analisam os conflitos bélicos na América Latina durante o século XIX.
Os acordos territoriais também foram pontos centrais do texto de Tau Golin, principalmente o Tratado de Madrid, assinado em 1750 por Espanha e Portugal. Ao analisar a atividade missioneira e a Guerra Guaranítica que desorganizou as diversas ocupações jesuíticas no Rio Grande do Sul, Golin enfatiza a resistência guarani contra a passagem para o outro lado do Rio Uruguai, conforme propunha o Tratado. Os exércitos ibéricos coligados conseguiram uma vitória paliativa, com chacinas – como a ocorrida em Caiboaté –, mas não obtiveram sucesso em transferir todos os guaranis aldeados, o que ocasionou a sua dispersão pelo território e miscigenação com o restante da população. Assim, “devido à difusão dos missioneiros, juntamente com parcelas que não se ‘cristianizaram’”, as populações do Sul do Brasil “passariam gradativa e lentamente por um contínuo processo de guaranização étnica e cultural” (p. 89).
Questões étnicas também estão expressamente presentes em outros três textos da coletânea. Jaisson T. Lino, a partir de contribuições tanto históricas quanto arqueológicas, vislumbrou a longa duração da ocupação do atual Sul do Brasil, datada de 12 mil anos atrás. Estes primeiros ocupantes eram caçadores-coletores nômades e foram sendo assimilados por grupos de matriz linguística jê e tupi-guarani, que começaram a chegar à região por volta de 2.500 anos atrás. Lino traz uma detalhada apreciação da cultura material destes povos, relatando os contatos ocorridos principalmente entre os guaranis, que seguiam os cursos dos principais rios, e os demais povos que já se faziam presentes na região. Entre eles os construtores dos cerritos, na campanha do Rio Grande do Sul, e dos sambaquis do litoral, que se supõe tenham sido assimilados culturalmente ou exterminados por meio de guerra. Ao adentrar no período histórico, o autor entende, à semelhança das conclusões de Tau Golin, que embora houvesse projetos que excluíam a presença indígena da sociedade, estes permaneceram até o presente: “apesar das concepções raciais etnocêntricas e preconceituosas forjadas pela intelectualidade brasileira desde o século XIX, na qual os índios deveriam com o tempo se integrar ao projeto de Estado-nação, dezenas de etnias indígenas continuam sua trajetória histórica no Brasil” (p. 106). Fica evidenciado que a disputa pelo território no Sul do Brasil se iniciou muito antes da chegada dos europeus, conquanto os significados dados à terra fossem muito diferentes dos atribuídos posteriormente.
As comunidades quilombolas no Sul do Brasil, mais particularmente em Santa Catarina, são o tema de Raquel Mombelli. A autora também dialoga com outra área do conhecimento – a Antropologia – para explicar o processo de reconhecimento de grupos quilombolas na região sul. Ao relatar como ideologias do branqueamento surgiram e forjaram um modelo de nação, Mombelli também reconhece que a própria historiografia contribuiu para o desenvolvimento de um racismo velado na sociedade, uma vez que a teoria – ou mito – da democracia racial defendia que existia uma harmonia e cordialidade nas relações raciais no Brasil. Ao demonstrar que existem quilombos reconhecidos ou que solicitam reconhecimento – 133 comunidades, segundo a autora – no Sul do Brasil, ajuda a comprovar que a mão de obra negra escravizada era utilizada em diversas atividades também no interior, como a historiografia recente vem apontando. Nos termos gerais da coletânea, um capítulo sobre a escravidão – suas relações intrínsecas, formas de dominação e resistência – poderia ter contribuído para a compreensão das relações étnicas existentes na fronteira sul da colônia ou do Império, uma vez que nos últimos anos diversas pesquisas vêm abordando este tema no Sul do país e/ou em suas regiões de fronteira. Pesquisas como a realizada por Gabriel Aládren (2012) ou a coletânea organizada por Beatriz Mamigonian e Joseane Vidal (2013) podem ser aqui lembradas.
Em seu texto, José C. Radin também reconhece a pluralidade étnica na fronteira sul do Brasil. Antes de passar a falar sobre seu tema principal – (i)migração alemã, italiana e polonesa –, o autor adverte que, além dos “imigrantes europeus, espanhóis, portugueses, alemães, italianos e poloneses, a história dessa região se fez com a participação de negros, caboclos e por povos indígenas” (p. 143). As imigrações europeias do século XIX foram motivadas, via de regra, pelas guerras, a escassez de emprego e terras, e pela instabilidade política. “Fazer a América” se tornou o sonho dos imigrantes. Entre os diversos destaques do texto de Radin, merece ser realçada a importância dada pelo autor à migração da segunda geração de colonos, que, a partir do início do século XX, seguiram para regiões ainda consideradas desabitadas pelos governantes. Assim se dão a atividade das empresas colonizadoras e os choques sociais e étnicos com grupos que habitavam a região do extremo norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná há séculos – conflitos que ainda não foram totalmente resolvidos. O autor dá suporte, portanto, para que sejam pensados os movimentos sociais que surgiram durante a segunda metade do século XX, notadamente o Master, o MST e o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), e que buscaram democratizar o acesso à terra; acesso este que é central na discussão sobre imigração e migração destes colonos. Neste sentido, questões que em um primeiro momento podem ser consideradas étnicas se transformam em conflitos sociais muito mais complexos.
Por sua vez, o texto de Délcio Marquetti com Juraci B. L. da Silva e o de Gerson W. Fraga com Isabel R. Gritti lidam com questões que podem ser consideradas correlatas, e dizem respeito ao reconhecimento identitário dos sujeitos da fronteira sul. Marquetti e Silva estudam as características da cultura cabocla na região. O caboclo teria surgido da miscigenação entre portugueses, índios e negros e suas características foram constantemente negativadas. A desvalorização da figura do caboclo foi tanto racial como social, pelo modo de vida que levavam, sendo atribuídos a eles “estereótipos do tipo ‘acomodados’ ou ‘incapazes’, que contrastam com os atributos do imigrante, este, ‘trabalhador’, ‘desbravador’ que com seu comportamento diferenciado introduziu uma dinâmica capitalista às terras” (p. 110).
Por outro lado, o texto de Fraga e Gritti interpreta o fato histórico e a criação memorialística da Revolução Farroupilha (1835-1845). Os autores dão atenção às festividades que ajudaram a criar o mito de uma revolução que teria sido gloriosa. Para eles, o 20 de setembro como “data magna estadual enseja atualmente acampamentos e desfiles, em uma espécie de eterno retorno comemorativo à figura do gaúcho pampeiro, mobilizando grande quantidade de pessoas e recursos e gozando de boa exposição midiática” (p. 199). Neste sentido, os autores trazem uma contribuição importante para a compreensão da identidade sulina a partir do mito do gaúcho, discussão que vem sendo realizada há algum tempo por historiadores e jornalistas dedicados ao tema, como Tau Golin (2004).
Resta saber como houve o processo de disseminação de Centros de Tradições Gaúchas em outros estados da região sul, principalmente em locais que foram alvo da migração de sul-rio-grandenses durante o século XX. Quanto ao próprio contexto da Farroupilha, trabalhos recentes, como o de José Iran Ribeiro (2013), vêm demonstrando que a partir da análise deste evento é possível compreender como ocorreu parte do processo de criação do nacionalismo e do Estado-nação brasileiros, principalmente a partir das interações de soldados que se deslocavam de outros locais do Brasil para os campos de batalha no Rio Grande do Sul. Santa Catarina foi um dos locais que mais sentiu esta interação, pois servia como ponto de preparação e aclimatação aos ares sulinos. Estes detalhes, se interpretados de forma mais sistemática pelos autores, poderiam auxiliar a entender a importância desta guerra para toda a região sul, e quiçá à formação do nacionalismo brasileiro.
O eixo central dos capítulos de Delmir J. Valentini, Jaci Poli e Monica Hass são as implicações e conflitos gerados na região de fronteira agrícola aberta a partir do início do século XX e que levaram diferentes grupos sociais a uma convivência forçada e a expurgos constantes. Valentini analisa a Guerra do Contestado (1912-1916), enfatizando os elementos sociais presentes na região, a religiosidade cabocla a partir das crenças nos monges, e a atuação da Brazil Railway Company e da Lumber, sua subsidiária, no processo de extração de madeira e colonização. Ao optar por não realizar um apanhado de toda a guerra, o autor dá valiosas interpretações sobre as bases do movimento e apresenta subsídios importantes para pesquisadores que venham a analisar os movimentos messiânicos como um todo. No mesmo sentido, o texto de Jaci Poli demonstra a complexidade das relações sociais e políticas envolvidas nos conflitos por desapropriações de colonos no sudoeste do Paraná na década de 1950.
Colonos, indígenas, jagunços, madeireiras, entre outros, possuem interesses diversos e são produtos históricos da falta de diálogo, do preconceito e de projetos de desenvolvimento linear. Uma das maiores implicações da expansão para o oeste catarinense e sudoeste do Paraná foi, como apontado em outros capítulos da coletânea, a atuação de empresas colonizadoras. O capítulo escrito por Monica Hass aponta as relações entre estas empresas e o mandonismo local. Hass historiciza o coronelismo desde a colônia e traz elementos para comprovar que, entre a segunda e a sétima décadas do século XX, as relações coronelistas no oeste de Santa Catarina sofreram mutações, refletindo também as modificações políticas nacionais, porém, não foram eliminadas. Ressalta-se que, “como práticas políticas resultantes do sistema coronelista estão enraizadas na ossatura do Estado e na sociedade, os novos personagens políticos acabam se acomodando e se reajustando a elas” (p. 323). As conclusões trazidas pela autora podem servir de ponto de partida para historiadores que queiram entender as relações políticas e sociais em termos diacrônicos, principalmente naqueles locais marcados por terem servido de fronteira agrícola.
O texto de Gentil Corazza e o de Claiton M. da Silva, Marlon Brandt e Miguel M. X. de Carvalho convergem para a compreensão das relações econômicas e da interação entre ser humano e meio ambiente. Corazza analisa a modernização da agricultura, os avanços da indústria e a urbanização, vislumbrando suas consequências sociais durante o século XX. Por seu turno, Silva, Brandt e Carvalho demonstram as transformações nas formas de se pensar e interagir com o meio natural, enfocando as seguintes temáticas: a ocupação da região dos campos do planalto catarinense; a pecuária e modernização agrícola vinculadas à paisagem; a destruição das matas de araucárias no Sul do Brasil e, ao exemplo de Corazza, a modernização agrícola que, a partir de meados do XX, cada vez mais se voltou à lógica do mercado. Estes dois textos têm em comum a preocupação latente novamente com a região que abrange desde o norte do Rio Grande do Sul até o oeste paranaense. A recente corrente da História Ambiental ainda carece em contemplar áreas de estudo como o bioma Pampa, existente na fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, que serviram de plano de fundo para a história e não receberam a devida atenção enquanto objeto central de estudo.
Os capítulos da coletânea, se vistos em conjunto, não possuem uma proposta teórico-metodológica rígida, pois são entrecortados por História Social, Política, Econômica, Cultural, Ambiental, etc.; ressalta-se que, de fato, este não era o objetivo da obra. Tampouco pretendem um tema específico, como guerras, colonização, conflitos pela terra, lutas identitárias, ao mesmo tempo que estas preocupações estão presentes simultaneamente em diversos textos. Esta liberdade possibilita uma contribuição muito maior por parte dos autores e permite que o livro apresente subsídios para diversos assuntos, tanto no Sul do país como para além – no sentido do restante do Brasil ou mesmo para outros países fronteiriços. Outro mérito do livro é que consegue trazer em vários momentos a história vista de baixo, mostrando a agência de sujeitos históricos que, de outro modo, poderiam parecer passivos.
Os autores, em sua grande maioria, dialogam com a História Social; também convergem, com algumas exceções, para estudos voltados à região de colonização nova, leia-se, as áreas de ocupação da segunda geração de (i) migrantes, a partir do início do século XX. Não obstante, por todos os seus pontos positivos e pela qualidade dos trabalhos, a coletânea já se apresenta como obrigatória a todos os interessados na historicidade do Sul do país, uma vez que explicita que a fronteira-linha pode ser enganosa, ao simplificar processos muito mais amplos.
Referências
ALADRÉN, G. 2012. Sem respeitar fé nem tratados: escravidão e guerra na formação histórica da fronteira sul do Brasil (Rio Grande de São Pedro, c. 1777-1835). Niterói, RJ. Tese de Doutoramento, Universidade Federal Fluminense, 374 p.
BLANC, J; FREITAS, F. (org.). 2018. Big Water: The Making of the Borderlands between Brazil, Argentina, and Paraguay. Tucson, AZ, The University of Arizona Press, 329 p.
GOLIN, T. 2004. Identidades: Questões sobre as representações socioculturais no gauchismo. Passo Fundo, Clio, Méritos, 111 p.
KNAUSS, P. (org.). 2004. Oeste americano: quatro ensaios de história dos Estados Unidos da América de Frederick Jackson Turner. Niterói, EdUFF, 126 p.
MAMIGONIAN, B.G.; VIDAL, J.Z. 2013. História Diversa. Africanos e Afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis, Ed. da UFSC, 281 p.
MURARO, V.F.; VALENTINI, J.D. 2015. Colonização, conflitos e convivências nas fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Porto Alegre, Letra & Vida; Chapecó, Ed. UFFS, 317 p.
RIBEIRO, J.I. 2013. O Império e as revoltas: Estado e nação nas trajetórias dos militares do Exército imperial no contexto da Guerra dos Farrapos. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 331 p.
TILLY, C. 1996. Coerção, capital e Estados europeus. São Paulo, Edusp, 356 p.
ZARTH, P.A. (org.). 2012. História do campesinato na Fronteira Sul. Porto Alegre, Letra & Vida; Chapecó, Universidade Federal da Fronteira Sul, 319 p.
Ânderson Marcelo Schmitt – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n, Trindade, 88040-90 Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: [email protected].
Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro – MARX (C)
MARX, Karl. Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2018. Resenha de: RECH, Moisés João; TAUFER, Felipe. Conjectura, Caxias do Sul, v. 24, 2019.
Karl Marx, nascido em 5 de maio de 1818, em Trier, província alemã do Reno, estudou Direito na Universidade de Bonn e, em 1841, doutorou-se em Filosofia pela Universidade de Jena. Sua tese de doutoramento corrobora essa sua afinidade com o estudo filosófico, embora revele um Marx muito diferente do militante comunista. Marx escreve sua tese sob uma Prússia arcaica, com o objetivo de assumir o cargo de professor na Universidade de Berlim, que foi frustrado em razão da situação política prussiana.
Sua tese de doutorado, Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro, ganhou sua tradução para o português através da editora Boitempo. Com tradução direta do alemão, o texto conserva a afinidade com o original e proporciona acesso a mais um escrito para os leitores de língua portuguesa daquele que foi um dos principais intelectuais e revolucionários do século XIX.
A tese não é um corpo literário único em razão de ter sido encontrada incompleta, mas, a despeito da incompletude, ela revela um antigo projeto de Marx de resgatar as filosofias epicuristas, estoicas e céticas, de destacá-las como chave para compreender a filosofia grega em geral, haja vista que eram tidas como resquícios pós-aristotélicos “sem importância” para a história da filosofia.
A tese é dividida em duas partes: a primeira, intitulada “Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro em termos gerais”, conta com cinco capítulos. Porém, o Capítulo IV apresenta a exposição de notas dispersas de Marx, e o Capítulo V, que se destinaria à síntese da primeira parte, foi totalmente extraviado. Esse ponto é uma certa interrupção no manuscrito. A segunda parte, intitulada “Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro em termos específicos”, apresenta cinco capítulos completos. O achado incompleto ainda conta com um apêndice sobre a polêmica entre Plutarco e Epicuro.
No primeiro capítulo da primeira parte, Marx estabelece seu objeto de estudo. “Parece suceder à filosofia grega o que não deve suceder a uma boa tragédia: ter um fim insosso”. (p. 29). Com essas palavras, Marx busca indicar que Aristóteles, para certos intérpretes da história da filosofia, marcou o fim da filosofia grega, assim, “epicuristas, estoicos e céticos são encarados como um suplemento quase inconveniente, totalmente desproporcional a suas formidáveis premissas”. (p. 29). Dessa forma, mediante questionamentos à tradição filosófica e à concepção hegeliana apresentada em sua Introdução à história da filosofia, Marx ressalta a importância desses sistemas filosóficos sob o argumento de que são esses mesmos sistemas “arquétipos do espírito romano, a forma em que a Grécia migrou para Roma”. (p. 30). Em outras palavras, se os sistemas pré-socráticos “são mais significativos e mais interessantes pelo conteúdo” (p.31), os pós-aristotélicos “o são pela forma subjetiva” (p. 31), que consiste no suporte espiritual dos sistemas filosóficos, quase esquecido por suas “determinações metafísicas”. (p. 31).
Trata-se, para Marx, de demonstrar como a diferença entre os sistemas de Demócrito e de Epicuro deve ocupar um lugar maior na discussão metafísica da história da filosofia. Por razões de economia textual, reserva-se para uma análise mais detalhada a exposição total desses dois sistemas e a relação com a filosofia grega em geral. Com efeito, a especificidade da proposta de Marx é somente a relação entre a o núcleo da filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro, e, por essa razão, o autor denuncia o preconceito arraigado à identificação da física democrítica com a epicurista.
No segundo capítulo da primeira parte, “Pareceres sobre a relação entre a física de Demócrito e a de Epicuro”, Marx cita comentários de Posidônio, Nicolau e Sólon a respeito da filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro. Ainda apresenta como Cícero, Plutarco e Leibniz criticam a filosofia epicurista em benefício da democrítica. Assim, finaliza o capítulo mostrando que todos esses estudantes de filosofia de natureza antiga “concordam em que Epicuro tomou sua física emprestada de Demócrito”. (p. 36).
Na sequência, em “Dificuldades quanto à identidade da filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro”, encontra-se um esboço de contraste entre as duas filosofias. Trata-se de um capítulo de maior importância dentro da economia discursiva da obra em razão de ser e embasamento para o argumento central de Marx. A primeira divergência salta à vista na questão da “verdade e convicção do saber humano”. (p. 37, grifo no original). Marx contrapõe o ceticismo de Demócrito desenvolvido na concepção de como “se determina a relação entre o átomo e o mundo que se manifesta aos sentidos” (p. 38, grifo no original) ao dogmatismo de Epicuro. Tudo se passa como se Demócrito assumisse que a aparência do mundo sensível é subjetiva, pois os verdadeiros princípios são o átomo, e o vácuo e tudo o mais é opinião. (p. 38). O fato é que a dogmática de Epicuro toma o mundo como manifestação objetiva. Afinal, nada pode contradizer as sensações. (p. 40).
A segunda divergência: “a relação entre a ideia e ser, o relacionamento de ambos”. (p. 46, grifo no original). Para Marx Demócrito entende que a “a necessidade se manifesta na natureza finita como necessidade relativa, como determinismo”. (p. 51, grifo no original). A contraposição, dessa vez, reside no fato de Epicuro afirmar que “acaso é uma realidade que só tem valor de possibilidade”. (p. 52). O acaso, como uma possibilidade abstrata, é o que torna os fenômenos físicos possíveis, e não, necessários. Admitido todo o possível, como possível tem-se que “o acaso do ser apenas é traduzido em acaso do pensar”. (p. 53, grifo no original). Eis outra dificuldade para quem visa a identificar as duas filosofias da natureza. Aqui mora a tal interrupção no manuscrito.
Na segunda parte, “Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro em termos específicos”, Marx diferencia as características do átomo no vácuo em Epicuro e Demócrito. Para o primeiro, há uma tríplice característica: a) queda em linha reta; b) desvio em linha reta; e c) repulsão dos muitos átomos. Para o segundo não há a possibilidade de um “desvio em linha reta”. Essa característica atribuída por Epicuro ao átomo é determinante na diferenciação de sua física em relação à de Demócrito.
A “declinação do átomo” – que Marx designará como a “alma do átomo” – é a particularidade abstrata que possibilita a autonomia do movimento; a possibilidade de liberdade e contingência – ao contrário da necessidade de Demócrito. (p. 78-79). Enquanto Demócrito atribui ao átomo um “princípio espiritual” (p. 78), Epicuro desenvolve a noção de declinação – de desvio em linha reta como possibilidade da contingência e da liberdade na física. “A particularidade abstrata só pode operar seu conceito […] abstraindo da existência com que ela se depara”. (p. 79, grifo do autor).
De fato, o desvio é uma libertação de sua existência relativa da linha reta. Marx destaca que “a contradição entre existência e essência, entre matéria e forma, que reside no conceito de átomo, está posta no próprio átomo individual, quando este é dotado de qualidades […] o átomo é estranhado no seu conceito”. (p. 101). Outra maneira de dizer que a natureza contraditória do conceito de átomo deriva das qualidades – tamanho, forma e peso – adotadas pela posição de Epicuro, em contraposição à Demócrito que ignora tal contradição. Para Epicuro é “por meio das qualidades, [que] o átomo adquire existência que contradiz seu conceito, [e] é posto como existência exteriorizada, diferenciada de sua essência”. (p. 86, grifo do autor). Essa diferenciação faz a contradição no conceito de átomo alcançar “sua mais gritante realização”. (p. 101).
No capítulo sobre o tempo, há uma argumentação a respeito da natureza do tempo. Em Demócrito o tempo é irrelevante para o átomo. Não tem função em seu sistema. Mas, quando a consciência filosófica questiona se a substância (átomos) é temporal invertem-se os termos: o tempo torna-se algo substancial, i.e., suprime seu conceito. (p. 103-104).
Na contramão, para Epicuro o tempo está ausente do mundo da essência, assim “torna-se a forma absoluta da manifestação”. (p. 104, grifo do autor). Marx destaca que o tempo é determinado como accidens do accidens, “é a mudança enquanto mudança refletida em si mesma, variação como variação”. (p. 104). Significa dizer que o tempo não existe em si, mas enquanto uma decorrência (acidente) do movimento e do repouso, ele é a “mutabilidade do mundo sensível agora como mutabilidade, sua variação como variação, essa reflexão da manifestação em si mesma, formada pelo conceito de tempo, tem sua existência isolada na sensualidade consciente” (p. 105), a sensualidade do ser humano é “o tempo encarnado, a reflexão existente do mundo dos sentidos em si mesma”. (p. 105, grifo do autor). Marx deixa claro que para Epicuro o tempo, como accidens do accidens, é determinado pelos acidentes dos corpos percebidos pelos sentidos, em que “a percepção dos sentidos refletida em si é, aqui, portanto, a fonte do tempo e o próprio tempo” (p. 106); pois a reflexão dos acidentes na percepção dos sentidos humanos e sua reflexão em si mesmos são a mesma coisa. (p.107).
Em “Os meteoros”, há uma crítica às concepções astronômicas de Demócrito sobre os corpos celestes, pois “não há como extrair delas alguma coisa filosoficamente interessante”. (p. 111). A teoria dos meteoros de Epicuro demonstra ser mais profícua para debates filosóficos contemporâneos. Em oposição a todo o pensamento filosófico grego – especialmente de Aristóteles –, que estabelecia uma ligação entre os corpos celestes e os deuses e suas qualidades, Epicuro afirma que é uma tolice humana atribuir a Atlas a sustentação do céu, ou seja, é uma tolice humana divinizar os corpos celestes. (p. 115). Além disso, a teoria dos meteoros de Epicuro tem uma forte vinculação ética, o que não é raro para o pensamento grego que estabelecia uma ligação entre cosmo e polis. Assim, Marx afirma que “essa teoria é, para Epicuro, questão de consciência”. (p. 115).
Para Epicuro a teoria dos meteoros carrega a possibilidade, por outros meios, de fundamentar uma ética. Sendo assim, Marx defende que “essa teoria é, para Epicuro, questão de consciência”. (p. 115). Dessa forma, salta à vista uma tese de fundo: ao estabelecer as diferenças entre Demócrito e Epicuro, Marx encontra a autoconsciência da filosofia epicurista. (p.
31). Se para Epicuro a contradição entre forma e matéria, entre essência e aparência é constitutiva da possibilidade de declinação do átomo e, por consequência, da liberdade, logo se percebe que, nos corpos celestes, “foram resolvidas todas as antinomias entre forma e matéria, entre conceito e existência, que constituíra o desenvolvimento do átomo” (p. 121); de tal forma que os meteoros “declinam da linha reta, formam um sistema de repulsão e atração”. (p. 122).
Os corpos celestes são os átomos que se tornam reais, uma vez que a particularidade foi interiorizada, e a contradição, cessada. Contudo, no momento da reconciliação entre forma e matéria, a autoconsciência da “forma abstrata” se “proclama como o verdadeiro princípio, hostilizando a natureza que se tornou autônoma”. (p. 123). Os meteoros são a própria universalidade na qual a natureza se torna autônoma. Em contrapartida, sua constituição pela “forma abstrata” origina a particularidade abstrata que é a autoconsciência em sua ataraxia. (p. 124). “A absolutidade e a liberdade da autoconsciência constituem o princípio da filosofia epicurista”. (p. 124).
Ao final da obra, há um apêndice com o título “Crítica à polêmica de Plutarco contra a teologia de Epicuro” do qual restaram apenas fragmentos do texto original. Nesse apêndice, Marx faz remição direta a textos de Kant e Schelling, uma das poucas vezes que cita diretamente textos desses dois filósofos do idealismo alemão, ao tratar sobre a prova ontológica de Deus.
O texto revela um jovem em sua formação intelectual, com preocupações muito distantes das que o tomarão, na maturidade; mas revela igualmente nova dimensão de seu pensamento, que auxilia na reconstituição e reapropriação de seu legado intelectual: um materialismo que se abre à liberdade. A recente publicação em português da tese de doutoramento de Marx vem auxiliar os pesquisadores e estudiosos marxianos, além de contribuir, fundamentalmente, com o aprofundamento de suas ideias e de sua figura no cenário nacional.
Moisés João Rech – Docente do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Doutorando em Filosofia pelo PPGFil-UCS. Integrante do Observatório do Direito da mesma instituição. E-mail: [email protected]
Felipe Taufer – Mestre em Filosofia e Bacharel em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Doutorando em Filosofia pelo PPGFil-UCS. E-mail: [email protected] Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-4137-9999
Música y noches de moda. Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en el siglo XIX – CLARES CLARES (PR)
CLARES CLARES, M. E. Música y noches de moda. Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en el siglo XIX. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2017. 474p. Resenha de: TEROL, E. Micó. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.195-197, 2019.
El Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia ha editado Música y noches de moda. Sociedades, cafés y salones domésticos de Murcia en el siglo XIX, trabajo imprescindible para comprender los hábitos musicales de socialización de los murcianos durante la centuria decimonónica. El mismo título, Música y noches de moda, inspirado en el lenguaje periodístico del momento, como indica la propia autora, nos sitúa en la esencia de la obra. El objetivo principal de este trabajo es estudiar la música que se generó y consumió en los salones de asociaciones culturales, casas particulares y cafés de la Murcia del siglo XIX. Estos núcleos de producción y consumo musical, extraordinariamente dinámicos, fueron también espacios idóneos para la enseñanza de la música y de la cultura en general, como ha quedado patente en el trabajo de la Dra. Clares.
El campo de investigación y ámbito de estudio de la Dra. Clares se centra en la música española de los siglos XVIII al XX, prestando especial interés a la música murciana. La prensa periódica constituye el soporte documental de mayor peso en las investigaciones de la autora -también de este estudio, como ya constató en sus trabajos La vida musical murciana en la primera mitad del siglo XIX a través de la prensa: estudio y documentario; en su Tesis Doctoral La vida musical de Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX y en diversos artículos centrados en la música teatral y en asociacionismo murciano de los siglos XIX y XX. Un minucioso vaciado de diversas colecciones y prensa periódica murciana le ha permitido recoger noticias de interés social y cultural para poder contextualizar con detalle la actividad musical de la capital murciana del Levante Español. Este sólido conocimiento del contexto y el manejo de las fuentes hemerográficas ha permitido a la autora analizar con mayor conocimiento y profundidad la socialización musical murciana. Destaca, por otro lado, la consulta al valioso archivo del Casino de Murcia, cuya documentación ha aportado a la Dra. Clares las claves para reconstruir la trayectoria de esta importante entidad murciana, todavía existente.
La obra de la Dra. Clares muestra los usos de la música de una ciudad española de la periferia, invitándonos a reflexionar sobre el enfoque reduccionista que tenemos en torno a la música española del siglo XIX. La autora examina el papel de la música en una ciudad de provincias de extraordinario dinamismo, los espacios de sociabilización del momento (cafés, salones de asociaciones y de ámbito doméstico); los hábitos de entretenimiento de la época; los gustos y la recepción del repertorio musical; la evolución de diversos géneros musicales: ópera, zarzuela, música de salón y aporta centenares de datos e información sobre composiciones de autores murcianos. La excelente idea de reproducir ilustraciones de la moda femenina de la segunda mitad del siglo XIX, como trajes sociales, nos acerca, todavía más si cabe, al ambiente de la época.
La obra está estructurada en una Introducción y tres grandes bloques, divididos en ocho capítulos: 1) La música en las sociedades culturales y recreativas (capítulos 1-3), 2) La música en los cafés (capítulos 4-5) y 3) La música en el ámbito doméstico (capítulos 6-8). El estudio se complementa con unas Conclusiones y diecinueve Apéndices. La bibliografía, los índices de Tablas, Ilustraciones, Gráficos e índices Onomástico y Toponímico cierran este magnífico estudio prologado por María Gembero-Ustárroz, Científica Titular de la Institución Milá y Fontanals del CSIC.
Esperanza Clares desgrana entre los capítulos 1-3 la trayectoria de treinta sociedades culturales y recreativas murcianas que resultan cruciales para comprender el importante papel que desempeñaron en la difusión de nuevos repertorios musicales dentro de la sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. La sociedad murciana acudía a estos espacios de sociabilización, como ocurría en otras capitales de provincia, en busca de esparcimiento pero también de instrucción. Particularmente relevantes resultaron en Murcia la Escuela de Canto y Declamación para la carrera artística y teatral italiana y española (1881-1892), que llegó a suplir la falta de un conservatorio local, la sociedad recreativa El Casino de Murcia, que contó con orquesta propia, y organizó variadísimas actividades, desde veladas-concierto hasta bailes de sociedad y el Círculo Industrial (1862-1878), denominado posteriormente Liceo (1878-1883), que fomentó la música teatral y en su seno nació, en 1873, la Escuela de Canto y Declamación Padilla. En su análisis, la Dra. Clares demuestra que este tipo de instituciones no solo fueron cruciales para entretejer redes de socialización y canalizar el recreo de la ciudadanía sino también para atender a la –cada vez mayor- demanda de enseñanza de la música. Por tanto, este tipo de asociaciones lúdico-culturales asumieron el rol fundamental de proporcionar educación musical a la sociedad, ante una debilitada capilla de música de la catedral, otrora encargada de cubrir este rol, ante la ausencia de un plan de estudios general y de ámbito nacional que incluyera la música entre sus materias obligatorias en las enseñanzas primarias e incluso ante la ausencia de escuelas municipales de música o un conservatorio oficial en la ciudad de Murcia. Así pues, se trata de un amplio estudio de la implicación de cada una de las asociaciones analizadas y se ofrece, por primera vez, un análisis del entramado de todas ellas en una misma ciudad.
En los capítulos dedicados a la Música en los cafés (capítulos 4-5), Esperanza Clares indaga en otro espacio para la sociabilización, particularmente de moda desde mediados del siglo XIX, y a los que acudía la sociedad murciana “de cualquier condición social” en busca de ocio y entretenimiento: los cafés. La autora ha podido reconstruir gracias a las noticias aparecidas en la prensa diaria cuáles eran las formaciones instrumentales más habituales en las veladas-concierto que ofrecían, sus intérpretes, las piezas musicales que se podían interpretar en días laborales o festivos, el horario habitual y la frecuencia en que solían ofrecerse estos conciertos. Mención especial tuvo el Café Oriental, inaugurado en agosto de 1875, que se convirtió en uno de los predilectos para los murcianos y en el que llegó a actuar en alguna ocasión coros de las compañías que actuaban en teatros de la capital. El capítulo dedicado a los cafés es, junto a la música en los salones particulares, una de las partes más enriquecedoras del libro, dado que aborda una temática realmente poco estudiada por la musicología española.
La celebración de veladas-concierto en salones de casas particulares y trastiendas de almacenes de música (capítulos 6-8) fue una actividad muy frecuente en la época. Se trata de reuniones sociales que ofrecían los anfitriones a amigos y familiares, y en las que se les obsequiaba con dulces y licores. Estas “soirées” o conciertos privados incluían música, bailes e incluso, en alguna ocasión, la representación de alguna zarzuela. La autora reconstruye cómo transcurrían estas veladas desde la primera que documenta en la prensa murciana en 1865. El repertorio que se podía oír en estas veladas incluía arreglos de números de ópera y zarzuela; piezas de salón (fantasías, variaciones, nocturnos, mazurcas y valses, entre otros) para piano y o armonio; música de cámara, música religiosa y música popular. Particularmente destacadas fueron las veladas ofrecidas en el almacén de música de Adolfo Gascón y en el domicilio del compositor Antonio López Almagro.
En definitiva Música y Noches de Moda es un documentado estudio de más de cuatrocientas páginas que nos traslada a las costumbres y formas de vida de Murcia en el siglo XIX. Una obra de enorme valor por su rigor científico y por las magníficas aportaciones que supone para el estudio de la música española decimonónica. Merece la pena disfrutar con su lectura.
Elena Micó Terol – Profesora de Secundaria.
[IF]
Manuais disciplinares, discursos pedagógicos e formação de professores (Séculos XIX e XX) / Revista História da Educação / 2019
Neste dossiê estão reunidos artigos em que os autores envidaram esforços para compreender os aspectos instituintes presentes nos diferentes discursos pedagógicos que fundamentaram a ideia de renovação educacional desde o final do Século XIX e durante o Século XX. Para tanto, tomam como fonte privilegiada diferentes manuais disciplinares que foram muito utilizados nos processos de formação de professores internacionalmente, ainda que a análise recaia particularmente naqueles em circulação no Brasil e em Portugal, o que ocorreu, destacadamente em Escolas Normais, mas, também, em cursos superiores de formação de professores. Nessa direção, os manuais disciplinares elencados como fonte nos diferentes artigos propostos para integrar o presente dossiê incluem os de História da Educação, Psicologia Educacional, Didática, Pedagogia e Metodologias e Práticas de Ensino.
Assim, pode-se perceber que parte considerável dos manuais disciplinares publicados em uma primeira fase, que se estende até meados do Século XX comportava um ideário cientificista, evolucionista e higienista que estava acompanhado do estabelecimento e da disseminação de um código moral laico eminentemente cívico, considerado fundamental para o progresso das diferentes nações e para o alcance dos fins gerais da Humanidade. Em um segundo momento, a ênfase recaiu na dimensão científica e crítica, o que se estende até os tempos atuais. Com certeza este esforço discursivo e formativo contido nos manuais disciplinares encontrou forte ressonância, mas também resistência, o que se espera deixar evidenciado com o presente dossiê.
O primeiro artigo que integra o dossiê recebeu o título “Os temas da evolução e do progresso nos discursos da Psicologia educacional e da História da Educação”. Foi redigido por Ana Laura Godinho Lima, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Este artigo realiza a análise de um conjunto de manuais de psicologia educacional e história da educação destinados à formação docente, cujo objetivo é identificar as aproximações e os distanciamentos entre essas disciplinas no que se refere à presença dos temas da evolução e do progresso. Incide sobre manuais publicados no Brasil entre 1934 e 1972 e inspira-se nos escritos de Foucault sobre a análise do discurso. Nos manuais dessas disciplinas, observou-se a recorrência da associação entre o desenvolvimento da criança e o progresso social, frequentemente descritos à luz da teoria da recapitulação. Essa teoria não foi, contudo, objeto de consenso, mas constituiu foco de controvérsia, representando um aspecto do debate entre educadores escolanovistas e católicos no período considerado.
Sob o título “A medicalização da Pedagogia: discursos médicos na construção do discurso pedagógico e nos manuais de formação de professores em Portugal (Séculos XIX-XX)”, António Carlos da Luz Correia, professor convidado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, apresenta um ensaio, no qual procura problematizar as modalidades por meio das quais o discurso médico foi incorporado no discurso pedagógico, naturalizando-o, no período que decorre entre o final do século XIX e as três décadas iniciais do século XX, em Portugal. Do ponto de vista empírico, recorre a pesquisas realizadas previamente, individualmente ou em colaboração com outros pesquisadores. Pretende abrir pistas para discussão da Escola e do seu papel nas transformações sociais atuais, buscando desocultar as modalidades de apagamento dos fatores sociais, culturais e políticos que intervêm historicamente nos desafios da problemática educativa escolar.
Geraldo Gonçalves de Lima e Décio Gatti Júnior, vinculados, respectivamente, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro e a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, redigiram o artigo intitulado, “Educação, sociedade e democracia: John Dewey nos manuais de História da Educação e/ou Pedagogia (Brasil, Século XX), no qual comunicaram os resultados de investigação no âmbito da História da Educação, particularmente na temática da História Disciplinar, cujo foco recaiu sobre as ideias de John Dewey disseminadas em manuais de História da Educação, com autores estrangeiros, traduzidos e publicados no Brasil, entre 1939 e 2010, que tiveram ampla circulação em escolas normais e cursos superiores de formação de professores. As fontes incluíram bibliografia de referência e doze manuais de História da Educação. Os resultados apontam para a percepção de quatro ênfases nas abordagens sobre Dewey: herança hegeliana; marcos evolucionistas; relação indivíduo/sociedade (industrial e democrática); emergência da psicologia experimental.
No artigo intitulado “As ideias de Durkheim nos manuais de História da Educação: cientificidade e moralidade laica na vida social e na escola”, Katiene Nogueira da Silva (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo) e Giseli Cristina do Vale Gatti (Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba), analisam as ideias de Durkheim contidas em manuais de História da Educação, com autores estrangeiros, publicados no Brasil entre 1939 e 2010. Perceberam que alguns manuais, apesar de não terem mencionado Durkheim diretamente, abordaram ideias próximas de seu pensamento. Os demais, que foram maioria, mencionaram Durkheim em intensidades diferentes. Neles, Durkheim foi tomado simultaneamente como fonte de informações e de análises, mas, também como portador de uma perspectiva original e influente de educação, a pedagogia sociológica. Além disso, foi possível perceber a existência de críticas a seu pensamento, provenientes, sobretudo, dos autores de manuais vinculados ao campo católico.
Vivian Batista da Silva e Denice Barbara Catani, ambas da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, fecham o presente dossiê, com o artigo intitulado, “Metáforas e comparações que ensinam a ensinar: a razão e a identidade da Pedagogia nos manuais para professores (1873-1909), no qual perguntam se estariam os manuais para professores mais próximos de um livro ou de um receituário? A partir desta questão, analisam cinco títulos publicados entre 1873 e 1909, a saber: o Compêndio de Pedagogia (Pontes, 1873); Pedagogia e metodologia, de C. Passalacqua (1887); Lições de Pedagogia, de V. Magalhães (1900); Compêndio de Pedagogia, de D. Vellozo (1907); Tratado de Metodologia, de F. Carvalho (1909). Buscaram conhecer como são feitas as referências à Pedagogia, sua razão e identidade. Nesses textos, ela aparece ora como ciência, ora como arte. Analisando as metáforas usadas para orientar os professores, é possível identificar imagens a partir das quais os saberes pedagógicos são definidos e apresentados como objetos de leitura para o magistério.
Esperamos que a leitura do presente dossiê oportunize tanto a percepção de uma temática importante relacionada aos esforços de formação de professores, no qual formas de pensar o pedagógico, as instituições escolares e a relação com a sociedade se destaquem, mas, também, por outro lado, assinalar a fertilidade em tomar os manuais disciplinares como fonte privilegiada para conhecer as finalidades pedagógicas que disputaram o público docente e presidiram sua formação desde o final do Século XIX, com avanço na quase totalidade do Século XX.
Denice Barbara Catani – Professora Titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected] http://orcid.org/0000-0001-6019-8969
Décio Gatti Júnior – Professor Titular de História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor em Educação (História e Filosofia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio de pós-doutorado concluído na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Beneficiário do Edital Pesquisador Mineiro da Fapemig. E-mail: [email protected] http://orcid.org/0000-0002-5876-6733
CATANI, Denice Barbara; GATTI JÚNIOR, Décio. Apresentação. Revista História da Educação, Porto Alegre, v. 23, 2019. Acessar publicação original [DR]
História do Brasil Império / Miriam Dolhnikoff
- A Autora
Miriam Dolhnikoff é atualmente uma das historiadoras mais atuantes no campo das pesquisas sobre o Oitocentos, direcionando sua produção em torno de temas sobre o Brasil Império como organização institucional do Estado, representação política, entre outros aspectos da história do Brasil voltados para a política nacional e o processo de organização do Estado Nacional. Também possui análises sobre elites regionais, atuação dos partidos e o processo eleitoral no período. Professora do Departamento de História na Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, graduou-se no ano de 1986 em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, concluiu o Mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo em 1993 e no ano 2000 finalizou o Doutorado na mesma universidade e programa.
É autora de importantes obras, como: O Pacto Imperial: origens do federalismo no Brasil, lançado em 2005; José Bonifácio, de 2012; e, em coautoria com Flávio Campos, o livro Atlas de História do Brasil, de 2002. Além desses, tem várias colaborações com artigos em coletâneas sobre o Brasil Império, como o texto Elites Regionais e a construção do Estado nacional, publicado na importante coletânea Brasil – Formação do Estado e da Nação (2003), e São Paulo na Independência, na coletânea Independência: História e Historiografia (2005), ambas organizadas por István Jancsó. Oferecendo uma formatação mais didática em História do Brasil Império (2017), Dolhnikoff mergulha mais uma vez no universo do Brasil oitocentista, buscando, através de temas conhecidos sobre o período, agregar seu olhar experiente e sua análise apurada.
- A Coleção História na Universidade
A obra História do Brasil Império é parte integrante da coleção História na Universidade da editora Contexto, que tem por objetivo oferecer discussões historiográficas realizadas por grandes pesquisadores em um formato didático. A coleção conta com 8 (oito) obras: História Antiga, por Norberto Luiz Guarinello; História da África, por José Rivair Macedo; História da América Latina, por Maria Lígia Prado e Gabriela Pellegrino; História do Brasil Colônia, por Laima Mesgravis; História do Brasil Contemporâneo, por Carlos Fico; História do Brasil República, por Marcos Napolitano, História Moderna, por Paulo Miceli e, por fim, História do Brasil Império, de Miriam Dolhnikoff, objeto de análise desta resenha.
A proposta da coleção História na Universidade parte do princípio de trazer para a discussão do público geral momentos importantes da História, oferecendo formatação próxima dos livros didáticos, sem perder a objetividade e credibilidade das obras historiográficas. Com linguagem acessível, abrindo mão da configuração típica da produção historiográfica atual permeada por citações, referências, notas bibliográficas e/ou explicativas e por discussões teóricas, a coleção perpassa as análises, não se valendo diretamente desses expedientes. Como exemplo aqui eleito para o exercício de análise, História do Brasil Império, de Miriam Dolhnikoff, adequa-se bem ao modelo proposto e de forma eficiente, debate, analisa e traz novas perspectivas para os temas eleitos pela autora para discutir o período imperial brasileiro.
- A obra
Em História do Brasil Império, a historiadora Miriam Dolhnikoff parte do marco cronológico da Independência em 1822, explorando, por meio de uma introdução e mais 8 (oito) capítulos, 67 anos da história imperial brasileira, elegendo, para tanto, temas caros à historiografia sobre o período. Da Independência à República, os capítulos receberam como títulos: “Independência: deixar de ser português e tornar-se brasileiro”; “Uma nova nação, um novo Estado”; “Os tumultuados anos da Regência”; “A invenção do Brasil: a vida cultural no Império”; “Conflitos e negociação”; “O fim da escravidão”; “A Monarquia e seus vizinhos”; “Abaixo a monarquia, viva a República”. Todos os capítulos possuem subtópicos, em que são explorados aspectos mais específicos aos temas trabalhados nos capítulos, também compostos por boxes, responsáveis por analisar algum tema em destaque e/ou não aprofundado no corpo do texto.
Destaca-se em torno da estrutura dos capítulos a opção pelo não uso de referências completas ou notas americanas para citar as fontes utilizadas, o que cria certa dificuldade caso algum pesquisador profissional se interesse em localizar as fontes consultadas. Entretanto, como a coleção é voltada para um público mais abrangente que inclui estudantes do ensino básico e universitários no início da vida acadêmica, é perfeitamente compreensível a ausência das indicações das fontes, o que torna, por sua vez, a leitura mais dinâmica. Muito embora suas referências estejam ausentes, as fontes são bem exploradas e variadas: de obras literárias, jornais, correspondências íntimas e oficiais a iconografias, elas dão base para as discussões desenvolvidas na obra, assim como ensejam o cuidado e o minucioso trabalho de pesquisa da autora. O livro é completado com uma sessão intitulada “Sugestões de Leitura”, onde constam, além de algumas obras utilizadas ao longo dos capítulos, outras referências para pesquisas futuras e que comtemplam/exploram os temas abordados ao longo dos capítulos.
Para ilustrar as discussões dos capítulos, Dolhnikoff traz na introdução da obra, como abertura das discussões em torno do tema do livro, o debate sobre o contexto anterior à Independência. Discutindo antecedentes da emancipação política brasileira, a autora destaca na introdução os diversos projetos de construção do Brasil, as diferenças econômicas regionais, além da heterogeneidade social em torno da qual o projeto emancipacionista gravitava. Esse processo, segundo Dolhnikoff, não contou com uma posição consensual das elites, que estavam envoltas em suas divergências e objetivos variados. No entanto, destaca pontos em comum que convergiam em torno do projeto nacional: “a continuidade da escravidão, a preservação da economia agrárias voltada prioritariamente para a exportação, a manutenção da ordem interna, em uma sociedade profundamente hierarquizada”2. Assim, para caracterizar a transição do Brasil colônia de Portugal para nação independente, Dolhnikoff enfatiza o caráter de uma (em suas palavras) “continuidade relativa”.
A autora destaca ainda, na introdução, conceitos e definições essenciais para a análise desenvolvida ao longo dos capítulos. Em primeiro ângulo, aborda a questão do liberalismo, seus princípios e doutrinas essencialmente baseados nos modelos norte-americano e europeu. Tendo como base o liberalismo, cita a questão dos direitos civis, o princípio da representação, como foram tratados no Brasil e o que significou naquele momento um governo representativo. Fazendo uma contraposição ao conceito de democracia na contemporaneidade, Dolhnikoff enfatiza o sentido de “democracia restrita” do período, fechando, então, a introdução da obra com a questão sobre a identidade nacional, tão importante para a constituição do Estado ao longo do século XIX.
- Os capítulos
No primeiro capítulo, “Independência: deixar de ser português e tornar-se brasileiro”, a autora inicia a argumentação buscando os antecedentes de 1808, a chegada da Família Real Portuguesa a então colônia e as medidas que principiaram o processo que culminou na Independência. Entre as medidas, enumera o fim do exclusivo comercial, tratados com a Inglaterra, a chegada de viajantes de outras nacionalidades, entre outras. Dolhnikoff mostra ainda duas razões para a permanência da Corte na América: primeiro, “o enraizamento dos interesses de membros da nobreza da burocracia reinol nas terras de além-mar”3; segundo, observa que “havia ainda as motivações de natureza política”4.
Destacando as tensões do outro lado do Atlântico, a autora traça o perfil dos embates que culminaram com a Revolução do Porto de 1820, a Reunião das Cortes em 1821 e as consequências geradas na então colônia como o questionamento sobre a autonomia do reino em terras americanas, a desobediência do Brasil a respeito das determinações das Cortes e a união de paulistas, fluminenses e mineiros em defesa de D. Pedro. No tópico “As disputas se intensificam”, há a análise do desdobramento dos acontecimentos que culminaram na ruptura como a aliança (provisória) de D. Pedro com as elites locais, a participação das elites nacionais no processo, a autonomia para os governos locais, as disputas entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo e a recusa dos brasileiros em jurar a Constituição portuguesa.
O processo de ruptura é analisado partindo das recusas, tendo o Pará e o Maranhão como exemplos de não adesão imediata à causa independentista. A autora busca, então, as premissas do 7 de setembro, como o Manifesto de 6 de agosto de 1822, já vislumbrando a intencionalidade da emancipação de Portugal. Nesse aspecto, cabe ressaltar que Dolhnikoff explora um documento importante e ainda pouco explorado no que se refere aos acontecimentos relativos à Independência. O Manifesto de 6 de agosto de 1822 é, segundo a autora, o “primeiro registro formal da decretação da Independência do Brasil”5.
Com base na análise dos discursos, em um interessante trecho do capítulo, a autora percebe a inversão de valores feita por D. Pedro e José Bonifácio como justificativa para o fim da relação metrópole-colônia entre Brasil e Portugal. Para ambos, “o pacto colonial era apontado como um dos instrumentos de opressão e exploração, ao impor o monopólio do comércio colonial pela metrópole”6. E continua:
Curiosa inversão, essa forma de contar a história da América lusitana era assinada pelo príncipe herdeiro da Coroa portuguesa e redigida por um homem que vivera a maior parte da vida em Portugal, integrando a burocracia lusitana e dedicando todos seus esforços para salvar o Império português da decadência7.
O capítulo encerra-se com um boxe chamado “Os habitantes do novo Império”, que resumidamente se encarrega de explorar os aspectos mais gerais da sociedade imperial, em específico, uma rápida análise sobre escravos, índios e livres pobres.
O capítulo 2, “Uma nova nação, um novo Estado”, discute o processo de organização, construção, consolidação e expansão do novo Estado nacional. Aqui a autora explora os debates do período sobre a preocupação das elites provinciais sobre a possibilidade de fragmentação do território e as razões para a manutenção da unidade territorial. Uma das razões para a manutenção dessa unidade era justamente a peça fundamental da economia colonial: a escravidão. Havia um consenso dentro das elites políticas e econômicas no pós-Independência de que a manutenção da escravidão era essencial para o sucesso do projeto de nação que estava em andamento. Outra questão era sobre o modelo de Estado a ser adotado para a recém-emancipada nação. A opção pela monarquia constitucional foi o caminho mais seguro, pois “o regime prevalecente no mundo ocidental era o representativo”8 e significou o que Dolhnikoff chamou de “transição dentro da ordem”9.
No tópico “Assembleia Constituinte” são abordadas questões que gravitaram em torno do processo de organização do governo representativo como a adoção de um modelo federativo que atribuísse autonomia provincial sem desarticular as conexões e preponderância decisória do governo central. Outro tema debatido foi a questão da cidadania e da nacionalidade, além dos critérios eleitorais para a participação da vida política do Império. Cidadania, nacionalidade e a participação no sistema eleitoral eram, assim, espécies de crivos que definiam quem de fato seria considerado brasileiro. A autora traça a diferença fundamental entre cidadania e nacionalidade para evocar o peso que o uso desses termos pelos operadores das leis teve na exclusão de parcelas importantes da sociedade de direitos fundamentais.
Ao trabalhar o processo de montagem do sistema de representação política, Dolhnikoff detalha e analisa com bastante competência os entremeios da organização política do século XIX, esmiuçando o processo eleitoral e fazendo a diferenciação entre cidadania política, cidadania civil e cidadania escrava. Traça ainda a natureza dos cargos políticos e o processo de criação do Conselho de Estado.
Sobre as atribuições e medidas do parlamento, o capítulo analisa as leis criadas no contexto da organização das premissas legais do Estado, como a Lei de Responsabilidade e a lei que criava o Juizado de Paz, ambas em 1827; o Código Criminal de 1830 e a lei de 1828 que regulamentava o funcionamento das Câmaras Municipais.
O capítulo é concluído com o tópico “Oposição ao Imperador”, dando destaque aos acontecimentos que culminaram com sua abdicação ao trono, como as divergências com as elites provinciais, a questão do tráfico negreiro e a Guerra da Cisplatina, resultando em seu retorno a Portugal em abril de 1831.
Em “Os tumultuados anos da Regência”, os anos que se seguiram à abdicação de D. Pedro são caracterizados a partir da nova organização político-administrativa estabelecida pela série de governos provisórios. Ensejados pelas reformas liberais, que discutiram a autonomia provincial, estabeleceram-se na Regência a criação da Guarda Nacional e o Ato Adicional que, dentre outras coisas, estabelecia uma série de reformas na letra constitucional de 1824. No judiciário, a maior reforma foi o Código de Processo Criminal de 1832.
O período Regencial foi caracterizado também pelos levantes populares em várias províncias, para o que Dolhnikoff apresenta dois motivos principais: o monopólio português do pequeno comércio e a imposição do recrutamento forçado. A Balaiada, Cabanagem, Revolta dos Malês e Farroupilha são apresentadas em seus contextos gerais, motivações e conclusões.
Sobre as reformas legais, são colocadas em destaque a Reforma do Código de Processo Criminal de 1841 e a Interpretação do Ato Adicional, aprovada em 1840.
Explorando a questão da política partidária no período, Dolhnikoff estabelece uma ótima contextualização e caracterização dos partidos do século XIX, definindo as diferenças entre as organizações partidárias surgidas naquele contexto e as formas partidárias contemporâneas. As definições e análises lançadas sobre o tema são, inclusive, sensivelmente elaboradas e pouco vistas nas obras historiográficas atuais dedicadas a esse aspecto da organização político-administrativa imperial. Sobre os partidos políticos, em especial os partidos Conservador e Liberal, Dolhnikoff define:
Os partidos do século XIX não tinham as mesmas características que os partidos contemporâneos. Embora cada um dos dois estivesse organizado em todo país, não havia coesão interna, programas claramente definidos, filiações oficialmente formalizadas, enfim, não tinha a organicidade dos partidos atuais. Em cada província, tanto o partido Liberal como o partido Conservador adquiriam feições específicas relacionadas às particularidades locais. Não havia diferença de origem social entre as pessoas que compunham cada um dos partidos10.
Conclui o capítulo com os episódios que culminaram com a maioridade de D. Pedro de Alcântara e um boxe que explora a questão da expansão cafeeira.
A vida cultural brasileira no Oitocentos é explorada no capítulo “A invenção do Brasil: a vida cultural no Império”, abordando a vida cultural como parte do projeto de construção do Estado através da busca de uma identidade nacional. A fonte de análise desse aspecto da vida imperial brasileira é primordialmente a literatura, a poesia e a produção historiográfica e científica. A busca por essa nacionalidade foi feita através de movimentos literários como o romantismo e o indianismo e esteve permeada pela produção literária de Joaquim Manoel de Macedo e José de Alencar, cujo tema principal de seus escritos era a questão da escravidão.
A História como disciplina subsidiada com a criação do IHGB e o pioneirismo de Adolfo Varnhagen, a Geografia, a Etnologia e suas contribuições para a busca da identidade nacional brasileira, são temas ligeiramente investigados no capítulo. Estão presentes na análise também a questão do embate entre ciência e costumes, as práticas populares africanas, a atuação das irmandades e a renovação cultural experimentada a partir da década de 1870, com as contribuições de uma literatura menos romântica de Machado de Assis e o naturalismo-realismo de Aluísio Azevedo. Uma necessária discussão sobre a participação da imprensa na época e sua influência na opinião pública foi eleita para compor o boxe, fechando o capítulo.
“Conflitos e Negociação” discute as disputas entre grupos das elites provincial e o poder central durante o Segundo Reinado. Dolhnikoff traz a caracterização da monarquia constitucional e as especificidades do Brasil. As eleições e todo seu processo representava uma preocupação para os grupos das elites, uma vez que manter sua representação e não permitir a influência das “paixões populares” era objetivo primordial. Mais uma vez, Dolhnikoff explora as questões políticas com maestria, esmiuçando, analisando e trazendo dados para traçar perfil político do Brasil, agora na segunda metade do século XIX.
Para as elites políticas, a possibilidade da abertura à participação política das classes menos favorecidas era um temor a ser combatido, pois representava uma ameaça ao equilíbrio representado pela monarquia. Como ponto de apoio, D. Pedro II figurava como o árbitro das questões que norteavam o Legislativo por meio do poder moderador. O imperador, por sua vez, não exercia um poder centralizador ao extremo, precisando negociar as vagas para os ministérios com os partidos Liberal e Conservador.
Ao discutir cidadania e eleições, partidos e ministérios, a autora faz um passeio interessante e bem fundamentado sobre as questões que norteavam o processo eleitoral e a participação dos partidos na organização do sistema político brasileiro. Como característica do processo, vigoravam as fraudes eleitorais que geravam o clientelismo e ao mesmo tempo era alimentado por este. Dolhnikoff passa a traçar o perfil do eleitor da segunda metade do século XIX e o problema da participação social no processo, e como o judiciário e o legislativo limitavam o acesso de determinadas classes por meio da restrição do sentido do termo “cidadania”. Em meio a esse processo, desenrolava-se a alternância de poder entre os partidos, a atuação em conjunto de liberais e conservadores no Ministério da Conciliação em 1853 e o aparecimento da Liga Progressista.
Na última parte do capítulo, há uma apurada análise das leis eleitorais durante o Segundo Reinado e a interpretação de sua aplicabilidade pelos partidos, além das incompatibilidades dos projetos dos partidos diante da realidade palpável do Império. Discussão importantíssima e bem elaborada. Fechando o capítulo, há um resumido boxe sobre as revoltas no Segundo Reinado.
O capítulo 6, “O fim da escravidão”, busca as motivações que culminaram na Lei Áurea. Em primeiro plano, a influência e pressão inglesa, seus interesses e todo o processo, desde o Tratado de 1825, o Bill Aberdeen e o fim do tráfico negreiro em 1854. Prosseguindo a análise, relata os primeiros passos do movimento abolicionista e o processo de mudança de mentalidade da sociedade brasileira aliada ao processo de modernização, importantes para o fim da escravidão.
A decisão de uma libertação gradual através das leis e as discussões pró e contra o fim da escravidão contrastavam com a falha na aplicação das leis em uma sociedade cada vez mais preocupada com suas perdas econômicas. Todo esse processo levaria à radicalização do movimento abolicionista em sua luta por uma abolição imediata, a assinatura da Lei Áurea e um novo planejamento, agora em torno da mão de obra de imigrantes europeus, para a substituição dos escravos nos postos de trabalho. Os imigrantes, aliás, são o tema do boxe de encerramento do capítulo.
O penúltimo capítulo, “A monarquia e seus vizinhos”, trata da política externa brasileira como uma das estratégias de consolidação do Brasil como Estado Nacional e sua tentativa de atuação preponderante em relação aos países vizinhos da América Latina.
Os projetos nacionais incluíam as disputas por territórios e pela supremacia brasileira no continente por meio da Guerra da Cisplatina (1825-1828), a Guerra Grande (1839-1852) e a Guerra do Paraguai (1865-1870). A descrição dos fatos que narram as rivalidades entre os países envoltos nos conflitos, a visão diplomática do Brasil sobre os vizinhos e as dificuldades das guerras e suas consequências são o centro da discussão do capítulo. Para o boxe de encerramento, o tema eleito foi a política para o comércio externo.
No último capítulo, “Abaixo a monarquia, viva a República”, Dolhnikoff explora o contexto das décadas finais do século XIX, a crise da monarquia e a ascensão do modelo republicano. A autora apresenta a monarquia como um projeto da elite, símbolo de um projeto nacional benéfico até o momento em que as classes abastadas tinham seus objetivos atendidos e ganhos garantidos. Em um balanço geral da monarquia, resume:
A monarquia criou mecanismos de controle e legitimação, de modo que a sociedade profundamente hierarquizada, com formas de acesso a bens, participação, direitos e privilégios extremamente desiguais, com parte da população na condição de escravos, tivesse algum grau de coesão que permitisse sua transmudação em comunidade nacional. Assim, o regime monárquico mostrou-se eficaz como projeto da elite dirigente para preservar a ordem escravista, a desigualdade social e ao mesmo tempo, criar laços simbólicos e políticos entre os diversos setores sociais que garantissem certa estabilidade11.
A análise volta-se para os fatores que propiciaram a ampliação das ideias republicanas e o questionamento do modelo monárquico, como o crescimento do número de cidades. A urbanização crescente das décadas finais do século XIX não proporcionou uma superação da vida rural, mas trouxe em seu lastro um importante crescimento populacional e a diversificação das atividades desenvolvidas nas províncias mais importantes do Império. A diversificação profissional também proporcionou uma diversidade social que obrigava a coexistir em um mesmo espaço “escravos e livres […] negros, pardos e brancos, membros da elite, inclusive agrária, setores intermediários, livres e pobres habitavam as cidades”12.
A infraestrutura dessas cidades recebeu melhorias, em um processo de modernização do sistema de transporte e mobilidade urbana, com a chegada dos bondes na zona urbana e interligando localidades com as ferrovias; no sistema de iluminação com os lampiões a gás e eletricidade; o fornecimento de água por meio de canos e em domicílio; e a revolução do telégrafo, facilitando a comunicação entre várias cidades dentro do país e localidades no exterior.
Para Dolhnikoff, quanto mais se expandia as possibilidades oferecidas pela cidade, mais diversificava o perfil da população. Assim, como vitrine das mudanças que viam a monarquia como algo aquém da modernidade que se avizinhava, “a diversificação da população urbana, em todos os seus matizes, gerava novas visões, demandas e comportamentos em relação a questões fundamentais como a escravidão, o sistema representativo e a organização política”13.
Somava-se a essas transformações, a fundação do partido Republicano Paulista em 1873 e o descontentamento dos cafeicultores do Vale do Paraíba com a falta de políticas do governo para a expansão do produto mais importante da pauta de exportação do país. Os investimentos em outras províncias também desagradavam os cafeicultores paulistas, que consideravam São Paulo a província mais importante economicamente do Império. Conjeturou-se até em um movimento separatista de São Paulo que, no entanto, não teve tanta força. Então, uniu-se a insatisfação paulista ao movimento republicano que ganhou força a partir de 1870. O partido Liberal aderiu ao movimento no mesmo ano. Durante essa década e na seguinte, clubes republicanos e jornais ligados ao movimento multiplicaram-se. Encerrar a monarquia e instaurar uma república estava na ordem do dia. A partir de então, Miriam Dolhnikoff passa a analisar as estratégias pelas quais se pensou para instaurar a República. Uma delas, a corrente evolucionista, via no processo pacífico e gradual a melhor maneira para a mudança do sistema político, pois, a República:
Viria com o tempo, a partir de um programa reformista a ser encaminhado no Parlamento e por uma política de convencimento gradual dos vários setores sociais, que tornaria a transição pacífica porque desejada por todos. Uma transição dentro da ordem, sem convulsões sociais14.
Uma corrente minoritária, a revolucionária, via pela revolução e violência o método mais eficaz para a instauração do novo regime. Nesse clima de discussões sobre o futuro político do país, um novo elemento é agregado ao conjunto dos fatos. O exército, a partir da década de 1880, passou a buscar a concretização de seus objetivos corporativos, com militares concorrendo a cargos na Câmara dos Deputados e Senado.
Miriam Dolhnikoff faz uma eficiente e detalhada análise do conjunto de fatores que levaram os militares às esferas de poder político-administrativo e, consequentemente, a serem os responsáveis pela Proclamação da República. Com base na narrativa dos acontecimentos que culminaram no 15 de novembro de 1889, encerra o capítulo e suas análises sobre o fim do Império. Um mapa que acompanha o final do capítulo fica responsável por mostrar as mudanças nas unidades administrativas brasileiras ao longo do século XIX, obedecendo também à cronologia eleita pela autora para desenhar o quadro geral do período imperial brasileiro na qual se dedica a obra, ou seja, de 1822 a 1889.
- Temas em destaque
Ao fim de cada capítulo, a autora fez a opção por ilustrar subtemas relativos à discussão central por meio de boxes. Seis dos oito capítulos da obra seguem esse padrão de encerramento, exceto os capítulos 2 e 8. Boxes em geral são recursos largamente utilizados em livros didáticos e têm a função de comunicar e dar destaque a respeito de determinados aspectos paralelos ao tema central do capítulo. Dolhnikoff também elege temas transversais na utilização desse recurso, mas que auxiliam, de forma didática, a finalizar o tema proposto pelo capítulo. Os temas enquadram, por outro lado, discussões indispensáveis e recorrentes na historiografia sobre o período, como a sociedade, a economia, a imprensa, as revoltas populares, os imigrantes e o comércio exterior. Talvez tenham sido alternativas à ausência de notas de rodapé explicativas, inexistentes no texto ou por opção da autora ou pelo formato escolhido para o livro. Assim, questões que ficam em suspenso no corpo do texto principal ganham aí espaço e destaque, agregando uma discussão a mais ao tema central.
O primeiro boxe no capítulo 1 ganhou por título “Os habitantes do novo Império” e encarrega-se de discutir a formação da sociedade monárquica brasileira, dando destaque à contribuição dos escravos, homens livres pobres e indígenas. A autora traz informações sobre a função social/econômica de cada um desses estratos sociais, local de atuação/morada, ocupação e a especificação sobre como ou se as leis tratavam desses indivíduos. Ilustrado por uma iconografia de Johann Moritz Rugendas, de 1835, o boxe traz ainda perspectiva percentual desses grupos sociais no Brasil na primeira metade do século XIX.
No capítulo que explora os embates das Regências, ficou em destaque a questão da expansão cafeeira. Adiantado à discussão contida no capítulo sobre a escravidão, a autora enfatiza o crescimento da cultura do café em comparação ao plantio do açúcar e sua importância para a economia nacional. O café foi, dentre outras coisas, uma das razões para alavancar São Paulo como uma das províncias mais importantes do Império em meados do Oitocentos. A produção de café no Vale do Paraíba e em outras regiões da província ajudou a transformar não apenas São Paulo, mas o sudeste no novo eixo econômico do país. A construção de uma infraestrutura com estradas e ferrovias foi realizada quase que exclusivamente para atender a demanda dos cafezais. A questão da mecanização da lavoura e a consequente gênese de sua modernização tiveram como subsídio as necessidades dessa lavoura, em especial pelo fim do tráfico negreiro em 1850. O café não significou grandes mudanças na natureza econômica do Brasil, mas introduziu novos elementos na agricultura praticada no país.
Para ilustrar os principais fatores que contribuíram para a construção cultural do Brasil, o boxe “Imprensa e Opinião Pública” estabelece a imprensa como “uma importante forma de manifestação cultural e política ao longo da monarquia”15. Por ser um dos principais veículos de circulação de ideias, os jornais participavam ativamente dos acontecimentos, ajudando a “difundir cultura e discutir política”16. Não apenas os jornais, mas também revistas tinham o poder de formatar uma opinião pública e foram fundamentais em momentos importantes da história do país. Dolhnikoff define seus redatores a partir de suas ocupações: eram além de jornalistas, padres, romancistas, advogados.
A autora sinaliza uma informação importante: “a imprensa brasileira no século XIX teve seu conteúdo e formato vinculado às concepções políticas do liberalismo, no sentido de construir uma nova ordem que se distinguia em muitos aspectos do Antigo Regime”17. Certamente, ela se refere especificamente à imprensa atuando no pós-Independência. Os jornais ocupavam, por isso, um espaço precioso na vida da sociedade em geral. Era, dessa forma, “parte da constituição dos espaços públicos”18, formadores da opinião pública nacional.
Dito isso, Dolhnikoff parte para analisar a importância desses periódicos para os partidos políticos do período. Desse modo, enfatiza a questão da parcialidade jornalística, uma vez que cada partido possuía seus próprios periódicos, um grande contraste com a suposta imparcialidade do jornalismo na atualidade. Trazendo uma definição geral sobre o papel da imprensa, a autora enumera:
Os jornais eram meio de angariar apoios e expressar repúdios, além de fazer circular ideias e fatos políticos, atos e decisões governamentais. A função de jornais e a edição de panfletos, a publicação de artigos e a realização de debates, sob novo regime, integraram o cotidiano da nova nação.
Ilustrando o boxe com a imagem de Francisco de Paula Brito, editor do jornal O Homem de Cor, publicado em 1833, há o destaque para a imprensa voltada para as questões que norteavam a escravidão negra. Os escritores/editores negros não eram presença maciça nos periódicos que circulavam à época, mas o tema da escravidão, do preconceito e a situação dos negros no Brasil eram discutidos em jornais como O Brasileiro Pardo e O Crioulinho, que Dohnikoff define como “imprensa negra”.
A função de entretenimento da imprensa fica por conta da publicação de romances, folhetins e contos, assim como artes em forma de imagens e caricaturas que ilustraram desde um momento satírico a uma crítica política.
Para o capítulo “Conflitos e Negociação”, o boxe dedica-se a discutir as revoltas no Segundo Reinado. Aqui se desfaz a ideia de pacificidade do pós-período Regencial. O texto principal menciona como uma das principais revoltas do período a Praieira, fica a cargo do boxe evidenciar outras manifestações de bases populares que ocorreram nas províncias.
Entre elas, a revolta contra a Lei do Registro Civil, conhecida como Guerra dos Marimbondos, em Pernambuco, e Ronco da Abelha, na Paraíba, mas que atingiu também lugares como Alagoas, Sergipe e Ceará. Contra a alta dos preços de gêneros de subsistência, eclodiu ainda a revolta do Quebra-Quilos, que atingiu as províncias da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, de outubro de 1874 a fevereiro de 1875. Essas revoltas evidenciaram as tensões entre povo e Estado e mostraram um lado não tão pacífico do reinado de D. Pedro II.
“Imigrantes para substituir escravos na cafeicultura” retoma a discussão final do capítulo sobre o fim da escravidão e introduz um resumo sobre a mão de obra de emigrantes europeus no Brasil. O fim do tráfico negreiro em 1850, a insuficiência do tráfico interprovincial, a dificuldade de contar com a mão de obra de pobres livres e a mentalidade sobre o trabalho manual exigiam outra saída para a questão do trabalho nos cafezais.
Assim, partindo do princípio de que a lógica do trabalho assalariado não era a vigente/aceitável no Brasil naquele momento, os cafeicultores do Oeste Paulista fizeram vir imigrantes de vários países europeus para trabalhar sob um sistema de contrato. Para tanto, eram oferecidos aos imigrantes como uma forma de atrativo, “50% dos lucros obtidos com a venda do café produzido por ele”19 e empréstimos para pagar despesas da viagem e demais gastos. Dolhnikoff registra o fracasso da iniciativa nas primeiras tentativas. A impossibilidade de cumprimento imediato do contrato e o tempo de espera entre o plantio e o lucro geravam prejuízos aos imigrantes, provando a ineficácia daquele empreendimento.
Na década de 1880, o financiamento da imigração pelo Estado foi a saída para o logro da iniciativa, responsável, dessa vez, pela chegada de milhares de imigrantes, em grande parte de origem italiana, para trabalhar nos cafezais do Vale do Paraíba.
No último boxe, Miriam Dolhnikoff ocupa-se da política para o comércio externo como encerramento das discussões do capítulo “A Monarquia e seus vizinhos”. Está em destaque aqui os tratados comerciais feitos entre o Brasil e Inglaterra, principal fornecedora de gêneros manufaturados, grande interlocutora diplomática e enfaticamente interessada no mercado consumidor brasileiro. A autora concentra-se na gradual mudança de postura do Brasil em relação às imposições diplomático-comerciais dos ingleses, além das desvantagens na assinatura dos acordos para o Brasil. Enfrentar a hegemonia britânica através da não renovação de tratados e o questionamento do valor das taxas de importação foi uma das maneiras do governo brasileiro sublinhar a soberania nacional. Dentre as medidas protecionistas, o boxe dá destaque à Tarifa Alves Branco, mecanismo utilizado até o final da monarquia para proteger a economia nacional.
- Considerações finais
História do Brasil Império é uma obra bem elaborada que cumpre com os objetivos da coleção a qual faz parte. Miriam Dolhnikoff usa de sua experiência e conhecimento para compor uma narrativa acessível e bem elaborada. Os temas que enquadram os capítulos são facilmente identificados por um público leitor leigo ou mesmo para um público mais especializado. Transitar entre os dois universos sem parecer aquém ou além para ambos os leitores pode ser considerada uma tarefa complexa, mas que é bem alcançada pela obra. Considerando que vigora na academia, e para parte considerável dos historiadores, a feitura de uma produção que na maioria dos casos é pouco acessível às mentes não especializadas em análises historiográficas, a obra de Dolhnikoff mostra exatamente o contrário. Dialogar com um público geral e não restrito significa transpor os muros, os preconceitos e as limitações do universo acadêmico. História do Brasil Império tanto pode ser adotada por um professor do ensino superior para discutir questões pontuais sobre o período com seus alunos, como pode ser um excelente auxiliar de um professor do ensino básico interessado em levantar debates para além do conteúdo dos livros didáticos.
Nesse sentido, como historiadora, Miriam Dolhnikoff cumpre uma função social importante ao tornar acessível à sociedade em geral um conhecimento que a ela pertence e que não pode ficar restrito aos muros da universidade. Mais que isso, a obra em questão ensina ultrapassando os limites da simples descrição dos fatos, ainda presente de forma tão insistente nos livros didáticos. A autora narra, analisando os acontecimentos; não se prende a cronologias, mas as utiliza nos momentos necessários e em favor da análise; mostra novos ângulos de temas já cristalizados pela historiografia tradicional, insere as fontes, enriquece o debate. Tudo isso permeado por uma linguagem fácil e bem elaborada.
Sem notas americanas, notas de rodapé explicativas, referências às fontes ou longas teorizações, Dolhnikoff permite o texto fluir, sem abrir mão da objetividade da análise. As fontes, bem escolhidas, variadas e inseridas em momentos pontuais, funcionam como aprofundamento das análises. Assim, uma obra com um viés mais didático, não abre mão das características de uma boa produção historiográfica e apresenta esse importante período da história brasileira com competência.
Notas
- DOLHNIKOFF, Miriam. História do Brasil Império. São Paulo: Contexto, 2017. p. 09.
- DOLHNIKOFF, op. cit., p. 16.
- Ibid, p. 17.
- Ibid., p. 28.
- Ibid, p. 27.
- Idem.
- Ibid, p. 33.
- Ibid.
- DOLHNIKOFF, op. cit., p. 65.
- DOLHNIKOFF, op. cit., p. 153-154.
- Ibid., p. 155.
- Ibid., p. 156.
- Ibid., p. 164.
- DOLHNIKOFF, op. cit., p. 83.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- DOLHNIKOFF, op. cit., p. 130.
Edyene Moraes dos Santos – Universidade Federal do Maranhão. Doutoranda UNESP-Assis. São Luís, Maranhão, Brasil. E-mail: [email protected].
DOLHNIKOFF, Miriam. História do Brasil Império. São Paulo: Contexto, 2017. Resenha de: SANTOS, Edyene Moraes dos. Sobre “História do Brasil Império” de Miriam Dolhnikoff: análise e considerações. Outros Tempos, São Luís, v.16, n.27, p.342-357, 2019. Acessar publicação original. [IF].
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito / Marco Morel
Fruto de mais de quinze anos de pesquisa, o novo livro de Marco Morel busca tratar das repercussões da Revolução do Haiti no Império do Brasil. Com as lentes voltadas aos setores livres, e não aos escravizados da sociedade brasileira, Morel demonstra aos leitores que em pleno Brasil escravista também floresceram visões positivas ou, ao menos, não completamente negativas acerca dos eventos ocorridos na antiga colônia francesa. Para tanto, o historiador postula a existência de um “modelo de repercussões não hostis”, composto de quatro elementos: “soberania nacional”, “soberania popular”, “antirracismo” e “crítica à escravidão”.
O estudo cobre o intervalo de 1791 a 1840, dividido em dois momentos. O primeiro inicia-se em 1791, isto é, com o começo da revolução escrava em Saint-Domingue, e finaliza-se em 1825, ano considerado por Morel como o marco final do processo revolucionário, pois foi quando a França reconheceu a independência do Haiti. Já o segundo percorre o intervalo c.1800-c.1840 e refere-se especificamente à formação e consolidação do Estado nacional brasileiro. No que diz respeito às fontes, o autor valeu-se de uma gama variada: documentação oficial, folhetos, periódicos e livros brasileiros, franceses e haitianos escritos e publicados coetaneamente ao período analisado.
O livro é dividido em três partes bem delimitadas. Na primeira, o historiador traça um balanço dos eventos que tomaram a ilha de São Domingos em 1791, destaca os principais personagens e suas ações, mas igualmente os conflitos internos entre os revolucionários, oferecendo ainda um levantamento resumido das cinco primeiras constituições haitianas (elaboradas entre 1801 e 1816) que, apesar de suas diferenças, tinham em comum o “repúdio à escravidão […] a defesa da propriedade e da agricultura”. O enorme esforço de síntese dessa parte originou-se da preocupação específica em situar o leitor não especializado no tema, fornecendo-lhe as balizas referenciais para a compreensão do restante do livro, onde, efetivamente, cumpre-se o objetivo anunciado da obra.
Na segunda parte, “Entre batinas e revoluções”, Marco Morel apresenta então as reflexões de Raynal, Grégoire e De Pradt, três abades franceses, que viveram a Revolução em seu país e acompanharam cuidadosamente os eventos em São Domingos. Antes mesmo da insurreição dos escravos, Raynal sugeriu que um Spartacus negro poderia levantar-se na massa dos escravizados (Toussaint L’Ouverture, um dos líderes icônicos da Revolução do Haiti, chegou a declarar que era essa personagem). Gregóire, o mais radical entre eles, figura atuante na Revolução Francesa, apoiou abertamente o movimento dos cativos e reconheceu publicamente a independência do Haiti antes mesmo do Estado francês. Para o último, se a escravidão fosse a termo, o processo não deveria ser controlado pelos escravos. As ações que culminaram na criação do Haiti foram vistas por De Pradt como um “não-exemplo”. Não à toa ele foi o mais conhecido entre os historiadores do Brasil oitocentista. Embora houvesse diferenças marcantes entre eles, o que os ligava era tanto a percepção de que a escravidão “caminhava inexoravelmente para a extinção” quanto o fato de participarem “da fundação de linhas interpretativas” sobre a Revolução do Haiti. Suas formulações chegaram aos mais diversos quadrantes, pois “havia um campo político e intelectual com áreas de interseção de ambos os lados do Atlântico”, que contribuiu para que alguns clérigos brasileiros concebessem interpretações sobre os eventos haitianos.
O relacionamento das “experiências históricas tão disparares como a unitária monarquia escravista brasileira e a república construída por ex-escravos” efetiva-se no campo da história das ideias. Ao analisar as manifestações de cinco clérigos brasileiros, elaboradas nas três primeiras décadas dos oitocentos, Morel constatou notável semelhança entre elas e os trabalhos de Grégoire, isto é, havia a condenação da escravidão e o apoio à revolução escrava em curso, na medida em que ela destruía a dominação senhorial. Os religiosos também se posicionavam contra as diferenciações raciais que a instituição originava; no entanto, não se perfilhavam ao abolicionismo ou muito menos à violência da prática revolucionária cativa tal como ocorreu em Saint-Domingue. No “modelo de repercussões”, claro está, esse grupo manifestou a crítica da escravidão e o sentimento antirracista. Entre os casos, vale citar o do monsenhor Miranda, sem dúvida, o mais emblemático. O clérigo manteve correspondências tanto com De Pradt como com Grégoire. Em 1816, Grégoire chegou a enviar a Miranda, por intermédio de Joachim Le Breton, chefe da Missão Artística Francesa, livros de sua autoria que continham claro apoio à Revolução Haitiana e recebeu na França publicações do monsenhor Miranda. Essa troca de cartas, nas palavras de Morel, demonstrava que “os caminhos da Revolução do Haiti no Brasil poderiam ser intermediados, sinuosos e surpreendentes”.
É na terceira parte do livro que o historiador apresenta as demais faces do “modelo de repercussões” dos eventos de Saint-Domingue em terras brasileiras. A Revolução do Haiti, ao conquistar a segunda independência do jugo colonial na América, foi valorizada enquanto exemplo de soberania nacional. Por esta razão, chegou a aparecer como recurso discursivo nas falas dos deputados brasileiros tanto nas Cortes de Lisboa (1821-1822) quanto nas primeiras legislaturas nacionais. Na mesma senda, a experiência da independência haitiana foi louvada nas páginas do Correio Braziliense, da Gazeta do Rio de Janeiro e do Reverbero Constitucional Fluminense, periódicos de orientações políticas diversas. Se a independência era elogiada, consoante ao momento político de separação com Portugal que o Brasil vivia, a abolição da escravidão não recebia a mesma apreciação dos contemporâneos e, na maior parte das vezes, sequer era discutida.
Esse ímpeto coube a uma figura pouco conhecida na historiografia: Emiliano Mundurucu, pardo, republicano, antiescravista e comandante do Batalhão dos Pardos. A ele é atribuída a autoria das quadras cantadas nas ruas de Recife, em 22 de junho de 1824, que evocavam a figura de um heroico Henri Christophe e conclamava a população na defesa da Confederação do Equador e na luta contra o branco opressor. A tentativa de levante, que previa a participação dos setores subalternos não-escravizados, malogrou, mas representou, segundo Morel, uma genuína repercussão do caráter da soberania popular presente entre os rebeldes de São Domingos.
Assim concebido e estruturado, é possível afirmar que o livro foge às linhas gerais da historiografia sobre o tema, que, ao tratar das repercussões do fim da escravidão e da formação do Haiti independente no Império do Brasil, sempre salientou o receio contemporâneo a respeito do haitianismo, isto é, de que uma ação escrava tão intensa quanto aquela ocorrida no Caribe francês se reproduzisse nos trópicos. [2] O trabalho de Marco Morel, portanto, inova e avança consideravelmente na compreensão do objeto, demonstrando a sua complexidade. Assim, “o que não deve ser dito”, subtítulo do livro, é aquilo que foi historicamente silenciado na sociedade brasileira. [3]
No entanto, nesse caso em específico, para que se possa adequadamente compreender o não dito é necessário atentar ao seu inter-relacionamento com as forças políticas, sociais e econômicas que construíram o Estado imperial brasileiro. O enorme esforço em lançar luz sobre as percepções positivas acerca dos eventos haitianos fez com que o autor deixasse na obscuridade as condições materiais mais amplas nas quais essas percepções erigiram-se. O Estado brasileiro formou-se na primeira metade do século XIX em inter-relação estreita com os interesses agrário-escravistas que, notadamente no Centro-Sul do Império, a partir dos complexos cafeicultores com ampla utilização do braço escravo, agigantaram-se em importância justamente devido ao vácuo produtivo aberto no mercado mundial de café na esteira da ação dos escravos de Saint-Domingue. [4] A par dessas condições materiais que ligaram Brasil e Haiti no alvorecer do século XIX, é possível compreender os motivos pelos quais as visões positivas sobre a Revolução Haitiana, mesmo aquelas que evocavam a soberania nacional, terem sido elididas na história e, posteriormente, na historiografia: assimilá-las organicamente poderia implicar na contestação sistêmica ou mesmo na erosão da ordem escravista que começava a se fundar em bases nacionais.
Notas
- Veja-se, dentre outros: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; SOARES, Carlos Eugênio; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil e escravista: outras margens do Atlântico negro. Novos Estudos, n. 63, p.131-144, 2002; MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817: estruturas e argumentos. São Paulo: Perspectiva, 1972. O haitianismo também foi utilizado como recurso retórico nos debates travados na imprensa brasileira entre os grupos políticos adversários nos anos da Regência. Cf. EL YOUSSEF, Alain. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios, 2016, p.144-150 e p.173-177.
- Nesse sentido, valem as reflexões de Michel-Rolph Trouillot, uma inspiração imediata para o livro de Morel: An Unthinkable History: The Haitian Revolution as a Non-event. In: TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing the Past: power and the production of history. Boston: Beacon Press, 1995. p.70-107.
- Sobre a mútua formação do Estado nacional brasileiro e da classe senhorial escravista: MATOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema: formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1987. Sobre as possibilidades abertas no mercado mundial do café em virtude da revolução dos escravos: MARQUESE, Rafael; TOMICH, Dale. O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial, v. 2: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.339-383. Nos anos subsequentes (1823-1839) o volume da produção cafeeira do Brasil era tamanho que foi capaz de criar uma baixa internacional nos preços da rubiácea, popularizando em demasia seu consumo, sobretudo no mercado norte-americano, de longe, o principal comprador do café brasileiro. Cf. PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1781-1846. 2015. Tese (Doutorado em História Social)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 323-327.
Bruno da Fonseca Miranda – Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, SP, Brasil. [email protected].
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.Resenha de: MIRANDA, Bruno da Fonseca. Os ecos elididos da Revolução do Haiti no Brasil. Outros Tempos, São Luís, v.16, n.27, p.358-361, 2019. Acessar publicação original. [IF].
Entre a espada, a cruz e a enxada: a Colônia Militar de Caseros no norte do Rio Grande do Sul (1858-1878) | J. C. Tedesco e A. A. Vanin
Na obra Entre a espada, a cruz e a enxada: a Colônia Militar de Caseros no norte do Rio Grande do Sul (1858-1878), João Carlos Tedesco e Alex Vanin remontam, a partir de leves vestígios, a curta existência da Colônia Militar de Caseros, situada, em parte, no atual município de Lagoa Vermelha, e no município de Caseros – que leva ainda o nome do núcleo colonial e militar –, no estado do Rio Grande do Sul.
Trata-se de um estudo inédito sobre o tema, minucioso e detalhado, pautado em documentação primária, que busca localizar e situar a Colônia Militar de Caseros na formação histórica da região, articulando a presença indígena à formação de uma colônia. Nota-se que há um silenciamento sobre essa experiência, tanto na historiografia quanto na memória regional, entretanto, nas recentes disputas pela posse da terra envolvendo diferentes sujeitos, há indícios de ocupação remota, que remontam ao período da Colônia Militar, embora descontextualizados e jogando a favor de interesses específicos. Leia Mais
Da senzala ao palco: canções escravas e racismo nas Américas (1870-1930) – ABREU (Tempo)
ABREU, Martha. Da senzala ao palco: canções escravas e racismo nas Américas (1870-1930). Campinas: Editora Unicamp, 2017. 462 p.p. (Coleção Históri@ Ilustrada). Resenha de: SOUZA, Sívia Cristina Martins. Canções escravas, trânsitos musicais atlânticos e racismo nas Américas. Tempo, v.25 n.1 Niterói jan./abr. 2019.
Os estudos sobre escravidão no Brasil passaram por transformações significativas a partir dos anos 1980, fruto do diálogo travado com uma historiografia internacional renovada, mas também impulsionados pelo fortalecimento dos movimentos negros; pelas ações públicas de combate ao racismo; pela compreensão sobre as lutas políticas, sociais e raciais; e pela disseminação das noções de diversidade cultural e racial. Essa historiografia desde então tem investido no enfrentamento de alguns desafios, entre uma série de outros: o de mostrar que os debates sobre as expressões culturais não podem prescindir de entender os embates sobre a questão racial nelas contidos, bem como a necessidade de denunciar as falácias contidas em mitos, visões e modelos interpretativos que por muito tempo deram o tom dos trabalhos nesta área.
Se os anos 1980 são referenciais para os estudos sobre escravidão, os anos 2000 marcam a emergência dos estudos sobre o pós-abolição e a constituição de um campo historiográfico que apresenta peculiaridades, apesar de sua íntima e reconhecida relação com a história social da escravidão e do processo de abolição.
Os diálogos travados entre a historiografia norte-americana e a brasileira sobre a escravidão e o pós-abolição não são recentes, mas tomaram rumos diferentes nas últimas décadas, em decorrência de algumas constatações. Entre elas destaca-se o reconhecimento de que, a despeito das especificidades dos sistemas escravistas e dos processos de abolição nos Estados Unidos e no Brasil, existem conflitos e experiências dos escravizados e libertos nas Américas que podem ser aproximados, desde que utilizadas metodologias e fontes adequadas, o que significa admitir a impossibilidade de pensar a diáspora africana a partir de histórias isoladas ou desconectadas.
Tal percepção tem ensejado um retorno às abordagens comparativas que já haviam alimentado alguns debates sobre instituições, culturas e organizações sociais nos anos 1940 e 1970, mas foram negligenciadas com a rejeição dos estudos dessa natureza pela historiografia norte-americana e, na historiografia latino-americana, pela concentração em estudos locais (Klein, 2012, p. 95).
A busca por novos procedimentos de análise para pensar problemas, definição de objetos de pesquisa e modos narrativos tem levado os historiadores a questionar a eficiência da própria História Comparada no seu projeto de superação dos limites da perspectiva nacionalista. A necessidade de considerar a nação mais um (e não o mais importante) fenômeno a ser elucidado, e as comparações entre nações mais como temas do que como métodos, tornou-se um objetivo perseguido em trabalhos desenvolvidos em diferentes perspectivas, tais como as Histórias Atlânticas, as Histórias Globais, as Histórias Conectadas, as Histórias Cruzadas e as Histórias Transnacionais (Barros, 2014, p. 280).
Analisar as identidades negras culturalmente híbridas e dinâmicas da diáspora, construídas a partir da memória do trauma original da escravidão e dos desdobramentos do pós-abolição com suas vivências de violência racial e racismo, é o objeto do trabalho referencial de Paul Gilroy intitulado O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência (2001). No prefácio à edição brasileira dessa obra, Gilroy sugere que o conceito de Atlântico Negro muito teria a ganhar se a ele fossem incorporados o Atlântico Sul e suas múltiplas configurações culturais (Gilroy, 2001, p. 16).
Da senzala ao palco: canções escravas e racismo nas Américas (1870-1930), o mais recente livro de Martha Abreu, é uma resposta muito bem-sucedida a esse desafio. Trata-se de um trabalho que abre novas possibilidades para os estudos das culturas e identidades negras no Brasil, em diálogo com os Estados Unidos, e insere o nome de sua autora de maneira definitiva numa historiografia de perspectiva atlântica ao lado de nomes como Micol Seigel, Denis-Constant Martin, Robin Moore, Sarah Merr, David Guss, Astrid Kusser e Kazadi wa Mukuna, entre outros.
O livro de Martha Abreu é um dos frutos dos caminhos trilhados por uma historiadora que elegeu as manifestações culturais populares como seu local de sondagem do mundo. Suas escolhas a conduziram por uma trajetória que, em suas próprias palavras, a transformou de “uma historiadora da festa e da cultura popular em uma historiadora do legado da canção escrava, do racismo no campo musical e cultural e dos caminhos construídos pelos músicos e artistas negros para enfrentá-lo e subvertê-lo”. Nesse percurso, Da senzala ao palco emerge como um ponto alto na produção de uma intelectual que tem contribuído com perspectivas inovadoras aos debates sobre a dinâmica das culturas e identidades negras atlânticas tanto na academia, como professora e pesquisadora, quanto na História Pública, nos projetos e ações relacionados a comunidades quilombolas e jongueiras e na transformação de suas memórias do cativeiro e da liberdade em luta contra o racismo, pelo direito à terra, pela igualdade e pela justiça.
O livro é o terceiro volume da Coleção Históri@ Ilustrada, publicada pela Editora Unicamp, fruto do trabalho de pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa em História Social da Cultura (IFCH/Unicamp), do qual Martha Abreu participa desde a criação. O texto encontra-se disponível em dois formatos digitais: ePUB3 (com links internos para acesso a imagens, áudio e vídeo) e ePUB2 (com links internos para acesso a imagens e externos para áudio e vídeo). Com isso, Da senzala ao palco não apenas atinge um público amplo como também seus leitores têm a oportunidade de acessar 200 imagens, quase 50 fonogramas e 5 vídeos. Paralelamente ao livro, foi produzido um vídeo de 10 minutos intitulado Canções escravas e racismo nas Américas, que com ele dialoga, ajuda a divulgá-lo e pode ser utilizado por professores nas escolas e no ensino de História.1
Utilizando-se de um rico corpus documental e de uma vasta bibliografia especializada, a autora enfrenta basicamente quatro grandes questões ao longo de seu texto: os trânsitos internacionais, as canções escravas no mundo do entretenimento, as ações dos músicos negros e as construções do racismo no campo musical.
O objetivo central do livro é elaborar uma análise que aproxime as experiências de músicos negros e diferentes produtores e divulgadores das canções escravas nos Estados Unidos e no Brasil, no período que abrange de 1870 a 1930, a partir de problemas e fontes comuns e equivalentes. Sua intenção é, contudo, menos a de reforçar as evidentes diferenças entre os dois países, e mais destacar diálogos e aproximações nas formulações e experiências dos músicos negros e sobre música negra nas Américas. Trata-se, como se pode perceber, de uma história das expressões musicais da cultura negra escrita numa perspectiva atlântica que amplia os estudos sobre o pós-abolição ao sul do equador.
Cultura negra é um conceito central para a obra, embora não seja pensado ou utilizado pela autora como fechado e definitivo, mas enfrentado no seu próprio fazer historiográfico, através do uso das fontes e da metodologia. Ele remete às expressões culturais protagonizadas por afrodescendentes nas Américas e contém em seu âmago as noções de diáspora e desterritorialização por meio de estruturas transnacionais criadas e desenvolvidas na modernidade e marcadas por um sistema de comunicações permeado por fluxos e trocas culturais. Cultura negra é, portanto, um conceito que possibilita colocar em campo diferentes sujeitos sociais e diversas expressões e representações artísticas numa arena de conflitos. Ele indica, também, a intenção de questionar os estudos culturais marcados por perspectivas etnocêntricas e uma oposição à noção de que a cultura sempre flui em padrões que correspondem às fronteiras do Estado-nação.
Canções escravas ou “sons do cativeiro”, termos tomados de empréstimo a Shane e Graham White (White e White, 2005, p. ?), são expressões que não devem levar à falsa impressão de que a obra se dedica à escuta da sonoridade ou das formas musicais e estilísticas africanas presentes nas Américas, como esclarece Martha Abreu já nas páginas iniciais do livro. Entendidos como resultado da combinação de música, verso e dança, Canções escravas ou “sons do cativeiro” são termos alternadamente utilizados no livro para nomear as invenções musicais dos descendentes de africanos trazidos como escravos para o continente americano, as quais ganharam visibilidade e aceitação por meio da ação de músicos negros e de uma complexa rede de agentes que alimentou um cobiçado mercado musical que movimentava negócios de impressão e venda de partituras, espetáculos teatrais e indústria fonográfica. Vistas a partir desse ângulo, as canções escravas são decorrência de trânsitos e interações, tanto nacionais quanto transnacionais, e abrangem diferentes atores sociais, ainda que protagonizadas por músicos e atores negros.
Entre as principais fontes utilizadas por Martha Abreu, destacam-se textos de intelectuais que se preocuparam em entender e avaliar as “influências” dos africanos nas músicas e danças populares e nacionais, gravações fonográficas e, sobretudo, partituras musicais comercializadas em lojas de vendas de partituras, pianos, fonógrafos e discos, impressas pelas muitas editoras musicais existentes na ocasião. É digna de nota, nesse sentido, a análise minuciosa e instigante da autora sobre um extenso e significativo conjunto de capas de partituras cujas temáticas, títulos, gêneros, formas musicais e/ou ilustrações apresentam referências que remetem ao passado e às memórias do cativeiro, bem como a estereótipos e cenas racistas identificados com a população afro-americana no pós-abolição.
O livro organiza-se em nove capítulos abundantemente documentados – alguns deles anteriormente publicados em revistas especializadas (os de número 7, 8 e 9), mas modificados para essa publicação -, nos quais a autora aborda uma ampla pauta de questões. Entre elas encontram-se as experiências de músicos negros e destes com diferentes sujeitos envolvidos na produção e divulgação das canções escravas que alimentaram os trânsitos atlânticos no sentido Norte-Sul e vice-versa; as apropriações de gêneros, ritmos e formas musicais relacionados com africanos por músicos de formação erudita; as dimensões políticas das expressões musicais ligadas ao passado escravista; as experiências sociais e vivências de diferentes formas de racismo que aproximam as culturas negras e seus agentes; os significados das canções escravas para diferentes sujeitos negros, como os artistas Eduardo das Neves e Bert Williams e intelectuais acadêmicos como Coelho Netto e Du Bois; as aproximações entre as figuras de personagens como Pai João, Uncle Tom, Uncle Remus e Sambo, presentes na indústria fonográfica e na literatura popular, bem como as conexões transnacionais de gêneros musicais identificados e protagonizados por músicos negros, como o maxixe, que foi rapidamente assimilado nos Estados Unidos em função das suas proximidades com o cakewalk.
A leitura não é operação desprovida de sentido, pois quem lê busca significados, recorre a significantes, ritmos e formas e, nesse movimento, influenciam-se os modos de sentir, pensar e agir. Ao terminar a leitura do livro de Martha Abreu, o leitor provavelmente terá a sensação de ver abaladas determinadas certezas a respeito de algumas interpretações tradicionais sobre nosso passado musical ao constatar que elas não dão conta de um quadro muito mais rico e complexo.
São consideráveis, por exemplo, as contribuições do livro para se repensar determinadas versões sobre a história da música no Brasil, construídas com base nos marcos nacionalistas dos anos 1920 e 1930 ou na política cultural dos governos Vargas. E isso porque as discussões sobre as canções escravas nele presentes evidenciam quanto as manifestações musicais ditas nacionais só se sustentam e legitimam em contatos transnacionais por meio dos quais dialogam em termos referenciais, de elementos humanos e obtêm reconhecimento cultural. Nesse sentido, pode-se dizer que o livro de Martha Abreu nos mostra o tanto de transnacional que contém a noção de música nacional.
O leitor também perceberá quanto o campo musical foi um espaço minado, poroso e permeado por tensões e conflitos nos quais se travaram disputas em torno das representações dos descendentes de africanos e de seu patrimônio cultural e de como eles foram sujeitos ativos nesse processo. Coube a eles ampliar e redefinir discussões acerca das culturas nacionais, dos gêneros musicais, do legado da escravidão e das experiências do racismo que se reconstruíam em diferentes campos da indústria cultural no pós-abolição.
Por fim, mas não em último lugar, o livro oferece argumentos bastante consistentes para questionar visões que tradicionalmente polarizaram as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos entre mestiçagem, de um lado, e segregacionismo, de outro. Martha nos mostra como existem variantes, mediações e matizes que não podem ser desconsiderados em análises que objetivem romper com interpretações dicotômicas e generalizantes, que pouco contribuem para melhor conhecer um fenômeno bastante complexo, tanto para o Atlântico Norte, quanto para o Sul.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS, José D’Assunção. Histórias cruzadas: considerações sobre uma nova modalidade baseada nos procedimentos relacionais. Anos 90 (Porto Alegre), v. 21, n. 40, dez. 2014. [ Links ]
GILROY, Paul.O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro: Editora 34, 2001. [ Links ]
KLEIN, Herbert S. A experiência afro-americana numa perspectiva comparativa: situação atual do debate sobre a escravidão nas Américas. Revista Afro-Ásia (Salvador), n. 45, 2012. [ Links ]
WHITE, Shane; WHITE, Graham. The sounds of slavery: discovering African American history through songs, sermons and speech. Boston: Beacon Press, 2005. [ Links ]
1 O vídeo pode ser acessado em: <https://www.youtube.com/watch?v=agZPb-uEVto>
Sílvia Cristina Martins Souza – Universidade Estadual de Londrina – Londrina(PR) – Brasil. E-mail: [email protected].
Inmigración, Trabajo y Servicio Doméstico en la Europa Urbana, Siglos XVIII-XX – ISIDORO DUBERT (LH)
ISIDORO DUBERT, Vincent Gourdon (org). Inmigración, Trabajo y Servicio Doméstico en la Europa Urbana, Siglos XVIII-XX. Madrid: Casa de Velázquez, 2017, 304 pp. Resenha de: ABRANTES, Manuel. Ler História, v.75, p. 288-291, 2019.
1 O estudo do trabalho doméstico tem florescido na última década, ganhando visibilidade em vários campos científicos. A contiguidade destes campos é tão evidente quanto os benefícios do diálogo interdisciplinar. Ao debruçar-se sobre o livro Inmigración, Trabajo y Servicio Doméstico en la Europa Urbana, Siglos XVIII-XX, um sociólogo que estuda as características contemporâneas deste sector de trabalho não tarda a recordar certas leituras iniciáticas ; e, assim impelido a abrir mais uma vez o extraordinário tratado de Wright Mills sobre a imaginação sociológica, reencontra as páginas nas quais o autor norte-americano propõe que “as ciências sociais são elas próprias disciplinas históricas” e que “precisamos da variedade disponibilizada pela história até para formular questões sociológicas de forma apropriada, quanto mais para lhes responder”.1
2 O livro aqui analisado, organizado pelos historiadores Isidro Dubert e Vincent Gourdon a partir de um colóquio que se realizou em Santiago de Compostela em 2013, é constituído por três partes encadeadas numa ordem lógica : de uma matriz mais geral (visões panorâmicas) para uma matriz mais particular (análises de casos específicos). A primeira parte é dedicada à relação entre a mobilidade populacional campo-cidade e os processos de urbanização e industrialização. O foco empírico incide sobre cidades da Europa que, tendo vivido estes processos em graus e ritmos diversos, têm em comum o facto de se distinguirem do paradigma de industrialização tout court privilegiado nos estudos anglo-saxónicos. Como se sublinha desde logo no capítulo introdutório do livro, os desenvolvimentos ocorridos em Paris, Turim, Santiago de Compostela, Lisboa ou Porto, ainda que difusos ou ambíguos, são exemplificativos de uma parcela substancial do fenómeno de urbanização no continente europeu.
3 Começamos por um texto de enquadramento, no qual Jean-Pierre Poussou sintetiza grandes tendências do século XVIII aos dias de hoje. De seguida, Teresa Ferreira Rodrigues e Susana de Sousa Ferreira concentram-se no período de 1850-1930 em Portugal, examinando as ligações entre migrações internas, sistema urbano e políticas de industrialização. Para este fim, tomam em consideração não só os fluxos demográficos mas também os padrões de comportamento em dimensões como a nupcialidade, a fecundidade, os quotidianos e os modos de apropriação do espaço urbano. São elementos importantes para compreender os desequilíbrios de um país que se movia a diferentes velocidades ; um país cuja população aumentou de 3,5 milhões em 1850 para 6,8 milhões em 1930, aumento absorvido em larga medida pelos movimentos migratórios que resultavam de assimetrias regionais de crescimento demográfico e desenvolvimento. Por outro lado, as autoras não deixam de salientar várias diferenças significativas em função do género (percursos de homens e de mulheres), da duração (migrações permanentes, temporárias e sazonais) e da distância geográfica (migrações internacionais, do interior para o litoral, e das zonas rurais para as zonas urbanas). As redes migratórias que na mesma época se desenvolviam em Madrid e Paris são estudadas por Rubén Pallol Trigueros e Manuela Martini, respetivamente.
4 A segunda parte do livro reúne trabalhos que procuram compreender a concomitante transformação dos mercados de trabalho rurais e urbanos, detendo-se com especial atenção nas dinâmicas associadas à composição familiar e ao ciclo de vida. Llorenç Ferrer-Alós dedica-se ao caso da Catalunha no século XIX e Isidro Dubert à cidade de Santiago de Compostela nos séculos XIX e XX, enquanto François-Joseph Ruggiu nos leva ao século XVIII em Charleville, actualmente Charleville-Mézières. Por último, os capítulos da terceira parte cruzam a análise estatística com a reconstrução de percursos de vida – a partir de fontes diversas como recenseamentos, registos fiscais ou testemunhos orais – para examinar a relação entre fluxos migratórios, mercados de trabalho e serviço doméstico ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. Aprofundamos assim a compreensão de dinâmicas específicas do trabalho doméstico pago em Turim (por Beatrice Zucca Micheletto), Charlevillle (por Fabrice Boudjaaba e Vincent Gourdon), Granada (por David Martínez López e Manuel Martínez Martín) e Corunha (por Luisa María Muñoz Abeledo). O capítulo sobre Granada, por exemplo, mostra que nessa cidade as consideráveis flutuações na dimensão do sector do serviço doméstico dentro dos limites temporais do estudo – de 1890 a 1930 – não seguiram um padrão linear, antes acompanhando transformações culturais relacionadas com práticas e atitudes de classe, com a economia da prestação de cuidados e com a própria (des)valorização deste tipo de trabalho. A segmentação entre serviço interno e externo comporta uma clara marca de género que lança luz sobre desenvolvimentos posteriores do sector.
5 Se o capítulo de David Martínez López e Manuel Martínez Martín destaca a dimensão de género na organização do serviço doméstico, faz-nos falta o reconhecimento desta dimensão noutros momentos do livro, sob risco de se negligenciar a exploração das mulheres e o carácter estruturante da desigualdade entre mulheres e homens, tanto nas relações hierárquicas de classe como nas dinâmicas internas à classe trabalhadora e à burguesia. Esta perspectiva é fundamental para explicar as tensões e transformações do serviço doméstico – quer em retrospectiva, quer na actualidade. Como argumenta Rosemary Crompton, o género nunca deixou de ser, ao longo dos séculos XIX e XX, um elemento determinante na repartição de responsabilidades, na ideologia da vida privada e da vida pública enquanto esferas separadas, e nos modelos de divisão do trabalho daí decorrentes.2
6 A pluralidade dos estudos reunidos no livro, a par do diminuto conhecimento histórico do autor desta recensão, dificulta a elaboração de uma linha comum de leitura e interpretação. Certo é que o livro dá um contributo importante para se reconhecer a centralidade do serviço doméstico na História das sociedades europeias – seja de um ponto de vista económico, enquanto sector de trabalho volumoso, complexo e dinâmico, seja na estruturação das relações sociais e, por conseguinte, na organização das práticas quotidianas. Daqui decorre um convite claro a perscrutarmos as segmentações internas do serviço doméstico, das suas realidades mais públicas às dinâmicas mais íntimas e informais, estas últimas obscurecidas pela subalternização histórica das vozes e das experiências das mulheres – e, sobretudo, das mulheres da classe trabalhadora. Mas o desafio será também não perder de vista o quadro mais amplo ; não acantonar o serviço doméstico como objecto de investigação ; realçar as suas singularidades sem esquecer as interligações com outros sectores de trabalho e com outras componentes das relações de género.
7 Do ponto de vista metodológico, os organizadores do livro defendem consistentemente o potencial das genealogias e das análises de ciclo de vida para um entendimento mais fino das mudanças sociais. Propõem uma lente mesoscópica capaz de captar a agência dos indivíduos, as redes, as mediações, as relações com a cidade, as dinâmicas familiares. Rejeitando uma noção dos contextos de partida e de chegada como estanques, constatamos com efeito que a destruição das vidas e economias rurais esteve na origem de fluxos campo-cidade que pouco devem a aspirações pessoais. Ou seja, o aprofundamento do estudo das condições individuais não nos leva, de modo algum, a cair nas falácias de um individualismo metodológico : pode justamente ser um passo necessário para reduzir o factor individual à medida apropriada. Por tudo isto, o livro aqui recenseado é também um convite a reler o notável trabalho de Inês Brasão, que estuda a condição servil em Portugal entre 1940 e 1970 a partir dos processos de dominação e de resistência que a caracterizaram, baseando-se num conjunto amplo de fontes que vai de censos a testemunhos orais, de legislação a excertos de imprensa, de relatórios públicos a fotografias pessoais.3 A linha que pode unir as criadas de servir em épocas passadas e as empregadas domésticas do presente está por traçar ainda. O diálogo interdisciplinar é uma condição favorável para a concretização desta tarefa, bem como um elemento promissor para reforçar o diálogo entre as ciências sociais e a política pública relativa ao trabalho doméstico.
Notas
1 Charles Wright Mills, The Sociological Imagination. Oxford : Oxford University Press, 1959, pp. 1 (…)
2 Rosemary Crompton, Employment and the Family : The Reconfiguration of Work and Family Life in Con (…)
3 Inês Brasão, A Condição Servil em Portugal : Memórias de Dominação e Resistência a Partir de Narr (…)
Manuel Abrantes – SOCIUS/CSG, ISEG, Universidade de Lisboa, Portugal. E-mail: [email protected]
Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890) – NEVES et. al (LH)
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; MELO FERREIRA, Fátima Sá; NEVES, Guilherme Pereira das (org). Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890). Jundiaí: Paco Editorial, 2018, 322 pp. Resenha de: ARAÚJO, Ana Cristina. Ler História, v. 75, p. 284-288, 2019.
1 Este livro resulta do projeto internacional “Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano : classes, corporações, castas e raças, 1750-1870”, coordenado atualmente por Fátima Sá e Melo Ferreira e por Lúcia Bastos. Procura identificar, na linguagem e nos conceitos dos personagens históricos, traços constantes que vinculam ideias, expectativas, convenções, práticas e representações comuns, ou seja, expressões coletivas e atuantes de modos de ser, pensar e dizer a realidade no mundo ibero-americano, no período compreendido entre 1750 e 1890. A cronologia de longa duração evidencia permanências estruturais e diferentes fenómenos de contágio político que encontram eco em linguagens e conceitos partilhados. Os marcadores de identidade e alteridade de que nos falam os organizadores do livro são precisamente os conceitos e as linguagens usados, nos planos territorial, étnico, político e social, para exprimir laços de pertença e desatar nós diferenciadores de formas de nomeação coletiva, como sejam, “brasileiros” versus “portugueses”, “pueblos orientales” versus “cisplatinos”, no processo de independência e união da região do Rio da Prata, “bascos” e “espanhóis”, na revista Euskal-Erria de San Sebastián (1880-1918).
2 Nos campos em que se buscam agregações convergentes ou divergentes de sentido – território, raça, formações nacionais ou transnacionais – os conceitos são encarados não como entidades estáticas ou atemporais mas como ferramentas de temporalização histórica. Daqui advém o potencial hermenêutico da linguagem para nomear o social. Existe, todavia, uma brecha entre os acontecimentos históricos e a linguagem utilizada para os dizer ou representar. A consciência da historicidade do intérprete, neste caso, do historiador, afasta a compreensão do passado do tradicional objetivismo factualista, centrado na pretensa evidência do facto. Por outro lado, na relação com as linguagens do passado, a noção de historicidade previne um outro perigo, o das extrapolações conceptuais fundadas na atualidade, fonte de anacronismos e de todo o tipo de “presentismos” deformantes e esvaziadores da memória histórica. Neste contexto, é aconselhável aliar a História analítica à História conceptual para responder às questões centrais colocadas por Reinhart Koselleck e pela tradição da Begriffsgeschichte.
3 Para simplificar, talvez se possam formular assim algumas das questões levantadas neste livro : qual é a natureza da relação temporal entre os chamados conceitos históricos e as situações ou circunstâncias que ditaram a sua utilização ? Os conceitos e especialmente os conceitos estruturantes, a que Koselleck chama “conceitos históricos fundamentais” (como, por exemplo, o moderno conceito de revolução), permaneceram na semântica histórica para lá do tempo em que foram formulados ? Será que cada conceito fundamental contém vários estratos profundos, ou várias camadas de significados passados unidos por um mesmo “horizonte de expectativa” ? Na resposta a estas questões, Koselleck assinala, no processo de construção da semântica histórica da modernidade, quatro exigências básicas de novo vocabulário, social, político e histórico : a temporalização, a ideologização, a politização e a democratização. Porém, como bem sublinham os organizadores deste livro, nem sempre são sincronamente documentáveis estas quatro condições nos processos analisados na era das revoluções no mundo ibero-americano.
4 A mudança conceptual no campo da história intelectual e das ideias é também valorizada tendo em atenção o contributo de Quentin Skinner que aponta para uma linha mais analítica e contextualista nos usos da linguagem, partindo da fixação lexicográfica consagrada nos dicionários. Ao estudar as técnicas, os motivos e o impacto das mudanças conceptuais valoriza também a utensilagem retórica, aquilo a que chama rethorical redescription, que consiste em usar relatos diferentes para descrever uma mesma situação, recorrendo a certas palavras e a certos conceitos que, pelo seu impacto social, instauram novas interpretações e se impõem como guias de compreensão de outros discursos. A ideia de um léxico cultural de base conceptual ilumina, numa outra perspetiva, o horizonte compreensivo da história intelectual, dado que os usos da linguagem não são desligados da intencionalidade dos autores e dos efeitos que os seus discursos produzem.
5 Neste livro, as questões relacionadas com a classificação e a nomeação preenchem a primeira parte da obra. Os três ensaios, da autoria, respetivamente, de Fátima Sá e Melo, Guilherme Pereira das Neves e Javier Fernández Sebastián, revestem-se de um carácter problematizador e sinalizam bem a abrangência do conceito mutável de identidade que, como explica Fátima Sá e Melo, começa por conotar, no século XVIII, aquilo que é similar, por exclusão do que é diferente, para, cem anos mais tarde, e segundo o Dicionário de Moraes Silva (1881), traduzir uma forma de autorrepresentação. A este respeito, Fátima Sá e Melo salienta que esta definição de identidade começa por ser fixada primeiro num dicionário espanhol de 1855, acabando por ser consagrada pela lexicografia portuguesa em 1881. Logo a seguir, coloca o problema da formulação do conceito de identidade na primeira pessoa e na terceira pessoa.
6 Na ausência de uma perspetiva individualista, fundada no autorreconhecimento do poder e vontade dos indivíduos, valiam as categorias jurídicas do Antigo Regime que fixavam, numa base particularista e corporativa, a visão do todo social (A. M. Hespanha). Nos umbrais das revoluções liberais o nós identitário forjado no mundo ibero-americano não se desfaz de um dia para o outro dos traços orgânicos e particularistas do passado colonial. Estes traços são bem evidentes no estudo de Ana Frega sobre a revolução artiguista de 1810-1820 e no ensaio de Lúcia Bastos Pereira das Neves que analisa “antigas aversões” reconstruídas no decurso do processo de independência entre ser português e ser brasileiro ou ter direito a ser brasileiro, por lei de 1823. A autora sublinha que apesar das persistências sociais e culturais, o discurso político da independência e em defesa da Constituição contribuiu para reconfigurar a sociedade brasileira pós-independência apontando para uma vaga identidade, forjada na variedade de povos e raças que compunham a população brasileira. Estes traços de autorreconhecimento foram objeto da retórica antibrasileira do jornal baiano Espreitador Constitucional, favorável à causa portuguesa, que lamentava, em 1822, que “os netos de Portugal – estabelecidos no Brasil – abandonassem os sobrenomes dos seus antepassados para adotarem orgulhosos os de Caramurus, Tupinambás, Congo, Angola, Assuá e outros” (p. 139).
7 Sobre a questão da adequação das classificações e marcas de linguagens pretéritas às classificações e conceitos do historiador, Javier Fernández Sebastián assina um esclarecedor capítulo, de cunho teórico. Segundo este historiador, o problema das classificações conceptuais reside em saber se é razoável usar retrospetivamente conceitos e categorias atuais que não existiam numa determinada época para classificar e dar sentido às linguagens do passado. Considera que o conceito de identidade forma com outros conceitos uma espécie de galáxia significante. O seu campo semântico convoca distinções jurídicas, étnicas, políticas, socioeconómicas e ideológicas. Assim, e apreciando cada contexto histórico focado neste livro, é razoável o uso do conceito de identidade associado a classes, etnias e territórios. Dois estudos documentam este ponto de vista. O primeiro remete para o enfrentamento da escravatura negra e da emigração branca em Cuba ao longo do século XIX. Como explica Naranjo Orovio, o ideal de cubanidade condensa elementos culturais e étnicos patentes nas linguagens de identidade insular, nas quais o estigma negativo e o medo do negro se combinam com a atração pelo discurso civilizacional dos reformistas criollos (1830-1860).
8 O binómio civilização versus barbárie aparece também associado à forma como são percecionados os afrodescendentes em Buenos Aires até 1853-1860. Segundo Magdalena Candioti, num primeiro momento, as diferenças físicas, morais e culturais atribuídas aos afrodescendentes limitam a sua participação política. Os negros e pardos são definidos como os “outros” do novo corpo soberano e excluídos da cidadania instaurada pela nova república, porque a abstração requerida pelo conceito de cidadania igualitária ou tendencialmente igualitária colidia com as marcas impressas pela natureza e pela cultura herdadas da colonização espanhola. Formalmente, a partir dos anos 20 do século XIX, os textos legais não estabelecem reservas especiais ao sufrágio dos negros libertos, contudo persistem as representações estigmatizadas sobre a negritude, impedindo, na prática, a consagração plena da cidadania política. Este tipo de exclusão viria a ser ideologicamente suportado pelas linguagens cientificistas da segunda metade do século XIX, inspiradas no positivismo e no darwinismo social. A visão evolucionista da sociedade, assente na constituição física, na hierarquia das raças e, consequentemente, na superioridade do homem branco, acabou por complementar, com outros argumentos, o binómio civilização/barbárie constitutivo das identidades em construção na Ibero-América. A mesma visão antinómica caracteriza as distinções gentílicas da nova entidade política e cultural nascida com a revolução Bolivariana, ajudando a forjar o mito da nação mista criolla na Venezuela, conforme salienta Roraima Estaba Amaiz.
9 A uma escala transnacional – e este é também um dado a destacar neste livro –, o desenvolvimento do conceito de raça no mundo latino-americano associa-se ao aparecimento do pan-hispanismo, que, de certo modo, retomou, numa perspetiva expansionista, a autoperceção etnocêntrica e neocolonial dos países de matriz hispânica da América do Sul, conforme detalha David Marcilhacy. Este tópico tem ressonâncias fortes e remete, a cada passo, para a porosidade entre discursos, ideologias e linguagens vulgares ou de uso corrente. Como sublinha Ana Maria Pina, o conceito de raça, entendido em termos biológicos, é tardio. Antes do século XIX andava associado à pecuária e era também usado para identificar linhagens, nações ou povos. No século XIX ganha uma conotação biologista e essencialista, porque se aplica à classificação de tipos humanos, distinguidos pela sua origem, cor de pele e características físicas. Para esta mutação muito contribuíram as teses racistas e poligenistas de Gobineau, bastante divulgadas na época, os tratados de Darwin e também as teses antropométricas de Paul Broca, fundador da Sociedade Antropológica de Paris.
10 O eco destas influências em Portugal é percetível em autores como Teófilo Braga, Júlio Vilhena e outros nomes menos conhecidos. Subtilmente, insinua-se na linguagem artística e na literatura, nomeadamente em Eça de Queirós e Ramalho Ortigão. E se, antes deles, Almeida Garrett e Alexandre Herculano haviam sinalizado as idiossincrasias da raça portuguesa, foi, porém, Oliveira Martins quem melhor exprimiu a ideia da miscigenação de raças na raiz do ser português. Oliveira Martins estava genuinamente interessado em compreender a originalidade dos povos ibéricos e a originalidade da civilização que se desenvolveu, ao longo de séculos, na Península Ibérica, conforme assinala Sérgio Campos Matos. A História da Civilização Ibérica, título de uma obra de Oliveira Martins, engloba, num “nós transnacional”, portugueses, espanhóis e outros povos de descendência hispânica. Temos assim um conceito totalizante que fixa uma conceção de história, uma visão antropológica territorializada e uma unidade de experiência com sentido político, social, económico, cultural e moral para ele, Oliveira Martins, e para os seus contemporâneos portugueses e espanhóis.
11 O capítulo final de Sérgio Campos Matos convoca a atenção do leitor para a reflexão em torno da “história como instrumento de identidade”, tema também tratado por Guilherme Pereira das Neves. Este autor realça a ideia de que a história funcionou, desde o século XIX, no Brasil, como instância compensadora e conservadora de aspirações sociais e políticas das elites brasileiras, referindo a formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o contributo da metanarrativa de Varnhagen. Questiona não só a ideia de história mas também o lugar do historiador, dos curricula liceais e das universidades brasileiras, desde os anos 30 do século XX em diante. Refere que com os governos de Getúlio Vargas se assiste à criação da Universidade de São Paulo, em 1934, e se institucionaliza a formação estadual de professores diplomados em história. Por fim, salienta que os maiores sucessos editoriais no campo da história no Brasil pouco devem à historiografia académica. Entre a ação e o discurso, entre a história que se faz e a linguagem que dela se apropria para uso público parece haver espaço para uma espécie de imaginário alternativo, fantasiado, é certo, envolvendo numa trama insignificante episódios históricos narrados livremente mas não totalmente desprovidos de marcas de identidade.
12 Em síntese, a leitura desta obra é fundamental pelo enfoque transnacional dos seus capítulos e pela perspetiva de história conceptual comparada que preside à reavaliação dos processos e linguagens de identidade e alteridade forjados no espaço ibero-americano, especialmente no decurso do século XIX. Sendo tributário dos caminhos de pesquisa abertos pelo Diccionario político y social del mundo ibero-americano, dirigido por Javier Fernández Sebastián, este livro concita também outros estudos, quiçá diferentes, mas igualmente indispensáveis para a compreensão das ideias e dos nexos sociais e culturais que presidiram à constituição e à renovação política dos territórios independentes ibero-americanos.
Ana Cristina Araújo – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal. E-mail: [email protected].
Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830 – CAÑIZARES-ESGUERRA (VH)
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018. 331 p. KALIL, Luis Guilherme. A Península e a Ilha: Ibéricos e ingleses no Atlântico dos séculos XVI ao XIX. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 67, Jan./ Abr. 2019.
Em sua investigação sobre os primeiros exploradores europeus do território norte-americano, Tony Horwitz (2010, p.16) afirma haver um “século perdido”, que iria de 1492 até 1620, com o desembarque do Mayflower. O vazio apontado pelo jornalista é ilustrado através da entrevista com um guarda-florestal de Plymouth, frequentemente questionado por turistas se este rochedo seria o local onde Colombo teria desembarcado no Novo Mundo.
Esta curiosa confusão de datas e personagens se relaciona com questões mais amplas acerca do passado colonial americano e dos impérios construídos por ingleses e ibéricos durante a Modernidade. A visão de uma experiência inglesa na América como algo único e isolado do restante do continente possui uma longa e variada trajetória marcada por aspectos como as rivalidades imperiais e os embates entre católicos e protestantes no período. Esse processo ganha força nos Estados Unidos independente através dos esforços de construção de um passado nacional que encontra nos puritanos ingleses o ponto de partida para o Destino Manifesto da nação. Já no século XX, essa perspectiva fomenta uma abordagem – há muito criticada pelos historiadores, mas ainda atraente em sua tipologia simplista, dicotômica e determinista – que identifica na América a existência de dois modelos opostos de colonização: exploração ou povoamento.
Ao longo de sua carreira, Jorge Cañizares-Esguerra vem dedicando grandes esforços na tentativa de negar o isolamento e historicizar a construção deste antagonismo que silencia as conexões, enfatizando que a trajetória do Império inglês – e, mais amplamente, da própria Modernidade – só seria compreensível se a experiência ibérica fosse colocada em primeiro plano. Nesse sentido, o autor enfatizou em obras anteriores o papel central do Império espanhol e de suas colônias americanas em alguns dos principais debates epistemológicos do século XVIII (2001), os vários pontos em comum entre conquistadores hispânicos e religiosos puritanos (2006) e a “dramática influência” das ideias, políticas e ações ibéricas nas colônias ultramarinas inglesas, marcadas pela inveja em relação à Espanha (Cañizares-Esguerra; Dixon, 2017). Em todos os casos, há um questionamento direto em relação aos recortes nacionais e imperiais e também às perspectivas tradicionais de Modernidade e de História Atlântica, que deixariam de lado a complexidade e a riqueza das trajetórias de pessoas, bens, ideias e escritos. Como alternativa, o historiador, em conjunto com outros pesquisadores (Gould, 2007), propõe a perspectiva de “Impérios Emaranhados” (2012), cujas trajetórias seriam impossíveis de serem compreendidas separadamente.
O presente livro é mais uma contribuição nessa direção. Resultado de um encontro organizado por Cañizares-Esguerra e seus orientandos na Universidade do Texas, em 2014, Entangled Empires visa, através de seus doze artigos, reforçar as críticas às abordagens nacionais ou imperiais através da análise de uma ampla gama de temas, documentos, personagens e regiões que se estendem do século XVI ao início do XIX. A ideia de um esforço conjunto em defesa da perspectiva de Impérios Emaranhados fica visível através não apenas de referências conceituais e bibliográficas comuns, mas também pelas recorrentes menções nos artigos a outros textos do mesmo livro, o que reforça o diálogo entre eles e a unidade da obra, permitindo conexões que escapam aos temas específicos de cada um dos autores.
Como exemplo, podemos citar os estudos de Mark Sheaves (Cap. 1) e de Christopher Heaney (Cap. 4), que destacam a fragilidade das identificações nacionais em relação a determinadas fontes históricas e personagens. No primeiro caso, o autor persegue a trajetória de ingleses como um comerciante e escritor que viveu em terras espanholas denominado nos documentos do período tanto como Pedro Sánchez quanto como Henry Hawks, a depender de seu local de publicação. Já Heaney analisa a tradução e adaptação para o inglês feita por Richard Eden de trechos das Décadas de Pedro Mártir de Anglería, identificando a influência da Utopia de Thomas More (que, por sua vez, foi influenciado pelas cartas de Américo Vespúcio) e a tentativa de, através dos escritos, inspirar os ingleses em direção ao Novo Mundo.
Outros capítulos ressaltam a atuação de grupos que transitavam entre a península, a ilha e o mundo atlântico. É o caso do artigo de Michael Guasco (Cap. 2), para quem os primeiros contatos dos ingleses com os africanos teriam sido pautados pela experiência ibérica anterior, da análise de Holly Snider (Cap. 5) a respeito dos judeus sefaraditas e de Christopher Schmidt-Nowara (Cap. 6) sobre a importância de alguns irlandeses para a expansão inglesa e suas múltiplas relações com os domínios ibéricos. Destacam-se ainda as contribuições de Bradley Dixon (Cap. 9), para quem a influência ibérica também foi fundamental para se compreender as expectativas e a atuação de determinados grupos indígenas em seus contatos com os ingleses, e de Kristie Flannery (Cap. 12), que altera o eixo de análise do Atlântico para o Pacífico, apontando a multiplicidade de relações existentes entre ingleses, espanhóis e nativos nas Filipinas durante a Guerra dos Sete Anos.
Em muitos capítulos, a referência aos impérios ibéricos presente no título da obra perde força para a abordagem mais específica das relações entre espanhóis e ingleses. Uma exceção é o trabalho de Benjamin Breen (Cap. 3), que destaca o papel central dos portugueses no comércio de “drogas” e na formação de redes comerciais e intelectuais. A decisão de concentrar a atenção no Atlântico anglo-ibérico traz ainda como consequência – algo reconhecido pelo próprio organizador em sua introdução (p. 3) – o pouco espaço dedicado a outros impérios, personagens e eventos fundamentais para a compreensão das questões que envolvem muitos dos artigos desta coletânea, como o caso da Revolução de Santo Domingo e, mais amplamente, da atuação francesa, holandesa, sueca, entre outras, no Novo Mundo, o que não só ampliaria a quantidade de impérios abordados, mas também aprofundaria o emaranhado entre eles.
Para além das possibilidades de ampliação do escopo de análise, que abrem espaço para outros esforços coletivos de pesquisa no futuro, Entangled Empires é uma importante contribuição no já longevo esforço de problematização do conceito de Império. Após percorrermos as trajetórias dos textos, produtos e personagens além dos debates intelectuais, negociações políticas e conflitos armados analisados pelos autores que participam desta coletânea, torna-se cada vez mais difícil identificarmos as especificidades e os limites há muito identificados entre os impérios construídos pelos ibéricos e ingleses.
1É interessante observarmos que a produção de obras coletivas em torno de uma proposta de análise – algo ainda raro dentro da historiografia brasileira – é muito comum nos Estados Unidos. Apenas como exemplo, limitando-nos a livros que alcançaram grande repercussão dentro das pesquisas sobre o continente americano durante o período colonial, podemos citar obras como Negotiated Empires (2002) e Indian Conquistadors (2007).
Referências
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World. Stanford: Stanford University Press, 2001. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Puritan Conquistadors: Iberianizing the Atlantic, 1550-1700. Stanford: Stanford University Press, 2006. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Histórias emaranhadas: historiografias de fronteira em novas roupagens? In: FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira (org.). História da América: historiografia e interpretações. Ouro Preto: EDUFOP, 2012, p.14-39. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; DIXON, Bradley J. “O lapso do rei Henrique VII”: inveja imperial e a formação da América Britânica. In: CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; BOHN MARTINS, Maria Cristina (orgs.). As Américas na Primeira Modernidade. Curitiba: Prismas, 2017, p. 205-243. [ Links ]
DANIELS, Christine; KENNEDY, Michael V. Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820. New York; London: Routledge, 2002. [ Links ]
GOULD, Eliga H. Entangled Histories, Entangled Worlds: The English-Speaking Atlantic as a Spanish Periphery. American Historical Review, vol. 112, n. 3, p.764-786, 2007. [ Links ]
HORWITZ, Tony. Uma longa e estranha viagem: rotas dos exploradores norte-americanos. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. [ Links ]
MATTHEW, Laura; OUDIJK, Michel. Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2007 [ Links ]
Luis Guilherme Kalil – Departamento de História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Av. Governador Roberto Silveira, s/n, Nova Iguaçu, RJ, 26.020-740, Brasil. [email protected].
História das Doenças e das práticas de curar no Oitocentos / Almanack / 2019
As últimas décadas têm sido marcadas por uma ampliação significativa no campo de pesquisa da história das doenças e das práticas de curar no Oitocentos. Dentre as características presentes nesses estudos, podemos ressaltar a intercessão e diálogo entre diferentes especialidades científicas, destacadamente os diálogos entre a história e a antropologia e a história e a linguística e a teoria literária; a multiplicidade de opções teórico-metodológicas adotadas – que transitam, mais comumente, entre a história social, a (nova) história política, a história cultura e a história das ciências – e de fontes utilizadas. Aliás, parte desse alargamento de fontes e olhares nos tem permitido, cada vez mais, captar as percepções em torno das doenças e das possibilidades de curas de certos estratos sociais antes desconsiderados em narrativas da história da medicina (em âmbito geral, apenas de uma medicina douta) eivadas de triunfalismos e percepções “presentistas”. [7]Cada vez mais sabemos dos achaques e de suas explicações e terapêuticas engendradas por escravos, libertos e demais elementos oriundos das camadas subalternas, num tipo de olhar que Roy Porter (1985), tão bem nomeou “visão dos pacientes / sofredores”.
Outro aspecto que merece menção é o alargamento dos temas de investigação: representações e caracterizações de doenças; passagem sempre temida de epidemias; diferentes medicinas que coexistiam e, não raro, se confrontavam em diferentes arenas; institucionalização da medicina douta; práticas de curar e doenças dos cativos, entre outros assuntos. Não sendo aqui o lugar para arriscarmos uma revisão dessa extensa bibliografia[8].
No rastro dessas possibilidades de ampliarmos o campo de análise em torno dessa área de pesquisa em franca expansão e fomentar o diálogo entre parte de seus autores e estudos, que apresentamos o presente dossiê temático História das Doenças e das práticas de curar no Oitocentos, na Revista Almanack. Acreditamos que o dossiê possa contribuir para que seus leitores – especialistas ou não especialistas – tenham diante de si textos que uma pertinente amostragem dessas novas leituras, fontes e métodos de estudo em torno dos temas da saúde e da doença no século XIX, com ênfase à realidade do Brasil imperial.
Assim, o artigo de Jean L. N. Abreu, “Discípulos de Asclépio: as teses médicas e a medicina acadêmica no oitocentos (1836-1897)”, analisa, a partir da organização das primeiras faculdades de medicina no Brasil, na década de 1830, até fins do século XIX, de que maneiras a produção de final de curso desses “facultativos” – como se dizia à época – espelha a institucionalização dos saberes médicos no Brasil. Nesse sentido, o autor, usando como corpus documental o banco de teses existente no Arquivo Público Mineiro, percebe as leituras, teorias e controvérsias que formavam os médicos nas faculdades de medicina do Império, ainda em vias de afirmação e legitimação de seus discursos e práticas.
Ainda acerca do processo de institucionalização dos saberes e práticas médicas oficiais no Brasil, mas, nesse caso, com base em um objeto mais específico de interpretação, qual seja as “nevroses” e demais “doenças mentais”, temos o texto de Simone de Almeida Silva, “Impugnação analítica: uma semiologia das doenças nervosas em defesa da medicina douta no período joanino”. A autora analisa os diagnósticos produzidos em torno dos êxtases da beata irmã Germana (1782-1853), na região do Caeté (Minas Gerais). Assim, diferentes saberes médicos oscilaram entre a percepção de que a beata era vítima de fenômenos sobrenaturais, argumento defendido por dois cirurgiões, e sua recusa, tecida em obra publicada pela Imprensa Régia em 1814, pelo médico mineiro diplomado na Europa, Antônio Gonçalves Gomide. Tais diferenças de olhares, teorias e conceitos acionados por esses diferentes discípulos de Hipócrates, revelam a rivalidade entre cirurgiões e médicos, além das influências de autores como Philipe Pinel e outros alienistas nessa publicação que a autora considera uma das primeiras obras sobre o tema do alienismo no Brasil.
O artigo de Tânia Pimenta, intitulado “Médicos e cirurgiões nas primeiras décadas do século XIX no Brasil”, com base na documentação da Fisicatura-mor (1808-1828), nos permite tomar conhecimento das diferentes “artes de curar” e perfis sociais daqueles que recorreram ao Órgão para oficializarem suas terapêuticas a partir da aquisição de licenças para curar. Assim, Pimenta dá conta das amplas e profícuas possibilidades analíticas dessa rica documentação, a exemplo da relação – em geral conflituosa – entre médicos e cirurgiões, os conhecimentos médicos exigidoa para a aquisição das licenças expedidas pelo Fisicatura, seu raio de ação em diferentes espaços geográficos, os custos arcados pelos indivíduos que queriam curar sem caírem nas raias da repressão e da ilegalidade, entre outros aspectos.
Os outros quatro artigos que compõem o presente dossiê revelam uma temática em franca expansão na historiografia das doenças e das artes de curar (como se dizia de modo corrente no oitocentos): a saúde dos escravos[9].
Assim em, “tráfico e escravidão: cuidar da saúde e da doença dos africanos escravizados”, de Jorge Prata, encontramos aproximações metodológicas e conceituais entre a História da Escravidão e a História das Ciências para o entendimento das formas de cuidados dos escravizados e das classificações e percepções dos achaques que sofriam. O autor, usando variada documentação, como testamentos e inventários, fontes da Santa Casa de Misericórdia, assentos de óbitos, defende a existência de um “sistema de saúde do escravo”, com especificidades e formas de identificação das doenças e, sobremaneira, tipos de tratamento que possuíam características próprias.
A fértil documentação da Santa Casa de Misericórdia (desta vez, a da Bahia) reaparece em “Decrépitos, anêmicos, tuberculosos: africanos na Santa Cada de Misericórdia da Bahia (1867-1872)”, de Gabriela Sampaio que, valendo-se de fontes inéditas, analisa as doenças dos escravos que viviam em Salvador na década de 1870. A autora busca, a partir desses registros, “chegar mais perto de quem eram e como viviam” esses indivíduos africanos, muitos deles cativos, uma vez que são revelados pela documentação do Hospital dados como a idade, o estado civil, a profissão, sua “nação”, entre outros dados. Além disso, a partir da produção médica da época, a autora igualmente busca compreender o discurso médico oficial tecido acerca das doenças que acometiam essa população e suas causas.
O corpo e a doença escrava como objetos de análise do saber médico oficial no século XIX também é analisado por Sílvio Lima, com base na obra do renomado médico Cruz Jobim. Assim, o autor sublinha de que maneiras, nas primeiras décadas do século XIX, o entendimento das enfermidades e a produção do conhecimento médico se processavam a partir da observação direta dos pacientes em hospitais que cada vez mais se configuravam com importantes espaços pedagógicos e de produção de textos médicos, a exemplo de teses, manuais e periódicos especializados. Para o autor, nesse processo de produção de saberes médicos, os corpos dos escravizados internados na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, seriam de fundamental valia para a construção das teorias etiológicas que tão fortemente influenciaram a medicina brasileira em recentes vias de institucionalização.
Como há tempos sabemos, os escravizados e seus descendentes não apenas adoeciam, mas também curavam. Nesse sentido, o artigo produzido por Sebastião Pimentel Franco e André Nogueira, interpreta as ações de dois curandeiros ilegais que atuaram na província do Espírito Santo na segunda metade do século XIX, sendo um deles, decerto filho de uma cativa. O processo-crime, tipo fonte já consagrada na produção de abordagens sociais em torno do universo do cativeiro, é aqui usado para percebermos que tipo de indivíduo recorreu aos curandeiros, quais achaques curavam e de que tipo de terapêutica e recursos sobrenaturais se valeram para a realização de suas curas. Assim, o caso de “O Trem” e Olegário dos Santos, nos remete ao pregnante universo da crença no feitiço e de práticas de curar que flertavam com o catolicismo e com matrizes culturais centro-africanas.
Aproveitamos para externar nossos agradecimentos à equipe da Revista Almanack pela eficaz parceria e auxílio em todas as etapas da edificação desse volume. Agradecemos, igualmente, aos colaboradores, cujos estudos aqui publicados nos permite um panorama dos mais atuais em torno da produção acadêmica da história das doenças e das práticas de curar no oitocentos. Enfim, desejamos que as leituras que seguem contribuam para o fomento do diálogo nesta seara de produção e possibilite novas incursões no universo fascinante e vário das doenças e suas curas no século XIX.
Saudações e boa leitura!
Notas
7. Para uma discussão sobre essa temática, ver, entre outros, Edler (1998) e Luiz Antônio Teixeira et. al. (2018, pp. 9-26).
8. Para um apanhado mais geral dessas tendências e texto concernentes à história das doenças e das práticas de curar no oitocentos, conferir Acosta (2005), além dos textos – muitos se propondo a um “estado da arte” publicados na coletânea organizada por Teixeira e Pimenta (2018).
9. Para uma abordagem mais ampla e que sugira ao escopo dessa apresentação sobre a produção historiográfica sobre a saúde dos escravos, ver, entre outros Figueiredo (2006, pp. 252-273) e Barbosa e Gomes (2016, pp. 273-305).
Referências
GOMES, Flávio e BARBOSA, Keith de Olivreira. Doenças, morte e escravidão africana: perspectivas historiográficas. PIMENTA, Tânia Salgado e GOMES, Flávio (org.). Escravidão, doenças e práticas de cura no Brasil. Rio de Janeiro: Outras Letras / CNPQ, 2016. [ Links ]
EDLER, Flávio. A medicina brasileira no século XIX: um balanço historiográfico. In: Asclépio. V. L-2, 1998. [ Links ]
FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. As doenças dos escravos: um campo de estudo para a história das ciências da saúde. NASCIMENTO, Dilene Raimundo do, Diana Maul de; MARQUES, Rita de Cássia (org.). Uma história brasileira das doenças, v. 2. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006. [ Links ]
PORTER, Roy. The patient’s view: doing Medical history from below. Theory and Society, v.14, n.2, Mar1985, pp. 175-198. [ Links ]
TEIXEIRA, Luiz A; PIMENTA, Tânia S. HOCHMANe Gilberto (org.). História da Saúde no Brasil. 1ed.São Paulo: Hucitec, 2018. [ Links ]
WITTER, Nikelen A. Curar como arte e ofício: contribuições para um debate historiográfico sobre saúde, doença e cura. In: Tempo. Revista do departamento de História da UFF. V.10, 2005. Disponível em:http: / / www.scielo.br / pdf / tem / v10n19 / v10n19a02.pdf. [ Links ]
André Luís Lima Nogueira – Doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz (COC / FIOCRUZ). Atualmente está no Programa de Pós-doutorado Nota 10 da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, na mesma instituição (FAPERJ / FIOCRUZ). Autor de Entre Cirurgiões, Tambores e Ervas: calunduzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII) (Garamond, 2016), além de artigos e capítulos em livros. E-mail: [email protected] http: / / orcid.org / 0000-0003-2160-4279
Lorelai Brilhante Kury – Doutora em História pela Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS. Atualmente é professora do PPGHCS da Casa de Oswaldo Cruz (onde atua também como pesquisadora titular) e do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Autora de Usos e circulação das plantas no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio, 2013; Iluminismo e Império na Brasil: O Patriota (1813-1814). 1. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz / Biblioteca Nacional, 2007. Entre outros livros, artigos e capítulos de livros. E-mail: [email protected] http: / / orcid.org / 0000-0002-5231-5720
SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO – Doutor em História pela Universidade de São Paulo. Professor Titular e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Autor, entre outros livros, de O Terribilíssimo Mal do Oriente:o cólera da província do Espírito Santo (1855-1856) (EDUFES, 2015), e da organização, com a colaboração de outros pesquisadores, da coletânea Uma História Brasileira das Doenças, vols. 4, 5, 6 e 7. E-mail: [email protected] http: / / orcid.org / 0000-0002-3593-1724
NOGUEIRA, André Luís Lima; KURY, Lorelai Brilhante; FRANCO, Sebastião Pimentel. O oitocentos visto a partir de suas doenças e artes de curar. Almanack, Guarulhos, n.22, maio / agosto, 2019. Acessar publicação original [DR]
Trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX | Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda | 2019
En Argentina, el campo historiográfico dedicado a examinar el desarrollo de la clase trabajadora y las izquierdas muestra una notable riqueza y vitalidad. Incluso a contramano de lo que ocurre en otros lugares del mundo –en particular en Europa, donde los estudios sobre el tema han dejado hace tiempo de ocupar un lugar destacado–, en nuestro país la historia del trabajo atrae la atención de especialistas de diferentes generaciones y crece a través de numerosos ámbitos de intercambio, diálogo y debate colectivo, entre los cuales se ubica esta revista y las diferentes iniciativas que impulsa el CEHTI.
Precisamente por su amplitud y riqueza, se trata de un campo en el cual se desenvuelven abordajes diversos, que se preocupan por encarar múltiples aristas –sociales, económicas, ideológicas, políticas y culturales– de la compleja y fascinante historia de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, un análisis atento permite advertir también que los límites temporales que enmarcan su estudio siguen siendo bastante estrictos. En efecto, son las últimas dos décadas del siglo XIX las que parecen marcar el punto de partida de cualquier pesquisa que pretenda ubicarse en el campo de la historia de la clase obrera y siguen siendo fundamentalmente las relaciones laborales asalariadas –sobre todo de obreros varones– las que delimitan los contornos del mismo. Leia Mais
300 años: masonerías y masones, 1717-2017 – ESQUIVEL et al (RE)
ESQUIVEL, Ricardo Martínez; POZUELO, Yván; ARAGÓN, Rogelio (Ed). 300 años: masonerías y masones, 1717-2017. Cinco volúmenes: Migraciones, Silencios, Artes, Exclusión y Cosmopolitismo. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017-2018. Resenha de: MARCO ANTONIO, García Robles. Revista Estudios, v.37, Diciembre 2018-Mayo 2019.
Desde la investigación histórica, desentrañar las sociabilidades de los masones permite agregar una capa de comprensión o explicación a las narraciones consideradas como canónicas o inobjetables. No es que hubiera omisiones intencionales en los seguidores de Clío; más bien, estaban en desarrollo las herramientas para interpretar las afiliaciones a los ritos masónicos existentes en el país o lo más frecuente, se disponía de escasa o nula información al respecto, lo que, de hecho, sigue siendo uno de los principales retos para los historiadores por la pérdida de archivos o el difícil acceso a los que existen.
Con relación a los cinco volúmenes de 300 años: Masonerías y masones (1717-2017),1 disponibles en formato electrónico,2 sin duda podemos afirmar que es la única iniciativa académica de esta dimensión en Iberoamérica, quizás con alguna competencia en el mundo anglosajón. Se trata para empezar, de la reedición de años de trabajo de una revista científica internacional, arbitrada e indexada con sede en la Universidad de Costa Rica, la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC+). Es de destacar la selección y actualización de artículos bajo ejes temáticos, la traducción de textos publicados en otros idiomas, además del diseño y las gestiones propias de la labor editorial, a cargo de Ricardo Martínez Esquivel, Yván Pozuelo Andrés y Rogelio Aragón.
Quizás una de las principales aportaciones de la serie, es el desmonte de mitos históricos, teorías de la conspiración, aclaración de información errónea o incluso, de las leyendas propaladas por las propias logias alrededor del mundo. Por supuesto, también se observan las aportaciones de la francmasonería en diversos ámbitos o mejor dicho, de algunos y algunas de sus integrantes, como parte fundamental en la transición del antiguo al nuevo régimen; aunque también este orden de carácter iniciático pueda entenderse más bien como un fenómeno paralelo o consecuencia de la modernidad.
Aunque quisiéramos, no disponemos del espacio para comentar los 44 artículos de la serie, además de las introducciones a cada libro, hechas por un colaborador diferente, que por sí mismas también revisten aportaciones adicionales. Así pues, señalaremos algunas de las aportaciones de cada ejemplar, con la advertencia de que en ocasiones se trata de verdaderos spoilers del contenido, lo que esperamos también sea una invitación para adquirirlos y leerlos.
Así pues, en el tomo I, Migraciones, señala José Antonio Ferrer Benimeli, que la promulgación de la Constitución de Cádiz consumó la invención del mito masónico-liberal, donde, pro-franceses, radicales, etc., se constituyeron en enemigos del trono y el altar. Señala el decano de la investigación masónica:
En este tránsito del antiguo al nuevo régimen, del absolutismo al liberalismo, de la tradición al reformismo o a la modernidad, el espacio masónico cobró una inusitada importancia a ambos lados del Atlántico cuando en realidad hoy día nos replanteamos el protagonismo que en gran parte está todavía por demostrar.3
En ese mismo sentido, el investigador español califica como leyenda la pertenencia a la masonería de la mayor parte de los próceres independentistas de América, incluyendo México, surgida en parte por la propaganda inicial anti-insurgente, como la citada por él en la Contestación del fray José Ximeno, del colegio de crucíferos de Querétero, al manifiesto del señor Hidalgo del año 1811, donde se acusa a Hidalgo de haber recibido de sus “hermanos los francmasones” la “perniciosa” idea de la igualdad que disolvía las diferencias que daban orden a la sociedad y generaban la anarquía, de donde concluía que Hildago era o libertino, o materialista, o apóstata de la religión, o todo junto, y por lo tanto francmasón como Napoleón, su amo.4
Por su parte, María Eugenia Vázquez Semadeni, en “Del mar a la política. Masonería en Nueva España/México, 1816-1823”, coincide en que no está demostrada la existencia de logias masónicas en el siglo XVIII en el actual territorio mexicano, además de cuestionar el mito fundacional de la masonería mexicana con el relato de la logia en la calle de las Ratas en la capital novohispana en 1806.5 Empero, documenta la existencia de talleres masónicos en Luisiana en 1793 con apoyo francés y norteamericano, aunque posteriormente este territorio es devuelto a Francia, quien lo vende a Estados Unidos. Luego refiere que surgida una gran logia en el nuevo estado del vecino país, otorga carta patente para fundar logias en Veracruz en 1816, al año siguiente en Campeche y en 1820 en Yucatán.6
En cuanto al tomo II, Silencios, abre magistralmente con el artículo de Vázquez Semadeni, “La teoría de la conspiración masónica en Nueva España/México, 1738-1949”, que parte de la idea de los detractores de esta forma de sociabilidad en el sentido de que existe un plan masónico para dominar el mundo. Nos dice la autora:
La teoría de la conspiración puede definirse como la creencia de que una organización formada por individuos o grupos actúa subrepticiamente para alcanzar un fin malévolo. En un sentido más amplio, las teorías de la conspiración consideran que la historia está controlada por fuerza malignas o incluso demoniacas.7
Explica la masonóloga que estas especulaciones generalmente están vinculadas a la Iglesia católica, gobiernos monárquicos y grupos conservadores. Otro de los asuntos que alentó la teoría de la conspiración, aún vigente para los no historiadores de profesión, es la liga de algunos insurgentes con sociedades secretas como la de los “Caballeros racionales”, cuyas ramificaciones desde Sudamérica fueron descubiertas en México, pero que los investigadores desestiman como masonería.
Por su parte, Felipe Santiago del Solar, en “Secreto y sociedades secretas en el mundo hispánico en la crisis del antiguo régimen”,8 clarifica algunas de las “leyendas negras” sobre la masonería, como lo relacionado con los “Iluminados de Baviera” o las logias “Lautaro”, que si bien, usaban estructuras y métodos similares a la masonería, perseguían otros fines, políticos o revolucionarios.
El tercer tomo reviste particular interés para los estudiosos de la literatura, la música y las creaciones visuales, pues está dedicado a las Artes. Por ejemplo, Andrew Pink, en “‘Cuando cantan’: la interpretación de canciones en las logias inglesas del siglo XVIII”, aborda el uso informal y ceremonial de la música en los talleres masónicos.9 En temas conexos se encuentran los artículos “Y la lira volvió a sonar: breve estudio sobre las relaciones semánticas entre música y masonería” de Fernando Anaya Gámez;10 y “La tercera columna: la música como herramienta mediática de la masonería en la Venezuela del siglo XIX” de Juan de Dios López Maya.11
David Marín López, en “Arte y masonería: consideraciones metodológicas para su estudio”,12 plantea un concepto de trabajo para analizar las creaciones artísticas vinculadas con la masonería. Se trata el de “estética masónica”, aunque se trata de una categoría relativamente debatible. Empero, constituye un ensayo que da pauta a la creación de un modelo de interpretación, que necesariamente tendrá que ir de la mano una contextualización de los realizadores, los comitentes, los usos, etc.
Un texto de gran erudición es “La masonería en la literatura. Una panorámica general” de José Antonio Ferrer Benimeli,13 que, en términos sintéticos, enlista una considerable cantidad de títulos y autores, que el propia autor clasifica en cuatro apartados:
- Literatos de renombre que al mismo tiempo fueron masones pero no reflejan directamente su compromiso con la masonería en sus escritos literarios.
- Masones que sí manifiestan su dualismo masónico-literario.
- Estudios críticos sobre dichos autores y sus obras.
- Autores no masones que aluden a la masonería en sus obras y que incluso la elevan a categoría de protagonista.14
Por cierto, podríamos incluir en la categoría tercera, aunque se trate de un texto académico, el de Yván Pozuelo Andrés, quien en “Kipling y su sorprendente primera novela”,15 analiza la obra El Hombre que quiso ser Rey, quizás más conocida por su versión cinematográfica con el actor Sean Connery como protagonista. En el artículo, el investigador español aborda la biografía del escritor indio, sus escritos relacionados con la masonería, e incluso, el debate si trabajos como El libro de la selva, tienen un trasfondo masónico, que él descarta, pero que otros investigadores sí observamos, como el paralelismo entre el perfil de algunos personajes y los grados de la masonería simbólica (aprendiz, compañero y maestro).
El cuarto tomo, Exclusión, tiene como principal enfoque el estudio histórico de la masonería desde el género. Como dice el autor del texto introductorio, Guillermo de los Reyes, “la integración de las mujeres en la sociabilidad masónica creo un gran conflicto con la intolerancia de ciertas masonerías, particularmente las de tradición anglosajona”, que permanece y que podría definirse como “tolerante intolerante” o “fraternidad sin sororidad”.16
De este mismo investigador de la Universidad de Houston, escrito junto con Paul J. Rich, extraigo un fragmento de su texto “Problemática racial, de sexualidad y de género: encrucijadas de la masonería norteamericana en el siglo XXI”, que proporciona referencias de la existencia de mujeres masonas antes de la fecha emblemática de 1717, que se tiene como el punto de inicio de la masonería moderna, inglesa y masculina:
Existe un registro de 1408 en el que los masones que acababan de ser invitados juraban obediencia al “maestre o dama o cualquier otro masón dirigente”. En los registros de la logia de la capilla de María de Edimburgo, con fecha de 1683, la logia estaba presidida por una dama o señora. Los registros de la Gran Logia de York en 1693 hablan acerca de iniciados masculinos y femeninos.17
Adicionalmente, este tomo resulta de gran interés por las aportaciones de investigadoras de varias universidades del mundo, que llevan a desmontar la visión de una predominancia masculina en la sociabilidad de estudio. Aquí viene perfectamente al caso una cita de Maria Deraismes, fundadora de la gran logia francesa mixta “Le Droit Humaine” (El Derecho Humano). Ante la pregunta en su iniciación en 1882, ¿cuál es vuestro objetivo al entrar en la francmasonería?, respondió: “…poner fin al prejuicio que ha excluido a las mujeres, pues tengo el firme espíritu de que gracias a su admisión podrá complementarse en el seno de las logias una obra de mejora general de las conciencias”.18
Por último, con respecto al tomo V, Cosmopolitismo. La introducción de este número a cargo de Ricardo Martínez Esquivel, posee un tono un tanto irónico y nostálgico de la cultura popular, que no se contrapone al rigor académico de la historia. El también director de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de Costa Rica, nos recuerda los imaginarios mediáticos que nos remiten a la práctica masónica, como la hermandad de los “búfalos mojados” en los Picapiedra, la logia de los “magios” (stonecutters) en los Simpson, donde Homero, el famoso personaje de la icónica serie, es iniciado; o el rito de los “cefalópodos” en Bob Esponja, a los que se podrían añadir más ejemplos no mencionados, tanto de cartoons clásicos, como de emisiones contemporáneas de dibujos animados, con amplia audiencia.
La masonería es un fenómeno global, que se extendió a muchas latitudes del mundo desde su institucionalización en el Londres de 1717. Así, Margaret C. Jacob, en “La ilustración radical y la masonería”,19 comenta el detonante de la emigración protestante a Inglaterra y Holanda, por la intolerancia religiosa francesa y otros países católicos, así como los escritos y prácticas producidos en ese contexto. Quizá haya que mencionar que los redactores de las Constituciones de los Francmasones en 1723, James Anderson y Jean Théophile Désaguliers, eran precisamente protestantes.
Pierre-Yves Beaurepaire, en “Sociabilidad y masonería. Propuestas para una historia de las prácticas sociales y culturales en el siglo de las luces”,20 plantea un estudio de la masonería desde las prácticas de sus miembros, basado en teóricos como Maurice Agulhon, George Simmel, Jürgen Habermas y otros, que ven en los masones a nuevas formas de convivencia en la sociedad burguesa europeas.
Jessica Harland-Jacobs, en “Fraternidad global: masonería, imperios y globalización”,21 reflexiona sobre la rápida expansión que tuvo la masonería especulativa moderna, y cómo esta fue un factor del fenómeno que ahora conocemos como globalización, incluyendo la construcción de redes internacionales, el uso de cartas de presentación que se convirtieron en el antecedente del pasaporte, y otras cuestiones aparejadas a las prácticas comerciales, de colonialismo y militares.
Ricardo Martínez Esquivel, en “Imperialismos, masones y masonerías en China (1842-1911),”22 realizó un detallada análisis sobre la implantación de la sociabilidad masónica en el país asiático. Esta temática se vincula con la emergencia de algunas logias de inmigrantes chinos en países como México y los Estados Unidos de América, asunto del que recientemente ha surgido evidencia documental de gran interés y que con certeza dará lugar a nuevas investigaciones y escritos.
El artículo con el que cierra el tomo V es por demás interesante, Andrew Prescott, con “En busca del Apple Tree: una revisión de los primeros años de la masonería inglesa”,23 pone en entredicho la fecha fundacional de la institución teóricamente tricentenaria, para ubicarla con mayor probabilidad en 1821, ello a partir de la búsqueda de la famosa taberna donde se celebró la primera reunión de la Gran Logia de Londres, así como de las biografías y testimonios de la época.
La serie bibliográfica 300 años: Masonerías y masones (1717-2017), además de un lenguaje accesible, integra en cada número una sección iconográfica y fotográfica, con imágenes que complementan a la perfección los temas vertidos en sus páginas, además de brindar elementos para continuar con la indagación sobre la historia de la masonería.
Adicionalmente, para las personas interesadas en el estudio histórico del fenómeno masónico, se presentan entreveradas en los escritos, las pautas teórico-metodológicas que se siguieron para lograr los productos académicos de alta calidad. En algunos casos, se invita a proseguir con trabajos multi o transdisciplinarios, como la “lectura” o interpretación de objetos decorativos o parafernalia masónica en la reconstrucción de un momento específico en la vida de una logia, o incluso, en la biografía de un iniciado.
En la lectura anticipamos polémica, sorpresas, erudición y claro, disfrute intelectual. Con certeza, algunas versiones contenidas en las páginas de la serie conmemorativa no gustarán a las personas iniciadas en algún rito masónico o incluso, de los “altos cuerpos” de algunas obediencias, como tampoco serán del aprecio de los todavía existentes detractores de esta sociabilidad. En todo caso, creo que serán valoradas por las y los amantes de la verdad histórica, que nunca deja de estar en construcción.
Notas
1 Ricardo Martínez Esquivel, Yván Pozuelo Andrés y Rogelio Aragón (editores). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) (México: Palabra de Clío, 2017 y 2018).
2 Pueden descargase gratuitamente en: www.palabradeclio.com.mx
3 José Antonio Ferrer Benimeli, “Utopía y realidad del liberalismo masónico. De las cortes de Cádiz a la Independencia de México”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo I, Migraciones (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 12-13.
4 Ferrer, “Utopía y realidad…”, p. 21.
5 María Eugenia Vázquez Semadeni, “Del mar a la política. Masonería en Nueva España/México, 1816-1823”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo I, Migraciones (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 128-130.
6 Vázquez, “Del mar a la política”, pp. 131-133.
7 María Eugenia Vázquez Semadeni, “La teoría de la conspiración masónica en Nueva España/México, 1738-1949”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo II, Silencios (México: Palabra de Clío, 2017), p. 9.
8 Felipe Santiago del Solar, Secreto y sociedades secretas en el mundo hispánico en la crisis del antiguo régimen”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo II, Silencios (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 150-167.
9 Andrew Pink, “‘Cuando cantan’: la interpretación de canciones en las logias inglesas del siglo XVIII”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 9-18.
10 Fernando Anaya Gámez, “Y la lira volvió a sonar: breve estudio sobre las relaciones semánticas entre música y masonería”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 19-39.
11 Juan de Dios López Maya, “La tercera columna: la música como herramienta mediática de la masonería en la Venezuela del siglo XIX”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 40-60.
12 David Marín López, “Arte y masonería: consideraciones metodológicas para su estudio”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 71-84.
13 José Antonio Ferrer Benimeli, “La masonería en la literatura. Una panorámica general”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 110-128.
14 Ferrer, “La masonería en la literatura”, p. 128.
15 Yván Pozuelo Andrés, “Kipling y su sorprendente primera novela”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo III, Artes (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 129-157.
18 María José Lacalzada de Mateo, citada en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo IV, Exclusión (México: Palabra de Clío, 2017), p. 90.
19 Margaret C. Jacob, “La ilustración radical y la masonería”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 9-21.
20 Pierre-Yves Beaurepaire, en “Sociabilidad y masonería. Propuestas para una historia de las prácticas sociales y culturales en el siglo de las luces”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 22-30.
21 Jessica Harland-Jacobs, “Fraternidad global: masonería, imperios y globalización”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 65-81.
22 Ricardo Martínez Esquivel, “Imperialismos, masones y masonerías en China (1842-1911)”, en 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 94-119.
23 Andrew Prescott, “En busca del Apple Tree: una revisión de los primeros años de la masonería inglesa”, 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017), tomo V, Cosmopolitismo (México: Palabra de Clío, 2017), pp. 168-191.
Marco Antonio García Robles – Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. E-mail: [email protected]
Historicidade e objetividade – DASTON (HU)
DASTON, L. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves e Francine Iegelski (org. Tiago Santos Almeida). São Paulo: LiberArs, 2017. 143 p. Resenha de: SOUSA, Raylane Marques. Por uma história dos ideais e práticas da objetividade científica. História Unisinos 22(4):702-707, Novembro/Dezembro 2018.
A coletânea de artigos intitulada Historicidade e objetividade, de Lorraine Daston, historiadora das ciências e diretora do Instituto Max-Planck de História das Ciências de Berlim, publicada no segundo semestre de 2017 e correspondente ao primeiro lançamento da “Coleção Epistemologia Histórica”, da Editora LiberArs, constitui-se num desafio de historicização das ciências e num projeto de epistemologia eminentemente histórica. O livro em tela congrega um prefácio, uma apresentação e sete artigos e persegue o propósito que desvelaremos a seguir.
No prefácio, Lorraine Daston anuncia-nos a proposta da obra 1. A autora esclarece-nos que os artigos, com a ressalva de um, enquadram-se numa perspectiva de historicização das ciências e num programa de “epistemologia histórica”. Se a intenção de Daston é construir um programa de epistemologia histórica, isto é, “a história das categorias e práticas que são tão fundamentais para as ciências humanas e naturais que parecem muito autoevidentes para ter uma história” (p. 9-10), o itinerário argumentativo que ela desenha nas sete investigações em pauta revela-o de forma coerente e original, uma vez que o objetivo embrionário da coleção desses artigos, tendo em conta o excelente esteio bibliográfico em que se sustentam, é justamente mostrar que a objetividade nas ciências, a atividade de observação, a elaboração de um fato científico e as formas de quantificação têm uma história e pensar sobre as especificidades dessa história nos leva “a repensar a história de como sabemos o que sabemos” (p. 10).
Na apresentação, intitulada “História das Ciências, Teoria da História e História Intelectual”, Tiago Almeida e Francine Iegelski (2017) apontam-nos os motivos que os levaram à tradução, à organização e à publicação de Historicidade e objetividade. Os autores esclarecem-nos que a execução desse projeto tem dois objetivos: o primeiro é de colocar o público brasileiro em contato com os debates mais fecundos da historiografia das ciências; e o segundo é de discutir o já consolidado “programa historiográfico” ou a “epistemologia histórica” de Lorraine Daston para a história das ciências. Os autores evidenciam igualmente que o programa ou a epistemologia histórica de Lorraine Daston se distingue dos programas historiográficos anteriores e contemporâneos porque foi capaz de incorporar as contribuições e se desviar dos defeitos das três principais escolas da história das Nas relações que estabeleciam entre o conhecimento e seus objetos, a primeira escola tinha o defeito de ser idealista, a segunda de ser estruturante, e a terceira de se aprisionar ao particular. Desse modo, como frisam os autores, em seu programa ou epistemologia histórica, Daston recusa a ideia, bem acolhida e propagandeada por essas escolas, segundo a qual “historicizar equivaleria a relativizar ou, o que é pior, invalidar” (p. 12), ao mesmo tempo em que recupera o método de comparação entre as ciências, apesar de suas diferentes especialidades. De acordo ainda com os autores, a originalidade da abordagem de Daston para a história das ciências reside no fato de ser um projeto de trabalho conciliador, favorável à reunião de pesquisadores de diversas áreas, dedicado ao estudo de categorias, conceitos, ideias, objetos e práticas basilares da ciência moderna. Além disso, a apresentação retrata que certo número de pesquisadores chegou ao campo da História das Ciências via Teoria e Metodologia da História e História das Ideias e Intelectual, e vice-versa. Tanto o campo da História das Ciências quanto os campos da Teoria e Metodologia da História e História das Ideias e Intelectual se interessam pela historicidade das ciências, pelas relações entre conceitos, ideias, discursos, textos e contextos, e pelas temporalidades e escritas da história. Assim, o fascínio por esses temas acabou por aproximar essas áreas de conhecimento e por favorecer o contato dos historiadores da história com os historiadores da ciência, além de familiarizar os primeiros com os trabalhos de Daston, principalmente aqueles textos que versam sobre a objetividade e seus significados e múltiplas formas de manifestação.
No artigo 1 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Objetividade e fuga da perspectiva”, Daston esforça-se por traçar uma história não linear e contingente da objetividade científica, história essa que vai do fim do século XVIII ao início do século XIX3. O texto inicia com uma explanação concernente aos múltiplos sentidos da palavra objetividade e suas variantes nos idiomas francês (objectivité) e alemão (Objektivität). Nessas duas línguas, a autora explica que a palavra é confusa e refere-se a um só tempo à metafísica, aos métodos e à moral. A primeira referência diz respeito à busca dos cientistas por uma verdade objetiva no conhecimento, a segunda diz respeito aos procedimentos objetivos que sustentam toda pesquisa científica, e a terceira diz respeito à conduta objetiva, imparcial e desapaixonada do investigador. Daston assinala, na continuação do debate do texto 1, que os pesquisadores dos Science Studies têm se interessado bastante pelo conceito de objetividade na atualidade, mas eles continuam focando nos problemas de existência e legitimidade, em vez de problemas históricos. De maneira efetiva, como a autora argumenta, a objetividade tem uma história, e um dos episódios que lhe permite falar de tal história é a emergência, no século XIX, do que ela chama de ideal de “objetividade aperspectivística”, isto é, a tentativa de eliminação de características individuais do conhecimento científico. Assim, é no esforço de compreender o ideal de objetividade aperspectivística que a autora tece uma história crítica desse conceito no primeiro texto. Lorraine Daston sugere também que é possível visualizar o desenvolvimento desse conceito na literatura estética e moral do século XVIII, como no caso dos autores Shaftesbury, Hume e Adam Smith. A autora nos diz que as discussões a respeito da “perspectiva” no século XVIII e XIX procuram a supressão e o distanciamento emocional do indivíduo e colocam afirmações morais e estéticas em lado oposto às afirmações científicas, a exemplo dos pensadores mencionados. Seguindo o seu raciocínio, a autora também procura investigar a situação do conceito nas ciências naturais, opondo as tentativas dos homens de ciência do século XIX de sacrificar os traços pessoais a práticas precedentes. A autora esclarece que as investidas desses homens de ciência de supressão de traços individuais eram como que uma precondição para a criação de uma comunidade científica justa, harmoniosa e coerente, assim como uma garantia de alcançar a verdade científica.
Finalmente, a autora conclui o texto 1 com uma breve reflexão sobre como e por que a história do conceito de objetividade aperspectivística ganhou uma camada moral. Segundo a autora, a objetividade aperspectivística prescrevia certa indiferença e desapego por tudo o que é pessoal. Os cientistas deveriam não apenas abandonar tudo o que lhes é próprio, mas também esquecer todo e qualquer reconhecimento de si mesmos. Ademais, os valores da objetividade aperspectivística contribuíram para que os cientistas pautassem a sua conduta em métodos mecânicos e observações morais. A par dessas informações, o primeiro artigo do livro diz-nos que a objetividade que Lorraine Daston nos apresenta como tendo uma história tem como base as seguintes críticas: em primeiro lugar, a objetividade nas ciências não é um “dado trans-histórico” (p. 16) e que busca “a estrutura última da realidade” (p. 17); e, em segundo lugar, a objetividade não é mecânica e que visa suprimir “a propensão universal humana de julgar e estetizar” (p. 17).
O artigo 2 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “A economia moral da ciência”, procura avaliar e desbancar uma antiga tradição que opõe fatos a valores. A espinha dorsal do presente texto é a ideia de que a ciência tem o que Lorraine Daston chama de “economia moral” e esta economia moral constitui o modo de conhecimento científico. Mais especificamente, a autora assevera que a ciência tem “certas formas de empirismo, quantificação e objetividade que não apenas são compatíveis com economias morais, elas exigem economias morais” (p. 38).
Segundo Daston, muito embora a ciência seja um exemplo de racionalidade e facticidade, ela não está isenta de afetos e emoções, valores, ideologias, normas e regularidades institucionais. Consoante a autora, “economias morais, ao contrário, são partes integrais da ciência: de suas fontes de inspiração, suas escolhas de temas e procedimentos, a peneira da evidência e seus padrões de explicação” (p. 42).
Embora as economias morais existam na ciência, para que elas servem e como elas estruturam as ideias-força de como os cientistas vêm a conhecer? Acerca dessas questões, Daston explica que uma economia moral é boa para a quantificação, o empirismo e a própria objetividade. As várias formas de quantificação têm economias morais. Os historiadores da ciência quantificam cientificamente, mas nem todos aspiram à exatidão matemática de suas mensurações, embora a precisão seja uma das virtudes mais observadas e louvadas entre eles. O empirismo também é um elemento fecundo em economias morais. Os três principais aspectos do empirismo da filosofia natural do século XVII, o testemunho, a facticidade e a novidade, apoiam-se e entrelaçam-se em valores e afetos. A objetividade, entretanto, é já uma economia moral. De acordo com Daston, duas de suas variantes mais importantes, ambas oriundas do século XIX, são: a “objetividade mecânica” e a “objetividade aperspectivística” (p. 59). A objetividade mecânica fundamenta-se em uma epistemologia da autenticidade e exige a eliminação de qualquer interferência pessoal no conjunto de observações da natureza. Já a objetividade aperspectivística assenta-se no lema “a visão a partir de lugar nenhum” de Thomas Nagel e combate as idiossincrasias de indivíduos e até de coletivos de pesquisadores em prol da verdade científica. Portanto, o elemento fundamental da discussão de Daston sobre as economias morais do conhecimento científico baseia-se na ideia de que o núcleo da ciência é moral e ressoa a voz do dever moral.
No artigo 3 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Uma história da objetividade”, Daston começa pontuando aspectos das três escolas que dominaram a história das ciências, a saber: a escola filosófica, a escola sociológica e a escola histórica. A escola filosófica é idealista e pensa a história das ciências como “a história da emergência e desaparecimento dos conceitos de natureza, dos sistemas metafísicos e dos quadros epistemológicos” (p. 69). Os historiadores filósofos da ciência associados a essa forma de pensar direcionam sua atenção para as teorias científicas e para a interlocução dessas teorias com outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a teologia.
A escola sociológica concentra seu olhar sobre as estruturas sociais (tanto as microscópicas quanto as macroscópicas) da pesquisa científica. Os historiadores sociólogos da ciência que compartilham dessa tendência enxergam a ciência como uma instituição importante inserida na sociedade e que espelha a divisão dos poderes e a produção dos significados culturais. Já a escola histórica foca no local e no singular, aspectos que as outras duas escolas deixaram de lado. Os historiadores aliados a essa forma de pensar a ciência primam não apenas pelas teorias, mas também pelas práticas científicas e pelo trabalho nos arquivos. Outro aspecto basilar desse texto 3 é a apresentação do novo programa de Daston para a história das ciências. A autora finalmente explica o que entende por “epistemologia histórica” (Historical Epistemology): “a história das categorias que estruturam o nosso pensamento, que modelam nossa concepção da argumentação e da prova, que organizam nossas práticas, que validam nossas formas de explicação e que dotam cada uma dessas atividades de um significado simbólico e de valor efetivo” (p. 71). A singularidade da epistemologia histórica de Daston é que ela se relaciona à história das ideias, das práticas, dos afetos e emoções, dos valores e significados que organizam as economias morais das ciências. Daston estabelece novas perguntas para velhas questões. É principalmente nesse aspecto que a abordagem da autora se diferencia das demais que ordinariamente tomam a objetividade científica como desprovida de história.
No artigo 4 da obra Historicidade e Objetividade, intitulado “O que pode ser um objeto científico? Reflexões sobre monstros e meteoros”, Daston explica o que é e o que pode se tornar um objeto de pesquisa científica. A resposta da autora para esse questionamento é uma crítica construída com base na afirmação de Aristóteles de que as ciências se fazem a partir de regularidades: “daquilo que é sempre ou pelo maior período de tempo” (p. 79). Para Daston, porém, somente a regularidade não é suficiente para destacar um item do cotidiano ordinário e torná-lo objeto de investigação científica. É necessário ir além e observar “se uma classe de fenômenos é quantificável, manipulável, bela, experimentalmente repetível, universal, útil, publicamente observável, explicável, previsível, culturalmente significativa ou metafisicamente fundamental” (p. 79). Segundo Daston, esses critérios se justapõem e demonstram que a escolha dos objetos científicos vai além do simples critério de regularidade. Assim, um estudo sério do que é e do que não é objeto para a ciência deve levar em consideração esses critérios e como eles se sobrepõem à experiência normal do cotidiano e destacam alguns fenômenos como objeto de investigação e outros não. O objetivo de Daston nesse texto 4 é exatamente examinar, por meio de exemplos históricos, como e por que os objetos da filosofia preternatural se tornaram objetos de investigação da ciência em meados do século XVI e foram esquecidos no século XVIII. Segundo a autora, os objetos da categoria preternatural/além da natureza (sintetizados em dois grupos, monstros e meteoros) continuaram a existir nesse período, mas não despertaram mais interesse dos cientistas, porque os três princípios (ontológico, epistemológico e sensitivo) que mantinham tal categoria unida e em evidência foram desvelados. Daston defende que os objetos preternaturais foram escolhidos, em primeiro lugar, pelo princípio ontológico, que significa coisas e eventos fora da ordem cotidiana da natureza. Em segundo lugar, eles foram escolhidos pelo princípio epistemológico, que exige um trabalho mais pesado de coleta, explicação e fundamentação.
Em terceiro lugar, eles foram escolhidos pelo princípio da sensibilidade, que dá conta das maravilhas e, até mesmo, dos milagres e prodígios. De acordo com a autora, no entanto, a filosofia preternatural não teve morte espontânea. Os três princípios que a fundamentavam foram incorporados pela filosofia natural do final do século XVII e início do século XVIII. Além disso, a emergência de uma nova metafísica e uma nova sensibilidade dissolveu sua lógica, embora sem eliminar seus componentes, tornando-a irrelevante para os estudos científicos.
No artigo 5 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Sobre a observação científica”, Daston apresenta-nos a observação científica como um gênero epistêmico dotado de historicidade. A autora explica-nos que a observação é a prática científica basilar das ciências humanas e naturais. Embora tal prática não desperte o interesse das ciências enquanto objeto de investigação, alguns filósofos e positivistas lógicos se dedicaram a examiná-la no século XX, mais precisamente com intuito de fortalecer “a visão científica da observação como primitiva e passiva” (p. 91). Já os críticos da postura adotada por tais filósofos e positivistas lógicos defendiam a ideia de que as observações eram inevitavelmente entremeadas de juízos de valor e, por isso, não poderiam oferecer um julgamento imparcial quando entrassem em conflito. Segundo a autora, nas duas situações, a preocupação dos filósofos da ciência era epistemológica e estava assentada na filosofia de Kant, a saber: “haveria ou não haveria algo como uma observação científica não contaminada pela teoria?” (p. 91). No fundo, a preocupação desses filósofos era como higienizar a observação, evitando que ela fantasiasse e distorcesse os dados objetivos. Nesse texto 5, o objetivo de Daston é discutir as bases ontológicas da observação científica especializada, especialmente como esta reconhece e seleciona objetos para uma comunidade de cientistas.
Com efeito, como nos diz a autora, esta discussão ocupa algum espaço “entre epistemologia (que estuda como observadores científicos adquirem conhecimento acerca dos objetos por eles escolhidos) e metafísica (que investiga a realidade última das entidades observadas)” (p. 92). Assim, na perspectiva de Daston, a ontologia é algo como os cientistas preenchem o universo com percepções, retirando objetos do cotidiano comum, classificando-os e tornando-os objetos de investigação científica, e traduzindo- os em formas (textos-imagens-tabelas) ou numa linguagem popular a um coletivo ou a uma comunidade. De acordo com a autora, uma tentativa de historicização da observação científica pode ajudar a trazer à superfície práticas científicas tomadas até então como a-históricas e autoevidentes e conectar a história das ciências à história das sensibilidades e do eu, como também expandir o espaço das experiências científicas. Nesse sentido, o que constitui o mote desse texto 5 é a ideia que assim pode ser sintetizada: não existe ciência sem a prática da observação, e tampouco mundo articulado visível, audível ou táctil.
O artigo 6 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Science Studies e História das Ciências”, constitui-se como um desvio nessa coletânea, como afirma Lorraine Daston no Prefácio. Esse capítulo não explora episódios históricos, mas a situação de aproximação e estranhamento entre duas disciplinas que abordam o mesmo tema, neste caso, “ciência e tecnologia” (p. 109). O objetivo de Daston, nesse texto, é rastrear a situação de interdisciplinaridade e intercâmbio entre os Science Studies e a História das Ciências, bem como o presente e o futuro de ambos os campos. Assim, o texto divide-se em duas partes. A primeira parte traz um curto relato das conexões entre Science Studies e História das Ciências desde 1970. A segunda parte examina como seus caminhos se separaram na década de 1990 à medida que a História das Ciências se aproximava da História e os Science Studies se afastavam. A partir do relato sucinto da conexão entre os dois campos, com foco nos Science Studies, Daston destaca que os objetivos deste último campo se sintetizavam em “humanizar a ciência tornando-a mais social (ou pelo menos sociável) ou domesticá-la, também tornando-a mais sociável (ou pelo menos sociológica)” (p. 111), e se afastar de tudo o que “cheirasse a psicologia” (p. 111). De acordo com a autora, esses objetivos se apoiavam em dois princípios: em primeiro lugar, “a ênfase nas instituições e estruturas, não nos indivíduos e ações” (p. 111); e, em segundo lugar, o destaque de que “o social se baseava fortemente nas estratégias marxistas desmistificadoras da ideologia” (p. 112). Esses dois princípios sugerem, segundo Daston, que os Science Studies seguiram correntes distintas de pensamento: Karl Marx e Émile Durkheim, mas também a sociologia do conhecimento de Karl Mannhein, a filosofia-sociologia de Fleck, entre outras. Mas o componente-chave que estabeleceu o afastamento entre os Science Studies e a História das Ciências foi a leitura da obra A estrutura das revoluções científicas, de Thomas S. Kuhn, lançada em 1962. Assim, enquanto os Science Studies interpretaram a obra de Kuhn como uma exposição do relativismo, os historiadores das ciências, em contrapartida, extraíram lições diferentes e mais próximas da argumentação de Kuhn, a saber, que a História das Ciências não poderia mais ser entendida como progresso constante em busca de um télos e uma verdade última, mas deveria afastar-se das narrativas teleológicas. O ponto de aproximação entre os dois campos seria a crítica a uma visão positivista da história, que se definia por um método mecânico e apartado do social.
A outra metade do artigo 6 é dedicada à exposição dos motivos que levaram ao distanciamento entre os Sciences Studies e a História das Ciências. A começar com o esclarecimento do que é ciência e de como estudá-la, essa segunda parte prolonga a discussão a respeito do estranhamento entre os dois campos. Segundo Daston, os Science Studies se recusavam a aceitar a doutrina científica atual e concebiam as ideias de verdade e falsidade das proposições como insuficientes para sua aceitação. Além disso, eles achavam que uma explicação para ser completa deveria levar em consideração aspectos sociais, políticos e cognitivos. O motivo do distanciamento dos Sciences Studies com relação à História das Ciências foi a transparência dos relatos dos cientistas. Por meio de uma discussão pormenorizada sobre como os historiadores da ciência viam a ciência atual, Daston evidencia que eles eram menos desconfiados no que diz respeito às verdades e às falsidades das proposições, embora fossem extremamente descrentes quanto às narrativas da ciência do passado em relação à ciência presente. De acordo com Daston, talvez o principal motivo que levou ao distanciamento dos Science Studies da História das Ciências na década de 1990 tenha sido o debate acerca da “contextualização da ciência”. Enquanto o primeiro campo levantava a bandeira da “ciência em contexto” e contribuía para o fim da autonomia da ciência no que concerne à sociedade, o segundo campo também hasteava essa bandeira, mas explorava de forma mais detida o contexto histórico e trabalhava para sua ampliação e aprofundamento, incorporando novos conceitos, categorias e práticas das ciências sociais e, principalmente, da história.
No artigo 7 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Objetividade e imparcialidade: virtudes epistêmicas nas humanidades”, encontramos a desmistificação das relações entre as humanidades e as ciências que, por mais de um século, foram marcadas pelas oposições “Geistes versus Naturwissenschaften, ideográficas versus nomotéticas, interpretativas versus exploratórias, orientadas para o passado versus orientadas para o futuro” (p. 127). De acordo com Daston, desde pelo menos o século XVI, as humanidades e as ciências compartilham “métodos, instituições, ideias e virtudes epistêmicas” (p. 127). Imparcialidade e objetividade são duas das virtudes epistêmicas amplamente compartilhadas no século XIX2. Começando com uma sentença lapidar do jovem Nietzsche em sua II Consideração extemporânea: “Objetividade e justiça não tem nada a ver uma com a outra” (Nietzsche, 2017, p. 90), Daston apresenta-nos a crítica que o filósofo fez aos valores da imparcialidade e da objetividade, assim como aos estabelecimentos de ensino de seu tempo que supervalorizaram tais virtudes epistêmicas e as trouxeram para as humanidades. Segundo a autora, quando a história se tornou uma ciência empírica no século XIX, esses valores entraram em concussão e Nietzsche foi quem melhor percebeu os choques. O objetivo de Daston, nesse texto, é mostrar que os valores da imparcialidade e objetividade têm histórias próprias e precisam ser problematizadas.
Assim, Daston faz um esboço dos objetivos da imparcialidade e da objetividade na história, evidenciando como a imparcialidade foi difundida e praticada por historiadores ao longo dos séculos XVIII e XIX, especialmente em favor de uma história dos estados-nação. A autora assinala que, no século XVIII, a história consistia em narrativas dos eventos e das vidas dos grandes homens apresentadas como exemplos para formação do julgamento e do caráter do leitor. Nesse modelo de história, a imparcialidade não significava neutralidade de valor por parte do historiador, mas sim não tomada de partido de nenhuma das partes envolvidas na história – não engajamento político –, com objetivo de alcançar conclusões sólidas acerca de guerras e conflitos políticos do passado. Assim, por exemplo, Leopold von Ranke é um dos mais importantes historiadores associados a essa doutrina da imparcialidade. Heinrich von Sybel e Georg Gervinius, posteriormente, criticaram Ranke por sua imparcialidade e neutralidade. O jovem Nietzsche também teceu duras críticas ao historiador prussiano por sua imparcialidade e autoimposta “objetividade de eunuco”.
A sequência do texto 7 apresenta as técnicas da objetividade aplicadas à história, bem como certos aspectos do historiador objetivo. No centro do sentido de objetividade dos historiadores do século XIX está “o forte sentimento de restrição científica” (p. 133), que julgava até que ponto a evidência em mãos poderia ir. Daston constata que tanto os métodos e as técnicas da crítica histórica quanto certas atitudes objetivas do historiador diante de seu objeto assentam- se na polêmica entre filólogos clássicos e historiadores da antiguidade a respeito das declarações metodológicas de Tucídides em seus discursos. Segundo Daston, as duas principais questões que mobilizaram os estudos acadêmicos sobre Tucídides foram estas: “primeiro, em que medida o próprio Tucídides estava conscientemente aspirando ao padrão de história objetiva?; segundo, ele se manteve fiel a esse padrão, especialmente ao relatar discursos?” (p. 136). A autora explica que as palavras objetividade e subjetividade são produtos de meados do século XIX, logo a importação desses termos para as análises da obra e do método histórico de Tucídides é um equívoco. Daston recupera ainda a crítica de Nietzsche à religião ascética da objetividade que dominou e formatou os historiadores no século XIX. A autora está preocupada em entender como, em tão pouco tempo, o valor da objetividade se tornou uma virtude superestimada entre os historiadores. Nietzsche é a chave interpretativa para essa questão. O filósofo alemão farejou no culto da objetividade um ar de “autoengano”, “superstição” e “mitologia”, uma falsa religião e uma falsa fé. Nietzsche encarava a religião da objetividade e seus sectários como um verdadeiro problema, porque tal religião pregava a autorrestrição, o autossacrifício e exalava um odor desagradável de ascetismo que rapidamente se espalhara pelas instituições de ensino da Alemanha de seu tempo.
Por meio da exposição sistemática dos sete artigos que integram a obra Historicidade e objetividade, concluímos que Lorraine Daston compreende a objetividade de forma distinta daquela comumente compartilhada pelas doutrinas objetivistas, que associam à postura objetivista a ideia de que é possível “ver os fatos como eles realmente são”, isto é, conhecer a realidade em si e por si mesma. Daston consegue distanciar-se dessa tendência ao inserir a objetividade em uma perspectiva histórica, em um modo por meio do qual a objetividade não pode ser vista desvinculada de uma interpretação pluralista e multiforme da realidade. Nos sete artigos que constam nessa coletânea, interessa a Daston principalmente dissociar a objetividade – na área da História das Ciências, em particular – de concepções que a tomam como um dado a-histórico. Nesse sentido, no programa epistemológico dastoniano, à noção de objetividade é adicionada uma faceta interpretativa, já que a sua epistemologia histórica se relaciona à história das ideias e das práticas, dos afetos e das emoções, da moral e dos valores. Assim, Daston demonstra que a objetividade da ciência é tanto mais histórica quanto mais ela se mostrar relacionada aos muitos pontos de vista e às interpretações humanas.
Dessa maneira, consideramos essa obra como uma importante contribuição não só para os estudos pertinentes à historiografia, história, filosofia e sociologia das ciências e relacionados à historiografia, filosofia e teoria da história, mas também para clareamento de questões que envolvem o complexo e multifacetado conceito de objetividade científica, abrindo e iluminando o caminho para outras pesquisas, discussões e questionamentos sobre esse tema.
Referências
ALMEIDA, T.; IEGELSKI, F. 2017. História das Ciências, Teoria da História e História Intelectual. In: L. DASTON. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves e Francine Iegelski (org. Tiago Santos Almeida). São Paulo, LiberArs, p. 11-14.
DASTON, L.; GALISON, P. 2007. Objectivity. New York, Zone Books, 501 p.
DASTON, L. 2016. The Truth in the Leaves. Max Planck Research.
ViewPoint_History of Science. Berlin, 26 Apr., p. 10-15. Disponível em: https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/content/daston. Acesso em: 18/05/2018.
NIETZSCHE, F. 2017. Segunda consideração extemporânea: Sobre a utilidade e a desvantagem da História para a vida. Organização e tradução: André Itaparica. São Paulo, Hedra, p. 29-146.
Notas
2 A título de esclarecimento, a escolha dos sete artigos que integram a obra em análise não foi feita por Lorraine Daston, mas pelo historiador brasileiro Tiago Santos Almeida. No prefácio, Daston explica que os sete títulos agrupados na coletânea foram escritos em diferentes momentos de sua trajetória intelectual e profissional e que alguns deles não trazem respostas satisfatórias a uma série de desconfortos teóricos e interpretativos suscitados pelo problema da objetividade nas ciências. No entanto, exatamente por essa razão, ela espera que os leitores brasileiros compreendam cada artigo como evidência de uma mente em ação, que se esforça para entender aspectos da história do conceito de objetividade científica.
2 Sobre a certeza, a precisão, a verdade e a objetividade como virtudes epistêmicas fundamentais da ciência, como características particulares que definem a identidade da ciência e a prática científica, ver também Daston (2016).
Raylane Marques Sousa – Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em História. Campus Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências, Norte, Bloco A, Subsolo (ASS 679-690), 70910-900, Brasília, DF, Brasil.
Navegantes, bandeirantes, diplomatas: Um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil – GOES FILHO (HU)
GOES FILHO, S.S. Navegantes, bandeirantes, diplomatas: Um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil. Brasília: Ed. FUNAG, 2015. 412 p. Resenha de: MENDES, Marcos Vinícios Isaias. Fronteiras e Relações Internacionais: notas históricas sobre o caso brasileiro. História Unisinos 22(4):697-701, Novembro/Dezembro 2018.
Introdução A origem do livro do diplomata brasileiro Synesio Sampaio Goes Filho remonta à tese Aspectos da ocupação da Amazônia: de Tordesilhas ao Acordo de Cooperação Amazônica, aprovada pela Banca Examinadora do Curso de Altos Estudos (CAE) do Instituto Rio Branco (IRBr), em 1982. Já no prefácio do livro, elaborado por Arno Wehling, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1999, tem-se a ideia da grande relevância do livro para a história do Brasil. De acordo com o embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima (p. 6), presidente da FUNAG (Fundação Alexandre de Gusmão), o “livro é um clássico da nossa História Diplomática”. Tanto no prefácio quanto na apresentação do livro, sua importância é reiterada inúmeras vezes como obra imprescindível para estudantes da área de Relações Internacionais, diplomatas e pesquisadores da História do Brasil.
Nesses termos, o título do livro sugere não apenas o seu conteúdo como também a estrutura e organização da obra. Os Navegantes referem-se às figuras que, ao “descobrirem” o território brasileiro na época das grandes navegações, configuraram as etapas iniciais da colonização. Na prática, serão destacados, ao longo da obra, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio e Pedro Álvares Cabral como os navegantes de maior relevo na história do Brasil e, sem dúvida, da América. Aos navegantes é dedicada a primeira parte do livro: “A descoberta do continente”. Em uma segunda etapa de ocupação e exploração do território, destacaram- se os bandeirantes, quer seja através das tradicionais (e iniciais) bandeiras, com finalidades duplas de caça ao índio e pesquisa de metais preciosos, quer seja através de sua evolução natural, as monções, que predominaram na expansão para o Centro-Oeste e para o Norte e região amazônica. Aos bandeirantes é dedicada a segunda parte do livro: “A ocupação do território brasileiro”. Em um desenvolvimento natural da ação bandeirante, surge a necessidade do traçado das fronteiras. É quando a figura do diplomata se consolida como fundamental. “A formação das fronteiras do Brasil concebida como um diálogo entre o bandeirante e o diplomata, tipos emblemáticos, respectivamente, da ação privada e da etapa, o livro trata dos três mais proeminentes diplomatas brasileiros no que tange ao tema das fronteiras: Alexandre de Gusmão, Duarte da Ponte Ribeiro e o Barão do Rio Branco. A eles é dedicada a terceira e última parte do livro: “As negociações dos limites terrestres”. Nesta resenha, que está dividida em três partes, além desta introdução, serão tratados em linhas gerais os principais temas em debate no livro de Goes Filho. Sempre que viável, serão feitos comentários acerca das implicações dos temas tratados para a área de Relações Internacionais.
Em termos de organização, cada parte desse texto segue exatamente a denominação apresentada no referido livro. Parte I: a descoberta do continente O capítulo 1 do livro é dedicado às viagens de Cristóvão Colombo. São apresentados dados biográficos deste navegador, como aspectos de sua personalidade e origem, por exemplo, sua extrema religiosidade. Descrevem-se alguns pormenores de como surgiu a ideia de “chegar ao oriente navegando pelo ocidente”, crucial para a descoberta do continente americano. Dentre as causas de tal ideia, o autor explora dois possíveis argumentos: primeiro, a crença de Colombo na esfericidade da Terra; segundo, a possibilidade de que o navegador já tivesse viajado à América (anteriormente), tendo sido o único sobrevivente na embarcação que lá estivera. São tratados ainda aspectos do relacionamento de Colombo com a Coroa espanhola, que o abandonou em seus últimos dias de vida. Colombo faleceria em 1506, praticamente “esquecido pelos divulgadores das descobertas” (p. 59).
No capítulo 2, são tratadas as primeiras desavenças entre os reinos da Espanha e de Portugal pela posse das novas terras. Narram-se as negociações e origem do famoso Tratado de Tordesilhas, “a peça mais importante da nossa história diplomática” (p. 70). Na expressão de Capistrano de Abreu, “o primeiro ato relevante da diplomacia moderna, porque negociado entre Estados, e não, como era normal na Idade Média, decidido pelo Papa” (p. 70). O texto relata em detalhes as visões de ambos os reinos e suas implicações para a negociação do tratado. Ressalta-se a grande dificuldade em fazer medições exatas nessa época, motivo que, por um lado, fez com que esse tratado apresentasse grandes doses de amadorismo técnico e, por outro, motivou a evolução de disciplinas como a Geografia e a Cartografia. Em resumo, o texto aborda as inúmeras modificações na posição da linha de Tordesilhas e os desentendimentos envolvidos nessas negociações.
O capítulo 3 trata de um dos personagens mais controversos da época dos descobrimentos, Américo Vespúcio. De acordo com o livro, “Seu mérito […] está na segurança do julgamento, no conhecimento da geografia antiga que lhe fizeram ver e lhe permitiram afirmar em primeira mão que o mundo descoberto por Colombo era um mundo inteiramente distinto da Ásia. Esta visão genial o coloca acima de todos os navegadores de seu tempo” (p. 78). Vale ressaltar que Vespúcio viveu em Florença, na época em que a cidade era um dos grandes centros culturais do mundo, berço de nomes como Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Maquiavel. O capítulo também se concentra nas cartas de Vespúcio, que descreviam as novas descobertas, i.e., o Brasil. O livro trata da riqueza dessas cartas que se tornaram “best-sellers de seu tempo”. Outra questão colocada por Goes Filho diz respeito à autenticidade de tais cartas, sendo que a maioria dos acadêmicos considera hoje “serem hábeis falsificações históricas as cartas publicadas no século XVI, a Mundus Novus e a Lettera” (p. 84). Por fim, nesse capítulo também são narrados alguns relatos das chegadas dos espanhóis à costa norte da América, precisamente à Flórida.
O último capítulo da parte I aborda Pedro Álvares Cabral. O capítulo inicia com uma breve análise sobre o período de dominação árabe sobre a Península Ibérica, até a conquista de Ceuta pelos portugueses, em 1415, por D. João I, pai de D. Pedro I. Também trata de Pero Vaz de Caminha, o “escritor” a bordo do navio de Cabral: “Caminha, vereador no Porto, era um bom exemplo do burguês culto e atualizado de seu tempo” (p. 101). Nesse capítulo, fica claro um dos grandes esforços de Goes Filho: a riqueza descritiva, observada, por exemplo, pelo número e profundidade dos detalhes apresentados, não apenas em datas, como também como também dos atores históricos, de suas funções na chegada de Cabral ao Brasil e de historiadores antigos e contemporâneos que trataram do tema. Ou seja, um esforço narrativo-interpretativo bastante singular. Segundo o autor, se alguém pisara naquele território antes de 22 de abril de 1500, “o fato tem importância histórica muito diminuta perante o desembarque bem documentado de Cabral em Porto Seguro: aí nasce o Brasil”. A partir desse capítulo, o autor passa a se utilizar corriqueiramente de documentos históricos para enriquecer e robustecer o caráter historiográfico da obra.
Parte II: a ocupação do território brasileiro O capítulo 5 faz um longo estudo sobre as bandeiras e analisa como essa prática superou gradativamente os limites da linha de Tordesilhas. Entre os historiadores, há ras), mas costuma-se considerar “entradas” as expedições organizadas pelo governo e “bandeiras” as incursões de caráter puramente particular; apesar disso, o autor prefere adotar somente o termo bandeiras, haja vista que muitas vezes o caráter público e privado dessas expedições se confundia. Segundo Goes Filho, houve fortalecimento da prática das bandeiras no período na União Ibérica, de 1580 a 1640, pois basicamente os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas estavam eliminados. Novamente, aqui o autor faz referência a um grande número de documentos, como cartas, mapas, livros e leis, datados do período que está descrevendo, para justificar seu texto.
Sobre a historiografia das bandeiras, vale a pena analisar o excerto:
Apesar de boa parte da expansão geográfica do Brasil ter-se feito em torno das bandeiras, esse movimento, o “único aspecto original de nossa história”, segundo Euclides da Cunha, produziu pouquíssima historiografia até a década de 1920. Duas razões principais explicam essa situação. Em primeiro lugar, os bandeirantes não documentavam suas viagens, nem escreviam memórias; […] Depois, por serem em geral obscuras jornadas de mamelucos, não podiam as bandeiras atrair a historiografia oficial do período colonial (p. 128).
Ou seja, em vista da falta de material de pesquisa historiográfica produzido pelos bandeirantes, foi a “literatura jesuítica antibandeirante que se constituiu em fonte básica para muitos historiadores” (p. 129). Em termos práticos, um dos elementos que essa literatura sugeriu foi a importância das bandeiras para o desenvolvimento/ enriquecimento da região de São Paulo. A prática das bandeiras também contribuiu para a ideia de fronteiras naturais (que seguem o curso de rios ou acidentes geográficos e montanhas) no delineamento do mapa brasileiro, tema que será tratado mais adiante. Em resumo, o bandeirismo teve duas funções: (1) espontânea, provocada por razões econômicas locais (caça ao índio e pesquisa de metais preciosos) e (2) política, a fim de reconhecer e ocupar territórios, alargando as fronteiras. A segunda é considerada por Goes Filho como a função “mais nobre” da prática.
O capítulo 6 aborda o delineamento das fronteiras em torno do Rio da Prata. Ainda que este rio tenha sido descoberto pelos portugueses, o domínio espanhol na região vigorou desde muito cedo, especialmente a partir da fundação de Buenos Aires em 1536. Um dos resultados das tentativas portuguesas de conquista de Buenos Aires foi a fundação da atual cidade uruguaia Colonia del Sacramento. “A armada de D. Manuel Lobo (português) partiu com cerca de quatrocentas pessoas, em cinco embarcações. Em janeiro de 1680, quase em frente a Buenos Aires, desembarcou na margem oposta e deu início às primeiras construções da Nova Colônia do Santíssimo Sacramento” (p. 163). Em 1750, com a assinatura do Tratado de Madri, Portugal trocaria essa fortificação pela região dos Sete Povos das Missões (no oeste do Rio Grande do Sul). Além disso, esse tratado “legalizou a posse das grandes áreas ocupadas, o Centro- Oeste e o Norte na atual divisão regional do Brasil” (p. 164). Ainda haverá divergências entre Espanha e Portugal nessa região, inclusive entre 1821 e 1828, na disputa pela chamada “Província Cisplatina”, que neste último ano se converteria no Uruguai.
O capítulo 7 antecipa a definição das fronteiras na Bacia Amazônica. Na realidade, “o rio Amazonas foi descoberto em 1499 ou 1500 por navegantes a serviço da Espanha” (p. 167) e, a partir daí, sobretudo com o advento das monções do Norte, a região passou a ser progressivamente explorada, com o consequente avanço das ocupações portuguesas para bem além da linha de Tordesilhas.
Além disso, “nas proximidades da grande reentrância amazônica, havia estabelecimentos holandeses, ingleses, franceses […]. Só por volta de 1645, conseguiu-se expulsar todos os estrangeiros das proximidades do delta marajoara” (p. 171). Na terceira parte do livro, serão abordadas com mais detalhes as negociações fronteiriças com todos os vizinhos hispânicos do Brasil. No capítulo final desta segunda parte, Goes Filho analisa as monções, ou movimentos para Oeste. Enquanto as bandeiras foram o fenômeno de entrada marcante dos anos 1600, as monções foram o fenômeno característico dos anos 1700. “Diferente das bandeiras, as monções eram exclusivamente fluviais; seguiam roteiros fixos, passando por pontos conhecidos, onde, com o tempo, formavam-se arraiais; e tinham um único objetivo: chegar às minas de ouro dos rios Cuiabá e Guaporé” (p. 177). Porém, há também pontos de convergência entre as práticas: “são basicamente movimentos de expansão territorial: as bandeiras levaram ao conhecimento da terra em várias regiões do Brasil; as monções, garantiam o povoamento do centro do continente” (p. 178). O grande motivo que incentivou as monções − “que interessa mais do ponto de vista da formação das fronteiras − foi a descoberta de ouro no rio Guaporé, a cerca de 600 quilômetros a oeste de Cuiabá […] em 1734”.
Em 1742, estabeleceu-se a ligação fluvial com Belém, pelos rios Guaporé, Madeira e Amazonas, e, quatro anos depois, criou-se a capitania de Mato Grosso, com a determinação de se fundar um povoado à margem do Guaporé, por razões que hoje chamaríamos geopolíticas” (p. 183). A partir dos anos 1800, as monções começam a ser substituídas pelo ciclo do muar: “as viagens pelo Tietê, o Paraná e o Camapuã foram substituídas por outras que não são menos penosas, mas deixam maiores lucros. Parte-se de São Paulo com mulas carregadas; passa-se por Goiás, chegando-se a Mato Grosso, onde as mercadorias transportadas são vendidas” (p. 183). As monções do Norte e do Centro-Oeste acabam em simultâneo na 2ª metade do século XIX.
Parte III: As negociações dos limites terrestres O capítulo 9, intitulado “O mapa da colônia”, é um dos mais longos do livro. Em uma evolução cronológica, aborda-se o Tratado de Madri e suas negociações, para as quais o diplomata Alexandre de Gusmão foi o grande nome. Em seguida, é feita uma extensa biografia do diplomata, que é seguida pela didática apresentação dos interesses de Portugal e da Espanha no referido tratado.
Após isso, são apresentados os princípios gerais do Tratado de Madri, para, depois, ser apresentado o tratado que o substituiu, i.e., o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Para as Relações Internacionais, talvez o aspecto mais importante do capítulo seja a cuidadosa descrição do método de trabalho e das características de Gusmão, que se cristalizaram na base da diplomacia brasileira, marcando até hoje as suas características: “Alexandre de Gusmão – o avô dos diplomatas brasileiros” (Araújo Jorge, 1916, Embaixador Brasileiro) […] não só desenhou o mapa do Brasil, na expressão de Synesio, como também consagrou, num mundo onde prevalecia a força, os valores da pesquisa, da diplomacia e do direito, que viriam marcar o início do pensamento diplomático brasileiro” (p. 8). Dentre os princípios do Tratado de Madri, observam- se dois mais relevantes: “as colunas estruturais do acordo seriam os princípios do uti possidetis (‘cada parte há de ficar com o que atualmente possui’) e das fronteiras naturais (‘os limites dos dois Domínios […] são a origem e o curso dos rios, e os montes mais notáveis’)” (p. 226). Gusmão é tratado ao longo de todo o capítulo como o principal articulador e negociador do Tratado de Madri. Sobre a evolução do Tratado de Madri, aborda-se o principal motivo da assinatura do Tratado de Santo Ildefonso: acabar de vez com as disputas entre Portugal e Espanha pelo controle dos Sete Povos das Missões, no sul do Brasil.
O capítulo 10 é denominado “As fronteiras do império” e se propõe a tratar as negociações de fronteiras após o Tratado de Santo Ildefonso. O autor descreve os vários conflitos existentes entre os países hispânicos sul- -americanos sobre a demarcação de suas fronteiras, a que ele chama “incertezas intra-hispânicas”, que podem ser ilustradas pelo excerto: “entre 1811 e 1824, o recém-instaurado Império do Brasil teve dificuldade em identificar qual era, em cada trecho da imensa fronteira amazônica, o seu vizinho” (p. 242). É aí que entra em jogo outro grande nome da diplomacia brasileira: Duarte da Ponte Ribeiro, diplomata português naturalizado brasileiro, profundo conhecedor e estudioso dos limites brasileiros. Para Goes Filho, esse diplomata era “um estudioso das questões de limites, um hábil negociador, talvez o diplomata que mais contribuiu para a formulação e execução da bem-sucedida política de fronteiras do Império” (p. 249), especialmente por “aconselhar o uso do uti possidetis para resolver questões de fronteira com nossos vizinhos” (p. 251). São apresentadas, então, as justificativas jurídicas para as negociações de fronteiras, segundo as quais se justifica por que o Brasil não apresentou tantos problemas nessas negociações (pois usou o uti possidetis de facto) quanto seus vizinhos hispânicos (que usaram o uti possidetis juris), nas negociações entre eles.
(1) uti possidetis juris (de derecho) – significaria comparar os documentos possuídos sobre certa região, por cada um dos Estados em que foram transformadas as antigas unidades administrativas dos Vice-Reinados […] deriva dos documentos territoriais que cada nação pudesse produzir, quando de sua independência (p. 247) – Princípio aplicado pelos países da América do Sul hispânica na negociação de fronteiras entre eles; (2) uti possidetis de facto (ou de hecho) – Baseado na ideia de que “cada parte há de ficar com o que atualmente possui”; “o princípio adapta-se como uma luva aos interesses da nação mais expansionista; é a resposta diplomática dinâmica a uma política territorial também dinâmica (p. 248) – Princípio aplicado pelo Brasil na negociação de fronteiras com seus vizinhos.
Segundo Goes Filho, “na América do Sul o Brasil é hoje o único país que não tem problema de limites. Seria o princípio mais prático do que o do uti possidetis juris, utilizado pelos nossos vizinhos; teria sido a diplomacia brasileira mais habilidosa; ou estaria o país em mais forte posição negociadora? É possível justificar resposta positiva a cada indagação; provavelmente houve concorrência dos três fatos” (p. 248). Ainda neste capítulo, são descritas em detalhes as negociações fronteiriças com Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai (que passou por uma guerra civil interna) e Paraguai (inclusive abordando a Guerra do Paraguai e suas consequências para os envolvidos).
O capítulo 11 encerra o livro, tratando da importância do “Barão da República”, ou Barão do Rio Branco, sobretudo para a resolução de várias questões pendentes no que tange às fronteiras brasileiras. Dentre elas: a “Questão de Palmas” (1895), sobre a demarcação da fronteira com a Argentina. Arbitrada por um norte-americano, a decisão foi favorável ao Brasil. Em seguida, aborda a “Questão do Amapá” (1900), em que houve impasses com a França dada a incerteza quanto à borda Brasil-Guiana Francesa. Aborda ainda a “Questão do Pirara” (1904), com a Guiana Inglesa.
Dois outros tratados são discutidos nessa parte final do livro: o tratado de 1904 com o Equador, e o de 1907 com a Colômbia. A negociação dessas fronteiras não foi problemática, especialmente se comparadas às outras fronteiras do Brasil. Também se aborda o Tratado de 1909 com o Peru: “na República, nosso maior problema de limites na Amazônia, pela extensão do território envolvido, foi com o Peru, e não com a Bolívia, como se poderia pensar pela gravidade que chegou a assumir a questão acreana” (p. 341). Além disso, o capítulo aborda o Tratado de 1909 com o Uruguai. Através dele, o Brasil cede ao vizinho os domínios sobre a lagoa Mirim e o rio Jaguarão, o que muitos consideraram um gesto generoso de Rio Branco, mas ele também levou em consideração um racional geopolítico, uma vez que a Argentina também tinha interesse na região, i.e., “queria domínio total da boca do Prata” (p. 346).
Por fim, há uma ênfase no “Método de Rio Branco para negociação”: “as defesas arbitrais e as exposições de motivos em que justifica os acordos de limites assinados são bem pensadas e bem escritas: não há palavras inabituais nem jargão técnico. Historiam a questão, tornam inteligíveis as negociações, explicam o texto acordado.
Os livros brasileiros que tratam de questões de fronteira o que fazem é repetir, resumir ou glosar o que o Barão redigiu” (p. 347). O livro de Goes Filho é, portanto, um excelente ilustrativo da importância do corpo de diplomatas brasileiros para a defesa dos interesses e, no caso específico, definição das fronteiras da nação. É imprescindível a qualquer historiador do Brasil, diplomata, estudante ou pesquisador de Relações Internacionais.
Marcos Vinícius Isaias Mendes – Doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Instituto de Relações Internacionais (IRel-UnB). Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, 70904-970, Brasília, DF, Brasil. Este trabalho foi produzido com o auxílio de bolsa de doutorado fornecida pela CAPES. E-mail: [email protected].
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito | Marco Morel
O livro, como todos eles, tem um itinerário que extrapola em muito o tempo consumido em sua escrita. Marco Morel começou a pensar na temática ainda muito jovem, em 1989, quando apresentou um trabalho nas comemorações do bicentenário da Revolução Francesa organizadas por Michel Vovelle na Sorbonne. Naquela oportunidade, o historiador expôs uma hipótese original, a de que a revolução Haitiana tinha influenciado mais o Brasil que a própria Revolução Francesa. Vinte e sete anos depois, Morel permite que o público conheça os desdobramentos daquela primeira inquietação.
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista se inscreve em um conjunto maior de publicações que aborda os “rumores”, influências, conexões e ecos da Revolução de Saint-Domingue no espaço do Caribe ou do continente americano. Revolução que se desenvolveu entre 1791 e 1804, quando finalmente foi declarada a independência, e a porção ocidental da ilha, que tinha sido chamada por Cristóvão Colombo de “La Española”, tomou o nome de Haiti [3]. Embora balizada entre esses dois anos, os desdobramentos da Revolução e do abolicionismo se estenderam por muitos mais. O livro propõe uma dupla temporalidade: a de 1791-1825 para o Haiti e a de 1791-1840 para o Império do Brasil. No primeiro caso, o período se delimita entre o início da Revolução no território insular e o reconhecimento francês da independência. No segundo, entre o mesmo início e o fim do período regencial.
Apesar de a perspectiva da conexão Haiti-Brasil ter uma longa tradição na história do pensamento social brasileiro, o viés “positivado” da Revolução foi muito menos explorado que o do temor senhorial ou administrativo ao chamado haitianismo [4]. O próprio vocábulo, neologismo do século XIX, surgiu carregado de negatividade, como sinônimo de anarquia, subversão (inversão da ordem), “governo dos negros”.
Morel inscreve seu livro na perspectiva do acolhimento dos acontecimentos caribenhos, mas o ponto de vista é o da história do Brasil.
A admissão/adoção do ideário haitiano no Brasil como modelo social (igualitarismo racial, abolicionismo, direitos de cidadania, redistribuição da terra) ultrapassa, segundo o autor, o âmbito da escravidão, incluindo sectores letrados e não letrados livres. Como se propõe a tratar da recepção da Revolução de Saint-Domingue, principalmente de sua aceitação, já não no formato de artigos, como tinha feito antes, mas numa obra de maior fôlego, o autor estrutura o livro em três capítulos: “A Revolução do Haiti – breve apresentação”, “Entre batinas e revoluções” e “Os fios de uma teia”.
No primeiro, é-nos advertida sua necessidade. Apesar de não ser um livro sobre o Haiti, considera o autor que uma introdução à Revolução é fundamental como protocolo ou pré-requisito de leitura, para o qual adota uma morfologia pouco frequente em livros acadêmicos: uma cronologia de 16 páginas exposta em forma de tabela; breves biografias das lideranças revolucionárias; um apanhado do vocabulário de época; uma descrição de ocupação e exploração da parte ocidental da ilha; a análise de um projeto de classificação racial do fazendeiro e escritor colonial Médéric Louis Élie Moreau de Saint Méry publicado em 1796, comparando-o com o do maranhense Raimundo José de Souza Gayoso, que em seu Compêndio histórico-político dos princípios da lavoura do Maranhão propunha uma classificação adotando a de Saint Méry; e, por último, uma tabela comparando as diferentes constituições desde 1801 – ainda como colônia autônoma – até 1816.
Um primeiro capítulo tão heterodoxo em sua composição nos lembra o romance de Daniel Maximin, L’Isolé soleil, analisado por Laurent Dubois. A personagem Marie Gabriel tenta escrever a história da ilha, Guadalupe, para a qual utiliza o diário de Jonathan, peça elaborada e abandonada por um antepassado seu – o texto não é um diário propriamente dito, mas um álbum de recortes de distintas fontes [5]. Para escrever a história dessa outra ilha, Haiti, Morel recorre a esse gênero constituído por recortes, fragmentos que são necessários para a recomposição do todo.
O segundo capítulo busca tecer as relações entre a França revolucionária, Saint- Domingue e o Brasil a partir dos escritos de três abades: Raynal, Grégoire e de Pradt. Nas páginas do livro, vemos surgir um Raynal idealizado: antiescravista, anticolonialista. As predições do abade sobre o futuro da escravidão africana podem ser interpretadas mais como advertência do que como condenação. Ou, nas palavras de Trouillot, como um “projeto de administração colonial. De fato [o pensamento de Raynal] incluía a abolição da escravidão, mas a longo prazo e como parte de um processo que aspirava a um melhor controle das colônias” [6]. O mesmo pode ser dito da apresentação do abade Grégoire. De qualquer forma, os três funcionam como mediadores letrados das revoluções atlânticas. Os três mantêm algum tipo de relação com o Brasil, presente em seus escritos sobre a escravidão/situação colonial. A busca de Grégoire por um escritor negro em língua portuguesa para sua obra De la Littérature des nègres (1808) o levou a estabelecer contatos no Brasil com Monsenhor Miranda, com quem manteve relação epistolar. A segunda parte do capítulo reconstitui certa formalização de ideias sobre o Haiti e sobre a Revolução do ponto de vista de letrados brasileiros. Afora os três abades, um punhado de escritos locais serve ao autor para evidenciar as conexões revolucionárias atlânticas, sobretudo no nível das ideias.
É no final deste capítulo e a partir da fala do terceiro abade, de Pradt, que Morel nos introduz no subtítulo do livro: “o que não deve ser dito”. Morel atribui a de Pradt a autoria sobre as estratégias comunicativas a respeito da Revolução do Haiti assentadas sobre dois eixos: “a rejeição dos horrores de São Domingos e a ocultação da densidade e das múltiplas possibilidades de seu exemplo histórico” [7]. Para Morel, esses dois eixos podem ser sintetizados como “o maldito e o não dito”.
Embora os silêncios e as ausências tenham nas ciências sociais uma base sólida de conceitualização e análise, foi o antropólogo Michel-Rolph Trouillot quem lhe deu a forma mais acabada em relação ao Haiti com seu livro Silencing the past: “a revolução era impensável no Ocidente embora tampouco fosse verbalizada entre os próprios escravos”, em grande medida porque as reivindicações seriam radicais demais para se expressar em palavras: abolição, expropriação, distribuição da propriedade etc. Esses princípios “só poderiam reivindicar-se quando impostos pelos fatos”. Nesse sentido, diz, “a revolução estava realmente nos limites do concebível” [8]. Mas Trouillot consegue romper o silêncio e encher o livro de alocuções.
O terceiro capítulo começa com a instigante frase: “Poucos personagens encarnam no Brasil a proximidade com o exemplo da Revolução do Haiti como Emiliano Felipe Benício Mundurucu”. O documento principal para apresentar Mundurucu é o texto autobiográfico breve que o brasileiro publicara em Caracas em 1826, mas, para certa decepção de Morel, Mundurucu não fala nada sobre o que seria uma pauta haitiana, senão da pauta do momento nas repúblicas americanas: republicanismo, liberdade, antidespotismo. Utiliza metáforas como “algemas do despotismo” para referir-se aos presos de 1817. Com isso, ele não foi mais longe do que a filosofia política ocidental. Disse Susan Buck-Morss que, no século XVIII, a escravidão havia se tornado a metáfora fundamental da filosofia política ocidental, enquanto a liberdade era considerada o valor político fundamental [9].
Mundurucu foi major do batalhão de pardos durante a Confederação do Equador. Como o autor diz, seu nome se apresenta em fugazes registros na historiografia, vinculado a uns versos sediciosos naquele contexto da revolta:
Marinheiros e caiados
Todos devem se acabar
Porque só pardos e pretos
O país hão de habitar
{…}
Qual eu imito Cristóvão
Esse Imortal haitiano
Eia! Imitai o seu povo
Oh meu povo soberano.
O capítulo traz outra trajetória singular, a do pastor negro, protestante, Agostinho José Pereira, “que alfabetizava negros e pregava contra o catolicismo na década de 1840” e, nessa tarefa, introduzia algumas ideias favoráveis ao Haiti. Nesse caso, como no anterior, trata-se de um haitianismo (no sentido positivo) difuso, próximo daquele que assumia o republicanismo hispano-americano. Um caráter difuso análogo ao da enunciação “mata caiados” para lembrar (timidamente) dos milhares de espanhóis mortos pelo Padre Hidalgo e seus seguidores na sua jornada. É provável que Mundurucu tenha refinado ainda mais sua pauta haitiana em sua estadia na Venezuela, onde o “haitianimo” teve forte influência desde o final do século XVIII.
Como evidencia Morel na última parte do livro, no século XIX fica difícil pensar num único Haiti. As divisões internas entre o Reino de Henri Christophe (1807-1820) ao norte e a República mulata de Alexandre Pétion (1807-1818) ao sul, posteriormente liderada por Jean-Pierre Boyer, deixam patente a complexidade de ecoar, refletir ou se conectar com uma realidade haitiana, sem falar na pertinência de se referir a um único haitianismo.
Escrito de maneira didática e clara, o livro é leitura obrigatória para os alunos de graduação em história que queiram ter uma primeira aproximação à Revolução do Haiti e suas conexões com o Brasil do século XIX.
Notas
3. FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, Guarulhos, n. 3, p. 37-53, jan./jun. 2012; GÓMEZ, Alejandro. La Revolución Haitiana y la Tierra Firme hispana. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 17 février 2006, Disponível em: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/211>. Acesso em: 7 nov. 2018; GONZÁLEZ-RIPOLL, María Dolores Navarro et al. El rumor de Haití en Cuba: Temor, raza y rebeldía (1789-1844). Madri: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, entre outros.
4. SILVA, Luiz Gerardo. El impacto de la revolución de Saint-Domingue y los afrodescendientes libres de Brasil. Esclavitud, libertad, configuración social y perspectiva atlántica (1780-1825). Historia, Santiago, v. 49, n. 1, p. 209-233, jun. 2016. NASCIMENTO, Washington Santos. São Domingos, o grande São Domingos: repercussões e representações da Revolução Haitiana no Brasil escravista. Dimensões, Vitória, v. 21, p. 125-142, 2008; SOARES, Carlos Eugênio Líbano; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil escravista: outras margens do atlântico negro. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 63, p. 131-144, jul. 2002; REIS, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, São Paulo, v. 28, p. 14-39, dez./fev. 1995/1996.
5. DUBOIS, Laurent. Los cimarrones en los archivos: los usos del pasado en el Caribe Francés. JBLA, [S.l.], v. 46, n. 5. p. 60-82, 2009.
6. TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciado el pasado. El poder y la producción de la história, Granada: Comares, 2017, p. 68
7. MOREL, Marco. Op. cit., p. 160.
8. TROUILLOT, Michel-Rolph. Op. cit., p. 74.
9. BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 90, p. 131, jul. 2011.
Referências
BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 90, p. 131, jul. 2011.
DUBOIS, Laurent. Los cimarrones en los archivos: los usos del pasado en el Caribe Francés. JBLA, {S.l.}, v. 46, n.5. p. 60-82, 2009.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, Guarulhos, n. 3, p. 37-53, jan./jun. 2012.
GÓMEZ, Alejandro. La Revolución Haitiana y la Tierra Firme hispana. Nuevo Mundo Mundos Nuevos {En ligne}, Débats, mis en ligne le 17 février 2006, Disponível em:<Disponível em:http://journals.openedition.org/nuevomundo/211 >. Acesso em:7 nov. 2018.
GONZÁLEZ-RIPOLL, María Dolores Navarro et al. El rumor de Haití en Cuba: Temor, raza y rebeldía (1789-1844). Madri: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco, 2017.
NASCIMENTO, Washington Santos. São Domingos, o grande São Domingos: repercussões e representações da Revolução Haitiana no Brasil escravista. Dimensões, Vitória, v. 21, p. 125-142, 2008.
REIS, João José, Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, São Paulo, (28), 14-39, dez. fev.1995/1996.
SILVA, Luiz Gerardo. El impacto de la revolución de Saint-Domingue y los afrodescendientes libres de Brasil. Esclavitud, libertad, configuración social y perspectiva atlántica (1780-1825). Historia, Santiago, v. 49, n. 1, p. 209-233, jun. 2016.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil escravista: outras margens do atlântico negro. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 63, p. 131-144, jul. 2002.
TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciado el pasado. El poder y la producción de la história, Granada: Comares, 2017.
María Verónica Secreto – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Possui graduação em História – Universidad Nacional de Mar Del Plata – Argentina (1991), mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense (1995) e doutorado em Ciência Econômica/História Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (2001). Foi professora efetiva na Universidade Federal do Ceará (2002-2004) e na Federal Rural do Rio de Janeiro (2004-2008), atuando nessa última no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade. Atualmente é professora Associada da Universidade Federal Fluminense, atuando na graduação em História da América e no Programa de Pós-graduação.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco, 2017. Resenha de: SECRETO, María Verónica. A Revolução de Saint-Domingue e sua conexão continental: de Toussaint a Mundurucu. Almanack, Guarulhos, n.20, p. 287-290, set./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Do Romantismo a Nietzsche: Rupturas e Transformações na Filosofia do século XIX – ARALDI (CN)
ARALDI, Clademir Luís. Do Romantismo a Nietzsche: Rupturas e Transformações na Filosofia do século XIX. Pelotas: Dissertatio Filosofia, 2017. Resenha de: MEIRELES, Tulipa Martins. Dos românticos a Nietzsche. Oito estudos sobre a Filosofia do século XIX. Cadernos Nietzsche, São Paulo, v.39 n.3 set./dez. 2018.
Compreendemos que o período moderno e contemporâneo da história da filosofia ocidental é permeado pelo sentimento de crise e crítica vivenciado pelo ser humano europeu no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Nesse contexto, o indivíduo passa a perceber a si mesmo a partir do estabelecimento das novas estruturas do mundo moderno que afetam sua maneira de viver. Após o triunfo científico e a derrocada dos ideais religiosos e humanistas próprios de uma sociedade dominada pela secularização e industrialização das massas, a constituição do sentido da vida e das formas de existir encontram na criação artística, na concepção de Subjetividade, própria do Gênio, e na noção de Natureza criadora uma forma de unir o Espírito com a Natureza, a Ciência com a Arte. Essa atitude, como manifestação do sentimento e do conflito entre a interioridade inquieta e a realidade racionalizada, tanto quanto os esforços por preencher o “vazio moderno” a partir de ideais laicizados como os de progresso, razão e ciência, parece ter ocupado grande parte do pensamento dos artistas e filósofos da época, assumindo sua forma mais acabada e radical no pensamento tardio de Nietzsche1.
Em Do Romantismo a Nietzsche: Rupturas e Transformações na Filosofia do Século XIX encontramos uma seleção de estudos que oferecem um desenvolvimento para essa temática. A obra foi publicada em 2017 e constitui-se do material produzido em 2015 para a disciplina História da Filosofia Moderna e Contemporânea do curso de Licenciatura em Filosofia a Distância da Universidade Federal de Pelotas (CAPES – UAB). Ao selecionar os oito estudos que compõem essa obra e ao discutir com pensadores como Karl Löwith e Eric Hobsbawn, o autor propõe uma investigação sobre as “rupturas e transformações que se deram no âmbito da Filosofia Moderna e Contemporânea”. Essas transformações são tentativas de responder a questão: “Como a Filosofia reage ao triunfo das ciências naturais e da industrialização no século XIX?” (p. 2). Conforme expõe, o século XIX sentiu o impacto de dois importantes acontecimentos: a dupla revolução, francesa e industrial e o progresso tecnocientífico do mundo. Sua hipótese é que a dupla revolução no mundo ocidental e a consequente transformação no modo de viver das pessoas, gerou um desconforto por parte do indivíduo que sentiu o vazio deixado pela crise dos antigos valores que resultou em certo sentimento de perda do sentido da própria existência. A essa crise, a Filosofia encontrou nas noções de arte, natureza e subjetividade uma forma de conceber, pela via da arte, um caminho fecundo na direção de uma nova concepção de vida.
Nesse contexto, o Romantismo apresenta-se como uma das primeiras reações à secularização e à racionalização, propondo a criação artística e a Filosofia da arte como crítica às estruturas modernas, a partir da qual era possível ressignificar o mundo. O ímpeto revolucionário da arte e da criação artística perpassa os oito estudos propostos pelo autor, que encontra traços da atitude romântica de Schelling a Hegel, passando pelo Idealismo de Fichte e de Marx a Nietzsche, passando por Schopenhauer, Kierkegaard e o materialismo de Feuerbach. Nietzsche é apresentado como o filósofo que sustenta a crítica mais radical da modernidade. Ao anunciar a morte do Deus cristão como advento fundamental e a radicalização do niilismo moral consequente, o filósofo sustentaria a necessidade de instaurar um projeto de “transvaloração dos valores”, a partir do qual a criação de valores afirmativos da vida seriam possíveis.
O livro integra oito Capítulos e é precedido por uma Apresentação, na qual o autor expõe o tema geral, as principais problemáticas que serão tratadas e o desenvolvimento dessas questões por parte dos filósofos. A proposta dos românticos a Nietzsche torna visível tanto a crise da filosofia metafísica e moral como os novos caminhos que se abrem para a filosofia nessa época de crise e crítica da modernidade. Nelas são valorizadas as especulações românticas, assim como o reino da arte, no seio de uma época secularizada e dominada pela ciência natural. Araldi apresenta a riqueza do pensamento filosófico do século XIX, quando a modernidade passa a pensar a autossuperação de si mesma.
O capítulo 1, intitulado Os românticos e o idealismo alemão, é dividido em dois tópicos: Gênio, natureza e sentimento e Schelling e a filosofia da arte romântica. O autor apresenta o Romantismo como um movimento cultural, artístico e filosófico que pretendia através arte, do gênio artístico e criador, revolucionar todas as estruturas do mundo moderno. O Romantismo é caracterizado pelas noções de Subjetividade, próprias do gênio criador, de arte e de Natureza que se apresentavam como atitude, maneira de viver e movimento cultural e filosófico que tinham como objetivo preencher o “vazio da modernidade” a partir da união entre Espírito e Natureza. Pela arte e pela obra de arte os românticos manifestavam o caos e o desconforto que traziam dentro de si. Mesmo não sendo um movimento homogêneo, os românticos tinham em comum a busca pela “fuga da modernidade” que se dava no âmbito do refúgio em um passado remoto ou na projeção de um futuro utópico.
No contexto da “dupla revolução”, românticos como Hölderlin, Schlegel, Schelling e Schopenhauer consideravam que a Filosofia e a vida filosófica encontravam-se ameaçadas tanto pela política, como pela economia e pela ciência. Conforme Araldi, “A modernidade é marcada por abalos das estruturas religiosas, políticas e culturais tradicionais, assim como pelo pressentimento de novas formas de vida” (p. 9). Segundo ele, os românticos tinham consciência de que estavam vivendo em um período de transição para uma “nova era”.
Schelling é o considerado o principal filósofo do Romantismo, por ter construído uma Filosofia da Natureza que é também uma Filosofia da arte. Seu pensamento foi uma tentativa de unir a filosofia de dois pensadores importantes para o Romantismo: Fichte, filósofo da Subjetividade, que influenciou diretamente os românticos por ter valorizado o Espírito (Eu Absoluto) em sua Filosofia Idealista, e Goethe, através de sua concepção de Natureza criadora. Para Schelling, a Natureza possui um valor tão elevado quanto o Espírito, sendo também ela incondicionada, dinâmica e viva. O princípio originário em Schelling, como união entre Natureza e Espírito, não é, contudo, inteiramente racional e consciente, pois o Espírito não é somente razão, mas sobretudo vontade originária. Ainda que diferente de Schopenhauer, para quem a vontade é a própria origem consciente do mundo, a vontade para Schelling anseia pela consciência. A intuição estética, própria do gênio artístico, é considerada a via privilegiada para alcançar o princípio originário, pois a criação artística é o meio de tornar concreta a manifestação do Espírito. Schelling é nesse sentido considerado o pensador que traz os traços mais marcantes do Romantismo em sua Filosofia da arte, que é desenvolvida principalmente na obra Ideias para uma filosofia da natureza (1797).
O capítulo 2, intitulado De Fichte a Hegel: idealismo subjetivo e dialética especulativa, é composto por dois tópicos: Fichte e o idealismo da subjetividade e Dialética especulativa de Hegel. Segundo o autor, Fichte foi o filósofo que pretendeu unificar os antagonismos herdados da filosofia kantiana, tentando superar o dualismo entre o mundo da necessidade natural e o mundo do Espírito, da liberdade. Fichte fez a opção pela supressão de um dos termos e sustentou que o Espírito e sua interioridade eram o que havia de mais efetivo. Em sua obra Fundamento de toda Teoria da Ciência (1794) ao colocar o “Eu puro” no centro da filosofia teórica e prática, ele construiu um Idealismo da Subjetividade, que influenciou tanto o Romantismo como Hegel. Hegel, por sua vez, teria radicalizado a teoria da Subjetividade a partir da construção de uma “dialética especulativa”, na qual elaborou uma Metafísica da Subjetividade Absoluta, tendo sido o ponto culminante do Idealismo alemão.
Assim como os românticos, Hegel considerou a modernidade o momento de transição para uma época radicalmente nova, sendo o primeiro a desenvolver um conceito de modernidade propriamente filosófico. Em Fenomenologia do espírito (1807) o filósofo concebeu a filosofia como um processo histórico, sem, contudo, abdicar de pressupostos racionais e dialéticos. Assim, se Fichte está interessado pela história atemporal do Eu e Schelling pela história do mundo, da arte e dos mitos, Hegel estaria interessado pela “vida do Espírito” que ele considera um procedimento histórico no qual o Absoluto se manifestaria de maneira contínua, progressiva e racional. Sua intenção seria construir uma Filosofia da História, mostrando que o Espírito é história e que a História Universal resulta do Absoluto. No entanto, na visão do autor, Hegel não conseguiu unir satisfatoriamente os movimentos fenomenológicos com os históricos, nem sua Filosofia da História com a Filosofia do Espírito, pois ao valorizar a vida universal do conceito, Hegel teria desvalorizado as transitoriedades históricas. Seu método “dialético especulativo”, como o esforço sistemático para elaborar a primazia do Espírito diante das contradições e limitações do mundo histórico e real expôs, contudo, a miséria da filosofia idealista, e nesse momento a história entrou no período da crítica da esquerda hegeliana.
O capítulo 3, intitulado Feuerbach e a esquerda hegeliana é também apresentado em dois tópicos: Feuerbach, Hegel e a esquerda hegeliana e A crítica da religião e a antropologia. Segundo Araldi, a esquerda hegeliana considera-se a herdeira legítima da filosofia de Hegel e Feuerbach (1804-1872) é o filósofo que rompe com a “Direita hegeliana” escrevendo em 1830 a obra Pensamentos sobre a morte e a imortalidade, em que se afasta das tentativas de justificar o Estado e a Religião pela razão. Em 1839 escreve a obra Crítica da filosofia hegeliana, na qual compartilha com outros autores da esquerda hegeliana a proposta de “despotencializar a filosofia”. No entanto, Feuerbach é um filósofo recolhido demais para propor a transformação da filosofia em práxis. Ainda assim, foi um importante pensador do materialismo do século XIX, tendo construído uma filosofia como tentativa de reduzir a metafísica e a teologia à antropologia. Com essa redução o filósofo pretendia sustentar a verdadeira essência do cristianismo, que tinha como foco o indivíduo. Sua obra A essência do cristianismo, escrita em 1841, teria sido muito relevante, segundo Engels, por pelo menos dois aspectos: por seu materialismo, a partir de sua concepção de natureza; e pela crítica à religião, que teria influenciado Marx. Segundo Araldi, a antropologia de Feuerbach consiste na compreensão de que todos os resultados da religião podem ser reduzidos à essência humana, definida como Razão, Vontade e Coração.
O capítulo 4, intitulado A dialética e a práxis histórica em Marx é apresentado em três momentos: A crítica a Hegel: a miséria da filosofia, A dialética como práxis histórica e Fim da Filosofia, Fim da História? Do círculo dos jovens hegelianos de esquerda, Marx foi o pensador que mais se destacou ao propor a superação da Filosofia a partir de uma crítica da sociedade inseparável da práxis revolucionária. Segundo o autor, a crítica de Marx a Hegel se dá pelo caráter abstrato atribuído ao homem. Hegel concebe a essência do homem como autoconsciência, pensamento puro e nesse sentido, a alienação para ele, é alienação da autoconsciência. Diferentemente, para Marx, a autoconsciência é apenas um aspecto da natureza humana e seu interesse é investigar a “alienação efetiva”. Desse ponto de vista, a dialética para ele consistiria no esforço em recuperar as forças essenciais do homem, que foram alienadas, e nasceram para a objetivação, concebendo o homem como ser objetivo e natural. Com relação a sua práxis histórica, o jovem hegeliano propôs uma Filosofia como “crítica interventora”, na qual concebeu a possibilidade de transformar a práxis histórica, política e social a partir da tomada de consciência do sujeito humano, em meio às tensões da sociedade. Para ele, esse caminho da sociedade culminaria no “comunismo”. O que move o processo histórico, em sua concepção, são as próprias capacidades dos seres humanos: a produção, o trabalho e a práxis social.
O capítulo 5, intitulado Schopenhauer, o pessimismo e o valor da vida, é exposto a partir de três tópicos: O pessimismo na juventude de Schopenhauer, O Pessimismo e a sabedoria dos Antigos e A vontade de viver, o ascetismo e o Nada. Nesse capítulo o autor sustenta que o tema do pessimismo esteve presente no pensamento de Schopenhauer desde sua juventude. Ainda que não tenha sido uma invenção sua, pois o pessimismo já estava presente na Antiguidade, tanto na filosofia como nas religiões, o pensamento de Schopenhauer é considerado ‘a forma mais acabada de pessimismo’. O filósofo pretendeu construir uma metafísica maior, ‘verdadeira’, que é também uma arte da vida, assente na ascética, sendo esta a proposta de uma “arte de viver pessimista” e afirmativa.
Em O mundo como vontade e representação Schopenhauer desenvolve sua “Verdadeira metafísica” que considera a vontade como o que há de mais essencial e originário, ela é a “coisa em si”. Para ele, o mundo dos fenômenos possui em relação ao mundo da representação uma preocupação prática, ética e ascética, que torna difícil justificar uma separação entre o mundo e a vontade. Enquanto “coisa em si”, a vontade é a essência do próprio fenômeno, mas ao mesmo tempo em que é independente, ela penetra no mundo para poder se manifestar. Para ele a vontade, ao se manifestar, abre a possibilidade para a “autorredenção”. A proposta do filósofo é conceber uma vontade que seja capaz de alterar o próprio querer e assim negar a vontade de viver.
Para ele, a vida é um constante necessitar e o homem é a manifestação concreta do querer que busca incessantemente saciar suas necessidades e logo após é conduzido ao tédio e à dor. A vontade de querer viver é nesse sentido negativa e consiste na passagem para o “nada”. Sua perspectiva sobre a vida ocorre, portanto, a partir da recusa no núcleo da vida e do vivente, no sentido de elevar-se acima do querer. Essa perspectiva é “relativa e fugaz”, proveniente de um indivíduo que a partir de si, se volta contra os instintos de dentro e de fora de si. Nesse movimento ele pode retornar a si transformado, mas nunca abandona completamente seu ser. A forma mais eficiente de arrancar-se dessa existência, para Schopenhauer, está no âmbito da ascese, mas também da arte e da ética. Assim, em meio às esperanças revolucionárias do século XIX, Schopenhauer quer livrar-se das paixões da vida e das ilusões modernas a partir de uma “arte pessimista de ser feliz”. Segundo o autor, o pessimista teria sido um dos primeiros a criticar o pensamento idealista de Hegel, por não considerar a efetividade do mundo, os sofrimentos do mundo, que ele compreendia como vontade e representação.
O capítulo 6, de título Kierkegaard: o indivíduo, o desespero e a fé cristã é constituído também por três seções: Kierkegaard e seu tempo, Da estética para a ética: por que Don Juan e Abraão se desesperam? E A doença para a morte. Segundo o autor, o filósofo dinamarquês buscou a superação da filosofia na religião, na fé e no desespero, a partir da estética e da ética. Para ele, o indivíduo decidido a si mesmo só poderia superar o desespero da existência no confronto com Deus. No contexto da existência transitória e angustiante da vida moderna, Kierkegaard sustentou que o indivíduo experimenta possibilidades de liberdade que o levam ao desespero. A angústia está na base da subjetividade própria do ser humano, tanto no estágio estético em que o indivíduo se depara com toda a transitoriedade da vida, como no estágio ético, em que se defronta com seu “eu mais próprio”, não podendo se furtar de assumir a tarefa de sua existência. O desespero, enquanto aspecto abstrato, pode ser considerado em Kierkegaard uma vantagem do ser humano em relação aos outros animais, mas pode também ser visto, como uma das “piores misérias”. Para ele é somente pela fé cristã que o homem consegue elevar-se acima do desespero, consistindo no ápice do desenvolvimento espiritual do ser humano. Contudo, segundo Araldi, o pensamento de Kierkegaard apresenta um paradoxo filosoficamente desafiador, a partir da concepção de um indivíduo único, como um Si-mesmo, que se eleva diante de Deus.
O capítulo 7, intitulado O positivismo e as ciências no século XIX, apresenta a importância filosófica do positivismo do século XIX com relação as ciências naturais que se consolidavam em todas as esferas da vida humana, em duas seções: Auguste Comte: a física social e a lei dos três estados e Spencer e o positivismo evolucionista. O positivismo de Comte é considerado a expressão do triunfo das ciências naturais no século XIX e também signo de uma nova mentalidade cientificista que tinha pretensão de torna-se a “nova religião”. A partir de sua “física social”, Comte pretendia compatibilizar a visão humanista com os progressos científicos, mas acabou em uma visão dogmática. Spencer por seu lado, pretendia compatibilizar as aspirações humanas e morais com o pensamento científico a partir de uma ciência moral e social, pela fisiologia. Nesse capítulo vemos os esforços da filosofia para preencher o vácuo da modernidade através da compatibilização com o progresso científico. Será, contudo, com Nietzsche que essas ideias encontrarão uma radicalização mais acentuada e à filosofia ficará a tarefa de “criar novos valores”, como tentativa de unir a ciência com a arte.
O capítulo 8, intitulado Nietzsche: a crítica da moral e a filosofia do futuro, é constituído por cinco tópicos: As três transmutações do Espírito, A crítica da moral em Humano, demasiado humano, A crítica da modernidade em Além do bem e do mal, A genealogia da moral e A criação de novos valores e a filosofia do futuro. Nesse capítulo, o autor apresenta os aspectos críticos e criativos do pensamento de Nietzsche, que busca ir além da modernidade ocidental, não só na moral, mas na metafísica e na religião. A partir da ênfase na tarefa afirmativa deixada à filosofia do futuro, como tentativa de compatibilizar a ciência com a “ética-estética”, encontramos nesse capítulo um dos projetos mais ambiciosos do século XIX para superar a crise dos valores.
A partir da exposição sobre Das três transmutações, discurso presente em Assim falou Zaratustra, o autor apresenta a tentativa ali presente de “abarcar todo o movimento do espírito humano, da vida do próprio Nietzsche e da história da filosofia ocidental” (p. 117). Segundo Araldi, estaria na base do pensamento de Nietzsche a ideia de uma “transmutação radical” na qual o indivíduo, livre dos valores transcendentes, buscaria ultrapassar a si mesmo para criar novos valores.
Através da criação da Filosofia do Espírito Livre, presente na segunda fase do pensamento de Nietzsche, o filósofo buscaria libertar-se dos mestres Schopenhauer e Wagner, que até então marcavam seu pensamento, buscando refúgio na ciência, no filosofar histórico, no positivismo e na psicologia moral de Paul Rée. A proposta de uma ‘história efetiva da moral’ teria sido realizada nas últimas décadas do século XIX, momento no qual Nietzsche compartilha com Paul Rée a derivação dos sentimentos morais a partir dos sentimentos de prazer e desprazer. Perspectiva que irá mudar na fase tardia, com o desenvolvimento da doutrina da vontade de potência que passa a ser o novo critério para a avaliação dos valores morais.
Em Além do bem e do mal, obra do período tardio do pensamento nietzschiano, a história natural da moral ganharia um novo desenvolvimento a partir do método de análise genealógico. Para Nietzsche, a vontade de potência foi o critério utilizado para criticar não só os valores morais tradicionais, mas também para estabelecer novos e construir uma tipologia da moral, que definiu dois tipos de moral: uma afirmativa, proveniente da moral dos senhores, e uma moral negativa, proveniente da moral dos escravos. O projeto de naturalizar a moral em Além do bem e do mal encontra, contudo, lacunas que Nietzsche irá tentar preencher em Genealogia da moral. Mas essa obra também não esgota o estudo sobre a história da moral e suas consequências niilistas, deixando a promessa para um estudo que estaria por vir: A vontade de potência que, no entanto, não fora concluída.
Ao distinguir o surgimento de dois tipos de moral, a moral dos senhores e a moral dos escravos, o genealogista mostra que no tipo nobre, o valor de bom, se refere ao que provém dos instintos fortes da vida. Em oposição, ruim, é tudo aquilo que é desprezível e fraco em relação ao nobre, que é forte. Para o tipo de homem da moral escrava a moral nasce a partir da forma de valorar do fraco: o bom é tudo que se opõe ao nobre, guerreiro, forte e dominador, que é considerado mau na moral escrava. Nietzsche compreende a forma de valorar do sacerdote ascético nos seguintes termos: “Ao ‘dizer-não’ para o odiado nobre, ao voltar-se para fora de sua existência malograda, o sacerdote propriamente não cria, mas inverte valores” (p. 129). A história da moral teria sido assim, dominada por essa inversão dos valores. Para ele, se a moral escrava triunfa é a partir da negação dos instintos afirmativos da vida, considerados bons na moral dos fortes. A análise genealógica, nesse sentido, apontaria a fonte moral não só da verdade e da religião, mas da metafísica e da ciência.
Conforme o autor apresenta, no período tardio das obras de Nietzsche, entre 1885-1888, o filósofo insere o caráter artístico no procedimento de criação de valores. Para Nietzsche, a moral poderia ser justificada como fenômeno estético, na medida em que os juízos e valores morais teriam origem em percepções estéticas, sem o suporte das oposições metafísicas. O projeto de reduzir a moral à estética, presente nos escritos tardios, deveria, contudo, ser questionado. Segundo o autor, esse projeto está no âmbito do indivíduo singular que se colocaria para além do período moral da humanidade. Para Nietzsche, o indivíduo soberano é aquele que, liberado da moralidade dos costumes, é igual apenas a si mesmo. O indivíduo soberano, considerado um indivíduo singular e autônomo, estaria no final do processo da história universal da moral. Ele encontrar-se-ia, portanto, no período “extramoral”, cuja condição é a naturalização do homem, que se torna possível através da investigação genealógica-histórica da moral. Para Nietzsche, a própria moralidade revelaria a imoralidade reinante tanto na natureza como na história.
Para o autor, Nietzsche seria precursor de uma “nova filosofia afirmativa”, como intenção de superar a moralidade consolidada no homem moderno. No entanto, teria se restringido a investigar criticamente a história natural da moral e lançado à filosofia do futuro a tarefa de afirmar a si mesmo pela via ético-estética – que consiste na sua tentativa de romper com a crise do mundo moderno. Segundo Araldi, é somente pela arte que a existência pode ser afirmada para Nietzsche. E para propor valores não-morais, como uma arte afirmativa de si mesmo, o homem precisa se liberar dos velhos valores herdados da tradição europeia. E nesse sentido, o projeto de naturalizar a moral, auxiliaria na tarefa deixada aos filósofos do futuro.
Ao final de sua trajetória Do Romantismo a Nietzsche, o autor deixa o questionamento: “Num mundo dominado pelas ciências, o que resta para a filosofia?” (p. 136). Esse questionamento encontra ao longo dos estudos selecionados por Clademir Araldi o seguinte desenvolvimento: a filosofia do século XIX buscou na união tanto do Espírito com a Natureza como da Arte com a ciência uma maneira de reagir ao vazio deixado na modernidade. Por meio desses estudos recentes, compreendemos que o filósofo alemão descreveu o espírito moderno a partir do niilismo moral, enquanto um processo que encontra aí sua forma mais radical. Esse sentido já estava presente em seu trabalho anterior Para uma caracterização do niilismo na obra tardia de Nietzsche (1998), a partir da qual percebemos que a criação de novos valores como forma de conceber uma maneira de viver afirmativa torna-se necessária. Em Do romantismo a Nietzsche o autor insere tal problemática no contexto histórico da filosofia moderna e contemporânea que se apresenta como crítica mais radical a esse estado de crise já reivindicado pelos primeiros românticos.
Da subjetividade do gênio criador à tentativa de reduzir a ética à estética a partir de uma análise genealógica dos valores morais, vemos um percurso na história do pensamento ocidental que privilegia a via artística como tentativa de conceber a noção de vida, a partir de um indivíduo, que para além da moral e do progresso tecnocientífico, busca dar um sentido afirmativo à existência. Em nossa concepção, a aposta nos filósofos do futuro, enquanto criadores de novos valores, deixa, portanto, essa tarefa a ser realizada pela filosofia: a de conceber novos valores para a vida, que encontra na trajetória dos românticos a Nietzsche, como herança do ímpeto tempestuoso e ao mesmo tempo criador da modernidade, uma via significativa.
Referências
ARALDI, Clademir. Do romantismo a Nietzsche: rupturas e transformações na filosofia do século XIX. Pelotas: NEPFIL Online, 2017. [ Links ]
ARALDI, Clademir. Para uma caracterização do niilismo na obra tardia de Nietzsche. Cadernos Nietzsche, São Paulo, n. 5, p. 75-94, 1998. Disponível em: <Disponível em: http://www.gen.fflch.usp.br/sites/gen.fflch.usp.br/files/upload/cn_05_05%20Araldi.pdf >. Acesso em: 30/04/2018. [ Links ]
HOBSBAWM, Eric. A Era das revoluções: Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. [ Links ]
Notas
1 Assim, percebemos que se a ideia que dominou o século XX deixou de lado a compreensão das raízes românticas do século XIX, o historiador Eric Hobsbawm em A Era das Revoluções: Europa 1789-1848 ([1998]) apreendeu diferentemente esse significado, atribuindo grande valor a Filosofia da Natureza Romântica para o século XIX, contribuindo inestimavelmente para o pensamento filosófico contemporâneo, na mesma esteira seguida por Araldi.
Tulipa Martins Meireles – Doutoranda da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: [email protected]
Escolas italianas no Rio Grande do Sul: pesquisas e documentos – RECH; LUCHESE (RHHE)
RECH, Gelson Leonardo; LUCHESE, Terciane Ângela. Escolas italianas no Rio Grande do Sul: pesquisas e documentos. Caxias do Sul, EDUCS, 2018. Resenha de: FERNANDES, Cassiane Curtarelli. Escolas italianas no Rio grande do Sul: pesquisas e documentos. Revista de História e Historiografia da Educação, Curitiba, Brasil, v. 2, n. 6, p. 241-245, setembro/dezembro de 2018.
Escolas italianas no Rio Grande do Sul: pesquisas e documentos, é o título da obra composta pelos pesquisadores Gelson Leonardo Rech e Terciane Ângela Luchese, publicada em 2018, pela editora EDUCS. O escrito é fruto da continuidade das pesquisas empreendidas pelos autores em torno dos processos educativos entre imigrantes italianos e seus descendentes no Rio Grande do Sul, assim como dos diálogos mantidos no Grupo de Pesquisa História da Educação, Imigração e Memória (GRUPHEIM) da Universidade de Caxias do Sul/RS.
De uma forma acessível, Gelson e Terciane partilham seus empreendimentos de pesquisa com o público interessado na temática da imigração italiana no estado gaúcho. As páginas, escritas a quatro mãos, reúnem três movimentos: narram uma história das escolas italiano no estado, apresentam uma reflexão metodológica e transcrevem documentos primários, alguns até então inéditos para a área da História da Educação.
O livro, organizado em três capítulos, inicia com prefácio elaborado pelo Prof. Dr. Elomar Antonio Callegaro Tambara, que aborda brevemente o processo imigratório italiano no Rio Grande do Sul. Em seguida, há uma apresentação da obra pelos autores, desejando que “a leitura das páginas que seguem possa inspirar outros investigadores e interessados pela temática a pensarem os processos educativos étnicos como uma importante singularidade no contexto brasileiro” (RECH; LUCHESE, 2018, p. 12).
No primeiro capítulo intitulado O processo escolar entre imigrantes italianos e descendentes no Rio Grande do Sul (1875-1938), os pesquisadores apresentam os resultados das investigações realizadas nos últimos anos acerca do processo escolar entre imigrantes e descendentes de italianos no estado, nos anos finais do século XIX, mais especificamente nas colônias da Serra gaúcha e na capital Porto Alegre.
O texto inicia com um panorama histórico acerca do processo imigratório italiano no estado, apontando brevemente as causas da imigração, o interesse do governo brasileiro no fenômeno migratório, assim como a formação das diversas colônias estabelecidas a partir de 1870. Em seguida, apresenta o contexto educacional do Rio Grande do Sul entre o século XIX e o XX. Depois, direciona o olhar para o processo escolar entre imigrantes italianos e os seus descendentes, apontando que “diversas foram as iniciativas dos imigrantes na organização de escolas” (RECH; LUCHESE, 2018, p. 25). Entre estas iniciativas, os pesquisadores destacam as escolas étnico-comunitárias rurais, as escolas étnico-comunitárias mantidas por Associações de Mútuo Socorro e as escolas ligadas a congregações religiosas. Ainda, ressaltam que às escolas públicas – isoladas, grupos escolares e colégios elementares, foram também requisitadas pelos imigrantes. No entanto, ressaltam que:
Essa escola frequentada pelos imigrantes, seus filhos e netos, mesmo sendo pública, era marcada por elementos étnicos. O próprio prédio escolar e a terra onde estava localizada, muitas vezes, foram doados pela comunidade, assim como os móveis. As comunidades frequentemente interferiam na nomeação e/ou indicação do professor, como averiguou Luchese (2007). As práticas pedagógicas e o sotaque dialetal, bem como outros elementos culturais étnicos, marcavam presença nas salas de aula. (RECH; LUCHESE, 2018, p. 37).
Após, os autores apresentam algumas iniciativas de escolarização tendo como pano de fundo à capital Porto Alegre. Assim, evidenciam a organização do Instituto Médio Ítalo-Brasileiro que funcionou como um colégio-internato, entre os anos de 1917 a 1930, fundado pelo Professor Augusto Menegatti e sua esposa Linda Menegatti, como também a reorganização das escolas étnicas na capital.
Concluem este primeiro capítulo elencando algumas dificuldades encontradas para se manter as iniciativas das escolas étnico-comunitárias, bem como as influências do governo fascista de Mussolini a partir de 1922, sobre as escolas étnicas italianas e a preferência dos imigrantes e descendentes pela escola pública.
Análise documental histórica: considerações metodológicas sobre a história da escola entre imigrantes italianos e seus descendentes é o título do segundo capítulo organizado pelos autores, tendo como objetivo compartilhar considerações sobre os caminhos teóricos e metodológicos de suas investigações (RECH; LUCHESE, 2018). Sendo assim, destacam a utilização do aporte teórico-metodológico da História Cultural, a importância de tomar os documentos como monumentos nas pesquisas e o trabalho com a análise documental – organização e interpretação dos dados.
Nesta segunda parte do livro, os autores partilham com os demais pesquisadores da área, seis preocupações necessárias trabalho com a análise de documentos textuais, a saber: 1) as condições de produção do documento; 2) os procedimentos internos; 3) as condições de circulação do documento; 4) a materialidade do documento; 5) a apropriação; 6) a preservação. Da mesma forma, demarcam a importância do cruzamento das fontes selecionadas nas pesquisas, a diversificação das mesmas – textuais, orais e iconográficas, o diálogo com a teoria e o cuidado com as referências de localização dos vestígios com compõe o corpus documental da investigação. Desse processo, emerge “a tessitura da escrita”, nas palavras de Rech e Luchese (2018, p. 74). Para ambos:
Nesse jogo de vida e morte, de passado e presente, de documentos e monumentos, não podemos esquecer que as narrativas históricas da educação, derivadas das pesquisas que produzimos, são resultados de trabalho com questões de pesquisa possíveis no tempo em que vivemos e que, para respondê-las, construímos um corpus empírico. Destarte, indícios, rastros, sinais que são ordenados, montados, questionados na análise, na inter-relação e contextualização que procedemos para escrever história, escrever um possível sobre o passado educacional, reconhecendo a precariedade e a necessidade de revisitar documentos, munidos por novos questionamentos. É o movimento constante da pesquisa. (RECH; LUCHESE, 2018, p. 77).
No terceiro e último capítulo denominado Repertórios documentais, Gelson e Terciane, de forma generosa, compartilham quatro documentos que auxiliam na compreensão da história da escola entre imigrantes italianos e descendentes no estado do Rio Grande do Sul.
O primeiro documento apresentado pelos autores é um relatório elaborado pelo italiano Ranieri Venerosi Pesciolini, que em visita aos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, escreve no ano de 1912, sobre a vida nas colônias italianas, incluindo um tópico sobre a as escolas e a instrução. A segunda fonte também é um relatório e foi produzida em 1923, pelo professor italiano Vittore Alemanni que escreve sobre as escolas italianas no Brasil. O terceiro do-cumento é um recorte do texto apresentado no livro Cinquantenario della colonizzazione italiana nel Rio Grande del Sud (1875-1925) por Benvenuto Crocetta em 1925, onde o mesmo compõe um pequeno escrito sobre as escolas. O último vestígio é uma carta de Celeste Gobbato, intendente de Caxias do Sul, endereçada a Benito Mussolini, no ano de 1927, “pedindo a intervenção do Duce para que os padres salesianos implantassem um ginásio em Caxias do Sul” (RECH; LU-CHESE, 2018, p. 150). Os documentos disponibilizados são apresentados na sua versão original em língua italiana e acompanham as res-pectivas traduções realizadas pelos autores do livro.
A obra escrita por Rech e Luchese (2018) é uma importante contribuição para os estudos historiográficos em torno dos processos educativos nas colônias de imigrantes e descendentes de italianos. A partir das investigações dos autores é possível perceber que a escola foi alvo de desejo e de interesse por parte das famílias italianas desde os anos iniciais de formação dos núcleos coloniais.
Sendo assim, além de compartilhar os conhecimentos construídos sobre a temática do livro, os autores dividem com os jovens pesquisadores da área da História da Educação os seus modos de trabalhar com a análise documental e narrar uma história. Refletem acerca do problema de pesquisa e do uso de documentos, apontam autores dentro do referencial teórico-metodológico da História Cultural e sugerem caminhos para a metodologia da análise documental. Ao final, ainda nos brindam com a reprodução de quatro documentos que tratam sobre a escolarização. Escolas italianas no Rio Grande do Sul: pesquisas e documentos é uma publicação inspiradora e que merece nossa atenção.
Cassiane Curtarelli Fernandes – Doutoranda em Educação pela Universidade de Caxias do Sul, UCS (Brasil). Contato: [email protected].
Modernização Conservadora no Brasil (XIX-XXI) / Cantareira / 2018
No primeiro semestre de 2017, as manchetes de todos os jornais de grande circulação do país insistiram na afirmação de que a Reforma Trabalhista traria facilidades aos patrões e aos trabalhadores, pois permitiria a geração de emprego e renda a partir de uma “legislação moderna”. Entretanto, a lei 13.467 / 2017, aprovada em julho, trouxe como consequência o inverso dos objetivos anunciados: desemprego, rebaixamento de salários e precarização das relações laborais. O patronato, por sua vez, foi agraciado com novos instrumentos de pressão que proporcionaram o enfraquecimento dos sindicatos e a ampliação da vulnerabilidade tanto dos trabalhadores legalmente empregados, quanto daqueles que recorrem à informalidade como alternativa de sobrevivência.
Introduzimos este dossiê com um exemplo claro do que os artigos aqui reunidos defendem: os processos modernizantes brasileiros foram, via de regra, conservadores. Isto é, serviram para reforçar a estrutura social e seu apartamento de classes, mesmo nos momentos em que esteve em mutação dirigida. A isto chamamos de Modernização Conservadora.
A matriz do conceito de Barrington Moore Junior3 se mantém em nossa apropriação: a associação de diferentes frações de classe para a construção de uma sociedade capitalista, a partir de sua dominância e articulação no Estado Nacional e tecendo um pacto entre os interesses das tradicionais castas de proprietários rurais, negociantes e financistas. Entretanto, procuramos sofisticar o conceito para que sua potência explicativa dê conta da complexidade social brasileira.
Em nossa elaboração, procuramos deixar claro três dimensões fundamentais que esclarecem os processos de Modernização Conservadora no Brasil: 1- o pacto entre as frações da classe dominante compunha interesses internos e externos, assim como operava dentro e fora do Estado Nacional. De forma que a situação de direção entre as frações da classe dominante obedecia não só a lenta mutação estrutural brasileira, como às conjunturas externas. Entretanto, o que se observa desses processos é que a divisão entre dominantes e dominados não só era mantida nas mais diferentes formas de exploração, como poderia ser aperfeiçoada com a conjugação de interesses distintos; 2- o alvo dessa modernização não se tolhe à industrialização, como preconiza Moore Junior para os casos alemão e japonês. Pensamos Modernização Conservadora no Brasil como aquelas transformações infraestruturais, passíveis em todos os setores da economia, e superestruturais, que modificam a política e a sociedade; 3- não é possível ver uma dualidade entre “atrasado” e “moderno” nos processos de Modernização Conservadora no Brasil, já que os dois campos supostamente duais se retroalimentam e sustentam-se politicamente de forma recíproca.
Alguns autores como Jessé de Souza4 tem atentado para o engano da “panaceia da modernização”, que aplacaria a todos os males de nossa sociedade. Entretanto, grande parte da tradição sociológica brasileira tem trabalhado com a hipótese de que as modernizações efetuadas no Brasil não só mantiveram as desigualdades estruturais de nossa sociedade, como as garantiram, aprofundaram e formaram consenso em torno das mesmas.
Para tanto, as formulações mais definitivas, nesse sentido, são de José de Souza Martins5 (1994) e Francisco de Oliveira6 (2003). Trabalhando primacialmente com a questão da concentração fundiária como ponto fundamental para produção do pacto conservador e modernizante, Martins deixa claro:
[…] a constatação é uma só: as grandes mudanças sociais e econômicas do Brasil contemporâneo não estão relacionadas com o surgimento de novos protagonistas sociais e políticos, portadores de um novo e radical projeto político e econômico. As mesmas elites responsáveis pelo patamar de atraso em que se situavam numa situação histórica anterior, protagonizavam as transformações sociais7.
Demonstrando como a dualidade entre “atrasado” e “moderno” não só é inexistente no caso brasileiro, como sua integração dialética moldou o caráter geral de nosso capitalismo, Chico de Oliveira esclarece:
[…] as formas irresolutas da questão da terra e do estatuto da força de trabalho, a subordinação da nova classe social urbana, o proletariado, ao Estado, e o “transformismo” brasileiro, forma da modernização conservadora, ou de uma revolução produtiva sem revolução burguesa. Ao rejeitar o dualismo cepalino, acentuava-se que o específico da revolução produtiva sem revolução burguesa era o caráter “produtivo” do atraso como condômino da expansão capitalista8.
Sobre o próprio tema da industrialização brasileira, Otávio Ianni9 demonstrou como a indústria brasileira tem características do capitalismo dependente, assim como se deu devido ao alto grau de internacionalização da economia e da classe burguesa brasileira, estando longe de representar algum processo de emancipação econômica ou de disputa acirrada entre uma nova postulante à classe dominante e os antigos proprietários de terras e escravos.
Ao longo do século XIX, diferentes frações da classe dominante construíram um pacto cujo os objetivos eram a formação de um Estado Nacional e sua subsequente integração à Divisão Internacional do Trabalho. O intenso aperfeiçoamento das infraestruturas de transportes, comunicações, comércio, financeiras e produtivas, bem como a transformação de boa parte do arcabouço jurídico-político do Império e da República, renovaram os instrumentos de dominação que viabilizaram a manutenção das classes dominantes enquanto tais. Estes diversos processos de modernização pelos quais as formações sociais do Brasil passaram contribuíram decisivamente para uma industrialização e surgimento da classe burguesa industrial que não ameaçaram a ordem político-social vigente. Os privilégios das tradicionais classes dominantes do país foram mantidos.
Os séculos XX e XXI testemunharam a mesma dinâmica, por mais que os condicionantes estruturais e conjunturais tivessem modificado as intensidades da mesma. A organização e resistência de massas de escravizados e trabalhadores livres foi, por diversas vezes, duro revés nos intuitos de implementar novos projetos modernizantes e conservadores. Assim mesmo, boa parte dos processos que reconhecemos como Modernização Conservadora são ataques às conquistas históricas dos dominados. Ou seja, lidamos com repetidos exemplos de processos supostamente modernizantes que intentam verdadeiros retrocessos civilizacionais.
Neste sentido, entendemos que a Revolução Burguesa no Brasil é permanentemente pactuada com os segmentos latifundiários, não se mostrando capaz de abrir mão totalmente da estrutura escravista e dependente que a sustenta. Ou seja, essa Sociedade Ornintorrinco, em que o “progresso” e o “atraso” se retroalimentam dialeticamente, busca aprimorar a dominação de classe tanto no espaço urbano, quanto no rural. Modernização Conservadora no Brasil se define, portanto, não como conceito explicativo apenas de nossa industrialização, mas como uma chave explicativa para o entendimento de diversos processos históricos de mudança em nossa sociedade.
Pensado no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas Eulália & Bárbara, esse dossiê congrega esforços de pesquisadores que se debruçaram sobre a longa tradição brasileira de mudanças cuja finalidade última é tão somente a manutenção e / ou aprofundamento do status quo.
O artigo de Álvaro Saluan da Cunha e de Raphael Braga de Oliveira demonstra como o processo de modernização brasileira era retratado nas pinturas de Edoardo de Martino e de Victor Meirelles, durante a Guerra do Paraguai.
Já o artigo de Amanda Marinho aborda uma questão tão interessante, quando ainda pouco estudada: o desenvolvimento da legislação de patentes no Brasil oitocentista e os seus efeitos para a industrialização brasileira.
Um excelente estudo de caso é o de Bruna Dourado sobre a Companhia Pernambucana de Navegação Costeira a Vapor. Explorando a história da empresa, a autora oferece rica comprovação empírica do processo de modernização na navegação costeira e o correlaciona com a marcante presença dos capitais estrangeiros, nomeadamente ingleses.
Célio Diniz oferece um olhar privilegiado para a política internacional do Império, demonstrando como os diplomatas literatos retratavam as mudanças nas estruturas sociais, políticas e econômicas de seu tempo.
Glauber Florindo colaborou com um estudo sobre o rearranjo entre poderes local e monárquico no bojo da discussão da Assembleia Constituinte de 1823.
Guilherme Barreto, em grande esforço de síntese histórica, demonstra como se desenvolveu o setor de transformação brasileiro ao longo do século XIX. O autor correlaciona os processos de industrialização de Rio de Janeiro e São Paulo, utilizando de documentação censitária para chegar a conclusões sobre a relevância do setor agroexportador e do Estado neste processo.
O artigo de Hiolly Batista aborda o complexo processo de modernização da agricultura durante a ditadura militar, na região oeste do Paraná. A peculiaridade do recorte espacial se justifica, pois esse processo é truncado com a construção da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu.
Processo fundamental para entender o conceito de Modernização Conservadora no Brasil, o fim do tráfico transatlântico de escravos é abordado de forma inovadora por João Marcos Mesquita de forma a associar pressões externas e resistências senhoriais internas para o entendimento da forma como foi levado a cabo.
O texto de Juliana Valpasso de Andrade oferece uma mirada original sobre as mudanças na política externa brasileira, no século XXI, através do conflito entre a revista Veja e o governo Lula.
Marcos Marinho instiga uma nova leitura sobre a produção açucareira no Norte Fluminense, oferecendo relevante comprovação empírica sobre a transformação tecnológica dos engenhos de Campos dos Goytacazes e seu significativo impacto na produção, na segunda metade do oitocentos.
Natânia Silva Ferreira e Fernando Henrique do Vale contribuem com artigo que compara as urbanizações de Varginha e Pouso Alegre, ao sul de Minas Gerais, no alvorecer do século XX.
O fundamental texto de Pedro Sousa esclarece um pouco mais sobre a construção da Avenida Presidente Vargas, durante o Estado Novo, apontando para as empresas beneficiadas com a execução das obras.
Ricardo Alves contribui para um dos processos mais afins ao conceito de Modernização Conservadora no Brasil. A chamada “transição do trabalho escravo ao trabalho livre” é demonstrada pelo autor, com recorte espacial em Alagoas, levando em conta as rupturas e permanências neste processo.
O artigo de Silvana Andrade demonstra com clareza como do intercâmbio entre duas instituições do nascente Estado Imperial surgiu um conjunto de medidas sobre a atividade industrial, com regulação e promoção modernizadas já na década de 1830.
Thaiz Barbosa Freitas nos surpreende com uma pesquisa impactante sobre o teor modernizante e conservador do Estado português na Capitania de Minas Gerais, considerando especialmente as mudanças nas políticas e práticas fiscais, ainda no século XVIII. O artigo nos instiga questionar como este fenômeno luso pode ter influenciado na formação do Estado Nacional Brasileiro, no que concerne ao que definimos como Modernização Conservadora como conceito explicativo de parte de sua história.
Thiago Reis publica importante artigo sobre como a economia brasileira se abateu e modificou perante às complicações impostas pela crise de 1929.
Em importante diálogo com o artigo de João Marcos Mesquita, Victor Romero de Azevedo explora o processo contíguo à cessação do tráfico transatlântico de escravos, em 1831, enfocando nas reações políticas de defesa do tráfico negreiro.
O artigo de Yasmin Vianna Bragança oferece um recorte de gênero sobre o processo de modernização que afetava a vida das famílias durante o Estado Novo, o que representava um novo papel para as mulheres na sociedade e, concomitantemente, a produção de novas políticas públicas visando a “senhora do lar proletário”.
Boa Leitura!
Notas
- MOORE JUNIOR, Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na construção do mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1975.
- SOUZA, Jessé de. A Elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.
- MARTINS, José de Souza. O Poder do Atraso: Ensaios de Sociologia da História Lenta. São Paulo: Hucitec, 1994.
- OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à Razão Dualista. O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.
- MARTINS, op.cit., p.58.
- OLIVEIRA, op.cit., p.151.
- IANNI, Otávio. Industrialização e desenvolvimento social no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.
Thiago Alvagenga de Oliveira – Bacharel e Licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense (2009-2013). Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (2013-2016). Atualmente doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (2016-atual). Membro do grupo de pesquisa História Econômica Quantitativa e Social (HEQUS) da Universidade Federal Fluminense. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Eulália e Bárbara (GEPEB). E- mail: [email protected]
Thiago Vinicius Mantuano da Fonseca – Doutorando no curso de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, por onde também é graduado em História (2014) e mestre em História Social (2017). É membro do grupo de pesquisa Portos e Cidades no Mundo Atlântico (CNPq), do laboratório POLIS – História Econômico-Social (UFF), do grupo de investigação internacional La Governanza de los Puertos Atlánticos (UNED – ESP) e sócio da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, além de membro fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas Eulália & Bárbara, também é colaborador do Foro Internacional de Ciudades Portuarias (IDEHES / CONICET – ARG) e do laboratório HEQUS – História Econômica, Quantitativa e Social (UFF). E-mail: [email protected]
OLIVEIRA, Thiago Alvagenga de; FONSECA, Thiago Vinicius Mantuano da. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.29, jul / dez, 2018. Acessar publicação original [DR]
Sublimação e unheimliche – PARENTE (Ph)
PARENTE, Alessandra. Sublimação e unheimliche. São Paulo: Pearson, 2017. Resenha de: SILVEIRA, Léa. A mulher entre o ouro e a carne. Philósophos, Goiânia, v. 23, n. 2, p.-91-104, jul./dez., 2018.
Il crut que dans son corps elle avait um trésor.
La Fontaine
A questão das neuroses condensou-se para Freud, como sabemos, em torno de um problema específico de defesa psíquica que ele, a certa altura, nomeou Verdrängung (recalque) e que cedo o conduziu ao enfrentamento teórico do modo pelo qual tal defesa se relacionava à cultura: suas exigências, suas condições psíquicas, sua existência mesma. Por que motivos, afinal, um indivíduo vem a rejeitar aquilo que ele próprio deseja? Eis algo que Freud, por mais que tivesse se identificado com os valores burgueses da Viena finde-siècle, não tomou por dado. Nem sequer, a meu ver, por um dado de sua época. Pelo contrário, ele perseguiu tal problema a partir dos mais diversos ângulos e fez disso o pensamento de uma vida. É assim que, para mencionar apenas um exemplo, ao relatar o caso Dora, ele expressa seu pasmo muito exatamente diante de um não reconhecimento da sexualidade. E escreve, nesse sentido:
Toda pessoa que, numa ocasião para a excitação sexual, tem sobre-tudo ou exclusivamente sensações desprazerosas, eu não hesitaria em considerar histérica, seja ela capaz de produzir sintomas somáticos ou não. Explicar o mecanismo dessa inversão de afeto é uma das tarefas mais importantes – e, ao mesmo tempo, mais difíceis – da psicologia da neurose (FREUD, 1905[1901]/2016, p.201).
Decerto, com Dora e os “Kas”1 temos também o problema da cegueira (ou surdez) possível do analista, mobilizada já como problema clássico na história das ideias psicanalíticas relacionadas à transferência, uma vez que Freud teria falhado em perceber o endereçamento do desejo de Dora. Lacan (1952[1951]/1998) vê isso em uma peculiaridade do momento em que a moça parece rejeitar o Sr. K. Trata-se do momento em que Dora entende que o Sr. K. não tinha acesso ao gozo da Sra. K., ao gozo do corpo daquela mulher. Lacan explora, com isso, o vislumbre do final do relato do caso, que ocorre a Freud só-depois: quanto mais o tempo passava, mais Freud se convencia de que o erro técnico, a partir do qual Dora rompera bruscamente o tratamento, consistiu em não pontuar o investimento erótico homossexual da moça na Sra. K2. É certamente em função dessa cegueira que Freud atribui a Dora, na interpretação de seus sintomas, “correntes afetivas masculinas” (p. 245). Mas, em qualquer caso, isso não dissipa o fato de que a pergunta de Freud, aquela com a qual ele se espanta, é: não seria de se esperar que uma mulher, ao desejar, assumisse o seu desejo enquanto tal? Se isso não acontece, conclui, é preciso tomar o fato na condição de enigma, pois ele não pede menos do que isso. Se a cultura representa um campo importante no sentido de fornecer motivações para a rejeição do desejo, uma reflexão sobre ela é, então, inescapável para Freud. Tal reflexão terá desdobramentos sem os quais dificilmente poderíamos ter alguma expectativa de fazer uma leitura de nosso próprio tempo. Ela não será, no entanto, de modo algum suficiente para se pensar o que é o recalque. Não é raro vermos o leitor que se restringe a O mal-estar na cultura desencaminhar-se nesse sentido. Mas o que eu gostaria de destacar, tendo em vista meu propósito nessa resenha, é o fato de que essa reflexão – necessária e, para Freud, insuficiente – é marcada, de uma maneira fundante, por uma ambiguidade. Para mim, quando se trata de dizer isso, há uma passagem que se destaca como nenhuma outra. Está em A moral sexual ‘cultural’ e o nervosismo moderno, primeiro texto que Freud dedica diretamente ao problema do antagonismo entre cultura e indivíduo. Poder-se-ia defender que um dos movimentos importantes que têm lugar entre esse texto e o do Mal-estar… é aquele que corresponde a uma estruturalização de tal antagonismo. Lá, o adoecimento cobrado pela cultura é destacado sobretudo como algo que caracterizaria a Europa da transição do XIX para o XX; aqui, tornar-se-á correlato de todas as suas formas. De todo modo, é no texto de 1908 que lemos:
A experiência ensina que há, para a maioria das pessoas, um limite, além do qual sua constituição não pode acompanhar as exigências da civilização. Todas as que querem ser mais nobres do que sua constituição lhes permite sucumbem à neurose; elas estariam melhores se lhes fosse possível ser piores (FREUD, 1908/2015, p.373-4).
Isso se desenha assim para Freud especialmente porque a construção da cultura envolve um investimento de energia psíquica subtraído das perversões constitutivas do ser humano, sendo este um argumento que resultará na célebre formulação de que a neurose é o negativo da perversão. Assim, apesar de por vezes Freud situar a arte como um caminho de reconciliação com os sacrifícios exigidos pela cultura3, qualquer estudo sobre o tema em sua teoria deve estar advertido de que sua reflexão sobre a estética não poderia deixar de reverberar essa ambiguidade. Se por um lado, o resultado do processo sublimatório consiste, diz Freud, em alcançar metas valorizadas socialmente, por outro lado o que ele mobiliza, como formação do inconsciente, é, de saída, potencialmente subversivo na medida em que aquilo que o caracteriza são as tendências de oposição à cultura. A sublimação corresponde a um destino pulsional que precisa trabalhar contra a pulsão; ou, dito de outro modo, corresponde a um trabalho da pulsão contra si mesma.
A ambiguidade que Freud enxerga, talvez a despeito de seu próprio desejo, na realização estética, na medida em que ela é também uma tensão constitutiva da cultura, é um problema que atravessa todo o livro Sublimação e Unheimliche, de Alessandra Parente. Assim, a autora escreve, na introdução, sobre o caráter paradoxal da sublimação: “[…] o conteúdo que emerge do inconsciente, servindo como matéria essencial para a criação, não pode mostrar sua natural face subversiva, a menos que seja amainada por ornamentos ou superfícies formais que reiteram o estado vigente das coisas” (PARENTE, 2017, p.38). O livro toma para si a tarefa de explorar aspectos sociais e históricos presentes no período de elaboração da teoria freudiana, de modo que a autora pretende expor não apenas a maneira como Freud concebia a cultura, mas a maneira como concebia a forma assumida pela cultura na época em que viveu e que viu nascer a nova disciplina. Ela se compromete, então, com a investigação das implicações psíquicas, sociais e políticas de tais concepções. À luz dessa chave, a primeira parte do livro mostra o modo pelo qual o modelo político-cultural do Império Austro-Húngaro aparece no conceito de sublimação. A. Parente defende que aparece nesse conceito freudiano um patriarcalismo que não teria percebido seu próprio fim, fim este que teria sido gestado pela Reforma Protestante e pela Revolução Francesa. O término não elaborado dessa ordem patriarcal, cujo representante paradigmático teria sido Francisco José I, teria promovido como resultado o surgimento de um espírito melancólico. No sentido psicanalítico, a melancolia, assim defende Freud, está relacionada a uma situação em que o Eu perde o objeto amado e não reconhece essa perda, introjetando o objeto e, consequentemente, deixando de fazer o trabalho de luto que se sucederia. Além disso, o não reconhecimento da perda seria disparado por uma culpa relacionada ao fato de o sujeito direcionar ao objeto um sentimento de ódio ou o desejo de matá-lo. Em virtude dessa ausência de reconhecimento, a hostilidade que se voltaria para o objeto inflete-se agora, na melancolia, para o próprio Eu que se regozija tanto com a manutenção do objeto quanto com sua própria punição. “A sombra do objeto caiu sobre o Eu” (FREUD, 1917/2011, p.61) foi a bela formulação que Freud encontrou, em Luto e melancolia, para esse estado de coisas. Do ponto de vista econômico (no sentido da metapsicologia), isso corresponde a uma inflação do Eu, já que lhe torna mais difícil realizar investimentos de libido em outros objetos. Essa hipertrofia do Eu, sustenta agora A. Parente, está relacionada com a sublimação. A referência à melancolia permite à autora proceder a um diagnóstico da cultura da época, em favor do que ela convoca as análises que W. Benjamin fornece dos dramas do Barroco alemão. No Trauerspiel, o traço marcante seria a fragilidade dos soberanos, a exposição do abalo que incidira sobre o poder monárquico. Qual é a reação dos cidadãos do Império Austro-Húngaro diante desse abalo? Eles preferem, diz a autora, alhear-se das discussões políticas e investir em uma “cultura dos sentimentos” que supervaloriza as artes e a beleza. Tudo se passa aqui como se, quanto mais complexas e investidas fossem as percepções dos objetos internos, mais os indivíduos se afastassem do âmbito público. Neste lugar, estaria então localizada a função da sublimação: ela estaria a serviço de dar vazão ao mundo interno sem tocar a questão dos problemas públicos. Isso corresponde, por óbvio, a uma crítica do conceito freudiano de sublimação, pois, na medida em que consiste em um processo conduzido pelo Eu com o intuito de, simultaneamente, obter reconhecimento social e realizar de modo parcial desejos sexuais e agressivos do artista, ela submete conteúdos que seriam resistentes à civilização a uma adaptação, contribuindo, assim, para a manutenção do “estado vigente das coisas”. Já com o Unheimliche4, o que se passa seria algo bem diferente porque sua expressão pelo artista trabalharia o conteúdo do trauma sem integrá-lo, afastando-se de valores que são reconhecidos pela sociedade de maneira não crítica e não problemática. O encaminhamento da reflexão estética na direção dessa noção teria, por esse motivo, desalojado Freud do lugar de um liberalismo conservador. Para A. Parente, a condição cultural que tem lugar com a Primeira Grande Guerra reflete-se no encaminhamento do pensamento de Freud, que então sofreria uma alteração significativa. Após a Guerra ele retoma sua teoria do trauma, elabora o conceito de pulsão de morte e escreve Das Unheimliche. Por esse motivo, a autora declara que seu segundo objetivo no livro é mostrar a importância desse acontecimento para a reconfiguração da teoria freudiana da cultura, o que significaria que essa reconfiguração alcançaria também o conceito de sublimação que Freud mobilizava até então. Nesse período, ele teria reconhecido limites em tal conceito, tendo sido por isso que: 1- não publicou o artigo metapsicológico que teria escrito sobre a sublimação e 2- escreveu o texto O inquietante. Isso faria parte de um cenário em que a condição psíquica prevalecente deixa de ser a melancolia e passa a ser o pânico.
Como órfãos de uma cultura perdida”, escreve a autora, “os homens que vagavam melancolicamente pela vida finalmente são obrigados a olhar para o vazio deixado após a guerra e para sua condição de desamparo. Juntando migalhas, tecem narrativas desconexas, potentes e vigorosas. Ao contrário do verniz que encerava o processo sublimatório, é possível ver uma inconsistência e uma precariedade mais fiéis à seiva inconsciente (p. 40).
A tese central do livro precisa então ser assinalada ao redor disso: há uma inflexão relevante entre a sublimação e o Unheimliche na teorização que Freud dedica à arte. Eles seriam dois processos de simbolização distintos e o entendimento da transição entre ambos precisa ser referido à repercussão que a Primeira Grande Guerra teria tido no pensamento freudiano. Tal chave dará ensejo a diversas incursões por obras artísticas e, especialmente, a autora recupera essa tensão entre o destaque conferido ao ouro na pintura de G. Klimt e a exposição crua da carne na de E. Schiele. Suas obras podem ser vistas como signos de uma amplitude de contexto cultural que, segundo A. Parente, ecoa na argumentação que Freud tece entre esses dois períodos cuja separação teria sido marcada com a Grande Guerra. A passagem entre o mestre e o discípulo – isto é: entre Klimt e Schiele – sinaliza uma ruptura da nudez para com a extravagância dourada e permite perceber a queda do véu da ornamentação, conduzindo decisivamente a obra de arte à exploração do Unheimliche, o que corresponderia a uma potência mais ampla de deslocamento e disrupção relativamente à ordem social estabelecida. Há muitos percursos possíveis para a leitura desse livro tão rico. Porém, em torno de sua tese central, A. Parente não entrega o ouro fácil. Ela exige bastante de sua leitora porque a costura da argumentação precisa ser feita constantemente. Nossos fios de coser são convidados a passear pelas duas partes constitutivas do livro, demarcadas entre si a partir dos dois momentos identificados na reflexão estética de Freud, e que acabam de ser assinalados aqui. Em torno do primeiro momento – ou seja, da primeira parte do livro –, temos sete capítulos que elaboram sucessivamente os seguintes recortes: o teatro na Viena finse-siècle, a relação entre modernidade e melancolia, o declínio da imagem do pai, o feminino na obra de Klimt, a abordagem romântica da sublimação, a relação entre Freud e Goethe, o estatuto da escrita freudiana. Já na segunda parte do livro, nos deparamos com cinco outros capítulos, sendo que o primeiro deles situa a obra de Freud diante de sua desilusão com a guerra, o segundo aborda a articulação entre o sentimento de pânico e a condição de desamparo, o terceiro investiga a figura do Unheimliche na obra de E. T. A. Hoffmann, o quarto fornece uma leitura da produção de E. Schiele e o último retorna ao Édipo mediante a referência a H. von Hofmannsthal. Diante das etapas assim desenhadas, podemos levantar algumas questões. Por exemplo: como podemos identificar em Klimt o modelo sublimatório nos termos propostos (p. 179) e ao mesmo tempo reconhecer em sua obra um profundo questionamento do poder patriarcal (p. 180)? Isso não seria prova de que a sublimação pode trazer resultados que ultrapassam a expectativa da aceitação social? Quando se diz que a Guerra imprime também uma mudança no próprio estilo de Freud, que análise concreta seria possível fazer desse estilo? Como o esforço de referir a teoria psicanalítica à história de seu tempo, especialmente mediante o estudo das obras de arte selecionadas, permitiria avançar a sua compreensão e o modo pelo qual ela dispõe seus conceitos? Chegamos, ao final do livro, no contexto de uma discussão sobre a peça A torre, de Hofmannstahl, a um comentário de Totem e tabu que está longe de ser trivial. Mas, dali, olhamos para um certo abismo, desamparados em busca de “considerações finais” que estivessem a serviço de dizer que um certo itinerário se encerrava ali de um certo modo, ainda que abrisse atalhos para tantas outras coisas. É especialmente importante ficar atenta ao fato de que a argumentação do livro vai se voltar para o tema do feminino. Uma das pistas mais relevantes nesse sentido, além do destaque dedicado a Klimt e Schiele – e, consequentemente, a essa questão – é a epígrafe do capítulo 3, que traz um pequeno trecho de 1907 das Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena. Nele, lemos muito a contragosto, para dizer o mínimo, que, “na opinião de Freud, a verdade é que a mulher nada ganha pelo estudo e que, no todo, a sorte delas não há de melhorar com isso. Acresce que as mulheres não podem alcançar a realização do homem na sublimação da sexualidade” (citado por PARENTE, 2017, p.141). Não se pode acusar Freud de ter sido incoerente com esse posicionamento nos textos que publicou durante sua vida. Pois conhecemos bem – nós, suas leitoras – o modo pelo qual ele se esforça por destituir as mulheres das condições ética e estética. Mas, por mais que seja difícil para nós hoje equacionar essas duas coisas, também devemos em larga medida a Freud a construção de um território em que o pensamento feminista se tornou possível. Dívida que começa, é claro, no que concerne à psicanálise, com a coragem das mulheres que ocuparam seu divã. A exemplo de Dora, com quem abri essa resenha, eram sobretudo mulheres que colocavam em cena, ainda que de modo deformado, seu desejo na clínica de Freud durante seu período inicial. Convém lembrar, a esse respeito, as seguintes palavras de J. Mitchell: só podemos entender o significado da obra de Freud
[…] se compreendermos primeiro que eram exatamente as formações psicológicas produzidas dentro das sociedades patriarcais que ele estava revelando e analisando. A oposição à história assimétrica sobre os sexos, proposta por Freud […], pode muito bem ser mais agradável no igualitarismo que ela assume e revela, mas não faz sentido algum para uma defesa mais profunda de que sob o patriarcado as mulheres são oprimidas – uma argumentação que só as análises de Freud podem nos ajudar a compreender (1974/1988, p.7).Isso significa, dentre tantas coisas, que é ainda urgente rever, comentar, repensar Totem e tabu nessa sua direção fundamental de estabelecer uma equivalência entre cultura e masculinidade e da qual, a meu ver, Lacan não soube se desvencilhar o suficiente. A. Parente acena para essa tarefa ao encerrar seu livro, de modo que a peça de Hofmannstahl dá ensejo a localizar essa pergunta pelo legado do mito freudiano e a marcar, talvez, mais um ponto de tensão entre o território do Unheimliche e o do patriarcado, embora ainda pareça pouco vincular, como faz a autora, a posteridade de Totem e tabu apenas ao tema da insurgência. A questão da mulher é um dos pontos mais pungentes em que a obra de Freud parece ser refém de seu contexto. Não é o caso de avançar aqui em sua exploração, mas ela força a esta pergunta de base, tão centralizada pelo livro de A. Parente: em que medida a obra reverbera seu contexto histórico, em que medida é independente dele? No que diz respeito ao segundo dualismo pulsional, não podemos deixar de lembrar a argumentação que L. R. Monzani constrói em Freud: O movimento de um pensamento. Para ele, o conceito de pulsão de morte não pode ter sua inteligibilidade referida à Grande Guerra5, pois tratar-se-ia, com tal conceito, de um elemento presente na obra de Freud desde o início em virtude da própria caracterização da pulsão como alguma coisa que possui a tendência a eliminar a si mesma. Lemos, assim, que “[…] a ideia de uma tendência à inexcitabilidade total e absoluta era um dos ordenadores fundamentais da rede teórica elaborada por Freud, que atravessa toda a sua obra de um extremo ao outro […]” (MONZANI, 1989, p.228). Pensar a pulsão de morte como resposta a um acontecimento histórico seria, assim, para Monzani, perder de vista a lógica interna que guia o movimento do pensamento. No livro de A. Parente as cartas são, a meu ver, claramente apresentadas em um sentido oposto. Aqui o historicismo é assumido em torno de um pressuposto metodológico articulado com a leitura de W. Benjamim, de cujas teses sobre a história ela destaca a ideia de que a “substância histórica” está presente na estruturação dos conceitos. Tal estratégia envolve, como qualquer estratégia, perdas e ganhos. Que se ganha, espero ter conseguido mostrar um pouco. É preciso acrescentar, todavia, que a autora sinaliza nesse sentido para a aposta de que o resgate da história dos conceitos possui a capacidade de indicar forças que teriam sido abafadas pelas circunstâncias em que foram construídos. Por outro lado, se se defende que conceitos são amplamente tributários do contexto vivido por aquele que os pensou e construiu, então corre-se o risco de não se poder empregá-los sob a pena da óbvia objeção de serem datados. Qual a medida de sua sobrevivência? Por que alguns teriam uma vida para além da situação em que nasceram enquanto outros não? Por que aceitamos, por exemplo, um conceito metapsicológico de inconsciente, enquanto rejeitamos as teses de Freud sobre a inferioridade da mulher? Não são todos – tal conceito e tais teses – situados no mesmo contexto histórico? Se levássemos o ponto até suas últimas consequências, não seria, aparentemente e afinal, nem despropositada nem ingênua a pergunta: que direito tem a psicanálise de ser psicanálise após Freud? Esse tipo de impasse não restou, é claro, desapercebido por A. Parente. A solução encontrada por ela parece ser formulada aproximadamente do seguinte modo: “Conceitos e noções representam ideias que atravessam os tempos, mas só ganham feições nas malhas concretas da história” (PARENTE, 2017, p.51). Mas, se é assim, a pergunta pelo estatuto do Unheimliche não permanece em aberto? Se a noção de inquietante tem na Primeira Grande Guerra sua condição de possibilidade, possuiria ela alguma força para “atravessar os tempos”? O problema poderia também ser organizado de uma maneira não menos necessária por ser aparentemente trivial: por que continuamos a reconhecer que têm lugar processos de sublimação, apesar de a melancolia ter sido atrelada ao período que antecedeu a Primeira Guerra? São questões que, a meu ver, podem, dentre tantas outras, ser construídas com o livro de A. Parente de modo a favorecer o debate e a continuidade da investigação.
Referências
FREUD, Sigmund. (1905[1901]) Análise fragmentária de uma histeria. In:____. Obras completas. Volume 6. (Trad. P. C. de Souza) São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
FREUD, Sigmund. (1908) “A moral sexual ‘cultural’ e o nervosismo moderno”. In: ____. Obras completas. Volume 8. (Trad. P. C. de Souza) São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. (Trad.: M. Carone). São Paulo: Cosacnaify, 2011.
FREUD, Sigmund. (1927) O futuro de uma ilusão. (Trad.: R. Zwick) Porto Alegre: L&PM, 2012.
LACAN, Jacques. (1952[1951]) Intervenção sobre a transferência. In: ____. Escritos (Trad.: V. Ribeiro). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
MITCHELL, Juliet. (1974) Sobre Freud e a distinção entre os sexos. In: ____. Psicanálise da sexualidade feminina. (Trad.: L. O. C. Lemos). Rio de Janeiro: Campus, 1988.
MONZANI, L. R. Freud: O movimento de um pensamento. Campinas: Editora da Unicamp, 1989.
PARENTE, Alessandra. Sublimação e Unheimliche. São Paulo: Pearson, 2017.
Notas
1 Dora estava envolvida em um enredo que implicava, além de seu próprio pai, duas pessoas casa-das entre si que Freud nomeia “Sra. K” e “Sr. K”.
2 “Quanto maior o tempo que me separa do fim desta análise, mais provável me parece que meu erro técnico consistiu na seguinte omissão: eu não percebi a tempo e não comuniquei à paciente que a mais forte das correntes inconscientes de sua vida psíquica era o impulso amoroso homosse-xual (ginecófilo) relativo à Sra. K” (FREUD op. cit., p.317).
3 Cf., por exemplo, Freud 1927/2012, p.51-2
4 O termo é por vezes traduzido por “inquietante”, outras por “estranho” e ainda por “sinistro” ou por “ominoso”.
5 Cf. nota 38, p.318
Léa Silveira – Professora de Filosofia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras, MG, Brasil. E-mail: [email protected]
Velas ao mar: U.S. Exploring Expedition (1838-1842). A viagem científica de circum-navegação dos norte-americanos – JUNQUEIRA (AN)
JUNQUEIRA, Mary Anne. Velas ao mar: U.S. Exploring Expedition (1838-1842). A viagem científica de circum-navegação dos norte-americanos. São Paulo: Intermeios, 2015. Resenha de: SANTOS JÚNIOR, Valdir Donizete dos. Anos 90, Porto Alegre, v. 25, n. 47, p. 369-375, jul. 2018.
Em tempos de globalização, quando, com raríssimas exceções, as mais diversas partes do mundo, das mais cosmopolitas às mais recônditas, se veem conectadas e interligadas pelas tecnologias de ponta nas comunicações e nos transportes, a primeira metade do século XIX apresenta-se como uma época ambígua: tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima de nós, de nossas vivências, do que somos e do que pensamos.
Distante, pois a correspondência epistolar, os diários manuscritos e as longas viagens a vapor parecem estar há anos-luz das comunicações informatizadas, dos aparelhos eletrônicos de última geração e das rápidas viagens aéreas que cortam os céus e mobilizam pessoas em todos os continentes. Próxima, uma vez que o período entre as últimas décadas do século XVIII e as primeiras do século XIX marca o advento de um momento histórico do qual ainda, de certa forma, fazemos parte. Durante esses anos, as então recentes inovações da indústria, especialmente o advento da energia a vapor, facilitaram o trânsito em águas até então desconhecidas pelo Ocidente e encurtaram as distâncias entre as várias partes do planeta.
A tais transformações técnicas somava-se o racionalismo ilustrado tão exaltado pelo liberalismo do século XIX, que buscou esqua-drinhar, classificar e catalogar tudo o que de novo fosse encontrado pelas potências ocidentais, construindo um conjunto de saberes que ditava hierarquias e incitava desejos imperiais. Tratava-se de um novo capítulo – um dos mais importantes – do processo de interligação de toda a superfície do globo terrestre, que se iniciara com as navegações ibéricas do século XV e que no século XIX vivenciava seu auge.
É sobre esse contexto de intensas transformações econô-micas, sociais, culturais, políticas e tecnológicas que evidenciavam o avanço do capitalismo e da modernidade, ainda marcadamente ocidentais e, em grande medida europeus, que se debruça Velas ao mar: U.S. Exploring Expedition (1838-1842), a viagem científica de circum-navegação dos norte-americanos, o instigante e fundamental trabalho da historiadora brasileira Mary Anne Junqueira. Resultado de sua Tese de Livre-Docência em História dos Estados Unidos, defendida em 2012, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, esse livro apresenta ao público brasileiro, alicerçando-se em sólida pesquisa acadêmica, a U.S. Exploring Expedition, primeira viagem científica de circum- -navegação do globo promovida pelos Estados Unidos. Executada pela Marinha norte-americana (U.S. Navy) entre 1838 e 1842, a missão foi comandada pelo genioso e polêmico capitão Charles Wilkes (1798-1877), autor dos cinco volumes da narrativa de viagem que serve como fio condutor do trabalho.
Trilhando as intersecções entre o mundo das viagens, a discussão científica e os interesses geopolíticos em jogo na primeira metade do Oitocentos, Velas ao mar apresenta, de início, uma dupla importância ao pesquisador dedicado à História das Américas, especialmente aos que se debruçam sobre o século XIX, qual seja, sua densa reflexão teórico-metodológica e sua originalidade temática.
Acerca do primeiro aspecto, Junqueira, estudiosa de temáticas e autores da chamada teoria pós-colonial, dialoga com referências importantes dessa seara, como Dipesh Chacrabarty, Mary Louise Pratt e o fundamental Edward Said. Discute com Chacrabarty, por exemplo, a necessidade de tirar a Europa do “centro” das análises acadêmicas; com Pratt, a existência de trocas, mesmo que assimétricas, entre colonizadores e colonizados nas chamadas “zonas de contato”; e com Said, a construção de saberes e conhecimentos como fatores de afirmação e dominação imperial. Merece destaque especial sua leitura do historiador argentino radicado nos Estados Unidos, também interlocutor da teoria pós-colonial, Ricardo Salvatore, referência básica que se evidencia nas linhas e entrelinhas dos três primeiros capítulos de Velas ao mar. Discutindo a constituição de “lugares de saber”, Junqueira defende, acompanhando Salvatore, a existência de uma tensão latente entre a circulação transnacional de conhecimentos científicos, intelectuais ou técnicos e o processo de afirmação dos Estados nacionais no século XIX. Dito de outra maneira, a perspectiva transnacional, atualmente em voga na histo-riografia, nem sempre supera, mas frequentemente convive com o paradigma nacional.
Ainda em termos teórico-metodológicos, a autora reserva o quarto capítulo de seu trabalho exclusivamente a uma reflexão sobre a utilização dos relatos de viagem como fonte para o historiador. Para além de um mero balanço historiográfico, Junqueira aponta para a variedade desses textos e alerta para os cuidados que o pesqui-sador deve ter ao trabalhar com esse material. De acordo com a estudiosa, é preciso estar atento ao local de onde fala o viajante, ao seu universo cultural, ao período em que escreveu seu texto em relação ao período em que o publicou, à forma que escolheu para elaborá-lo (narrativa, carta, memória, diário etc.) e ao público que buscou cativar. Além dessas indicações metodológicas, a autora trava diálogo com a crítica literária, concebendo uma instigante reflexão sobre os relatos de viagem como um “gênero híbrido”. Partindo dessa premissa, entende esse documento como sendo essencialmente múltiplo, capaz de ser lido de distintas maneiras por pessoas e em tempos diversos, e cujas vozes, estilos e formas evidenciam grande polissemia.
A respeito de sua originalidade temática, Velas ao mar destaca-se em alguns aspectos. Primeiramente, a U.S. Exploring Expedition, curiosamente, não é, como destaca a autora, a despeito de sua importância na História dos Estados Unidos, uma expedição que tenha sido alvo de maciços estudos, especialmente de pesquisas acadêmicas de fôlego. Velas ao mar é, portanto, o primeiro trabalho sobre essa desconhecida empreitada nos marcos da investigação historiográfica brasileira1.
Em termos estruturais, o livro de Mary Anne Junqueira é composto por duas partes. Os três capítulos que formam a primeira seção do trabalho (“Em nome da ciência: para compreender a U.S. Exploring Expedition”) preparam o terreno para a análise propriamente dita da fonte. Inicialmente, insere a expedição comandada por Charles Wilkes em um contexto mais amplo das viagens de circum-navegação levadas a cabo por diversos países entre as décadas finais do século XVIII e as iniciais do XIX. Com o aprimoramento das técnicas de navegação e a crescente importância do Oceano Pacífico e dos grandes contingentes populacionais asiáticos para o comércio internacional, conhecer e mapear os mares era de suma importância para a obtenção de vantagens econômicas e geopolíticas. Nesse sentido, os Estados Unidos colocavam-se, ao se lançarem nessa empresa, em compasso e, ao mesmo tempo, em competição com países como a Inglaterra, a França e a também emergente Rússia, como pretendentes ao poder que o conhecimento sobre o mundo poderia propiciar. Junqueira discute ainda, nos dois capítulos seguintes, dialogando com a História das Ciências e dos saberes científicos, como a expedição se circunscreveu em um quadro mais geral de definição de padrões internacionais acerca da navegação no globo terrestre. Nesse sentido, a autora nos mostra, seguindo Salvatore, que, na tensão entre a circulação transnacional e os interesses especificamente nacionais, uma vasta gama de conhecimentos, como as longitudes da Terra, as coordenadas geográficas e o mapeamento náutico, entendidos atualmente por muitos como dados puramente técnicos, foram fruto de intensa disputa geopolítica, da qual os norte-americanos se mostravam bastante propensos a participar. Constituiu-se, dessa maneira, nos marcos da primeira metade do século XIX, um quadro em que os Estados Unidos – que buscavam seu lugar no mundo – estabeleceram uma relação ambígua em relação à Europa, oscilando entre a admiração e a concorrência.
A seção final do trabalho (Cultura imperial: as Américas na narrativa de viagem de U.S. Exploring Expedition), composta por quatro capítulos, debruça-se mais especificamente sobre o mundo dos relatos de viagem: refletindo teórica e metodologicamente sobre esse tipo de fonte (capítulo 4), analisando de maneira mais detida a narrativa escrita pelo capitão da U.S. Exploring Expedition, Charles Wilkes, (capítulos 5 e 6) e cotejando, ao lado deste, relatos deixados por dois outros membros da tripulação da expedição, o marinheiro Charles Erskine e o aspirante a oficial William Reynolds (capítulo 7).
Sobre os cinco volumes da narrativa de Wilkes, a historiadora destaca sua inserção em um conjunto maior de textos que formam o relato oficial da viagem, composto originalmente por vinte e três tomos que versam sobre assuntos diversos, como etnologia, filologia, meteorologia, botânica, hidrografia, os aspectos mais diversos da zoologia e a temática das “raças do homem”. Junqueira ressalta os embates e as tensões expostas no processo de escrita desse documento oficial, já que por seu caráter polêmico e por ter sido acusado de cometer diversos excessos ao longo da viagem, Charles Wilkes não era considerado por muitos a pessoa mais indicada para esse encargo. Como se evidencia pela leitura do trabalho, não somente o capitão foi o autor da descrição da viagem, como também a usou para se defender de seus críticos.
Velas ao mar reserva um de seus capítulos para uma análise sobre como Wilkes descreveu as Américas. Para tanto, a autora realiza um instigante debate sobre a questão da raça no relato e principalmente sobre a maneira como o capitão norte-americano concebia a ideia de “raça anglo-saxônica”. Inserida em uma reflexão alicerçada em uma bibliografia em língua inglesa especializada no tema, Junqueira discute a construção de uma retórica que concebe a superioridade civilizacional desse grupo formado por britânicos e norte-americanos em relação aos demais povos do planeta. Balizado por esse discurso, Wilkes afirmava a inferioridade dos povos que na América haviam sido colonizados por espanhóis e portugueses. O capitão não se utilizava para se referir a estes últimos, como era de se esperar, de expressões relacionadas à ideia de “latinidade”, como América Latina ou raças latinas, pois se o “anglo-saxonismo” da América do Norte já estava consolidado na época da expedição, o mesmo não se pode dizer da reinvindicação da “latinidade” por parte dos ibero-americanos, que somente iria se estabelecer de fato na retórica do continente a partir da década de 1850. Mary Anne Junqueira encerra seu trabalho analisando, ao lado das narrativas de Wilkes, outros dois relatos produzidos por membros da expedição do U.S. Exploring Expedition: o marinheiro Charles Erskine e o aspirante a oficial William Reynolds. Para além de considerações sobre as relações pessoais e hierárquicas, bem como os costumes e as práticas cotidianas de tais viagens, é possível afirmar que a principal contribuição desse capítulo para o conjunto do trabalho seja a constatação de que a cultura imperial presente nas ideias norte-americanas já na primeira metade do século XIX não era privilégio de suas elites, mas era compartilhada pelas diversas classes sociais. A despeito das desavenças que esses dois outros personagens pudessem ter tido com Wilkes durante a viagem, não divergiam de seu capitão em um aspecto: a concepção da superioridade dos anglo-saxões em relação aos demais povos do continente americano.
Finalmente, é preciso mais uma vez destacar que Velas ao mar representa uma importante contribuição não somente para aqueles que estudam os relatos de viagem e a história das Américas no século XIX, mas para todos que desejam ter acesso a um trabalho de pesquisa sólida e reflexão acadêmica densa. Enfim, Mary Anne Junqueira oferece novamente elementos para o conhecimento da História dos Estados Unidos no Brasil, demonstrando que, já em seu processo de formação nacional na primeira metade do Oitocentos, os norte-americanos ambicionavam um lugar de destaque entre as nações mais poderosas do mundo e enunciavam precocemente uma retórica imperial que, como se sabe, tem justificado, desde meados do século XIX, a presença dos Estados Unidos em diversas regiões do globo, não necessariamente de modo cordial e pacífico.374 Valdir Donizete dos Santos Junior .
Valdir Donizete dos Santos Junior – Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de São Paulo (Campus Jacareí) e Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade de São Paulo – USP. E-mail: [email protected].
Como nasce o novo: Experiência e diagnóstico de tempo na Fenomenologia do espírito de Hegel – NOBRE (C-FA)
NOBRE, Marcos. Como nasce o novo: Experiência e diagnóstico de tempo na Fenomenologia do espírito de Hegel. São Paulo: Todavia, 2018. Resenha de: CAUX, Luiz Philipe de. Sobre jovens e velhos: Marcos Nobre entre Fenomenologia e Sistema. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v 23 n.2 Jul-Dez, 2018.
Tornou-se comum no último meio século – pense-se paradigmaticamente em Honneth – narrar filosoficamente a história da teoria crítica da sociedade como uma trama de sucessivas oportunidades vislumbradas, porém perdidas, para uma adequada crítica da dominação.2 Numa das variantes desse verdadeiro paradigma narrativo estabelecido, caberia a cada vez recuperar as intuições de juventude não desenvolvidas por filósofos sociais que, em vez de amadurecê-las, delas se extraviaram, se tornando velhos incapazes de ver a emergência da novidade. Em sendo prima facie “apenas” uma (excepcional, diga-se de passagem) leitura estrutural da Introdução da Fenomenologia do espírito, o recente livro de Marcos Nobre, Como nasce o novo, esboça praticamente uma teoria geral desse suposto enrijecimento da crítica e vai buscar de modo metacrítico no jovem Hegel um antídoto contra esse envelhecimento. Seu empreendimento levanta hipóteses fecundas e mostra, sem dúvida, um caminho para escapar do estado há anos estacionado e estéril da teoria crítica neofrankfurtiana. Sugiro aqui, no entanto, uma avaliação de até que ponto o próprio Nobre responde satisfatoriamente a suas pretensões e propósitos. Trata-se de objetivos que o resenhista acredita compartilhar com o autor, de modo que o sentido dessas considerações é o de um debate franco sobre o melhor modo de alcançar certos objetivos comuns.
A ligação entre os dois planos tão díspares do livro, a leitura estrutural de um texto clássico e a metacrítica da (pré-)história da teoria crítica, é feita pela mediação de uma chave de interpretação do texto hegeliano como aquilo que Nobre chama de “modelo filosófico”, isto é, uma interpretação que postula a sua autonomia e subsistência como obra fechada e apartável de uma consideração sistematizante da obra de Hegel como um todo, levando em conta ainda a sua relação não com as intenções subjetivas do filósofo, mas com a experiência objetiva do tempo à qual o livro responde, ou, na expressão reiterada por Nobre, com as suas condições de produção intelectual. Numa palavra, a tese central de Nobre é que a Introdução da Fenomenologia absorveria e registraria na forma de um programa de método filosófico a eufórica experiência da emergência do novo vivida nos tempos de sua redação (a entrada da modernização a cavalo na Prússia), servindo como que de arquétipo de um modo “jovem” de se fazer teoria crítica que deveria ser recuperado. Nobre divide sua exposição em duas partes principais, o “trabalho de análise e comentário do texto da Introdução” e a sua própria “tomada de posição” em relação a ele.
3 Na ordem da apresentação, esta vem antes daquele, com o próprio texto de Hegel intercalado, vertido novamente para o português pelo próprio Nobre. Inverterei aqui esta ordem, passando, entretanto, apenas brevemente pelo comentário ao texto hegeliano e dirigindo o interesse sobretudo à posição de Nobre sobre “a importância desse modelo de pensamento para o momento presente” (p. 9).
A sempre mais estreita especialização imposta pelo modo de operação das universidades e sua distribuição de recursos inibe entre nós a produção de trabalhos como o de Nobre. Reconhecido como um “especialista” nas tradições frankfurtianas, o autor realiza uma exegese de Hegel que não fica aquém da primeira linha de obras de hegelianos brasileiros – o que não surpreende em vista da notória competência transdisciplinar de um filósofo que se destacou nos últimos anos como um dos mais importantes analistas da conjuntura política. O texto é informado em particular pela literatura secundária clássica e mais recente alemã, francesa, estadunidense e brasileira e oferece amparos sólidos para suas teses interpretativas centrais em substanciosas notas de rodapé, entregando ao leitor ainda um panorama das interpretações divergentes encontráveis. Estas teses, para ir logo ao ponto, dizem respeito aos momentos de início e de conclusão da Fenomenologia. Trata-se para Nobre de descerrar o texto desses limites iniciais e finais e mostrar que o livro não começa nem termina onde se costuma fazê-lo começar e terminar. Essa reabertura do texto é justificada ainda extratextualmente pela remissão a dois fatos contextuais: o de que Hegel escreveu a Fenomenologia e, em particular, a sua Introdução, como introdução a um sistema ainda inconcluso (isto é, como a entrada em um sistema fechado ainda aberto ); e isso no exato momento em que os exércitos franceses e, junto com eles, a ordem político-econômica burguesa, conquistavam a Prússia e aceleravam a dissolução da ordem feudal ali vigente (entenda-se: no momento histórico em que um potencial revolucionário se atualiza sem que se saiba ainda aonde vai dar). É como se, na Fenomenologia, Hegel tivesse cristalizado o próprio processo aberto, produzido algo que ainda não sabe o que é, trazendo a abertura de seu próprio tempo ao conceito.4
Intratextualmente, isso significa sustentar, por um lado, que no livro de 1807 o movimento da experiência não tem início, como em geral se sustenta e como a própria obra induz a ser lida, com o momento da certeza sensível, mas já antes na Introdução. Em outras palavras, na Introdução, já estaríamos no interior da experiência fenomenológica, que pega o bonde em movimento no seu exato tempo presente e o toma como pressuposto para poder negá-lo de modo determinado.
Esse pressuposto atual inescapável, no qual a experiência começa apenas a fim de negá-lo, é uma concepção representativa de conhecimento que Nobre, na esteira da primeira frase da Introdução, chama de “representação natural” (correspondente em certa medida, mas não de modo tão determinado, à concepção kantiana de conhecimento). Essa “representação natural” é levada às suas últimas consequências e o resultado é uma concepção “apresentativa” de conhecimento (concepção que se revela, num nível “meta”, como a que acabara de estar em ação nessa apresentação da passagem da representação à apresentação). Tendo entendido a si mesma, vindo a saber que não tem nenhuma “fixidez ontológica” e retirado o entrave da concepção representativa de conhecimento do caminho fenomenológico, a experiência precisa então retornar à certeza sensível como modo de recuperar a história de como se prendeu às positividades prévias e de como delas se desprendeu, e assim reabrir no presente o caminho para o novo. A outra tese interpretativa central é a de que a passagem da razão ao espírito no meio do livro não representa uma ultrapassagem do ponto de vista da experiência, que na verdade caminha até o saber absoluto na conclusão do livro. Também o saber absoluto é, para Nobre (apoiado parcialmente em Hans Friedrich Fulda), experiência da consciência, e não recai, portanto, num ponto de vista de Deus que seria aquele típico do sistema enciclopédico. A tese de Fulda é que o saber absoluto ainda é um saber experimentado, finito, de modo que também ele precisa ainda se pôr em movimento (p. 45). Mesmo que em formulações distintas, essa é por excelência a compreensão “jovem-hegeliana de esquerda” (à qual Nobre se filia (p. 220)), para a qual o sistema pronto e acabado de Hegel, justamente ao ser levado a sério em seu teor de verdade, entrava novamente em contradição na experiência com a realidade irreconciliada, exigindo a emergência de uma nova suprassunção, dessa vez prática.
As duas teses interpretativas de Nobre sobre o início e o fim da Fenomenologia – a) a de que o movimento dialético da experiência tem início já na Introdução e, nesse sentido, inicia sua dança lá onde se encontra a rosa, em sua experiência histórico-filosófica presente, e b) a de que esse movimento não termina onde parece terminar, mas projeta-se para além de si mesmo, uma vez que permanece finito –, essas duas teses convergem para a definição de “modelo filosófico” como obra que responde a seu tempo e que se sustenta sem recurso aos demais momentos da obra do autor. A ideia é que a Fenomenologia, ao contrário do estabelecido hegemonicamente na literatura secundária, não pressuporia o sistema pronto e acabado. Ela é “simplesmente” um engajamento filosófico crítico com o estado de coisas presente, sem ancoramento numa verdade definitiva atemporal (o sistema, do qual Hegel ainda não dispunha), e que começa sua ação partindo não de uma abstrata experiência imediata em geral (certeza sensível), mas sim da sua própria experiência imediata concreta (a concepção representativa de conhecimento), a fim de eliminar os entraves para a emergência de um novo que, de resto, já marchava ao seu encontro. A Introdução da Fenomenologia se destacaria então como texto paradigmático para a determinação da tarefa da crítica em geral porque, no corpus da obra de Hegel, é o local inaugural onde o filósofo se dirige precisamente aos “entraves autoimpostos” de seu tempo, a fim de eliminá-los e de liberar o automovimento do conceito.
Mas a caracterização da Fenomenologia como “modelo” possui ainda um aspecto decisivo para o horizonte do trabalho de Nobre. Não se trata apenas de dizer que o texto de 1807 para em pé sem o escoro da Lógica ou da Enciclopédia, isto é, do sistema em geral. Se a Fenomenologia é um “modelo” que responde a um diagnóstico de tempo específico, o programa filosófico da Enciclopédia, no qual se encaixam, por exemplo, a Lógica e a Filosofia do Direito, é, por sua vez, um “modelo” distinto que só emerge pela necessidade de reagir a um outro diagnóstico. “Mudanças na posição de Hegel estão necessariamente vinculadas a mudanças de diagnóstico de tempo”, diz Nobre (p. 23).5 O autor não é obviamente o primeiro a constatar essa relação, mas sua originalidade está nas consequências teórico-programáticas que deseja dela derivar. Para Nobre, trata-se buscar as “afinidades desse modelo filosófico [da Fenomenologia ] com o momento atual e suas condições de produção intelectual” e “projetar Hegel para além de 1807” (p. 10). A fim de verificar a plausibilidade desse programa hoje, é preciso entender melhor que passagem foi aquela que teria levado Hegel à necessidade de formular um novo “modelo”.
A Fenomenologia se distinguiria enquanto “modelo” por dar conta de uma transformação epocal em curso, a invasão napoleônica na Prússia e a consequente modernização das suas relações políticas, econômicas e sociais, da qual Hegel era, todavia, partidário. O “nascimento do novo” ao qual Hegel quis fazer jus em seu texto corria em paralelo com as transformações radicais que vinham do outro lado do Reno. Em registro filosófico, Hegel deveria dar conta do fato de que “o nascimento do novo se dá em uma situação de descompasso entre uma consciência que ainda não está à altura da real novidade do seu tempo (que corresponderia ao que Hegel chama de consciência ‘natural’) e aquela forma de consciência (chamada de ‘filosófica’ pela bibliografia hegeliana) que alcançou uma compreensão de seu tempo em todos os seus potenciais” (p. 18). A “real novidade” é, obviamente, a deposição do Antigo Regime e a instauração de uma ordem burguesa.
É como se se tratasse então de elevar a filosofia ao nível de racionalidade já atingido pelas relações sociais reais.
Mas há algo de incomodamente delicado nessa tese: o nascimento do novo de Hegel é então não mais do que a atualização do (aqui) atrasado à altura de um novo (alhures) já surgido? Se não quisermos enfraquecer o argumento a tal ponto, é preciso antes compreender que espécie de “novo” Hegel pretende de fato estar vendo emergir, um novo que não apenas acertasse os ponteiros com o fuso francês, mas lhe fizesse avançar mais um grau do relógio histórico. Mas este é o momento em que Nobre diverge e prefere não acompanhar o envelhecimento do filósofo.
Ora, o “novo” que emerge após a Fenomenologia e a ocupação francesa é justamente a Restauração e aquilo que, para Nobre, é seu correlato filosófico: o sistema. Trata-se, aos olhos da obra de maturidade de Hegel, ou, se se quiser, de seu novo “modelo”, efetivamente de uma nova figura do espírito do mundo na qual a própria negatividade que girava em falso e jacobinamente é institucionalizada e pode operar de modo “seguro”, preenchido por “relações éticas”. Em outras palavras, trata-se daquele momento “alemão” do desenvolvimento do espírito, no qual a liberdade sabe a si mesma como fundamento das ordens sociais e assim finalmente se reconcilia consigo mesma e forma sistema. “A modernidade” – e cabe acrescentar, em particular a “modernidade normalizada” após o Congresso de Viena – “é a primeira época a comportar e suportar o negativo dentro de si, a primeira época capaz de ir além de si mesma sem sair de si mesma” (p. 61).
Mas, se assim é, então não tanto a interpretação de Nobre da Fenomenologia, mas sua ideia de recuperá-la como “modelo” para o presente, se encontra diante de um dilema. Pois se a noção de “modelo” associa conteúdos filosóficos às experiências históricas objetivas com as quais tiveram de lidar, é em face de cada diagnóstico que os “modelos” podem ser julgados como “bons” ou “ruins”, se não se quiser recair em um historicismo no qual todos os “modelos” são igualmente bons porque são sempre adequados a seus respectivos presentes.
O próprio Hegel parece ter entendido que o sistema filosófico enciclopédico fechado e a nova organização social alemã “normativamente autocertificada” (para usar uma expressão de Habermas cara a Nobre) correspondem de fato àquele “novo” que deveria ser desbloqueado para perseguir e levar adiante a trilha de transformação reaberta com a Revolução Francesa (como Nobre mostra em pp. 52-61). Cada “modelo” hegeliano seria então igualmente bom, pois encontraria seu critério de avaliação na respectiva experiência histórica. Mesmo que se admita, portanto, que a Fenomenologia é um “modelo” no sentido de não carregar o sistema dentro de si como seu pressuposto, o que faz dela um modelo a ser “atualizado” hoje (p. 61)? Também essa pretensão não é contraditória? Se se trata sempre de modelos e se modelos são dependentes de diagnósticos, que sentido há em projetar um modelo para além de seu diagnóstico? A não ser que se sustente uma analogia de diagnósticos entre o Brasil de 2018 e a Prússia de duzentos anos antes, como essa “atualização” é possível? Qual é a experiência de emergência do novo hoje à qual a filosofia teria de fazer jus? O caminho de atualização de Nobre, no entanto, não passa por um diagnóstico, embora poucos filósofos entre nós estejam tão atentos ao presente e bem preparados para oferecer um quanto ele ( vide sua inteira atividade como intelectual público).6 Em vez disso, Nobre percorre outra vez algumas estações da história do hegelianismo de esquerda a fim de mostrar como alguns dos filósofos dessa tradição (em particular Marx, Lukács e Honneth) apresentariam um modo semelhante de “envelhecer”, passando, como Hegel, de uma fase “fenomenológica” a uma fase “sistêmica” ou “enciclopédica”. A analogia soa apressada e demandaria de Nobre mais material de convencimento.7 Em todo caso, ela se dá pela tradução daquele modo jovem, fenomenológico e aberto ao novo de se fazer teoria social pela chave da “visada da subjetivação da dominação”. Cada um destes autores teria privilegiado em sua obra de juventude a análise de como a dominação social tem vez junto ao próprio processo de formação da subjetividade, mas teria sentido a necessidade de formular outros modelos em razão de seus respectivos diagnósticos ulteriores (Marx, com sua revolução que nunca chega; Lukács, com a redução dos potenciais emancipatórios liberados na Revolução Russa com a burocratização e o socialismo de um só país da União Soviética; Honneth, com a colocação em risco e a necessidade de salvaguardar os “progressos” morais da geração de 68). Obras tão díspares como O Capital, Ontologia do ser social e O direito da liberdade teriam em comum serem obras “enciclopédicas”, cuja compreensão sistemática pronta e acabada do mundo recalcaria o momento fenomenológico, que, na definição do autor, “concede um lugar de destaque aos processos de subjetivação da dominação em toda a sua complexidade e sem a unilateralidade da primazia de uma determinação da subjetividade pelas estruturas de dominação” (p. 63).
Pois bem, se o propósito de “atualizar” o “modelo” da Fenomenologia não é justificado, como parecia necessário, por uma analogia dos diagnósticos de tempo de outrora e de hoje, 8 ele parece sê-lo, então, por essa tomada de partido de Nobre pela prioridade da tarefa de investigação da subjetivação da dominação e das formas de resistência à integração total. Ao cabo, Nobre advoga que a Introdução da Fenomenologia é hoje o modelo que, devidamente “atualizado”, poderia abrir caminho para a teoria crítica escapar do “reconstrutivismo” (velhohegeliano) em que se encontra. Em vez de “reconstruir” critérios da crítica lá onde estão institucionalmente estabelecidos, a teoria deveria se voltar, se leio bem as entrelinhas do texto de Nobre, a uma normatividade reprimida ou que vigora às margens, abafada e refugiada, enquanto mera ideia, na subjetividade de grupos oprimidos. Verificar como a dominação é introjetada seria ao mesmo tempo verificar como ela poderia não o ser. Em conclusão, caberia apenas perguntar se o que Nobre quer recuperar então não seria antes o jovem Honneth que o jovem Hegel.
A formulação sintética dada por Nobre para a caracterização dos modelos “de extração fenomenológica” (a “visada da subjetivação da dominação”) parece, ao fim da leitura da Introdução da Fenomenologia, na verdade mais próxima dos primeiros trabalhos de Honneth do que do dialético Hegel9 Não é claro no texto de Hegel lido por Nobre de que modo o complexo programa de (não-)método desenvolvido pelo filósofo pode ser reduzido a uma consideração teórica das lacunas e falhas da integração social tendencialmente total representadas por aquilo que, nos sujeitos, recalcitra à subsunção no universal. Se a Fenomenologia representa de fato, como sustenta Nobre, um modelo para a crítica radical que visa desbloquear o movimento do seu objeto através da recepção ativa de sua própria negatividade, então a ideia de que a transformação do objeto ocorre pela oposição a ele dos restos e falhas nas quais ele não se efetivou plenamente já é uma projeção subjetiva da teoria sobre o objeto e representa exatamente aquilo que Hegel deseja superar, aquela concepção que Nobre chama de “representação natural”. Isso porque opera implicitamente com a ideia restrita de que a negatividade a ser acolhida pela teoria está localizada nos excessos de subjetividade não integrada. Essa concepção parece confundir, no conceito hegeliano de “experiência”, a subjetividade da consciência que experimenta o movimento do objeto (i.e., a subjetividade do teórico) com a subjetividade do indivíduo não completamente integrado, que só pode aparecer, de fato, como objeto da experiência do teórico. Significa, ademais, tomar as lacunas de integração (as “práticas de resistência e contestação à dominação em suas múltiplas dimensões” (p. 71)) como ponto de ancoragem da crítica e esperar que a superação de um estado atual venha justamente do seu “lado de fora”, daquilo que não está subsumido à sua lógica.10 O objeto é cindido num universal a ser negado e num particular afirmado e a crítica perde a imanência ao objeto, a sociedade, – pois não há crítica imanente onde o seu objeto não pode ser sintetizado especulativamente como um objeto único em movimento (e este sim me parece ser o sentido da Introdução e sua lição para a teoria crítica). O próprio Honneth, que iniciou sua proposta de reformulação da teoria crítica nos termos ora repropostos por Nobre, não a abandonou porque se tornou um velho saudosista de 68, mas porque percebeu as aporias a que aquela posição conduzia: a aparente recalcitrância à integração na ordem de dominação não faz por si só da subjetividade marginal um ponto de ancoramento para a crítica, o que deveria ser claro em tempo de eleitores de Trump, da Alternative für Deutschland ou de Bolsonaro. Na teoria, a subjetividade antagônica apenas posterga o momento em que é preciso diferenciar entre a “boa” oposição e a “ruim”, e nesse caso o critério é extrassubjetivo. Assim, o Lukács de História e Consciência de Classe (que comparece em Nobre como exemplo de autor “jovem”) teve de se apoiar numa análise de crítica da economia política para indicar o proletariado como aquele que poderia se subjetivar em acordo com sua própria essência; e, mais tarde, Honneth teve de buscar nas expressões conceituais das regularidades da integração social funcional o critério das reivindicações de reconhecimento boas e ruins. Se ser “jovem” em filosofia é dedicar-se à análise da subjetivação da dominação, os jovens deixaram de ser jovens justamente quando levaram esse problema a sério e enxergaram que ele não se resolve na subjetividade; ou que a subjetividade é porta de acesso e obviamente não pode ser desprezada, mas precisa passar a uma análise mais aprofundada da pré-constituição objetiva da subjetividade. Em outras palavras, os “velhos” tiveram muitas vezes seus bons motivos para envelhecerem, e fizeram sim, em parte, justiça ao mundo em se tornando sistemáticos, porque a estruturação social possui sim um caráter tendencialmente sistemático. Justamente por o possuir, ela determina a subjetivação até mesmo lá onde parece não determinar, e a subjetividade antagônica é ela mesma também marcada por ser subjetividade antagônica à ordem de dominação e estar, portanto, determinada por essa ordem de dominação, não ser a ela externa e não poder ser tomada por critério de sua crítica.
Por isso compra-se sempre o risco, ao privilegiar a subjetividade já encontrada dada na realidade, de se estar sendo afirmativo do mundo, mas com a aparência de se o estar negando. Adorno disse uma vez que “apenas quem reconhece o mais novo como o mesmo serve àquilo que seria distinto” (Adorno, 2003, p. 376). A proposta de Nobre arrisca-se a, em vez de instigar e participar do “nascimento do novo”, afirmar nostalgicamente o “bom e velho” que ainda não cedeu ao universal e representa assim antes um resquício de uma figura anterior do q ue um anúncio de uma que surge.
Notas
1 O autor agradece o acolhimento gentil do prof. Marcos Nobre na leitura da resenha.
2 Esta espécie de romance de “deformação” dos filósofos-lidos (espelhado numa implícita história da formação do filósofo-leitor) é a estrutura da narrativa conceitual, por exemplo, de Crítica do Poder (Honneth, 1989 [1985]) em geral e de Luta por Reconhecimento (Honneth, 2003 [1992]), no que diz respeito à leitura de Hegel.
3 “E, no entanto, realizar essa necessária tomada de posição juntamente com um trabalho de análise e comentário do texto da Introdução prejudicaria consideravelmente a exposição. A solução foi expor essa tomada de posição separadamente” (p. 9). A opção de exposição/método de Nobre contrasta notavelmente com aquela, todavia de elevadas pretensões, da própria Fenomenologia : “O mais fácil é julgar o que possui um teor e uma solidez, mais difícil do que isso é apreendê-lo, e o mais difícil é produzir a sua exposição, o que unifica a ambos” (Hegel, 1986 [1807], p. 13).
4 “O modelo teórico legado pela Fenomenologia tem, portanto, pelo menos dois aspectos característicos: o de um work in progress em sentido mais restrito, que resultou no próprio livro publicado, e o de um work in progress em que um Sistema da ciência a ser produzido permanece como horizonte, configurado em um diagnóstico de tempo de intenção sistemática” (p. 47).
5 Cf. a distinção útil feita por Nobre entre “diagnóstico de época” e “diagnóstico do tempo presente” (p. 280-1, n. 28).
6 E embora sugira ainda que “a Teoria Crítica poderia deixar para trás o fardo da ‘melhor teoria’ em que se embrenhou nas últimas décadas, voltando a conceder ao diagnóstico de tempo presente a primazia que sempre teve na melhor tradição marxista” (p. 80).
7 Cf. afirmações como a seguinte: “Se História e consciência de classe pode ser entendido como a Fenomenologia de O Capital, a Ontologia do ser social pode ser lida, analogamente, em termos de uma versão materialista da Enciclopédia de Hegel” (p. 64).
8 “Atualização” significa aqui antes um update ao “estado da arte” da filosofia do que uma verificação da sua relação com a situação história presente: “assim como uma atualização do projeto da Fenomenologia teria hoje de proceder a uma reconstrução em termos comunicativos da noção de ‘espírito’ (a ser realizada segundo a noção de ‘experiência’), a ideia de ‘formação’ teria de ser ela mesma reconstruída nesses termos, de maneira a libertá-la do macrossujeito que pressupõe” (p323, n. 95).
9 Trata-se de uma filiação expressa: “É desse ponto de vista que se pretende jogar nova luz sobre um modelo de renoção da Teoria Crítica considerado aqui de extração fenomenológica como o oferecido por Luta por reconhecimento – ou, talvez, mais precisamente, aquele veio de atualização aberto por Crítica do Poder ” (p. 81). Cf. ainda, ilustrativamente, a semelhança quase parafrástica do penúltimo parágrafo de Nobre (“E a crítica dessa invisibilidade é o que faz desse livro [a Fenomenologia ] um modelo filosófico ainda hoje um ponto de partida talvez incontornável para uma Teoria Crítica da sociedade que tenha por objetivo não apenas investigar a cunhagem da subjetividade pelas estruturas de dominação, mas igualmente os processos de subjetivação em que surgem os potenciais não só de resistência, mas também de superação da própria dominação” (p. 238)) e o modo como Honneth define a tarefa da teoria crítica no posfácio de Crítica do poder (“hoje um problema-chave da teoria crítica da sociedade é representado pela questão de como pode ser obtido o quadro categorial de uma análise que seja ao mesmo tempo capaz de abarcar, com as estruturas de dominação social, também os recursos sociais para sua superação prática” (Honneth, 1989 [1985], p. 382).
10 Em termos semelhantes, Nobre se refere a uma passagem de Adorno, na qual este estaria a dizer, na sua intepretação, que “integração” e “resistência” se relacionariam “como água e óleo” (p.75). Tanto a interpretação da passagem parece estar equivocada (o que infelizmente não pode ser discutido aqui), quanto, como dito, essa parece ser antes uma implicação do programa de Nobre
Referências
ADORNO, T. W. (2003 [1942]). „Reflexionen zur Klassentheorie“. In: ________.Soziologische Schriften I (= Gesammelte Schriften, 8 ) (pp.373-391). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
HONNETH, A. (1989 [1985]).Kritik der Macht: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Mit einem Nachwort zur Taschenbuchausgabe. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
____________.(2003 [1992]).Luta por reconhecimento : A gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz Repa. São Paulo: Editora 34.
Hegel, G.W.F. (1986 [1807]).Phänomenologie des Geistes (= Werke 3). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Luiz Philipe de Caux – Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: [email protected]
Os caminhos para a Liberdade de Escravizadas e Africanas livres em Maceió (1849-1888) | Danilo Luiz Marques
Danilo Luiz Marques é graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), e doutor em História Social (PUC/SP), com período sanduíche na Michigan State University, nos Estados Unidos. Professor da rede pública estadual de São Paulo, com experiência na área de Arquivologia e História, e tem se dedicado a pesquisas, a saber: História do Brasil no século XIX, Resistência Escrava, Gênero e Escravidão, História e Historiografia Alagoana.
O livro do autor é produzido originalmente como dissertação de mestrado em História Social, pela PUC/SP, com o título de “Sobreviver e Resistir: os caminhos para liberdade de africanas livres e escravas em Maceió (1849-1888)”, defendida no ano de 2013. A obra do jovem historiador apresenta um caprichado mergulho na realidade das experiências de vida de mulheres africanas livres e escravizadas na cidade de Maceió, Alagoas, Brasil, na metade do século XIX, bem como descreve acertadamente a luta destas mulheres por sobrevivência e resistência no período de escravidão no país. O resultado é uma leitura aprazível e um texto que contribui para o debate sobre gênero e escravidão no Brasil do século XIX. Leia Mais
Filosofia no Brasil: legados e perspectivas. Ensaios metafilosóficos – DOMINGUES (K)
DOMINGUES, I. Filosofia no Brasil: legados e perspectivas. Ensaios metafilosóficos. São Paulo: Unesp, 2017. 561p. Resenha de: GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. Kriterion vol.59 no.140 Belo Horizonte May/Aug. 2018.
Em Ivan Domingues um impecável ethos acadêmico transpõe-se também na esfera de sua atuação pública, intervindo no debate político e cultural, no exercício de cargos de representação, nos quais foi responsável por iniciativas decisivas, nos âmbitos do ensino, da pesquisa, da inovação e da extensão. Um protagonismo que levou à criação do Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo, grupo interdisciplinar da Universidade Federal Minas Gerais que consolidou rica expertise em biotecnologias e regulações éticas, jurídicas e políticas; mas que também marcou as gestões de Ivan Domingues, que fizeram história, como coordenador de área do conhecimento em instituições como a CAPES e no CNPq. Justifico a recordação desses dados biográficos como necessidade para resgatar o pano de fundo biográfico, intelectual e institucional, de onde emerge a obra ora publicada – um sólido background essencialmente marcado pela epistemologia.
“Filosofia no Brasil” é uma obra em estrita afinação com a trajetória filosófica do autor, e Ivan Domingues não seria o epistemólogo que é, pioneiro entre nós no campo das relações entre filosofia e ciências humanas, se permanecesse num registro unicamente historiográfico. Em vez disso, fiel à sua formação acadêmica, Domingues sintetiza também nessa obra diferentes perspectivas interdisciplinares, consciente de que o problema da filosofia no Brasil se inicia pela problematização de sua própria existência e natureza, assim como por suspeições concernentes à sua relevância.
Em consonância com tais coordenadas, “Filosofia no Brasil” constitui-se num conjunto de ensaios reunindo legados e perspectivas a respeito de um objeto que o próprio livro ajuda a conformar: a filosofia tal como esta se atualizou no Brasil ao longo de uma história distendida do período colonial aos nossos dias. Trata-se de uma obra que se constrói a partir de um vértice metafilosófico, e que, portanto, de modo algum deve ser confundida com um livro de história da filosofia. Nele Ivan Domingues faz uso independente, criativo e teoricamente fecundo do recurso aos tipos ideais, cunhados na Sociologia por Max Weber, para caracterizar as diferentes modalidades nas quais e pelas quais uma racionalidade de tipo propriamente filosófico realizou-se diferencialmente no Brasil, sob a influência de condicionantes socioeconômicas, políticas e culturais que vincam a realidade brasileira.
Firmada nas bases teóricas e metodológicas que dão sustentação à sua “Filosofia no Brasil”, o ducto argumentativo de Ivan Domingues deixa atrás de si os trilhos desgastados que até então determinaram os rumos nos quais o problema da existência de uma autêntica filosofia no Brasil foi (mal)entendido ao longo de décadas. Além e aquém da alternativa supostamente incontornável que opõe uma filosofia brasileira ou do Brasil a uma filosofia feita no Brasil – evitando a cilada consistente em assumir como ponto de partida da argumentação uma determinada concepção hegemônica de Filosofia, para então descartar a possibilidade de que haja ou tenha havido uma experiência filosófica genuinamente brasileira -, Domingues se esforça por reconstituir as distintas figuras de racionalidade filosófica que se tornaram historicamente efetivas entre nós, seja no quadro de uma sociedade com uma economia de tipo agrário-rural, seja na passagem desse tipo de organização socioeconômica para o modelo urbano-industrial de configuração. Tais mudanças deixam suas marcas nas modalidades diversas em que tem se realizado entre nós a experiência filosófica, e que Ivan Domingues reconstitui com um instrumentário metodológico que leva em conta a natureza da obra, bem como os vínculos que a ligam tanto com a dimensão de sua autoria, como a instância que a produz, assim como com o público ao qual é destinada.
Desse modo, cada um dos ensaios que compõem o livro é consagrado a um dos momentos marcantes da experiência sócio-histórico-econômica brasileira, no interior de cujos marcos culturais vem a configurar-se uma racionalidade filosófica específica – tipicamente brasileira -, que se expressa num ethos filosófico tipificador, a que Ivan Domingues faz corresponder também um tipo de ratio particular. Estes são os legados e perspectivas, reunidos, organizados e interpretados sob uma ótica metafilosófica, que apreende o que neles há de racionalidade filosófica, ao mesmo tempo idiossincrática, tipicamente brasileira, mas como modalização da universalidade própria da filosofia.
Trata-se, então, de ensaios tendo por eixo o cruzamento entre a metafilosofia e a história intelectual, a história da filosofia e a exegese filosófica como fonte, meio e ferramenta, não como tema, problema ou objeto. O verdadeiro objeto, ou o problema do livro, encontra-se situado na confluência entre duas vertentes: uma delas é, como já dito, a vertente metafilosófica, em grande parte lastreada nos embasamentos históricos da filosofia nacional, com recurso às obras de João Cruz Costa, Paulo Eduardo Arantes, Henrique Cláudio de Lima Vaz, Silvio Romero, Tobias Barreto e vários outros. A outra é a vertente da história intelectual, história de formação da intelligentia brasileira -dilatada ao longo do livro rumo à história social e cultural, acarretando a incorporação dos chamados pensadores do Brasil, e aqui os interlocutores privilegiados são Sérgio Buarque de Holanda e Antonio Candido, sem excluir a presença significativa de outras fontes científicas. Trata-se, portanto, de um cruzamento de perspectivas interdisciplinares, articuladas pelo labor rigoroso e metódico do epistemólogo experimentado.
O trabalho propriamente hermenêutico realizado no livro é estruturado com base numa hipótese axial: ela consiste em procurar a experiência filosófica e da intelectualidade lá onde tais experiências normalmente podem ser achadas, mais precisamente, onde elas se encontram objetificadas: a saber, nas instituições, nas revistas e nos livros, largamente evidenciada (a hipótese) no caso do intelectual orgânico da Igreja e do sistema de ensino dos jesuítas, assim como no caso do Scholar e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, além daquela extração enorme saída do Sistema Nacional de Pós-Graduação da CAPES e espalhada hoje por todo o país. Tudo isso, no entanto, sem preocupação de exclusividade, mas consciente da necessidade de manter-se aberto a outras possibilidades e variações, com a consequente exigência de introdução de complementos, contrapontos e hipóteses auxiliares ad hoc.
Com lastro nessas premissas, o recurso metodológico aos tipos ideais de Max Weber torna-se particularmente produtivo, ao permitir o delineamento meticuloso das figuras que constituem o âmago do livro, nas quais se combina tipificação abstrata e periodização histórica: [1] O clérigo colonial, ou o apostolado jesuítico, pautado pela ratio studiorum da Companhia de Jesus. Ao ethos da pedagogia jesuítica para o ensino da filosofia corresponde uma forma de ratio que é a do intelectual orgânico e da Colônia. [2] O intelectual estrangeirado do Império e da República Velha, cujo modelo é o diletante oriundo do universo do direito, e cuja ratio é marcada pelo estilo bacharelesco do intelectual oriundo das então denominadas ‘ciências jurídicas e sociais’, ou seja, do âmbito do Direito. [3] O intelectual do Brasil moderno, cujo modelo é o Scholar, e cuja ratio é haurida no estudo verticalizado e sistemático das obras dos pensadores matriciais da história da filosofia, tal como praticado no trabalho da Missão Francesa na Universidade de São Paulo, desde a fundação do Departamento de Filosofia da USP. A ratio assim constituída é instanciada, hoje, no Homo Qualis, bem como no Homo Lattes. [4] O filósofo profissional e público contemporâneo – fusão do erudito e do intelectual investido de uma missão política, cujas figuras mais emblemáticas na filosofia brasileira são José Arthur Giannotti, Marilena Chauí e Henrique Cláudio de Lima Vaz – o padre Vaz, tal como é mais conhecido. [5] Enfim, o filósofo cosmopolita globalizado, o polímata (de πολυµαθής – que aprendeu muito), o homo universalis, ou o pensador de largos horizontes – figura especulativa e sondagem do futuro.
Se, ao longo de seu percurso, “Filosofia no Brasil. Legados e Perspectivas” vai construindo sua identidade diferencial em relação a um mero exercício de historiografia, nem por isso, no entanto, o livro deixa de lançar luzes sobre a história das perspectivas e legados de natureza filosófica que integram a história da intelectualidade brasileira. Por causa disso, o livro guarda um registro de suas parcerias e interlocuções, tanto expressas como tácitas, com segmentos próximos e distantes, como é particularmente o caso da “História da Filosofia do Brasil”, de Paulo Margutti. Por causa disso, Domingues também, de certo modo, coloca-se a questão da filosofia no e do Brasil, ou da filosofia brasileira. E esta, como sabemos, foi, nas últimas décadas, uma vexata quaestio, fortemente marcada por uma atmosfera intelectual de intensa hostilidade e aberto conflito – quase nunca bem formulado, jamais adequadamente compreendido em seus verdadeiros elementos.
Ora, justamente nessa seara, este último livro de Ivan Domingues é, a meu ver, a mais completa e meritória contribuição e o mais bem-sucedido resultado do esforço para formular o pensamento desse conflito, entendendo-se a palavra etimologicamente, como probállō, o ato de lançar ou colocar diante de si o que se tem como questão, assunto ou dificuldade, como condição para descobrir algumas vias de solução. Nesse sentido, “Filosofia no Brasil” marca um momento de enorme importância para a comunidade filosófica brasileira, e isso porque a obra inaugura um novo patamar sobre o qual pode situar-se o debate sobre a filosofia no Brasil, e coloca sólidos alicerces para uma autêntica autocompreensão dos avatares da racionalidade filosófica histórica, tal como realizada ao longo da história do Brasil, incluindo a adequada compreensão de seu presente, bem como com perspectivas abertas sobre o futuro.
Numa apresentação de seu próprio livro, Ivan Domingues comparou a literatura e a filosofia no Brasil, e, nessa comparação, formulou a questão: “a pergunta que fica, portanto, é se um dia teremos o nosso Machado, o nosso Rosa e o nosso Kant em filosofia. E por que não? – bem poderia ser a resposta, na forma interrogativa, num misto de dúvida, de esperança e de desafio”. Vale a pena refletir sobre essa pergunta à luz de uma outra contribuição notável de Ivan Domingues para a filosofia feita no Brasil. Com isso, chamo a atenção do leitor para a continuidade que existe entre este último livro de Domingues e o anterior: “O Continente e a Ilha”.
Com efeito, também em “O Continente e a Ilha” a operação teórica e metodológica de base consistia em sintetizar perspectivas interdisciplinares, com vigoroso lastro empírico, com o objetivo de encontrar, nessa síntese, um poderoso elemento auxiliar para a contextualização dos fatores determinantes da formação de tradições filosóficas, com seus respectivos estilos intelectuais. Tratava-se então, lá como aqui, de reconstituir um horizonte histórico que se oferecesse como lastro, como âmbito de emergência e matriz para certos tipos de racionalidade filosófica, num gesto que desativa preconceitos arraigados, que alimentam generalidades vagas e reforçam a exterioridade de polarizações irrefletidas, gerando fatores que tanto impedem a situação de verdadeiros problemas, quanto o controle das argumentações.
É assim que “O Continente e a Ilha” mapeia as trilhas da filosofia contemporânea, descobrindo os pontos de aproximação e contato, bem como os de afastamento e confrontação, entre as tradições insulares e continentais. Penso que “Filosofia no Brasil” se vale, e muito, do aprendizado haurido das experiências que conduziram ao livro anterior. Em “O Continente e a Ilha”, a conclusão apontava para a alternativa da “experiência existencial”, para evitar as reduções tanto do logicismo (da tradição analítica) quanto o historicismo (reconstruções contextuais) da hermenêutica continental. Em diálogo com Geroges Canguilhem, Ivan Domingues indicava o “espaço da reflexão” como o terreno próprio da filosofia. Por espaço da reflexão, o autor entende um espaço que é, ao mesmo tempo, existencial, real e virtual, e consiste em quadros abstratos e conceitualizáveis, que organizam ‘as coisas mesmas’, e que remetem sempre à experiência, sendo comparáveis, e, por causa disso, abertos ao diálogo e suscetíveis de discussão. Em “O Continente e a Ilha”, assim como em “Filosofia no Brasil”, avultam tanto os ensaios quanto a importância de remissões a Montaigne – para destacar a potência da imaginação e as virtudes do gênero filosófico-literário dos ensaios. Poderíamos adivinhar aqui uma aproximação entre dois epistemólogos que refletem sobre a tarefa da filosofia num momento particularmente crítico de sua história. Talvez essas duas obras de Domingues pudessem ser lidas como ensaios nascidos dessa condição atual de crise da filosofia.
Refiro-me aqui a um diálogo latente entre Ivan Domingues e Michel Foucault, já que ambos estão de pleno acordo quanto à importância do ensaio na presente atualidade da Filosofia. Tanto é assim que, a respeito do ensaio como gênero filosófico, Michel Foucault escreveu, no segundo volume da “História da Sexualidade 2: o Uso dos Prazeres” (p. 13), o seguinte:
Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica – senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe? Existe sempre algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua; mas é seu direito explorar o que pode ser mudado, no seu próprio pensamento, através do exercício de um saber que lhe é estranho. O ‘ensaio’ – que é necessário entender com a experiência modificadora de si no jogo da verdade, e não com a apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação – é o corpo vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma ‘ascese’, um exercido de si, no pensamento.1
Ora, sabemos que o ensaio como o corpo vivo da filosofia constitui, em Foucault, um legado que é caudatário, com toda certeza, de Montaigne, mas também remete a seu nietzscheanismo visceral. E o que acontece do lado de Ivan Domingues? Alguma coisa mudou, nesse sentido, do “Continente e a Ilha” para “Filosofia no Brasil. Legados e Perspectivas. Ensaios Metafilosóficos” em relação ao presente e ao futuro da filosofia? Seria esse um vislumbre de resposta para a pergunta: será que um “dia teremos o nosso Machado, o nosso Rosa e o nosso Kant em filosofia. E por que não? – bem poderia ser a resposta, na forma interrogativa, num misto de dúvida, de esperança e de desafio”. Seria esta uma pista que nos remete a um contorno um pouco menos esmaecido desse horizonte por onde deverá transitar, no Brasil, o intelectual cosmopolita?
Referências
FOUCAULT, M. “História da Sexualidade 2: O uso dos Prazeres”. Trad. M. T. C. Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1984. [ Links ]
Oswaldo Giacoia Junior – Universidade Estadual de Campinas. Campinas – SP – Brasil.
Educação de Mulheres no Brasil e em Portugal (séculos XIX e XX) / Cadernos de História da Educação / 2018
A educação escolar primária, secundária e universitária, bem como o trabalho escolar de mulheres preceptoras (século XIX) e de mulheres professoras primárias (século XX), foi objeto de estudo de pesquisadoras do Brasil e de Portugal, integrantes do Projeto de Pesquisa Educação de Mulheres no Brasil e em Portugal (séculos XIX e XX), que é parte do Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, da Universidade de Coimbra, e que tem o apoio institucional do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), da Universidade de Coimbra (Portugal).
Com o título Educação de Mulheres no Brasil e em Portugal (séculos XIX e XX), presente Dossiê é composto de cinco artigos de professoras pesquisadoras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Tiradentes de Sergipe, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade de Coimbra, da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Pontifícia Católica do Paraná. Em seu conjunto, todos esses trabalhos visaram reconstituir a história da educação de mulheres e de mulheres educadoras, nascidas nos séculos XIX e XX, que estudaram e / ou trabalharam em lugares e tempos distintos, com níveis de estudos diferenciados, além de pertencerem a classes sociais desiguais, marcadas por suas divisões e suas diferenças.
Para reconstituir a história da educação dessas mulheres, que se sucedem e que se renovam a cada geração, pesquisamos em diários, cartas, anúncios e matérias de jornais, revistas de educação e de instrução destinadas às famílias, entrevistas orais, relatos educacionais e legislação educacional. Enfim, fontes documentais que induzem a questionamentos vários sobre a educação de mulheres e / ou sobre o trabalho educacional de mulheres educadoras, além de possibilitar a desmitificação de certos dogmas e estereótipos consagrados pelo senso comum ou mesmo pelas generalizações que “ganharam” notoriedade.
No artigo “Preceptoras estrangeiras para educar meninas nas casas brasileiras do século XIX”, Maria Celi Chaves Vasconcelos começa por registrar a chegada de mulheres europeias no Brasil, com a finalidade de trabalhar como preceptoras nas casas das elites oitocentistas, para então discutir as práticas de educação que desenvolviam para ensinar, particularmente, meninas. A educação das meninas, a cargo dessas preceptoras, era considerada uma distinção social, inclusive considerando-se o fato de que se baseava em modelos escolares análogos aos europeus.
No texto “A educação em nível primário da professora Isabel Doraci Cardoso (1940- 1944): uma história da educação vista de baixo”, Raylane Andreza Dias Navarro Barreto analisa o processo de formação escolar da professora sergipana Isabel Doraci Cardoso, que fez o seu curso primário, entre o final dos anos de 1930 e meados de 1940, numa Escola de modalidade Isolada. Bem marcante, nesse texto, é o modo como se vai delineando o estabelecimento das fronteiras entre as condições materiais e as educacionais experienciadas, pelo sujeito dessa vivência, uma revelação que se sobressai de sua narrativa.
No trabalho “Educação em nível secundário de moças de Natal e de Coimbra (1941- 1948)”, Marta Maria de Araújo e Cristina Maria Coimbra Vieira refletem sobre as dimensões formativas e autoformativas da educação secundária de Petronila da Silva Neri, no Ateneu Norte Riograndense (Natal-Brasil), e de Maria Isabel Dinis Pedroso de Lima Gonçalves Neves, no Liceu Nacional Infanta D. Maria (Coimbra-Portugal), no período de 1941 a 1948. A análise histórica a que procederam as autoras revela que a formação escolar completa e uniforme, e igualmente a autoformação das estudantes Petronila da Silva Neri (Natal-Brasil) e Maria Isabel Neves (Coimbra-Portugal) foram análogas às interações intergeracionais e às interações intrageracionais, o que confirma estarem em articulação com os propósitos formativos universalizáveis.
No texto “Educação formativa de uma líder política cearense: Maria Luiza Fontenele (1950-1965)”, Lia Machado Fiuza Fialho e Vitória Chérida Costa Freire discorreram sobre o processo formativo na educação familiar, primária, secundária e universitária, bem como sobre a inserção política de Maria Luiza Fontenele, professora, educadora, política – a primeira mulher prefeita de uma capital brasileira – a cidade de Fortaleza-Ceará. Em sua pesquisa, as autoras constatam que a educação secundária, no Liceu do Ceará, ocorreu em concomitância com a formação política de Maria Luiza, iniciada no Grêmio Estudantil e na Juventude Estudantil Católica. Sua educação superior, na Universidade Federal do Ceará, no curso de Serviço Social, como atestam as autoras, favoreceu o engajamento no Movimento Estudantil e a atuação sociopolítica.
No artigo “Aspectos de trajetórias de professoras rurais no Paraná (1957-1979)”, Rosa Lydia Teixeira Corrêa analisa aspectos da trajetória de professoras que atuaram em escolas primárias com turmas multisseriadas na zona rural, no município de Bocaiúva do Sul, no Estado do Paraná, entre os anos de 1957 e 1979. Essas professoras com incipiente formação inicial e a gradativa formação profissional em curso normal regional, exerciam múltiplas funções, sendo inclusive, elas próprias, que, em certas situações, assumiram os encargos financeiros decorrentes da aquisição de material escolar para seus alunos.
Essa reconstituição favoreceu a construção de um conhecimento histórico sobre a educação de mulheres e sobre o trabalho escolar de mulheres educadoras no Brasil e em Portugal (Séculos XIX e XX), que possibilita, necessariamente, a compreensão das singularidades, das diversidades, das semelhanças, das diferenças intranacionais e internacionais, além do que é particular e universal na educação das mulheres educadoras que escolhemos para pesquisar, e até de outras mulheres com suas variabilidades de condições educacionais sociais e materiais.
Marta Maria de Araújo – Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora Titular do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil). Líder do Grupo de Pesquisa “Estudos Históricos Educacionais” (UFRN / CNPq) e pesquisadora do “Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação (Auto) Biografia e Representações (GRIFAR / UFRN)”. E-mail: [email protected]
Cristina Maria Coimbra Vieira – Doutora em Ciências da Educação (Psicologia da Educação) pela Universidade de Coimbra. Professora Associada na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (Portugal). Investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20). Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM). E-mail: [email protected]
ARAÚJO, Marta Maria de; VIEIRA, Cristina Maria Coimbra. Apresentação. Cadernos de História da Educação. Uberlândia, v. 17, n.2, maio / ago., 2018. Acessar publicação original [DR]
Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850) | Alain El Youssef
Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850) é resultado da dissertação de mestrado de Alain El Youssef, defendida em 2010, no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo. Na obra, o autor analisa como a temática do tráfico negreiro foi abordada nos periódicos do Rio de Janeiro desde o ano de 1822, marco da proclamação da independência do Brasil, até a década de 1850, quando houve a aprovação da Lei Eusébio de Queirós e o tráfico no Império brasileiro foi legalmente abolido. Ao eleger o tráfico negreiro e a escravidão nos periódicos como seu objeto de estudo, Youssef se contrapõe a autores da historiografia brasileira que postularam a ausência de debates relativos a esses temas na imprensa do Rio de Janeiro até a década de 1870 [1]. A obra é, portanto, historiograficamente, uma afirmação desta presença.
Além de constatar essa existência, o autor procura demonstrar como diferentes grupos políticos se utilizaram da imprensa, desde o Primeiro Reinado, como estratégia e instrumento para a formação de uma “opinião pública” sobre questões, entre outras matérias, relativas ao fim do tráfico negreiro para o Império do Brasil. Segundo Youssef, essa estratégia tinha como intuito “preparar o terreno” para a discussão pública de determinados temas que estavam ou entrariam em voga no parlamento imperial. Por outro lado, o autor busca evidenciar como esses mesmos grupos políticos recorriam ao argumento da “opinião pública” para legitimar suas pautas.
Neste sentido, são importantes para a construção do argumento de Youssef as categorias de espaço público e opinião pública, adotadas a partir das perspectivas de François-Xavier Guerra [2] e Marco Morel [3]. Aqui, a imprensa é vista como um espaço público na medida em que se constituía como um lugar no qual ocorriam interações de diversas naturezas entre agentes históricos. Por sua vez, a opinião pública é “tratada como um conceito que os coevos dos séculos XVIII e XIX utilizavam para legitimar suas práticas políticas, principalmente aquelas que visavam influir a administração pública” (p. 30).
Embora a imprensa não seja apresentada na obra enquanto uma espécie de partido propriamente dito, menos ainda nos termos empregados no século XXI, Youssef procura chamar a atenção dos leitores para a importância que os periódicos, muito dos quais explicitamente partidários, tiveram na propagação dos ideais de moderados, exaltados e restauradores, luzias e saquaremas, liberais e conservadores, na complexa conjuntura política imperial. No que se refere ao tráfico negreiro em específico, o autor procura demonstrar como a imprensa teve um papel de suma importância na consolidação da política do contrabando negreiro no Brasil, empreendida pelos conservadores.
Segundo o autor, com o avanço do regresso, os conservadores passaram a fazer uma intensa campanha de defesa da reabertura do comércio negreiro em periódicos, tanto apresentando as vantagens econômicas da continuidade do negócio como publicizando as propostas de reabertura do tráfico transatlântico apresentadas ao parlamento brasileiro. Assim, para Youssef, a imprensa funcionou como uma espécie de elo de comunicação entre os políticos e proprietários de escravos interessados na continuidade do comércio negreiro, dando uma poderosa contribuição ao fortalecimento do contrabando e, consequentemente, ao aumento das cifras relacionadas a essa atividade.
Sobre a política do contrabando negreiro, é explícito o diálogo de Alain El Youssef com a leitura feita sobre o fim do tráfico por Tâmis Parron em suas produções recentes. Em certa medida, o livro de Youssef é complementar à dissertação de mestrado de Parron, reformulada em livro com o título A política da escravidão no Império do Brasil (1826-1865) [4] em 2011. Ambos buscam analisar o fim do contrabando negreiro através da história política, a partir das perspectivas de segunda escravidão de Dale Tomich [5], e de economia-mundo/sistema-mundo, de Immanuel Wallerstein [6], e procuram entender como os debates e interesses político-econômicos em torno da (des)continuidade do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil estavam inseridos dentro de um contexto maior de transformações socioeconômicas mundiais no período. Partindo de tantos pontos em comum, é principalmente nas fontes que Youssef e Parron tomam caminhos diferentes. Enquanto os discursos parlamentares são os principais documentos históricos empregados na análise da narrativa de Parron, Youssef constrói sua narrativa a partir dos periódicos cariocas – o que confere complementaridade às duas obras.
Por pensar seu objeto a partir de uma perspectiva ampliada, Youssef procura entender a imprensa (assim como o tráfico negreiro) dentro das transformações ocorridas no mercado e na sociedade mundial no período. Dessa maneira, o autor busca demonstrar como a expansão do capitalismo, a queda de monarquias absolutistas, as revoluções de independência no Novo Mundo e a reconfiguração das áreas fornecedoras de importantes commodities para o mercado mundial, entre outros fatores, também contribuíram para a difusão de novas (ou modernas) formas de sociabilidades, que passam a conviver com as do Antigo Regime. No caso da imprensa, essas transformações teriam oportunizado a proliferação de impressos, a abolição/diminuição da censura, o surgimento de espaços de leitura e sociabilização das ideias presentes nestes impressos, e, como consequência, possibilitado a emissão de julgamentos por parte do público aos acontecimentos a ele contemporâneos.
Em termos de leitura histórica, outra produção historiográfica cuja influência sobre o livro de Youssef é notável é O Tempo Saquarema, de Ilmar Mattos [7]. Obra de referência sobre a história do Brasil Império, publicada pela primeira vez em fins da década de 1980, O Tempo Saquarema aborda elementos centrais contidos no livro de Youssef, como a relação entre expansão cafeeira, formação de projeto político imperial centralizador, continuidade do tráfico negreiro e o papel político-econômico britânico neste contexto. No entanto, Youssef distancia-se de Mattos em dois aspectos centrais do seu trabalho, a imprensa e a pressão inglesa. Enquanto Mattos, na perspectiva gramsciana, entende como secundário o papel da imprensa e das organizações civis consideradas privadas na construção da coalização entre proprietários do centro-sul e o grupo conservador na política imperial, Youssef apresenta a imprensa como tendo um papel central neste processo. Segundo o autor, a imprensa foi uma das principais responsáveis para que essa aliança, assim como a política do contrabando negreiro, tenha alcançado êxito.
Sobre o papel britânico nesse contexto, enquanto para Mattos os interesses internos da classe dirigente são vistos como predominantes, embora a pressão externa não seja ignorada, Youssef atribui protagonismo à pressão externa sobre as decisões relativas ao tráfico negreiro adotadas pelo governo imperial. Para o autor, a intensificação da pressão britânica pelo fim do comércio negreiro para o Brasil em meados da década de 1840 – e, inclusive, a iminência de um conflito armado entre as duas nações – por exemplo, não deixou alternativas aos Saquaremas senão a defesa do fim do contrabando. O grupo retornaria aos periódicos para preparar o terreno, desta vez para a abolição do tráfico.
A respeito disso, observa-se que Youssef também se distancia de recentes produções historiográficas brasileiras sobre o fim do tráfico negreiro que, embora não desprezem a importância que a pressão britânica teve sobre os rumos tomados por esta atividade, têm repensado como outros fatores influenciaram o fim do comércio proibido de escravos [8]. O autor procura demonstrar que fatores como o haitianismo, para citar um dos aspectos apontados recentemente pela historiografia, que também é mencionado pelo autor, não teve grande peso sobre o fim do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil. Youssef avalia que o haitianismo foi utilizado na imprensa do Rio de Janeiro muito mais como argumento retórico do que como um temor real.
Na obra de Alain El Youssef, a imprensa é, ao mesmo tempo, fonte e objeto histórico, informações que o autor deixa explícitas já no princípio da obra. Sobre isso, nota-se que, ao adotar a imprensa também como objeto, o autor consegue ir além do texto publicado. Investigando, por exemplo, as vinculações partidárias dos editores dos periódicos que consultou, é capaz de acessar alguns dos interesses existentes por trás das notícias veiculadas. Assim, o autor não deixa de chamar atenção para o modo como parte da historiografia brasileira tem utilizado a imprensa. Ao analisar os periódicos pontualmente, muitas vezes sem levar em consideração as vinculações das publicações, a historiografia acaba por reproduzir um discurso enviesado. Neste sentido, chama a atenção para a necessidade de se observar o enviesamento existente nas publicações.
Ao fazer a leitura deste livro no ano de 2018, período indubitavelmente conturbado da política brasileira, não poderia deixar de mencionar a atualidade da obra. Através do livro de Youssef verificamos como o argumento político da “opinião pública” e a construção politicamente enviesada da “opinião pública” pela imprensa têm sido empregados ao longo do tempo para conformar os rumos da história do Brasil.
Notas
1. Cf. KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SOUZA, Christiane Laidler de. Mentalidade escravista e abolicionismo entre os letrados da Corte (1808-1850). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994.
2. GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 1992.
3. MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
4. PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
5. Cf. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
6. Cf. WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Nova York: Academic Press, 1974. vol. 1. Idem. The capitalist world-economy. Nova York: Cambridge University Press, 1979. Idem. The modern world-system: mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. Nova York: Academic Press, 1980. vol. 2.
7. MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL, 1987.
8. Dentre as produções que repensaram o papel da pressão britânica destacamos os estudos de Sidney Chalhoub, Flávio Gomes, João José Reis, Jaime Rodrigues e Robert Slenes. Cf.: CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX, ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, ed. rev. e ampl., 1ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da Unicamp, Cecult, 2000. SLENES, Robert. “Malungu, Ngoma vem!”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, n. 12, 1992.
Referências
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX, ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 1992.
KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL, 1987.
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, ed. rev. e ampl., 1ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da Unicamp, Cecult, 2000.
SOUZA, Christiane Laidler de. Mentalidade escravista e abolicionismo entre os letrados da Corte (1808-1850). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994.
SLENES, Robert. “Malungo, Ngoma vem”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, n. 12, 1992.
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Nova York: Academic Press, 1974. vol. 1.
WALLERSTEIN, Immanuel. The capitalist world-economy. Nova York: Cambridge University Press, 1979.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system: mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. Nova York: Academic Press, 1980. vol. 2.
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeiros; Fapesp, 2016.
Silvana Andrade dos Santos – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Doutoranda, PPGH-UFF, bolsista do CNPq. E-mail: [email protected]
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850). São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2016. Resenha de: SANTOS, Silvana Andrade dos. Imprensa como partido: “opinião pública” e tráfico negreiro em periódicos cariocas. Almanack, Guarulhos, n.19, p. 331-337, maio/ago., 2018. Acessar publicação original [DR]
The reinvention of Atlantic slavery: technology – labor – race and capitalism in the Greater Caribbean | Daniel B. Rood
There has been a revival of the capitalism in the United States since the great recession of 2008. The New Historians of Capitalism (NHC) have created new academic programs and departments at Harvard, Cornell, Brown and the New School for Social Research. This is welcome relief from the “linguistic turn”, returning historical inquiry to the systematic investigation of social and economic structures. However, the New Historians insist that in order to reinvent the study of capitalism, they must abandon any attempt to specify what they mean by capitalism [3]. However, as Althusser argued – “silences are not innocent” -, the New Historians do have an implicit conceptualization of capitalism. Essentially, they adapt Adam Smith’s notion of “commercial society” [4], where capitalism is any economy geared toward profit maximization through productive specialization and market exchange. They also include among capitalism’s features as warfare, finance and legal-physical coercion in the appropriation of surplus labor. Put another way, the New History of Capitalism identifies capitalism with social processes like trade, finance and violence, which have existed for most of the last eight to ten thousand years.
This implicit understanding of capitalism contrasts with most Marxian accounts which view capitalism as a distinctive set of social property relations (social relations of production) with specific rules of reproduction (laws of motion) [5]. From this perspective, capitalism is the first form of social labor in which both non-producers (capitalists) and producers (workers) reproduce themselves through market competition. Capitalists are thus compelled to specialize output, continually introduce labor-saving technology, and accumulate capital in order to reduce costs and maximize profits in a competitive “war of all against all.”
Not surprisingly, the New History of Capitalism has radically altered the study of new world plantation slavery. Walter Johnson, Edward Baptist and Sven Beckert [6] argue that new world slavery was not some atavistic throwback to pre-capitalist societies, but a thoroughly capitalist form that was the foundation to the development of industrial capitalism in both Britain and the United States in the late eighteenth and early nineteenth century. Despite their commonalities, there is considerable debate among these historians about the respective role of physical coercion and technological innovation in the increases in productivity of slave labor, in particular in the harvesting of cotton in the antebellum United States [7]. Daniel Rood’s The reinvention of Atlantic slavery clearly situates itself in the emerging cannon of the New History of Capitalism on plantation slavery, while coming down clearly on the side of those who argue that the master-slave relation was no obstacle to the introduction of labor-saving technology during the “second slavery” of the nineteenth century.
The “second slavery” refers to the revival of plantation slavery in the nineteenth century, after the “colonial slavery” of the seventeenth and eighteenth centuries ended with the Haitian Revolution, the British attempt to suppress the Atlantic slave trade, and the gradual emancipation of slaves in the Jamaica and other British colonies. Most studies of the “second slavery” focus on the US slave produced cotton providing the raw material for British industrialization [8] and Cuban and Louisiana plantations providing the sugar that began to substitute for other, more nutritious and expensive foods in the diets of British workers [9] Rood broadens this discussion by incorporating the “Great Caribbean” nexus between Cuba, Brazil and the upper US South, in particular Virginia.
Faced with sharpening competition from European beat sugar producers and US and British tariffs, Cuban cane sugar planters “responded by adapting European industrial technologies, combining planting with finance, taking control of modern transport infrastructure, and vanquishing small landholders to grab a larger share of the market” (p. 2). The transformation of Cuban slavery forged new connections with the upper US South, which provided extensive engineering and technical expertise to build mills and railways and slave cultivated wheat to feed the island. Simultaneously, the shift in Brazilian slavery from declining sugar plantations in the northeast to more dynamic coffee cultivation in the southeast created new ties with Virginia wheat planters and railway engineers. Throughout this “Great Caribbean” nexus, new labor-saving technology was applied to both production and transportation, and the “race management” of labor was transformed as African slaves’ practical knowledge was appropriated to “creolize” new machinery, and planters began to use new forms of coerced labor, in particular Chinese indentured servants.
Rood begins by retelling the now familiar story of the transformation of the Cuban sugar refining mills and the construction of railroads during the 1830s and 1840s [10]. Faced with increased global competition, Cuban sugar planters built railroads to quickly transport cut cane to the mills from their ever expanding plantations before it spoiled, introduced steam powered crushing of the cane, and replaced the labor-intensive Jamaica train with the vacuum pan in the refining of white sugar. Rood breaks new ground with his investigation of innovations in the preservation of white sugar, where racially ‘tinged” science that assigned manual labor to “darker” people is linked to the struggle to preserve the “purity” of sugar for the US and European markets. His discussion of the transformation of the port of Havana is especially insightful. Havana had experienced a shift from the dominance of middling merchants, whose profits depended upon storage fees, and sales commissions, to a “new generation of Spanish-born elite merchant-planters” whose income came “from buying and selling sugar on the world market, financing illegal slaving voyages, and underwriting sugar-mill operations” (p. 67). To facilitate their new role in the global sugar trade, these merchant planters rebuilt the ports in Havana, introducing railway depots, constructing new warehouses and mechanizing the ports in order to keep “sugar in gentle but unceasing movement” (p. 67). While profiting from the increased speed of circulation, the merchants also remade the port work force replacing black (free and slave) workers with Europeans and Chinese laborers.
Railroad construction in both Cuba and Brazil in the mid-nineteenth century created new connections with the upper South. Rood details how Virginia construction engineers and their slaves were essential to the construction and operation of railroads in new, tropical terrains in the “Great Caribbean”. Skilled slaves were crucial, in the upper US South, Cuba and Brazil in constructing rail lines and operating them – despite widespread planter and merchant fear of relying upon these bonded, racialized workers. The spread of railways also created a new, modern iron industry in the upper South. The Tredgar Iron Mills in Richmond, Virginia was one of the largest and most technologically advanced iron producers in the US, relying on the labor of slaves leased by the mill owners from their owners.
The mid-nineteenth century also saw the shift in the center of Brazilian slavery from the increasingly uncompetitive sugar plantations in the northeast to the highly profitable coffee plantations in the southeast, the hinterland of Rio de Janeiro. Again, railroad construction, often by US trained engineers, was central to the expansion of the coffee frontier. As the population of Rio grew, and more and more lands were shifted from the production of foodstuffs for domestic consumption to the cultivation of coffee for export, a new market emerged for the fine white flour produced in Virginia. In the early nineteenth century, Virginia planters began to shift from tobacco to wheat, breaking up their plantations and selling off excess slaves to the booming cotton frontier of the US southwest. By the 1840s and 1850s, the growing Brazilian demand for high quality white flour transformed both flour-milling technology and the preservation and storage of white flour in the Richmond area. The Richmond mills continued to rely on water-power but were relatively capital-intensive and utilized the labor of skilled, leased slaves.
The deepening Virginia-Rio nexus also transformed the harvesting of wheat in Virginia. Rood reveals how the expanding wheat farms of the Shenandoah Valley were the incubator for Cyrus McCormick development of his mechanized grain reaper in the 1830s and 1840s. Ripened wheat has an especially short window before it spoils, placing tremendous pressure on wheat producers to harvest and thresh the wheat as quickly as possible. Rood outlines how McCormick relied on the labor of skilled slave black smiths, wheat cradlers, and carpenters in the development of the harvesting machine that would radically transform US small grain agriculture in the mid-nineteenth century.
Rood’s book bring important new insights to the history of the “second slavery” by broadening its scope beyond the US cotton-Cuban sugar-British textile industry node, to include the “Great Caribbean” nexus of Cuban sugar-upper South technical expertise, iron and wheat-Brazilian coffee. His accounts of the transformation of the port of Havana, and of wheat cultivation and processing in Virginia are important additions to our historical knowledge. However, the book suffers from a number of conceptual and historical problems.
First, Rood uses the term “creolization” to discuss the adaptation of technologies to specific production processes in specific geographic-ecological locations. While Rood reestablishes the role of slaves in the adaptation of existing techniques in railroad construction, flour milling and farm implement construction, he sometimes implies that there is something unique about the pragmatic sharing of experimental information on technology among agricultural and industrial producers. This was actually quite typical of technical innovation before the late nineteenth century, when miners, skilled artisans and midwives were often the most important figures in the development and application of scientific knowledge [11]. It was only during the second industrial revolution (steel, chemicals, electrical power-machinery) of the 1890s, that capital took control of scientific research with the proliferation of “research and development” departments in major corporations.
Rood’s use of “race management” is also problematic. As developed by David Roediger and Elizabeth Esch [12], race management referred to the pragmatic way in which the ideological notion of race (the division of humanity into groups with distinct and unchangeable characteristics) is used to classify and distribute workers into various positions in the production of commodities. These categories were highly flexible in light of the ever-changing demands of the market-driven production of commodities. Rood tends to emphasize the racial anxieties experienced by slave owners as technology changed labor-requirements, but has little to say about how they adapted their “racial theories” to meet the new requirements of production. This often goes hand in hand with important errors in analyzing the impact of new techniques on labor requirements. Specifically, Rood reiterates Moreno Fraginals’ claim that the introduction of the vacuum pan raised the level of skill and knowledge required in the refining of sugar, creating a crisis of “racial management.” As Dale Tomich points out [13], it was the earlier technology – the Jamaica Train – that relied heavily on the intelligence and experience of skilled slaves. The vacuum pan, by automating the process of sugar refining, actually deskilled labor in that phase of sugar production.
The greatest problems with Rood’s analysis flow from his uncritical acceptance of the New Historians’ common sense that slavery was a capitalist form of production. There is no question that slave-owners in the US were, for the most part, subject to “market compulsion.” Slave holders throughout the new world had to borrow capital to purchase their basic means of production – land and slaves. In the British colonies and most of the southern United States faced the loss of land and slaves if they failed to pay these debts. Put in another way, they were subject to what John Clegg has called “credit market discipline” [14] – they had to successfully compete in the global market in order to preserve (no less expand) their ownership of land and slaves. Rood never makes the case that Cuban planters faced these constraints, or whether, like French colonial planters, they were exempt from the loss of land and slaves for the failure to pay debts [15] Clearly, those planters subject to “credit market discipline” sought to cut costs in order to remain competitive – they sought to adapt the most up to date innovations in crop varieties, fertilizers, tools and methods.
The master-slave social property relation, however, prevented the planters from continually adapting the latest, labor-saving tools and methods [16]. The obstacle to the continuous adaptation of labor-saving techniques was not any lack of motivation or skill on the part of their bonded laborers. Instead, it was the reality that slave-holders did not purchase the labor-power of the slaves (their ability to work for a set period of time), but the laborers as “means of production in human form”. Put in another way, the slave was a form of fixed capital – a constant element of the production process that could not easily be expelled from production in order to facilitate the relatively continuous introduction of techniques that improved labor productivity. So, if planters introduced cost-cutting techniques that saved labor, they would not be able, like their capitalist counterparts, to simply lay that labor off. They would be stuck with continuing ownership of the laborer(s), having to keep them around until they could find purchasers for their surplus slaves.
It is true that, like other non-capitalist forms of social labor, slavery did bring about episodic improvements in productivity. However, unlike under capitalism, which tends to spur more or less ongoing technical change, innovation under slavery had a “once and for all” character [17]. Thus, the introduction of labor-saving techniques in Cuban sugar production and shipping, or in Virginia wheat cultivation did not set off a process of continuous technical innovation. Like other technical innovations under slavery, they corresponded to the introduction of new products or the movement of production to a new frontier. Once established, these new labor-processes remained relatively unchanged until new products were introduced, new geographic regions were brought under production, or slavery as a form of social labor was abolished. Those industries where there was continuous technical innovation, Virginia’s iron works and Rio’s bakeries, utilized leased slaves. Leased slaves were, like indentured servants, a form of legally coerced wage labor. Those who leased slaves essentially purchased their labor-power for a set period of time, and could easily expel that labor when new, more productive tools and methods became available.
The limitations the master-slave social property relation on continuous technical innovation is most evident in the case of the mechanized reaper. While Rood’s discussion of how McCormick’s initial motivation was to revolutionize Virginia’s wheat harvests is quite insightful, he never poses the question of why McCormick abandoned Virginia for Chicago when he turned to mass producing his mechanical reaper. Rood recognizes that there were serious obstacles to the diffusion and generalized adaptation of the reaper in Virginia’s slave based agriculture. Rood acknowledges that two large wheat planters who adapted the reaper found themselves “burdened by the presence of too many workers” (p. 189). Unlike wage laborers who could easily be laid-off when they were no longer needed, slave owners had to maintain their slaves in order to preserve their value as “means of production in human form”. While the wheat producers of Virginia were a relatively narrow market for the mechanical reaper, the petty-capitalist family farmers of north were an ever expanding market for the reaper and other labor-saving tools and machinery18. Not surprisingly, despite his personal sympathy for slavery, McCormick relocated his factory to be closer to his customers in the dynamic capitalist north.
Referência
ROOD, Daniel B. The reinvention of Atlantic slavery: technology, labor, race and capitalism in the Greater Caribbean. New York: Oxford University Press, 2017
Notas
3. ROCKHMAN, Seth. What makes the history of capitalism newsworthy? Journal of the Early Republic, n. 34, p. 442, Fall 2014. Similar arguments are made by most of the participants, including BECKERT, Sven. Interchange: the history of capitalism. Journal of American History, 101, n. 2, p. 503-36, September 2014.
4. SMITH, Adam An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. New York: Modern Library, 1937 [1776].
5. The concepts of social-property relations and rules of reproduction are derived from the work of BRENNER, Robert. Property and progress: where Adam Smith went wrong. In: WICKHAM, Chris (ed.). Marxist history-writing for the twenty-first century. London: British Academy/Oxford University Press, 2007. p. 49-111. Brenner’s work, of course, is rooted in Marx’s mature work in the three volumes of Capital.
6. JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013; BAPTIST, Edward. The half has never been told: slavery and the making of American capitalism. New York: Basic Books, 2014; BECKERT, Sven Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014. For a lengthy discussion of the strengths and weaknesses of these works, see POST, Charles. Slavery and the New History of Capitalism. Catalyst, 1, n. 1, p. 173-192, Spring 2017.
7. Baptist (2014) is the most articulate exponent of the physical coercion/torture thesis, while Alan J. Olmstead and Paul W. Rhode make a convincing case for the role of technical innovation in raising the productivity of slave labor in cotton harvests, in OLMSTEAD, Alan J.; RHODE, Paul W. Biological innovation and productivity growth in the antebellum cotton south. Journal of Economic History, 68, n. 4, p. 1123–71, 2008.
8. Beckert (2014) summarizes this literature.
9. MINTZ, Sidney. Sweetness and power: the place of sugar in modern history. Harmondsworth: Penguin Books, 1985.
10. FRAGINAL, Manuel Moreno. The sugarmill: the socioeconomic complex of sugar in Cuba, 1760- 1860. New York: Monthly Review Press, 1976.
11. CONNOR, Clifford D. A people’s history of science: miners, midwives, and low mechanicks. New York: Nation Books, 2005.
12. ROEDIGER, David; ESCH, Elizabeth. The production of difference: race and the management of labor in U.S. history. New York: Oxford University Press, 2012.
13. TOMICH, Dale. Slavery in the circuit of sugar: Martinique in the world economy, 1830-1848. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990. p. 199-201, 221-225.
14. CLEGG, John J. Credit market discipline and capitalist slavery in antebellum south Carolina. Social Science History 42, n. 2, p. 343-376, 2018. As it will become clear, I do not believe that market dependence made slaveholders capitalists.
15. BLACKBURN, Robin. The making of new world slavery: from the baroque to the modern. London: Verso, 1997. p. 282-83, 444-45.
16. The following is a summary of my argument in POST, Charles. The American road to capitalism: studies in class structure, economic development and political conflict, 1620-1877. Chicago: Haymarket Books, 2012. Chapter 2.
17. BRENNER, Robert P. The origins of capitalist development: a critique of neo-smithian Marxism. New Left Review 104, p. 36-37, July–August 1977.
18. POST, Charles, 2012. p. 94-97.
Charles Post – University of New York – New York – United States of America. Professor, Sociology, borough of Manhattan Community College and the Graduate Center-City University of New York. E-mail: [email protected]
ROOD, Daniel B. The reinvention of Atlantic slavery: technology, labor, race and capitalism in the Greater Caribbean. New York: Oxford University Press, 2017. Resenha de: POST, Charles. Capitalist slavery in the great Caribbean? Almanack, Guarulhos, n.19, p. 321-330, maio/ago., 2018. Acessar publicação original [DR]
Cartografias da cidade (in)visível: setores populares, cultura escrita, educação e leitura no Rio de Janeiro imperial – VENÂNCIO et al (RHHE)
VENÂNCIO, Giselle; SECRETA, Maria; RIBEIRO, Gladys. Cartografias da cidade (in)visível: setores populares, cultura escrita, educação e leitura no Rio de Janeiro imperial. Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2017. Resenha de: SILVA, Giuslane Francisca da. Revista de História e Historiografia da Educação. Curitiba, v. 2, n. 5, p.234-239, maio/agosto de 2018.
A obra Cartografias da cidade (in)visível: setores populares, cultura escrita, educação e leitura no Rio de Janeiro imperial é organizada por Giselle Venâncio, Maria Secreta e Gladys Ribeiro. Está dividida em duas partes e é composta por um total de onze textos escritos por pesquisadores de instituições distintas.
Cada texto traz abordagens inovadoras, visto que resgatam aspectos da cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes relegados pelos pesquisadores, ao mesmo tempo em que desconstroem a ideia de que as camadas populares estavam distanciadas ou mesmo excluídas do mundo letrado. Para tanto, “cartografar um Rio de Janeiro ainda invisível” (SECRETO; VENANCIO, 2017, p. 9) constitui o objetivo central da obra.
A partir de fontes como os periódicos, os autores mostram que muitos populares na cidade do Rio de Janeiro Imperial tinham acesso à cultura escrita. Ampliando os sujeitos de suas pesquisas, os autores demonstram que escravos, forros, migrantes pobres, estiveram de alguma forma expostos a cultura escrita. É possível conjecturar que casos assim podem ter ocorrido em outras cidades também.
O livro está dividido em duas partes, a primeira delas, “Usos populares da leitura e escrita”, reúne quatro textos em torno dessa temática. A segunda parte, “Práticas educativas de populares no Rio de Janeiro oitocentista”, agrega um total de sete artigos. Para uma melhor explicitação do livro como um todo, realizo uma breve análise de cada um dos textos.
No primeiro texto, “Em primeira pessoa”, de Giselle Venancio, a autora vai analisar a carta que a liberta, Maria Rosa, escreveu à Princesa Isabel na ocasião de seu aniversário quando era comum alforriar alguns escravos. A carta assinada por Maria Rosa solicitava à Imperatriz que interviesse junto à Câmara Municipal para que sua filha, Ludovina, que era mãe de três filhos, fosse alforriada. Os dados que a autora levantou demonstram que escravos e libertos eram alfabetizados e não muito raro investiam também na formação de seus filhos.
No segundo capítulo, “Posta em cena: educação moral e estética e heterogeneidade social e teatro oitocentista”, cujas autoras são María Secreto e Viviana Gelado, a abordagem recai sobre o letramento popular e/ou negro na cidade do Rio de Janeiro, a partir de um ângulo não muito casual: o teatro, visto como mecanismo de educação moral e estética do público carioca.
Segundo as autoras, não sendo o escravo doméstico e especialmente o urbano, almejado pela cidade das letras, via no teatro a chance de depreender uma moral pragmática, assim como também lições de retórica e boas maneiras que “poderiam coadunar para desobstruir o improvável caminho da ascensão social dentro dos limites jurídicos impostos” (SE-CRETO; GELADO, 2017, p. 44-45).
Em “Saber ler, contar e poupar: reflexões entre economia popular e cultura letrada no Rio de Janeiro, 1831/1864”, de Luiz Saraiva e Rita de Cássia Almico, os autores partem de um consenso da historiografia brasileira, o de que as camadas mais baixas da sociedade teriam tido acesso limitado ao mercado financeiro, além do que a baixa circulação financeira teria restringido os trabalhadores pobres e escravos dos conhecimentos mais “sofisticados no âmbito da economia e de uma monetarização crescente” (SECRETO; GELADO, 2017, p. 49), a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro no decorrer do século XX. Partindo desse ponto, os autores apresentam evidências de um maior protagonismo das camadas populares em atividades ligadas aos setores financeiros, destacam ainda o impacto dessas atuações na economia da cidade.
A partir de anúncios de jornais, os autores levantaram a hipótese de que havia um mercado de bens financeiros e que poderia ser usado por setores populares. Ressaltam também a importância da economia popular para a cidade.
Carlos Eduardo Villa, em “Escrever como curso de transação dos pequenos agentes do Rio de Janeiro na metade do século XX”, parte de dados cartoriais e evidencia que a cultura escrita aumentou consideravelmente ao longo do século XIX, o que leva crer que houve um aumento também dos grupos alfabetizados. Outra defesa do autor é que o aumento de trabalhadores, que ofertavam seus serviços nos jornais que circulavam na cidade, permite afirmar também que houve um incremento da cultura escrita entre os populares.
O texto “Ler, escrever e contar: cartografias da escolarização e práticas educativas no Rio de Janeiro oitocentista”, de Alessandra Shueler e Irma Rizzini, abre a segunda parte do livro. Nele, as autoras trazem questões ainda pouco debatidas e/ou conhecidas pelos historiadores, pois afirmam que a população pobre e seus filhos, assim como os negros, compunham o grupo escolar da cidade, isto é, frequentavam escolas e que, portanto, uma parcela de populares era alfabetizada.
As pesquisas das autoras contrariam uma ideia durante muito tempo hegemônica na historiografia, a de que não havia escolas noturnas e ensino primário voltado ao atendimento do público trabalhador, além de desmitificar a clássica afirmação de que grande parte da população brasileira no Brasil oitocentista era analfabeta, como se vê, essa não é a realidade da cidade do Rio de Janeiro. O trabalho dessas autoras e alguns outros desconstroem totalmente essas ideias.
Em “Educação no Rio de Janeiro joanino nas páginas da Gazeta do Rio de Janeiro: espaços abertos para a mobilidade social”, Camila Borges da Silva numa perspectiva que se aproxima do artigo anterior, analisa o formato dos espaços educacionais durante a presença da Corte no Brasil. Ela explora também como as aulas noturnas abriam condições de ascensão social às camadas intermediárias da sociedade, formadas em sua maioria por pardos, mulatos e portugueses pobres (SILVA, 2017).
Jonis Freire e Karoline Karula, em “Camadas populares e higienismo no Rio de Janeiro em fins dos anos de 1870”, analisam um grupo social composto por alunos que frequentavam a Escola Noturna da Lagoa, na ci-dade do Rio de Janeiro, no final da década de 1870. Nessa escola foram ofertadas conferências sobre higiene popular, o curioso é que grande parte do público que frequentava essas conferências era composto por alu-nos dessa instituição. As autoras, levando em consideração o fato de que essas conferências ocorriam nos dias em que não havia aula, afirmam que é muito provável que esses alunos iam porque o assunto lhes interessava.
Em “Cidade solidária: beneficência educacional no cotidiano popu-lar da Corte Imperial”, de Marconni Marotta, discute-se a instrução popu-lar financiada por associações, com destaque para a Sociedade Jovial e Ins-trutiva. Aponta também algumas políticas públicas voltadas para a educa-ção primária das camadas populares.
No texto “Aulas do Comércio: mundo da educação versus mundo do trabalho livre e pobre na cidade do Rio de Janeiro”, Gladys Sabina Ribeiro e Paulo Cruz Terra analisam as aulas do Comércio e o mundo do trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Eles enfatizam também as transformações sofridas pela instituição a partir da data de sua fundação até a Reforma de 1854.
Tomando uma instituição de ensino como enfoque de seu trabalho, Alexandro Paixão, em “A educação popular no Rio de Janeiro oitocentista: o caso do Liceu Literário Português (1860-1880)”, discute os primeiros anos do Liceu Literário Português do Rio de Janeiro.
A presente instituição foi fundada no ano de 1868 sob os auspícios de alguns membros do Gabinete Português de Leitura e tinha por objetivo atender os ideais de “’comunidade’ relacionados à questão da cultura por-tuguesa, filantropia e instrução popular” (PAIXÃO, 2017, p. 215) no Rio de Janeiro. Foi talvez a primeira instituição na capital do Império a oferecer cursos noturnos gratuitos de instrução primária.
O Liceu também oferecia aulas de comércio para jovens e adultos que se mostrassem interessados na aprendizagem e no trabalho, logo em seguida passava a compor a classe caixeiral, muito comum naquele mo-mento. Entre os anos de 1868 a 1884, o Liceu formou cerca de 6.500 alu-nos.
O autor destaca a fundação de uma escola noturna que atendia jo-vens e adultos que não podiam frequentar escolas em outros horários. A escola era mantida pelo Gabinete Português. Há também a citação de ou-tra instituição, o Collegio Victorio da Costa, com o externato para meninos pobres, de propriedade de um dos membros do gabinete.
O último texto “Pelos caminhos da liberdade: sujeitos, espaços e prá-ticas educativas (1880-1888)”, Alexandra Lima da Silva e Ana Chrystina Mignot abordam as iniciativas de educação de escravos e libertos, bem como ressaltam o papel do Centro Abolicionista Ferreira de Menezes, que foi criado por funcionários do jornal Gazeta da Tarde e que era, então, dirigido por José do Patrocínio, uma importante figura dentro do movi-mento abolicionista.
Essa perspectiva, defendem as autoras, alarga a compreensão sobre a educação de cativos e libertos para além das escassas escolas que exis-tiam Brasil afora. O Centro Abolicionista, além de abrir e manter escolas primárias noturnas, promovia outras atividades como festas, espetáculos teatrais, musicais etc.
Através da análise de diversos periódicos que circulavam na cidade, as autoras encontraram várias escolas gratuitas que instruíam “menores e adultos livres, libertos e escravos, sem distinção de cor, nacionalidade ou religião” (SILVA; MIGNOT, 2017, p. 245).
Ao analisarem as ações do Centro Abolicionista Ferreira de Menezes, as autoras trouxeram à tona nomes como José do Patrocínio, José Ferreira de Menezes, Israel Soares, dentre outros, que compunham o quadro dos membros do movimento abolicionista. Ressaltam também que figuras como essas, ao escreverem em jornais, pretendiam conquistar a simpatia das elites para benefício de suas causas. No entanto, escreviam também para muitos libertos e descendentes de escravos que possuíam acesso a esses escritos.
Os textos que compõem a obra discutida aqui, com uma linguagem clara e objetiva, levantam questionamentos e desconstroem muitos mitos que se firmaram na historiografia brasileira, no caso específico, o de que as camadas populares no oitocentos estiveram alheias à cultura escrita, ou que sequer entendiam o valor da educação. É justamente isso que os textos buscam desmistificar ao mostrar que havia escolas noturnas, muitas delas mantidas por associações de dentro do movimento abolicionista. Tais escolas eram voltadas ao atendimento de trabalhadores, escravos e libertos, consequentemente uma parcela significativa de populares estavam inseridos no universo da cultura escrita e que, portanto, eram alfabetizados.
Giuslane Francisca da Silva – Doutoranda em Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Contato: [email protected].
Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil – MAMIGONIAN (VH)
O tão aguardado livro Africanos Livres: A abolição do tráfico de escravos no Brasil , da historiadora Beatriz Mamigonian, não decepciona. Oferecendo uma nova perspectiva sobre o processo de abolição, o autor enfatiza as experiências e a luta pela liberdade dos africanos escravizados no contexto de negociações de tratados e leis abolicionistas que buscavam acabar com o comércio de escravos no Atlântico. Mamigonian esclarece a conexão entre a história dos africanos escravizados no século XIX; políticas e legislação nacionais relativas à escravidão e ao trabalho livre; e mudanças na política, sociedade, legislação e sistema judicial brasileiro que eventualmente favoreceram a abolição geral da escravidão. Africanos Livresreestrutura assim a narrativa histórica sobre a abolição do comércio de escravos e da escravidão, destacando esforços conservadores para preservar o controle da sociedade sobre o trabalho negro e enfatizando a influência política e cultural dos africanos e seus descendentes na construção da liberdade durante o século XIX.
Os três primeiros capítulos do livro investigam a categoria ‘livre africano’ que surgiu no contexto dos tratados brasileiros e britânicos e a lei de 1831. Mamigonian mostra que nem os tratados que negociaram o fim do tráfico de escravos no Atlântico nem a lei de 1831, que libertou novas chegadas africanas, garantiu a liberdade africana suficientemente. A decisão conservadora de negar cidadania aos africanos; esforços para controlar sua presença e trabalho produtivo no Brasil; ea falta de compromisso político e judicial para fazer cumprir a lei assegurava que os africanos traficados de fatoescravização. Alguns conseguiram defender sua liberdade no tribunal. De um modo mais geral, porém, funcionários e agências governamentais apoiaram os interesses dos comerciantes e proprietários de escravos e evitaram processar os responsáveis pelo tráfico de escravos. Além disso, o trabalho dos africanos que foram libertados pelas autoridades portuárias ou pelo comitê misto brasileiro e britânico que monitorava o comércio ilegal, foi “concedido” a indivíduos ou instituições públicas. Essa prática, semelhante ao sistema de aprendizagem ou servidão contratada de outras sociedades atlânticas, procurou facilitar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas, diferentemente desses sistemas, as concessões brasileiras de mão-de-obra africana raramente impõem ou impõem um limite no tempo de serviço. Como resultado, o Estado brasileiro sacrificou a liberdade dos africanos para favorecer as necessidades dos proprietários de escravos,Mamigonian, 201 , p. 164)
Os capítulos 4 e 5 exploram as condições de trabalho que os africanos livres experimentam. Os beneficiários que tinham o direito de explorar o trabalho dos africanos livres frequentemente os tratavam mal, os ameaçavam com a venda e ignoravam os termos temporários da concessão. A realidade diária dos africanos livres não era, portanto, muito diferente da dos escravos. As condições de vida entre os empregados em obras públicas ou por instituições governamentais eram ainda mais precárias. Forçados a realizar trabalhos perigosos e árduos, muitos morreram antes de poder exigir sua liberdade. Aqui, Mamigonian também examina o contraponto britânico ao sistema brasileiro de subsídios trabalhistas com exemplos de africanos livres resgatados no Brasil por autoridades britânicas e levados, voluntariamente ou não, para trabalhar no Caribe. Suas experiências entre os britânicos, e a sujeição comum ao trabalho forçado sob condições exigentes dificilmente cumpriam a promessa de liberdade. Apesar de sua retórica abolicionista, os britânicos também aderiram ao uso racista do trabalho forçado como instrumento da civilização. Os impérios britânico e brasileiro continuariam a explorar a capacidade produtiva dos africanos para beneficiar economicamente seus súditos brancos.
Nos capítulos 6, 7 e 8, Mamigonian discute a lei Eusébio Queiroz de 1850 e suas conseqüências para libertar africanos e para a continuidade da escravidão. A lei afirmou o firme compromisso do governo e da justiça imperial de acabar com o comércio de escravos no Atlântico. Mas dificilmente questionou a cumplicidade do Estado e da elite com a escravidão criminal de africanos nas duas décadas anteriores (Mamigonian, 2017, p. 284). Eusébio de Queiroz e outros agentes do governo enfatizaram a intolerância judicial ao comércio ilegal de escravos depois de 1850, promovendo o esquecimento público de quaisquer atividades ilícitas anteriores à lei de 1850. Assim, condenaram milhares de africanos a um cativeiro ilegal e reforçaram o apoio do Estado à exploração de escravos. Entre 1854 e 1864, no entanto, os africanos livres continuaram submetendo suas petições de liberdade aos tribunais:Mamigonian, 2017 , p. 322-323). Além disso, suas petições revelaram seus esforços para buscar alguma autonomia, apesar do cativeiro, formando famílias, aprendendo o idioma e tornando-se economicamente ativo por direito próprio. Ironicamente, suas realizações foram usadas no tribunal como prova de que não eram africanos, mas nascidos no Brasil, justificando decisões judiciais que negavam sua liberdade legítima.
Os capítulos finais do Africanos Livres revelam os esforços que o governo fez para prender os africanos livres que tentaram buscar sua liberdade e, inversamente, a luta persistente dos africanos pela emancipação ( Mamigonian, 2017p. 360-361). Mamigonian observa, em particular, a iniciativa de criar uma lista de africanos livres que procuravam proteger os proprietários de escravos daqueles que poderiam tentar questionar a legitimidade de suas reivindicações sobre a propriedade de escravos. Ajudados por abolicionistas, os africanos livres usaram os mesmos registros para argumentar que sua chegada ao Brasil era anterior à abolição do tráfico de escravos no Atlântico. A potencial subversão de tais esforços e a disseminação de noções de liberdade africana perturbaram o estado imperial e as classes proprietárias, que temiam desordem pública e perda de controle sobre as classes trabalhadoras. A vontade política emergente de resolver o problema dos africanos livres fortaleceu os esforços abolicionistas durante os anos finais do século XIX e preparou o terreno para a abolição da escravidão como um todo ( Mamigonian, 2017p. 454)
Beatriz Mamigonian conclui seu livro lembrando aos leitores o ministro Rui Barbosa e a decisão de outro funcionário de queimar listas de escravos e outros documentos relativos à história tardia da escravidão no Brasil. Mais uma vez, procuraram o esquecimento público do passado problemático do Brasil ( Mamigonian, 2017 , p. 454-455). Sua tentativa de resgatar os pecados da nação com fogo promoveu, além disso, uma narrativa histórica sobre a abolição que enfatizava demais as ações da elite política branca e das classes proprietárias. Ao rejeitar essa narrativa e aprofundar a história desse período, Mamigonian recuperou a relevância e a liderança política de outros atores históricos, principalmente africanos.
Referências
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos Livres : a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
Mariana Dantas – Universidade de Ohio, Departamento de História. Bentley Annex 457, Athens, Ohio, 45.701, Estados Unidos. [email protected].
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 632 p. DANTAS, Mariana. Africanos Livres: Agentes da Liberdade no Brasil do Século XIX. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 65, Mai./ Ago. 2018.
Unidos perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro – VISCARDI (VH)
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Unidos perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro. Curitiba: CRV, 2017. 207 p. PINTO, Surama Conde Sá. Arquitetura do novo regime: O Federalismo brasileiro na Primeira República. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 65, Mai./ Ago. 2018.
Nas últimas décadas, a historiografia relativa à Primeira República tem sido enriquecida com diversas contribuições. A vitalidade dessa produção tem provocado importantes deslocamentos de interpretação, sobretudo no âmbito da política, permitindo melhor compreensão do federalismo brasileiro. Há três eixos de renovação. Um deles relaciona-se à revisão do papel das chamadas oligarquias dominantes – São Paulo e Minas Gerais. Foram questionadas as ideias de que a hegemonia dessas oligarquias sustentavase na preeminência da economia exportadora cafeeira e a de que a política do café com leite ditaria a orientação do governo federal. O segundo eixo destaca as dinâmicas específicas de diferentes unidades da federação e suas estratégias para ampliarem os seus espaços políticos no contexto de federalismo desigual, através de tentativas de estruturação de eixos alternativos de poder. O terceiro eixo enfatiza questões de representação, competição política, partidos e voto, desenhando um quadro mais complexo da política na Primeira República, diferente da caricatura de um sistema político marcado pela fraude, violência, clientelismo, ausência de direitos e eternização de oligarquias no poder (Ferreira; Pinto, 2017, p.429-437).
Cláudia Viscardi, professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é figura presente nesse debate. Autora de textos sobre a história política e social da Primeira República, no livro O Teatro das Oligarquias, defendeu que a estabilidade do modelo político da Primeira República foi garantida pela ausência de alianças monolíticas permanentes, fato que impediu, a um só tempo, que a hegemonia de uns fosse perpetuada e a exclusão de outros fosse definitiva (Viscardi, 2001, p.22).
Unidos Perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro, seu novo livro, é mais uma contribuição da historiadora mineira que acrescenta novas perspectivas sobre o período. Trata-se de uma adaptação da tese elaborada para a cadeira de titular da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Voltado para especialistas e estudantes de graduação, nele Viscardi retoma o tema do federalismo oligárquico para estudar a montagem do regime republicano, no período entre a propaganda republicana e o governo Campos Sales. Sua análise privilegia o âmbito da macropolítica, priorizando atores políticos envolvidos nesse processo, interesses, identidades, pensamentos e atuação. A proposta apresentada articula a perspectiva que compreende o federalismo a partir da lógica de interesses dos estados-atores com a História Intelectual do Político.
O curioso título guarda relação direta com o tema tratado: a construção do projeto republicano na sua principal dimensão: o federalismo. Segundo a autora, esse projeto representava uma ruptura com o passado monárquico, caracterizado por um Estado centralizado em torno do Imperador, e preconizava a descentralização, a autonomia das antigas províncias, optando pelo conflito no lugar do consenso (Viscardi, 2017, p.22).
O conceito de cultura política (Berstein, 1992; Cefai, 2001) é um dos principais referenciais de análise. Ao instrumentalizá-lo, Viscardi prioriza a dimensão do discurso, não enfatizando seus demais componentes, para compreender as mudanças ocorridas no país na virada do século XIX para o XX, quando, segundo a autora, teria se consolidado uma cultura política republicana.
Dividido em cinco capítulos, o livro aborda o movimento republicano em uma de suas dimensões (a dos manifestos da propaganda); a normatização constitucional do novo regime (através da análise comparativa das Constituições estaduais e federal); limites da participação política e da cidadania, tema explorado superficialmente pela autora com base em literatura bastante conhecida; as concepções políticas e a ação de Campos Sales, objeto de análise dos dois últimos capítulos, nos quais figura sua maior contribuição.
São três os principais argumentos defendidos pela autora. O primeiro é o de que a normatização do novo regime articulou os compromissos do movimento republicano com os valores compartilhados por seus autores, que incluíam a desvalorização do povo, uma democracia pouco inclusiva, o falseamento da representação, pela construção de um federalismo desigual, e uma cidadania limitada a poucos homens letrados. O segundo é o de que o federalismo brasileiro foi fundamentado em relação direta com os estados, viabilizando a representação dos interesses privados via intermediação dos chefes locais. O último é o de que a chamada política dos estados de Campos Sales limitou-se a resolver os problemas de sua gestão. Na fórmula adotada no período, que implicou em meios de conviver com as dissidências sem colocar em risco a governabilidade, foram menos importantes as reformas regimentais relativas à última fase de depuração das candidaturas ao Parlamento. Os instrumentos mais efetivos foram a redução dos atores políticos através do voto literário, as limitações impostas à monopolização do poder e o desenho de um mercado político com algum grau de competição (Viscardi, 2017, p.190-191).
Baseada em fontes variadas (manifestos republicanos, as Cartas estaduais e federal, o discurso de campanha eleitoral de Campos Sales e a autobiografia do ex-presidente) e em diferentes metodologias (a prosopografia – superficialmente realizada-, a análise de discursos políticos – amparada em instrumentais da vertente britânica da História dos Conceitos – e o método comparativo), os dados apresentados aproximam-se de muitas das análises de Hilda Sábato sobre a construção da cidadania em países hispano-americanos no século XIX (Sábato, 2001, p.1293, 1297).
A despeito da bibliografia utilizada, o livro apresenta ausências importantes (Holanda, 2009), sobretudo relativas ao movimento republicano, às Constituições estaduais (Ferreira, 1989; 1994), à política no Distrito Federal e às eleições (Pinto, 2011; Souza, 2013). Isso faz com que algumas afirmações feitas já tenham sido objeto de questionamentos, como a ideia de que o prefeito do Distrito Federal possuía poderes discricionários na política carioca (Pinto, 2011). A obra prescinde também de maior sistematização dos dados apresentados.
Da mesma forma, a História Intelectual do Político proposta poderia ter sido enriquecida com a incorporação dos léxicos empregados pela imprensa e por pensadores políticos, pois há evidente defasagem entre as definições de conceitos encontrados nos dicionários (fonte priorizada pela autora) e a dinâmica dos conceitos no embate político. Esses elementos, contudo, não comprometem a iniciativa.
No momento em a República brasileira está prestes a completar 130 anos, Unidos perderemos convida os leitores a repensar os primórdios do regime e a superar esquematismos de longa data difundidos em livros didáticos. Seu mérito é acrescentar novos itens na agenda de estudos sobre a Primeira República.
Referências
BERSTEIN, Serge. L’Historien et la culture politique. Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n. 35, juil/sep. 1992. [ Links ]
CEFAI, Daniel. Cultures Politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 2001. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Moraes (coord.). A República na Velha Província. Rio de Janeiro: Ed. Rio Fundo, 1989. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Moraes. Em Busca da Idade do Ouro: As elites políticas fluminenses na Primeira República. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Moraes e PINTO, Surama Conde Sá. Estados e oligarquias na Primeira República: um balanço das principais tendências historiográficas. Revista Tempo, Niterói, vol. 23, n. 3, set./dez., 2017. [ Links ]
HOLANDA, Cristina Buarque de. Modos de Representação Política. O experimento da Primeira República. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2009. [ Links ]
SÁBATO, Hilda. On political citizenship in the Nineteenth-century Latin América. The American Historical Review, vol. 106, n. 4, oct., 2001. [ Links ]
SOUZA, Wlaumir Doniset de. Democracia Bandeirante: Distritos eleitorais e eleições no Império e na Primeira República. Jundiaí: Paco Editorial, 2013. [ Links ]
PINTO, Surama Conde Sá. Só para Iniciados: O jogo político na antiga Capital Federal. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Mauad X/ FAPERJ, 2011. [ Links ]
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. O Teatro das Oligarquias: Uma revisão da política do café com leite. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. [ Links ]
Surama Conde Sá Pinto – Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Av. Governador Roberto Silveira, s/n. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 26.020-740, Brasil. [email protected]
Nas Teias do Império: Poder e Propriedades no Brasil Oitocentista / Cantareira / 2018
Depois de um longo período de descrédito, os estudos em História Política voltaram ao centro dos debates historiográficos. Graças a um importante movimento de renovação ocorrido nas últimas décadas – como a descoberta e utilização de novas fontes e objetos de estudo, assim como de novas abordagens teórico-metodológicas–, pesquisas políticas antes consideradas esgotadas ganharam um novo fôlego. Um exemplo disso são os diversos trabalhos que propõem um novo olhar sobre o processo de construção do Estado e da Nação brasileira ao longo de todo o século XIX, nos mostrando que, apesar de clássico, o tema em questão é ainda um terreno fértil.
Profundamente relacionado ao contexto econômico-social em suas múltiplas facetas, o tradicional estudo das ideias, do pensamento e das práticas políticas foi revolucionado. Tanto as doutrinas – o liberalismo e o conservadorismo –, quanto as disputas partidárias que as materializavam em projetos de governo ganharam novas dimensões ao serem vinculadas às manifestações culturais e religiosas; aos diversos movimentos sociais que demandavam direitos; aos interesses ligados ao escravismo, a posse de terras e a modernização econômica; a preocupação de forjar uma história nacional no qual o progresso e a civilidade fossem possíveis; e a uma ação diplomática que lutava pela manutenção da unidade e das fronteiras políticas brasileiras.
Nesta perspectiva, cremos que os elementos supracitados orbitam em duas grandes temáticas que particularizam o século XIX: a liberdade e a propriedade. Como sabemos, essa centúria foi marcada pela disputa entre duas linguagens políticas – uma ligada ao Antigo Regime e a outra ao Iluminismo. Este embate marcou a construção de uma nova concepção de mundo, a Modernidade, que estava completamente entrelaçada ao surgimento do liberalismo. Impulsionadas por essas novas ideias, várias regiões do mundo iniciaram um processo de transformação de suas estruturas políticas, econômicas e sociais, o que gerou impactos, interpretações e usos variados.
Não à toa, é justamente no decorrer desse mesmo século que a maior parte das ex-colônias americanas iniciaram seu processo de emancipação política e, consequentemente, a construção dos seus Estados e de suas Nações. Segundo Hespanha, alguns elementos aproximam estes diferentes processos, como o surgimento de grandes Estados bem como de suas gestões, que envolviam a administração de grandes territórios, a implantação de uma nova soberania e de uma nova organização da vida política baseada nas ideias de cidadania e de direitos3.
No caso brasileiro não foi diferente. A independência do Brasil e a posterior formação de suas instituições políticas e de seus cidadãos conciliaram as ideias liberais modernas com a persistência de antigas práticas do Antigo Regime. Nesse sentido, apesar do liberalismo ser central em todo este processo, ele foi apropriado e transformado para adaptar-se às características sociais brasileiras, cujas bases eram a escravidão, o patriarcalismo e o clientelismo.
Se tais questões de âmbito político e social demarcaram – e seguem a demarcar – diversos estudos acerca do oitocentos no Brasil, não diferente foram aqueles que alçaram a propriedade como fio-condutor. Terras, escravos e direitos são algumas das assertivas que norteiam as diversas leituras sobre as dimensões da propriedade no país.
Como produto histórico, a propriedade é marcada por diversas percepções e distintas análises, muito embora seja vista, ainda hoje, como algo natural e, consequentemente, a-histórico. Na contramão dessa interpretação estão autores nacionais e estrangeiros que defendem uma acepção mais plural para o conceito e para as experiências históricas a ela vinculadas, consagrando o que pode ser definido como uma História Social das Propriedades.
No exterior, destacam-se as clássicas obras de E. P. Thompson [4] que, atualmente, se somam às ilações de Rui Santos e Rosa Congost [5], como também as da economista Elionor Ostrom [6]. Em relação ao Brasil, verificamos uma gama de historiadores e cientistas sociais que se debruçaram – e debruçam – sobre o tema.
Em O Rural à la gauche, a historiadora Márcia Motta resgatou as principais interpretações da esquerda sobre o mundo rural brasileiro na segunda metade do século XX. De Nelson Werneck Sodré à Maria Yedda Linhares, Motta apresentou quais eram as concepções sobre o campesinato e os latifúndios para os autores e, de forma particular, demonstrou as razões que levaram à criação da linha de História Agrária no país, como também as novas marcas interpretativas que surgiram a partir dela [7].
Estruturado em três grandes blocos, a 28ª. edição da Revista Cantareira é resultado de um conjunto de investigações recebidas de diversas partes do Brasil e do exterior. No dossiê temático, composto por dez artigos, são propostas reflexões sobre o poder e as propriedades no oitocentos, com enfoque nas relações de dominação e de conflito que demarcam este momento da história nacional. Na seção de artigos livres encontramos uma série de trabalhos originais de graduandos e pós-graduandos de diversas instituições do país, complementadas com as transcrições e resenhas submetidas e aprovadas. A entrevista desta edição foi realizada com a Prof.ª. Dr.ª. Márcia Motta, considerada a maior especialista sobre propriedades no Brasil e que coordena, atualmente, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia História Social das Propriedades e Direitos de Acesso.
O dossiê temático é iniciado pela discussão do artigo, Ânderson Schmitt. Em “Se não cuidarmos em conservar as estâncias, donde e como teremos o necessário para sustentar a guerra?”: as propriedades embargadas durante a Guerra dos Farrapos (1835-1845), o autor analisou o tratamento dado às propriedades rurais durante a Guerra dos Farrapos, entre os anos de 1835 e 1845 no Rio Grande do Sul. Desnudou, a partir da documentação contemporânea ao conflito, a ação dos grupos revoltosos em um contexto de ação restrita. Ainda em relação à atual região do Sul do país escreveu Vinícius de Assis. Baseado em inventários post-mortem e outras fontes, seu artigo intitulado Do porto às casas de sobrado: cultura material e riqueza nos inventários de negociantes (Paranaguá / PR, século XIX) descortinou a materialidade presente no cotidiano dos comerciantes de grosso trato e fazendeiros do Paranaguá.
A freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal foi a região investigada por Jessica Alves. Em Donas e Foreiras: Senhoras proprietárias de escravos e terras na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal de Itaguaí em meados do século XIX, a pesquisadora resgatou a atuação de mulheres proprietárias de terras e escravos nesta localidade, ao demarcar suas estratégias para manutenção ou ampliação de seus patrimônios.
As relações de poder são resgatadas no trabalho de Flávia Darossi. Em “Benefícios reais da Lei de Terras”: uma releitura política com base na experiência do termo de Lages em Santa Catarina, a investigadora esmiuçou a forma como o Estado Imperial adequou o seu projeto centralizador em correspondência com as elites regionais e locais a partir da Lei de Terras. Como forma de sustentar sua hipótese, tomou como objeto de estudo a municipalidade de Lages, Santa Catarina. Eder de Carvalho e Carlos Gileno também desnudam debates característicos do período de consolidação do Estado brasileiro em Poder Moderador e a responsabilidade jurídica e política: polêmica constitucional da segunda metade do século XIX, mas a partir de outra questão chave: a polêmica constitucional que envolvia o Poder Moderador.
Mirian de Cristo, autora de A Elite Imperial do Porto das Caixas: Saquaremas no poder, se preocupou em relatar a influência política e econômica da família Rodrigues Torres na Freguesia de Nossa Senhora Imaculada Conceição do Porto das Caixas, como também no que concerne ao Império brasileiro. Thomaz Leite, posteriormente, sintetizou suas ilações em “Resta só o Brasil; resta o Brasil só!”: A primeira proposta de emancipação do ventre escravo, sua recepção e discussão no Conselho de Estado Imperial (1866-1868). Em seu texto discutiu a liberdade de ventre a partir do projeto escrito pelo conselheiro de Estado Pimenta Bueno e resgatou as querelas que constituíram os debates abolicionistas.
À luz dos embates periodísticos escreveu Ana Elisa Arêdes o artigo Liberdade e acesso à terra: debates acerca da colônia de libertos de Cantagallo, Paraíba do Sul (1882- 1888). Fundamentada na percepção da imprensa como uma ferramenta de luta política, a pesquisadora recuperou o caso da colônia de libertos de Cantagallo, Paraíba do Sul, para destrinchar as diferentes percepções sobre a abolição, manutenção da escravidão e trabalho nas lavouras.
Para finalizar o dossiê contamos com as instigantes contribuições de Pedro Parga e Rachel Lima. Em A experimentação literária de Machado de Assis e o tema da propriedade da terra no XIX, Pedro Parga refletiu sobre a presença temática do conflito de terras e da crítica à visão senhorial sobre a propriedade territorial em duas obras machadianas. Rachel Lima em Senhores, possuidores e outras coisas mais: As múltiplas funções dos proprietários do rural carioca no oitocentos, se preocupou em discutir as diversas funções dos proprietários de terras do rural carioca, especificamente da freguesia de Inhaúma, para demarcar a posição privilegiada que lhes eram outorgadas em virtude dessa variedade de atribuições.
Em conclusão, esperamos que o leitor se beneficie dos diálogos propostos neste dossiê, ao adensar cada dia mais as reflexões que norteiam a questão do poder e das propriedades no oitocentos.
Boa Leitura!
Notas
- HESPANHA, Antônio Manuel. “Pequenas repúblicas, grandes estados. Problemas de organização política entre antigo regime e liberalismo” In.: JANCSÓN, István (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: UCITEC; Jundiaí: FAPESP, 2003.
- THOMPSON, E. P. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia da Letras, 1998; THOMPSON, E. P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- CONGOST Rosa, Selman, Jorge & Santos, Rui.”Property Rights in Land: institutional innovations, social appropriations, And path dependence. Keynote” in: Presented at the XVIth World Economic History Congress, 9-13 July 2012, Stellenbosch University,South Africa.
- OSTROM, Elinor, HESS, Charlotte. “Private and common property rights” In: BOUCKAERT, Boudewijn (ed). Property Law and Economics. Cheltenham, UK / Northampton, MA, USA: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 2010; OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.
- MOTTA, Márcia. O Rural à la gauche: campesinato e latifúndio nas interpretações de esquerda (1955-1996). Niterói: EdUFF, 2014. Mais recentemente, no âmbito do INCT-Proprietas, reúnem-se pesquisadores de múltiplas áreas do conhecimento com o objetivo de analisar criticamente a propriedade enquanto instituição social.
Alan Dutra Cardoso – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social na Universidade Federal Fluminense e graduado (bacharelado e licenciado) pela mesma instituição. Desenvolve projeto de pesquisa sob orientação da Profª. Drª. Márcia Maria Menendes Motta, atuando principalmente nos seguintes temas: História Social das Propriedades, Fronteiras Políticas, Segundo Reinado do Brasil Império, República de Nova Granada / República de Colômbia (séc. XIX), Patrimônio material e Educação. Foi intercambista na Universidad del Rosario, Colômbia, sendo contemplado com o Edital Mobilidade para América Latina UFF / DRI 18 / 2013. Integra a Rede Proprietas, hoje INCT – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, projeto internacional: História Social das Propriedades e Direitos de Acesso (Disponível em: www.proprietas.com.br). É membro da comissão editorial da Revista Cantareira (www.historia.uff.br / cantareira) e bolsista do CNPq. E-mail: [email protected]
Luaia da Silva Rodrigues – Doutoranda e bolsista Capes pelo programa de Pós-Graduação de História da UFF. Possui graduação e mestrado pela mesma universidade. Especialista em História do Brasil Império, com ênfase nos seguintes temas: regências, Regresso, conservadorismo, liberalismo, Bernardo Pereira de Vasconcelos, identidades e partidos políticos. Atualmente é pesquisadora vinculada aos seguintes laboratórios de pesquisa: CEO, NEMIC e Primeiro reinado em Revisão e professora do pré vestibular social do Estado do Rio de Janeiro (PVS). E-mail: [email protected]
CARDOSO, Alan Dutra; RODRIGUES, Luaia da Silva. Apresentação. Revista Cantareira, Niterói- RJ, n.28, jan / jun, 2018. Acessar publicação original [DR]
This Vast Southern Empire: Slaveholders at the Helm of American Foreign Policy – KARP (PR-RDCDH)
KARP, M. .This Vast Southern Empire: Slaveholders at the Helm of American Foreign Policy. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 360p. Resenha de: CAPRICE, K. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p. 187-188, 2018.
In This Vast Southern Empire, Matthew Karp steps back from the previous historiography of the slaveholding antebellum South, a historiography that situates slaveholders as antiquated and inward looking, and, instead, Karp sees a slaveholding Southern elite looking outward in an attempt to enshrine their vision of modernity: a world economy run on slave labor. Karp bookends his study with the 1833 British emancipation of the West Indies, seen by Southerners as a global threat to the proliferation of slavery, and the creation and ultimate failure of the Confederate States of America, which Karp deems the “boldest foreign policy project of all” (p. 2). In this fresh take, Karp argues that, from 1833 to 1861, Southern elites eagerly utilized Federal power to secure the safety of slavery, not just in the United States, but throughout the Western Hemisphere.
By looking globally, Karp provides new and broader understandings to events previously seen as having only insular motivations. American interest in Cuba was less about the expansion of American slavery, Karp argues, and more about blocking the expansion of British anti-slavery, what Karp brilliantly terms as the “nineteenth-century domino theory” (p. 70). In a similar vein, Karp shows that Polk’s decision to push for war with Mexico, while pursuing peace with Great Britain over the Oregon question, was at least partially due to the fact that war with Mexico would not put the institution of slavery at risk. Insights from Karp’s global perspective do not end with the antebellum period, but extend into the policies of the Confederate government. As Karp explains, the immediate Confederate abandonment of the states’ rights platform was presaged by the Southern embrace of Federal power during their antebellum reign over American foreign policy. Through his argument, Karp provides yet another nail in the coffin which so securely holds the myth that the Civil War was fought for states’ rights rather than slavery.
In the epilogue, Karp closes by considering the imperialism of the 1890s as merely a continuation of the Southern elite’s original vision. Karp’s assessment, one deserving of far greater treatment, provides a steady timeline of white supremacy, framed originally as pro-slavery, and its position as the driver of American foreign policy. Previous views of the antebellum South as outmoded and inflexible, Karp makes astoundingly clear, dangerously underestimate a sectionalist dream of modernity with global reach. Along with a new understanding of the South, Karp also reframes the antebellum period, providing a transtemporal reassessment of the period typically considered “the coming of the Civil War.” Karp reimagines the early nineteenth century South as a growing slave empire from 1833 onward, an empire which required Republican success in politics and Union victory in war to overthrow, an assessment that is as imaginative as it is successful.
In the field of Civil War studies, which can at times view national borders as opaque and impassable, Karp’s work may be seen as so concerned with looking outward that it obscures the internal, but such criticism would be short sighted. Karp is adding to a historiography which is more than adequately saturated with examinations of the domestic struggles that eventually brought about war. David M. Potter’s 1977 The Impending Crisis, for example, is widely considered a masterwork on the coming of the Civil War, and it was certainly not the first or last published on the subject. Karp’s voice is a welcome addition, and his arguments should help convince many in the field to look beyond the black box in which we occasionally place ourselves while studying the Civil War.
Kevin Caprice – Purdue University.
[IF]Mercados minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890) | Juliana Barreto Farias
O livro de Juliana Barreto Farias sobre os africanos de nação “mina” na praça do mercado da Praia do Peixe (ou da Candelária) apresenta um estudo histórico sistemático sobre o principal mercado público do Rio de Janeiro no século XIX, assim como sobre as famosas quitandeiras que nele e em torno dele se ocupavam da venda de gêneros alimentícios. Em um momento em que diversas pesquisas começam a tratar das praças de mercados e de quitandeiras em outros períodos e regiões, sua publicação se mostra bem vinda, e abre possibilidades de diálogo mais amplo entre tradições historiográficas diferentes. Leia Mais
Guerras de papel: Francisco de Paula Santander e Simón Bolívar, das peças autobiográficas à relação epistolar (1826-1837) | FAbiana de Souza Fredrigo
Com a passagem de dois séculos desde a deflagração, em 1810, dos processos históricos que se estenderam até 1824 e culminaram na emancipação das colônias hispano-americanas, vêm ocorrendo em vários países da América Latina “celebrações” do bicentenário de suas respectivas independências políticas. Por meio dessas efemérides, os calendários acabam nos impondo, periodicamente, seus temas e fatos históricos de forma implacável, fornecendo sempre, felizmente, a possibilidade de um novo olhar para um “mesmo” passado. Na esteira dessas celebrações, o grande público de cada uma dessas nações tem tido e terá à disposição, certamente, um acesso maior às sínteses históricas, cronológicas e factuais a respeito das independências nacionais. Surge, assim, a oportunidade, embora menor do que se poderia esperar, para o necessário debate sobre o significado, em pleno século XXI, desses acontecimentos que marcaram indelevelmente os perfis, os limites e as possibilidades de novos Estados nacionais latino-americanos que começariam a ser formados a partir das primeiras décadas do século XIX, quando a própria ideia de América Latina sequer existia. Leia Mais
O longo século XIX e as estratégias em economia, política e sociabilidades / Clio – Revista de Pesquisa Histórica / 2018
A CLIO: Revista de Pesquisa Histórica tem uma longa tradição na publicação de estudos sobre os oitocentos, e recebemos sempre artigos livres sobre o período. Neste volume, apresentamos aos leitores alguns artigos recebidos que tem em comum o estudo do século XIX, abordando estudos sobre economia e crédito, sobre política liberal e sobre sociabilidades. De uma forma não tão sutil, o leitor verá que os estudos se imbricam em várias questões, como a escravidão e a discussão sobre o trabalho, as estratégias do mercado para conseguir capitais que financiassem atividades econômicas para além da economia de exportação, tudo isso permeado pela discussão política na qual o liberalismo aparece como matriz ideológica, apesar da diversidade de posições que poderia encetar.
Nesse sentido, apresentamos aos leitores o artigo de Andréa Lisly Gonçalves, As “várias Independências”: a contrarrevolução em Portugal e em Pernambuco e os conflitos antilusitanos no período do constitucionalismo (1821-1824), no qual objetiva refletir sobre a complexidade das opções políticas, na província de Pernambuco, tomando como recorte temporal a conjuntura da Independência do Brasil. Andrea argumenta que as ações e debates ocorridos em Pernambuco “não se esgotam com o debate historiográfico sobre o alinhamento com Lisboa (“a outra independência”) ou com o Rio de Janeiro (“a mesma independência”)”, estimulando, assim, os estudos e pesquisas para compreender como os atores políticos definem suas estratégias a partir de conjuntura e interesses específicos e locais.
O artigo de Leonardo Milanez de Lima e Leandro Renato Leite Marcondes, “Capital nativo e estruturação produtiva na praça do Recife: crédito hipotecário entre 1865 e 1914”, tem como ponto de partida a questão sobre como se financiavam as atividadeseconômicas no Recife frente à diminuição do ritmo de crescimento da economia pernambucana, com a perda do mercado consumidor de açúcar e algodão. Ao compulsarem uma vasta documentação sobre contratos de hipoteca registrados em cartórios do Recife, buscam compreender a dinâmica e as características do crédito hipotecário recifense.
O artigo demonstra que o crédito foi disponibilizado majoritariamente a partir de poupanças nativas, que deram suporte à expansão da rede de serviços públicos da cidade, mantiveram o funcionamento do comércio e financiaram indústrias. A mesma questão foi proposta por Vitória Schettini de Andrade, em seu artigo, “A alocação da riqueza na zona da mata mineira. São Paulo do Muriahé, 1846-1888.”. A fim de entender essa região de forma mais complexa, o artigo objetiva analisar a alocação da riqueza produzida em São Paulo do Muriahé, durante meados a finais do século XIX, momento em que a autora constata na documentação consultada, principalmente inventários, um crescimento econômico, baseado, sobretudo na produção de gêneros agrícolas, como milho, cana de açúcar e mais tarde o café. Estes produtos foram fundamentais para o acúmulo de capital e o ingresso de Muriahé numa economia mais dinâmica. O estudo demonstra as estratégias de outras aplicações monetárias que são percebidas ao final da escravidão, o que nos projeta para uma sociedade em franca mudança e crescimento.
As estratégias também são perceptíveis no estudo de Gabriel Navarro de Barros, “Muito além do abandono: infâncias perigosas e a “justiça tutelar em Pernambuco (1888-1892).”. O estudo tem por objetivos analisar a atuação da justiça tutelar diante do universo de meninas e meninos compreendidos pelo Estado como “potencialmente perigosos”, em Pernambuco. Ao analisar as fontes jurídicas e jornais, o autor sugere uma reflexão sobre o conceito de abandono, muitas vezes aplicado de forma estratégica. Nesse sentido, o artigo permite compreender a diversidade de categorias de infantes na época, reconhecidas pela justiça e por instituições assistenciais a fim de identificar uma variedade de meninos e meninas como “riscos sociais”. Uma forma de manter controle sobre a mão de obra? Estratégias também parece ser o conceito que explica o estudo de Ipojucan Dias Campos, no artigo “Divórcio, conjugações acusatórias e laços de solidariedade (Belém, 1895-1900).”. O autor demonstra como laços de solidariedade e de conjugações acusatórias, ao analisar processos de divórcio em Belém, foram estratégias centrais nessas ações. As reflexões concentraram-se em descortinar como pessoas próximas aos divorciandos se posicionavam no seio dos desarranjos conjugais, formando laços de solidariedade e, ao mesmo tempo, corroborando à formação de conjugações acusatórias. Assim sendo, amigos, parentes, vizinhos foram convidados, recorrentemente, a darem suas versões a respeito da vida a dois de seus conhecidos.
Uma pequena amostra da complexidade que perpassa os oitocentos, e que não deixam de instigar novas pesquisas.
Isabel Guillen – Editora da Revista. Professora do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: [email protected]
Augusto Neves – Vice-editor da Revista. Professor da Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: [email protected]
GUILLEN, Isabel; NEVES, Augusto. Apresentação. CLIO – Revista de pesquisa histórica, Recife, v.36, n.1, jan / jun, 2018. Acessar publicação original [DR]
300 años: masonerías y masones, 1717-2017 – ESQUIVEL et al (ME)
ESQUIVEL, Ricardo Martínez; POZUELO, Yván; ARAGÓN, Rogelio (Ed). 300 años: masonerías y masones, 1717-2017. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. Resenha de: LIRA, Salvador. El teorema de la hermandad: dissertaciones a 300 años: masonerías y masones (1717-2017). Melancolia, v. 3 p. 190-198, 2018.
- El Rizoma y el Teorema
Hace ya tiempo de la propuesta del concepto filosófico del Rizoma y la nueva muerte del Edipo ensayado por los autores Gilles Deleuze y Felix Guattari. En resumidas cuentas, la imagen del Rizoma –como superestructura o bien la ausencia y por tanto la ruptura de la estructura– se adelantó a su época, tanto por las posibles redes o interconexiones, como por sí el proceso de la comunicación-conocimiento, que desafió al concepto del árbol de Porfirio. Las nuevas tecnologías y las denominadas “redes sociales” –como si un libro o una sonata no lo fueran– hacen más asequible las posibles conexiones que componen al Rizoma, de allí su adelanto en una era actual que nos asume y abruma por la infinitud de la conexión y la huella rastreable.
En este sentido, según Deleuze y Gauttari, las sociedades se construyen por núcleos, por redes de asociación. A este conjunto le denominaron El Teorema de la Amistad, en la explicación de redes árboles o estructuras jerárquicas. Así argumentan1:
[…] “si en una sociedad dos individuos cualquiera tienen precisamente un amigo común, entonces siempre existirá un individuo que será amigo de todos los otros” (como dicen Rosenstiehl y Petitot, ¿quién es el amigo en común: “el amigo universal de esta sociedad de parejas: maestro, confesor, médico? –ideas que por otro lado no tienen nada que ver con los axiomas de partida–“, el amigo del género humano, o bien el filósofo tal y como aparece en el pensamiento clásico, incluso si representa la unidad abortada que no vale más que su propia ausencia o de su subjetividad, al decir: Yo no sé nada, No soy nada”). A este respecto los autores [Rosenstiehl y Petitot ] hablan de teoremas de dictadura. Éste es el principio de árboles raíces, o la salida, la solución de raicillas, la estructura del Poder. (Deleuze y Gauttari, 2009:50.)El Teorema de la Amistad supone entonces el encuentro Universal de los individuos, pues no debe olvidarse que tal palabra deviene de Un-Verso, es decir, un solo giro, movimiento. El asunto de este punto radica en primero la posibilidad de que alguien se sienta parte de la red, de la superestructura. Lo segundo, la suposición de quién es el “Amigo Visible-Invisible”, el principio del árbol, la raíz, esto es el Principio del Poder.
Suposiciones han sido muchas, en tanto las posibilidades filosóficas, ficcionales, imaginarias y en sí el entendimiento del poder, por cuanto se han reflexionado las Edades del Mundo. Los cortes temporales, distribuidos por una búsqueda e intención que recae en la propia historiografía universal, tienen que ver en específico con la manera de conceptualizar los modos de vida y las superestructuras.
De tal modo, cuando la estructura era el árbol de Porfirio, la voz en el imaginario colectivo era el soberano, situación radicada en el periodo de la Edad Moderna. Como posibles disgregadores lo eran piratas, bucaneros, entre otros. El siglo XX demostró que no hay individuo sin capital, el mercado tiene toda posibilidad. El siglo XXI integra una supercomunicación con alter-egos sin superposición. La ficción, que no mito, funciona como bloques en las construcciones del poder. De allí, a manera de suposición, los juicios y chivos expiatorios al creador del Libro de Caras o el señalamiento político de La mafia del Poder.
El siglo XIX asumió el fin de las estructuras “absolutistas” y dio paso a las superestructuras construidas por la democracia, término también resemantizado. Con el todavía cariz de la emblemática y sus raíces herméticas y neoplatónicas, fue una asociación, asumida por sí y por otros de Liberal, la que ocupó ese rango de la estructura del poder: la Masonería como red, el Teorema de la Hermandad-Amistad.
Más allá de las posibles ideas de dominación, comprobadas o no, la masonería como organización fue la primera superestructura en modelo de Rizoma, que dio la impresión de unidad universal, al menos en ambos lados trasatlánticos del Occidente. Si alguien es amigo de alguien más, en las múltiples redes de la teoría de Deleuze y Gauttari, la masonería bajo el principio de Fraternidad otorgó en la impresión la pertenencia de una red superior. No era es necesario el Reconocimiento o en sus términos Regularidad, lo que importa es la pertenencia.
De allí, las ficciones en torno a la red y a la estructura han estados ligadas en los propios y extraños, afines y detractores. La historiografía en torno a la masonería es diversa, con altibajos. Tan disímil como la ya nueva forma de enunciarla en plural, Masonerías, debido a sus múltiples acciones y formulaciones. Ninguna superestructura ha durado más tiempo en el espacio común del diálogo como otra, incluso en los tiempos actuales tan vertiginosos, ni mucho menos con discursos que aún legitiman prácticas, para bien o para mal, en la formación de producciones.
Ahí su singular naturaleza. Ahí, la base del Teorema de la Hermanad.
- Estudiar la Estructura, 300 años: Masonerías y Masones
300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) es un conjunto de estudios, reunidos en cinco tomos temáticos, que tiene como intención el análisis, la reflexión y la presentación de estudios sobre fenómenos culturales, sociales, políticos y artísticos bajo el cariz temático de la Francmasonería. No se trata en sí de un estudio unificado, por el contrario, es, si se permite la metáfora, un abanico de cinco terminales, de los cuales cada uno abre otras múltiples posibilidades.
Prudente es abogar la riqueza metodológica con que los autores recogieron las obras que componen el compendio de volúmenes. Se parte de una distinción con respecto a la historiografía masónica, entre los pro y anti masones que han formulado un compendio de historias –las más ficcionales– sin rigor. De allí que el libro más allá de ser un compendio de estudios es en sí un proceso de la Masonología, con las posibilidades que el término acuñado ya hace tiempo conviene.
Además, reafirma un quehacer con respecto al entendimiento y construcción de las Historiografías. De hecho, ese es el rasgo fundamental inicial con el que los editores de los volúmenes partieron: la firme convicción de formar procesos historiográficos, dependiendo de su perspectiva teórica como la micro historia, la interconexión de Carmagnani, la Historia Cultural, la Historia Política, la Historia con profundidad de Estudios de Género o la Historia del Arte.
Los cinco volúmenes son una reunión de la actividad de la red de investigadores agrupados o con algún tipo de relación en torno a la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC) y también cabe decirse del colectivo de trabajo en relación al Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME). La mayoría de los autores que presentan en el volumen actual, su desarrollo académico y producción de investigación puede comprobarse en las múltiples ediciones y publicaciones promovidas por los centros y redes antedichos.
El alcance temporal pudiera acaso servir de conmemoración al inicio de la Masonería especulativa en 1717. Los propios editores derogan el encasillamiento, pues su visión fundamental es alejarse de la Historia de Bronce o de Lata que ha envuelto a la producción historiográfica. Es por tanto, también un ejercicio metodológico ejemplar, pues el oficio de historiar en sumas cuentas no se queda en las primeras tientas en las ideas de las fuentes. Se trata de contrastar, medir, alimentar, proporcionar y comparar.
Los cinco volúmenes que componen la serie son los siguientes:
- Migraciones.
- Silencios.
III. Artes.
- Exclusión.
- Cosmopolitismo.
Cabe resaltar que cada tomo tiene una independencia con respecto al concierto en sí del conjunto de libros. De hecho, como se ha indicado antes, se nota el tipo de lecturas y trabajos que se han alimentado alrededor de REMLAC y el CEMEH.
Por tal motivo, el tomo I “Silencios” es el que presenta mayores alcances, solidez de las fuentes e interconexión de perspectivas y datos. En este se retoman las ideas de imperialismo, modernidad, utopía, sociabilidad y “mito” (que en realidad es ficción, pues el contenido mítico refiere a una práctica simbólica, con tintes verificables en el imaginario colectivo, no es por tanto sinónimo de mentira). Asedios entre Europa y América, enmarcados por fechas ahora conmemorativas, siendo en sí el conjunto de procesos históricos de los cuales la red y el Teorema se ponen en juego.
El estudio de la masonería ha tenido que ver con el estudio de las Independencias en Latinoamérica. Si de entender procesos históricos se trata, es evidente que las conmemoraciones de los Bicentenarios (en todos los países latinoamericanos) otorgaron posibilidades de reflexión. De esto también fueron parte los estudios en torno a las Masonerías, de allí que se pueda notar una generación de investigadores, quienes todos ellos alcanzaron posgrados entre el 2005-2017 con temas de masonería y atendiendo a su estudio con miradas teóricas más frescas, acordes a las generaciones de Historiadores del siglo XXI. Dicho sea de paso, con una generación previa apuntalada por investigadores como José Ferrer Benimeli o Carlos Stein quienes abrieron el abanico de posibilidades para estudiar este fenómeno con rigor investigativo, sin que las vísceras y su sangre-bilis fueran la tinta del historiador.
Por esto es significativo que sea José Ferrer Benimeli quien abra el volumen con el estudio en torno a las sociabilidades desde los conflictos hispánicos en 1808 hasta la consumación independentista del Imperio del Anáhuac. Sus vaivenes y fuentes trastocan diferentes perspectivas. Es interesante el rescate de la Oda Masónica, de la que comenta el autor es de pertenencia a una logia española afrancesada en 1812. Esto porque se nota una adaptación de procesos y medios a modos hispánicos, la oda que se propone está en heptasílabos con versos pareados átonos, una forma por demás hispánica del Antiguo Régimen. Entonces, el mismo verso da cuenta del proceso de recepción y fortuna (Ferrer Benimeli, 2017a).
El tomo uno va desde este punto histórico, trastoca latitudes de todo el continente americano y cierra con la presencia “civil” en los Estados Unidos de América. Hay una cuestión que quizá sea posible para un estudio global –pues es sabido que Ricardo Martínez Esquivel lo ha trabajado desde Centroamérica, el Pacífico y Oriente–, las redes francmasónicas con paso del mar.
El tomo II “Silencios” y el Tomo V “Cosmopolitismos” son la muestra de una serie de trabajos “novedosos” por cuanto las temáticas que se han podido abrir con respecto a los primeros estudios de este milenio. Del Tomo II, “Silencios”, el objetivo es estudiar el discurso antimasónico, una veta relevante en cuanto a que también es un fenómeno histórico, desde sus fuentes, hasta sus soportes. Es quizá la visión de esta nueva historiografía que se ha propuesto tal generación. Así argumenta Rogelio Aragón:
En fechas recientes los historiadores profesionales han aprendido a revalorar esos textos de temática histórica, escritos más con pasión que con erudición, para a partir de ellos reconstruir el proceso mediante el cual ciertos sectores y grupos han interpretado y explicado la historia. –y, sin temor a equivocarme, el tema de la masonería es probablemente el que más ha inspirado a escritores de todas las tendencias a abordarlo con pasión desmedida, a favor y en contra, a través de los medios disponibles según la época: impresos y electrónicos, virtuales y físicos (2017b:6).
Los vaivenes de María Eugenia Vázquez Semanedi otorgan una visión en el debate de las ideas y también de los estereotipos, como sujetos históricos (2017b). La sola discusión ya supone, aunque el interlocutor no tenga ni idea de las bases epistemológicas, el discurso programable del fondo y la forma.
Del tomo V, “Cosmopolitismo”, la intención es entregar un perfil abierto. Se trata en sí del estudio de los productos de la red. Por ello su reunión quizá con el único tema y el juicio. Por ejemplo, aún quedan pendientes los estudios de rituales funerarios de la masonería “global” y unipersonal, así como una historia comparada. El texto de Jeffrey Tyssens con la conmemoración del rey Leopoldo de Sajonia es singular al momento de las conmemoraciones fúnebres de otros soberanos europeos y americanos (2017e). Entonces, desde sus propias bases simbólicas, se propicia que la Masonería no es una, que el símbolo es interpretado en varios sentidos y que incluso la captación de “Hermanos” no siempre ha tenido un proceso igual. Son por ello el caso de los proyectos, de la globalización y la regionalización con sus fuertes tensiones.
El tomo IV, “Exclusión” si bien lo comentan los mismos editores busca tener una continuidad temática con respecto a los Estudios de Género y la Masonería, aunque con ciertos vacíos. Esto es porque el estudio que se presenta en este tema apenas se está abriendo, con pasos muy sólidos. La historia de la masonería femenina en largo aliento aún no ha sido abordada. Lo interesante es entender cómo esta idea de la masonería femenina no siempre estuvo relacionada o detrás de los movimientos feministas, sobretodo en la participación política. El trabajo de Julio Martínez García sobre la prensa, la mujer y la masonería en el siglo XIX y XX muestran tal desarticulación de ideas, a priori atenidas a un solo proceso.
Más aún, el caso del siglo XX es enigmático en esta cuestión. En el norte de México, y en las perspectivas de la microhistoria, en Zacatecas, los grupos de participación femenina en los sesenta y setenta, que ocuparon puestos de elección popular, fueron en sí las fundadoras y proclives de las logias femeninas de los noventa, esto es una conformación a la inversa de lo que podría alguien suponer. Proceso por cierto aún por estudiarse.
El tomo III, “Artes”, es quizá la que ofrece una serie de balances claroscuros. Sí se encuentran las canciones y la música, relevante en cualquier ritual de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. También la literatura, sobre todo por el Estado de la Cuestión que ofrece Ferrer Benimeli sobre los estudios filológicos y la masonería, así como el análisis de algunas novelas con ciertos íconos de la fraternidad. Del ensayo de Ferrer Benimeli, viene ad hoc mencionar una tipología de estudio:
- Literatos de renombre que al mismo tiempo fueron masones pero que no reflejan directamente su compromiso con la masonería en sus escritos literarios.
- Masones que sí manifiestan su dualismo masónico-literario.
- Estudios críticos sobre dichos autores y sus obras.
- Autores no masones que aluden a la masonería en sus obras y que incluso la elevan a categoría de protagonista. (2017c:128.)
Directriz y forma que deja abierta para un proyecto de antología, seria, de autores masones o con temática masónica en Latinoamérica y específicamente en México. Incluso en la reunión de los antimasones.
No obstante, es preciso –que no abre todo libro con tinte académico– poner en ciernes ciertos conceptos. El ensayo de David Martín López con respecto a la teorización del “estilo o estética masónica” muestra una serie de elementos que bien pueden destacar por la intención de recuperar e interpretar lo que es quizá más característico de la masonería: sus símbolos. Se coincide en la siguiente cita:
Descifrar y apreciar, por tanto, el carácter masónico en una obra de arte requiere de una serie de precauciones metodológicas y analíticas que deben partir de un profundo conocimiento y un estudio multidisciplinar. Muchas veces, desde la perspectiva del historiador, del receptor de la obra, del ciudadano y hasta incluso del masón, se ha podido pensar, subrayar de manera inexacta y apostillar una curiosa manifestación artística de cualquier índole como masónica, sin entrar en su finalidad o estética. (2017c:74.)
En efecto, no se ha generado aún una historiografía de arte con tema masónico sólida, sencillamente porque el tema la masonería ha estado en el mayor de los casos por encima de la técnica misma, a su soporte o a su motriz del autor, o bien porque la única fuente que se consulta son algunos documentos promasónicos. El problema radica en el símbolo y en la emblemática, de la que la masonería retoma sus productos, tiene ese hálito de las múltiples asociaciones. El ejemplo ya lo había puesto Umberto Eco con la sobreinterpretación que hizo en el siglo XIX sobre si comprobaba que Dante Alighieri era masón y que La Divina Comedia era el camino de paso para los grados filosóficos Rosacruces del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (1997).
Aún falta entender el puente simbólico entre la emblemática del XVIII y el XIX, de la que la masonería forja una serie de íconos con referencias de interpretación específica. Así, permitiría por ejemplo el estudio íntegro del retrato de Estado de Masones, no como una invención propia de las logias en el poder, sino como una continuidad del Retrato de Estado iniciada por Tiziano en el siglo XVI y la célebre silla bicéfala sobre la que se sitúa Carlos V.
- Las raíces del Teorema
La red que teorizaron Deleuze y Gauttari, en los procesos de la intercomunicación, han quedado abiertos y demostrados por las nuevas formas de comunicación. El Teorema de la Amistad y en sí el Teorema de la Hermandad proveen una serie de pasos en la manera no sólo de entender el presente, sino el pasado.
Los debates y diálogos que abre la serie 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) evidentemente dejan una constancia de sociabilidades en pleno debate. La cuestión del “Secreto” –también debatida en los presentes libros– ha sido argumentada como un discurso unificador que tiene un punto clímax en los procesos históricos.
Las temáticas están abiertas en el trasluz de los investigadores que, lejos ya de afianzar una filiación o desprecio, muestran un balance crítico en la medida del hombre y sus circunstancias. Las masonerías en su momento abrieron el debate, incluso sobre su funcionalidad como grupo social o red dentro de una superestructura rizomática.
Sirva entonces que esta nueva red confirme nuevos debates historiográficos continuos, saberes que entretejen las sociabilidades en apoyo de las nuevas fórmulas de interacción y sentido.
- Bibliografía
DELEUZE, G. & GAUTTARI, F. (2009). Rizoma. Ciudad de México, México. Distribuciones Fontamara, S. A.
ECO, U. (1997). Interpretación y sobreinterpretación. Madrid, España. Cambridge University Prees.
MARTÍNEZ ESQUIVEL, R., et all. (2017a). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo I. Migraciones. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017b). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo II. Silencios. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017c). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo III. Artes. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017d). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo IV. Exclusión. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
__________. (2017e). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo V. Cosmopolitismo. Ciudad de México, México. Editorial Palabra de Clío, A. C.
Notas
1 Cita que viene en Rizoma de Gilles Delleuze y Félix Gauttari. Pierre Rosenstiehl y Jean Petito (1974), “Automate asocial et systemes acentrés”, en Communications, núm, 22. Sobre el teorema de la amistad, cfr. H. S. Wilf, The Friendship Theorem in Combinatorial Mathematics, Welsh Academic Press; y sobre un teorema del mismo tipo, llamado de indecisión colectiva. (Deleuze y Gauttari, 2009:50.)
Salvador Lira – Doctorado en Estudios Novohispanos. Universidad Autónoma de Zacatecas . Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas. E-mail: [email protected]
A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet – TEIXEIRA (A)
TEIXEIRA, Maria Juliana Gambogi. A Profetisa e o Historiador: sobre A Feiticeira de Jules Michelet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. 312p. Resenha de: PEREIRA, Renato Fagundes. Por uma nova leitura de Michelet no Brasil. Antítese, v. 11, n. 22, 2018.
No século XIX, algumas obras de Jules Michelet foram trazidas ao Brasil, isso se deve, em partes, ao sucesso de L’Oiseau (1857) em Paris, (onde estimava-se a venda de trinta e três mil unidades), embora a recepção de suas ideias tenha ocorrido principalmente na segunda metade do século XX, com as primeiras traduções das obras historiográficas e teóricas do movimento dos Annales (Lucien Febvre nunca negou o legado micheletiano em suas análises). A partir da década de 1970, as ideias de Michelet chegam ou por aqueles que discutiam a história e a metodologia dos Annales ou por aqueles que começavam a refletir sobre a crise dos paradigmas na historiografia -A presença de Jules Michelet é marcante nos livros de Peter Burke e Dosse sobre os Annales, por exemplo, e nos argumentos de Paul Veyne, Michel de Certeau, Jacques Rancierè e Hayden White sobre as ficcionalidades da história.
Muitos estudos foram publicados no Brasil, os quais assinalam a importância de Jules Michelet como precursor dos Annales, da história das mulheres, do povo e da cultura, mas, raros são aqueles que se esforçaram em compreender o historiador no movimento do seu próprio pensamento, no élan-criador do conhecimento histórico e na historicidade do próprio autor. Nesse sentido, não são exageros as palavras Jean-Michel Rey sobre a modéstia do subtítulo, A feiticeira de Jules Michelet, no recém-lançado livro A profetisa e o historiador de Maria Juliana Gambogi Teixeira.
A professora da UFMG retoma sua tese doze anos depois de sua defesa, são quase três décadas dedicadas a finco à pesquisa das ideias micheletianas, e nos proporciona uma leitura singular, inaudita, principalmente, entre nós, brasileiros, acostumados com a recepção do autor da L’Histoire de France, pelos herdeiros dos Annales. Essa distinção se assenta pelo vínculo de Gambogi Teixeira com o grupo formado por Paul Viallaneix e Paule Petitier. Esses dois especialistas na obra micheletiana realizaram nas últimas décadas um trabalho árduo de muita riqueza, descobrindo e publicando textos inéditos de Michelet, organizando coletâneas, bibliotecas e seminários – podemos destacar o seminário Michelet hors fronteires e a bibliothèque Jacques Seebacher, ambos com a coordenação da professora da Universidade Diderot, Paule Petitier.
O livro é dividido em três partes com dois capítulos cada um. A parte um, O Tenebroso Mar de La Sorcière é preciosa para compreender a trama que atravessa todo o livro: A Feiticeira, obra publicada por Michelet, em 1862. Enganar-se-ia quem imaginasse encontrar nessas páginas apenas a história de um livro. Trata-se de um esforço mais profundo, na tentativa de constituir no interior da obra monumental de Jules Michelet o caminho da feitiçaria como objeto, suas inflexões e seus delineamentos, durante mais de meio século de produção do historiador. A análise do próprio texto, A Feiticeira, se apresenta, principalmente, no capítulo dois, no entanto, ela não acontece fora de um solo, como gostava de afirmar o próprio Michelet, e sim dentro de um plano de imanência micheletiano, que só é possível por uma conhecedora dos arquivos e das ideias do século XIX.
A parte dois do livro, História ao Pé da Letra, representa uma contribuição das mais notáveis: a história da historiografia e a teoria da história. Gostaríamos de insistir na novidade dessa análise no Brasil e em textos em língua portuguesa. A autora retoma o vínculo entre Michelet e Vico, explorado desde o século XIX, para romper com ele e demonstrar no contexto das ideias o débito viconiano, enfatizando as rupturas e as criações micheletianas. A questão da lenda e da cultura popular, familiar ao romantismo, emerge no capítulo final dessa parte. Particularmente, os dois capítulos que fazem parte desse recorte são os quais a pesquisadora mais me surpreende pelo gênio de articulação e uma consistência de domínio teórico, cuja finalidade é estabelecer a relação entre o lendário, a história e o ficcional em Jules Michelet.
Na última parte do livro, Verso e Avesso da Narrativa, Gambogi conduz sua reflexão da obra micheletiana no movimento de mão-dupla: da constituição do seu pensamento, no esforço intelectual de escrever história, concentra-se na Feiticeira e no fenômeno da feitiçaria e no interior das questões pessoais, políticas e sociais enfrentadas pelo autor. Não por acaso, a tese da autora sobre La Sorcière passa pela associação de Jules Michelet com a Revolução de 1848, na França: Projetando tal hipótese sobre o cenário aberto por 1848, parece-nos possível pensar que, menos do que um interesse circunscrito em catalogar e diagnosticar o destino pontual dos movimentos revoltosos, o pensamento de Michelet tenha se voltado para, em La Sorcière para o que sempre fora seu centro: a condição de inteligibilidade da história moderna. Já há muito, o historiador fincara essa condição num campo de entendimento em que se conflitam dois princípios diversos, porém imbricados em seu destino: o princípio da Revolução e o princípio do cristianismo (p.203).
Renato Fagundes Pereira – Professor do Curso de História da Universidade Estadual de Goiás – UEG. -E-mail: [email protected].
“As gentes no Atlântico”: biografias e histórias conectadas (séculos XVII a XIX) / Revista de História da UEG / 2018
Lançada em 2013, a coletêna The Sea: Thalassography and Historiography (2013), organizada por Peter Miller, numa perspectiva ampla e metodológica, tenta compreender exatamente o desafio que lançamos aqui para os autores deste dossiê da Revista de História da UEG, a qual agradecemos a equipe de editores: em que medida os mares e oceanos podem ser tomados como espaço de questionamento historiográfico e mesmo da definição de novos conceitos. Com um posfácio de Sanjay Subrahmanyan, autor de Explorations in Connected History (2011), a coletânea não somente apresenta um conjunto de artigos com estudos de caso sobre o tema como sugere o conceito de thalassography, como um campo de estudos dentro da área.
Subrahmanyan também é autor do ensaio Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia (1997), que lançou uma profunda discussão no sentido das limitações impostas por uma história nacional, encapsulada. Sugere em uma ampla e reconhecida obra, dentre outras coisas, uma maior atenção a esses fios que conectam o globo apresentando, também, ensaios de biografias de sujeitos envolvidos no processo de expansão e exploração do império português na Asia.
Essas pesquisas também podem ser inscritas no que se configurou chamar história do Atlântico. Indiscutivelmente, nas últimas três décadas, esse campo de reflexão vem desenhando um importante espaço de trabalho, não somente na História, mas nas demais ciências sociais e seus domínios; o crescente número de programas de pós-graduação, no Brasil e no exterior, que incorporam o termo às suas propostas de trabalho e pesquisa é destacável. Distante de leituras que privilegiavam centros e periferias como centros únicos de poder, leituras globais, conectadas, que tomam o Atlântico, o Índico ou o Báltico como centro de dinâmicas individuais e coletivas têm-se popularizado entre investigadores de todos os tempos históricos, tendo em vista relações transnacionais, transimperiais e multiculturais.
A perspectiva aqui lançada, no entanto, vale-se de experiências pessoais, coletivas e institucionais no sentido de compreender, no curto tempo de uma vida, como trajetórias de personagens pouco conhecidos podem e devem ser objetos de estudos dentro de um espaço geográfico e social tão amplo e múltiplo como o Atlântico. Essas “vidas atlânticas”, que Mark Meuwese (2014) descreve como profundamente envolvidas e marcadas pelo desenvolver de um capitalismo mercante a partir do Seiscentos, não podem ser restringidas a figuras da alta burocracia, exploradores ou mercadores. Um dos resultados desses de questionamentos de Meuwese pode ser consultado na coletânea Atlantic Biographies: Individuals and Peoples in the Atlantic World, editado por ele e por Jeffrey A. Fortin (2014) que nos serve aqui de inspiração e contraponto.
Os cinco artigos que aqui apresentamos à comunidade académica leitora da Revista de História da UEG, cujos autores agradecemos pelo desafio aceito, se aproximam não somente no vocabulário empregado – conexões atlânticas, atlântico sul, movimentações pelo atlântico, bordas e fios pelo espaço desuniforme de um oceano. Esta entidade, geográfica por natureza, mas social nas suas produções de sentido, não é compreendida nos estudos aqui publicados como espaço vazio ou apenas como um obstáculo aos objetivos dos sujeitos ou grupos estudados: o Atlântico é, antes de tudo, um passivo cercado, senão imerso, em dinâmicas; estas são resultado da confluência entre o que se pensou sobre ele e das experiências (literárias, políticas, religiosas) registradas nas tentativas de sua exploração e domínio. A este respeito, a título de exemplo, o trabalho biográfico sobre Matthew Fontaine Maury (1806-1873) assinado por Chester G. Hearn (2002), questiona não somente as movimentações e estudos do americano no Oitocentos no sentido de mapeamento das correntes marítimas e de ventos, mas dos usos desses conhecimentos para a constituição de circuitos de circulação mais rápidos e com menos perdas de embarcações e pessoas, aspecto constantemente ignorado em estudos sobre o Atlântico.
Essas e outras experiências são apresentadas aqui pelos autores por meio de estudos biográficos. Estes são, portanto, uma dimensão capaz de superar as ilusões e os problemas inerentes ao campo de trabalho, seja pela relação entre estruturas e agentes ou pelo cuidado em evitar a supervalorização de trajetórias e biografias, em amplas dimensões comparativas e que estabeleçam conexões.
Nesse sentido, os artigos presentes neste dossiê estão organizados com uma preocupação propriamente cronológica, não por uma sequência temporal, mas pelas próximidades dos contextos históricos dos seu objetos de análises. Helidacy M. M. Corrêa apresenta no estudo Gaspar de Sousa e o Maranhão “Ibérico”: Impactos da política filipina no norte do Brasil uma espécie de ponto de partida oportuno para este número especial. Ao se perguntar sobre os impactos das políticas filipinas no processo de conquista e ocupação no norte do Brasil, tema que há décadas vem produzindo importantes obras nas historiografias brasileira e portuguesa, onde o contexto do Maranhão “Ibérico”, conforme destaca a autora, tem pouca visibilidade.
Ainda dentro deste cenário do Maranhão colonial, o artigo intitulado Conexões Atlânticas: famílias de cristãos-novos no Maranhão colonial e suas redes de sociabilidades, escrito por Eloy Barbosa de Abreu, analisa, pelo viéis biográfico, a formação de redes sociais entre indivíduos comestigma de cristão-novo, a partir da imigração de casais oriundos de Portugal. A suposta condição de cristão-novo de Gregório de Andrade da Fonseca fez dele um indivíduo forjado pela sociedade que lhe foi contemporânea.
No estudo Ignacio António da Silva Lisboa: um português entre Lisboa e São Luís nas primeiras décadas do Oitocentos, desenvolvido por Marcelo Cheche Galves, o sujeito aqui é investigado pelos rastros que deixou pela documentação preservada e demonstra como o personagem se movimentava entre as tensões geradas por polos políticos divergentes em lados oposto do Atlântico.
Do mesmo modo, Luisa M. S. Cutrim em Negócios além-mar: a Casa comercial de António José Meirelles nas bordas do Atlântico (c. 1820 – c. 1840), vai de um personagem pouco conhecido apresentado no texto anterior, ignorado pela historiografia até o momento, para um negociante de grande trato. António José Meirelles, como o estudo apresenta, tinha sobre si um variado leque de fios que conectavam esse oceano e seus pontos de contato.
O dossiê é finalizado por Romário Sampaio Basílio com o artigo A Castro e a morte da memória: Joaquim José Sabino, poeta e burocrata em circulação pelo Atlântico (c. 1790 – c. 1840). Da burocracia cotidiana aos usos de versos e memórias, o sujeito biografado circulou pelo Atlântico em busca de reconhecimento e cargos, tendo chegado as mais altas instâncias administrativas.
Finalizamos esta apresentação ressaltando que todos os escritos expressos neste dossiê convergem para um ponto: a análise de trajetórias de sujeitos dentro de um cenário Atlântico, a partir de questões gerais sobre temáticas diversas. Portanto, para além do estilo biográfico indiciados nos textos apresentados, há a preocupação em contriubuir com o estado da arte dos estudos sobre o Mundo Atlântico.
Eloy Barbosa de Abreu – Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); docente da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). E-mail: [email protected]
Romário Sampaio Basílio Doutorando em Estudos sobre a Globalização pela Universidade Nova de Lisboa (NOVA). E-mail: [email protected]
ABREU, Eloy Barbosa de; BASÍLIO, Romário Sampaio. Editorial. Revista de História da UEG, Morrinhos – GO, v.7, n.2, jul / dez, 2018. Acessar publicação original [DR]
Vivir es muy peligroso: Mesiânicos y cangaceiros em los sertones brasileños – DOESWIJK (PL)
A historiografia das rebeldias no campo brasileiro nas primeiras décadas republicanas não tem repercutido como deveria no mundo de língua hispânica, especialmente por conta das proximidades históricas e sociais entre as experiências rurais na América Latina. De certa forma, o livro de Andreas Doeswijk, professor da cátedra de História Americana (séculos XIX e XX), na Universidade de Comahue, na província de Neuquén (Argentina), pode suprir essa insuficiência e contribuir para o avanço do intercâmbio entre as historiografias nacionais latino-americanas, como atestam as aproximações por ele sugeridas entre as obras de Euclides da Cunha e Domingo Faustino Sarmiento para se pensar as respectivas nações do Cone Sul. Leia Mais




