O aracniano e outros textos – DELIGNY (REi)
DELIGNY, Fernand. O aracniano e outros textos. Tradução Lara de Malimpesa. São Paulo: 1 edições, 2015. Resenha de: MATOS, Sônia Regina de Luz. Revista Entreideias, Salvador, v. 5, n. 2, p. 97-102, jul./dez. 2016.
Inicialmente antes de escrever a resenha do livro O aracniano e outros textos (2015) é preciso descrever algumas linhas biográficas do autor, o educador francês Fernand Deligny (1913-1996). Desde já, cabe destacar que este livro é o primeiro e único livro do autor traduzido em língua portuguesa, pois ele ainda é pouco estudado no Brasil no campo da educação. O pensamento deste pedagogo é inclassificável, ele cruza os campos da filosofia, da educação, da arte e da literatura. Sua prática pedagógica contorna um processo de escritura que acontece continuamente durante as investigações e as experiências na área da educação junto aos autistas. Logo, a leitura deste livro nos convoca ao deslocamento de leitura, não tão somente em relação aos procedimentos de escrita que o pedagogo apresenta junto a arte literária, mas também, ao acesso a outra potência de agir em educação, ainda marginalizada dos espaços da pedagogia.
Então, conforme anunciado, aponto algumas linhas da biografia do professor Deligny, que desde 1927, trabalhou junto às crianças e aos adolescentes que eram classificados como inadaptados socialmente ou considerados “à parte da sociedade” (DELIGNY, 2015). Encontramos registros inéditos sobre sua experiência como educador no hôpital psychiatrique à Armentières. Esse trabalho aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e desdobrou-se em outras experiências pedagógicas. Uma delas foi junto a clínica La Borde com o grupo de estudos do psiquiatra Félix Guattari. A partir de 1967, ele se instala na região de Cèvennes, construindo coletivamente uma rede de espaços de acolhimento e de investigação, que ele denominou de “rede aracniano” (DELIGNY, 2015).
As atividades educativas desta rede são influenciadas pela experiência de ensaísta, de poeta, de escritor e de cineasta. Deligny escreve e publica, constantemente, seus pensamentos pedagógico e investe nos conceitos das áreas de etologia e de antropologia.
Sendo assim, elabora um procedimento cartográfico a partir de traços, de linhas e de mapas que constituem os percursos dos movimentos do cotidiano dos autistas. A investigação cartográfica sobre a “experiência autística” (DELIGNY, 2015) deste educador é reconhecida como uma prática pedagógica inédita. Prática citada nos livros e entrevistas do filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) e do psicanalista Félix Guattari (1930-1992). Nesse sentido, cabe destacar que estes dois pensadores franceses, expressam a ideia de que Deligny assumiu profissionalmente uma vertente de atuação educativa próxima da psicanálise institucional, que percebem o autismo como uma produção singular de existência.
Na França, após dez anos de sua morte se retomam as investigações e os estudos sobre sua obra. A partir de 2007, a editora L’Arachnéen, publica um volume com algumas obras de Fernand Deligny e reedita outras. No Brasil, o trabalho deste pedagogo é pouco conhecido, somente em 2015 contamos com uma primeira tradução brasileira do livro que disponibilizo nesta resenha: O aracniano e outros textos (2015). O objetivo da resenha é mostrar alguns conceitos deste autor, do movimento aracniano e de suas experimentações pedagógicas com os autistas. Ainda é importante destacar que o livro não versa sobre uma transposição didática que apresenta modelos de práticas escolares junto ao trabalho com os autistas.
Diante destas palavras introdutórias, digo que o presente livro é composto por dois eixos de leitura, um primeiro é o texto O aracniano, redigido entre 1981 e 1982, contendo 59 fragmentos que nos remetem a mesma denominação do título do livro. Um segundo eixo de leitura é aglutinado ao subtítulo: Quando o homenzinho não está (aí) que é composto por 14 breves textos redigidos entre 1976 a 1982, em gêneros de ensaios e artigos. Ainda nesta publicação constam mapas do percurso dos autistas, produzidos entre 1976 e 1977. Além disso, há um conjunto de fotografias das instalações das crianças autistas que moravam no espaço aracniano, na região de Cévennes, em 1969.
Então, o primeiro eixo de leitura, o texto O aracniano é escrito em fragmentos e sua inspiração conceitual retirada do campo da etologia que estuda as espécies de animais, como as aranhas. O seu projeto pedagógico denominado de aracniano é coletivo e envolve as crianças autistas, as suas famílias e os educadores. Assim, todos vivem no mesmo espaço rural. Sendo que, este espaço rural é dividido em pequenos territórios, assim, cada território tece uma parte da linha da teia de aranha, que se transforma em uma rede que investiga o agir autista. Com isto, o movimento aracniano acompanha, descreve e escreve o espaço da “experiência autista”. (DELIGNY, 2015) Para registrar essa experiência, o grupo elabora a montagem de mapas que constituem os trajetos que as crianças autistas fazem em seu cotidiano. Os mapas acompanham a experiência das “linhas de errância de crianças ‘autistas’”. (DELIGNY, 2015, p. 41) Elas são errantes porque as crianças não funcionam pela consciência dos atos. Por meio desta prática investigativa, o pedagogo diz: “o meu projeto: dar à palavra aracniano – ao meu ver estonteante – um sentido digno de sua harmonia e de sua amplitude”. (DELIGNY, 2005, p. 22) Afirma-se assim, que o pensamento aracniano descentraliza as práticas pedagógicas do autismo das representações psicopatológicas e investe em rastrear e em apreender com as singularidades produzidas pelo projeto.
O segundo eixo de leitura do livro que é composto por 14 breves textos, se inicia com um texto de 1976. Ele foi redigido para um congresso de psicanálise e publicado em uma revista francesa e uma italiana, intitulado: Esse ver e o olhar-se ou o elefante no seminário. A escritura do artigo tem um tom de ensaio descritivo, pois apresenta um dos mapas que constituí o percurso dos autistas.
O texto descreve a invenção de vários símbolos que possibilitam a leitura e a interpretação cartográfica dos percursos das pessoas que viviam no espaço aracniano. Cabe destacar que ao mostrar o funcionamento cartográfico nos deparamos com um outro plano de vocabulário, tais como: linhas, anel, traçar, ângulo, entrelinhas, desvio, deriva, ideologia, microideologia, linguagem vacante, linguagem em falta e na falta de linguagem.
No outro texto O agir e o agido, escrito em 1978 para uma edição italiana, segue outra descrição de mapa, neste ele amplia as questões conceituais já demarcadas no texto anterior, porém remarca algumas críticas ao tipo de psicanálise que classifica o autismo e o determina como patologia. Posição essa que vai acompanhar outros textos em sua vida profissional.
Logo, outro ensaio: A arte, as bordas… e o fora. O ensaio, também é publicado em italiano, em 1978. Conceitualmente, Deligny mostra que “a linha e a linguagem eram de idêntica natureza” (DELIGNY, 2015, p. 148) e a linha expressa-se nos mapas dos trajetos do cotidiano dos autistas. Os mapas apontam alguns elementos da linguagem que a “experiência autista” (DELIGNY, 2015) produz e que essa experiência vive uma linguagem fora da relação direta e hierárquica entre sujeito e objeto.
Na redação do texto Carteira adotada e carta1 traçada, publicado por uma editora italiana, em 1979, ele diferencia sua relação com o Partido Comunista Francês e sua experiência na elaboração da cartografia junto ao movimento aracniano. Passa a valorizar essa última experiência porque ela não exige filiação ideológica.
A experiência no Partido Comunista Francês o víncula por meio de uma carta que representa a adoção de uma ideologia. Já com a experiência do movimento aracniano ele se vincula aos mapas do traço das “crianças cujos trajetos são traçados […] não tende de forma alguma para uma globalidade em que o absoluto ideológico se reencontraria, endêmico”. (DELIGNY,2015, p. 157).
A criança preenchida, divulgado em 1979, trata da relação topológica, que são as “áreas de estar” que expressam os movimentos topográficos dos autistas. Esses movimentos constituem os mapas e os trajetos registrados e interpretados como linhas errantes do agir autista. O pedagogo define dois tipos de “topos” ou registros dos espaços autistas, a topologia e a topografia. Os dois tipos de registros permitem traçar o agir autista que conjuga “ ‘o tempo’ fora do tempo” (DELIGNY, 2015, p. 163), pois esse agir funciona pela lógica do “topo” ou espaços que não se sujeitam a linguagem oral, espaços refratários a falação. Por meio da topologia e da topografia, ela aponta uma outra plasticidade pedagógica, que pode ser analisada a partir dos espaços ocupados pelo agir autista.
Ainda neste mesmo ano, o pedagogo publica em italiano um breve ensaio denominado Esses excessivos. Ele elabora uma resposta direta a academia que somente valida como produção intelectual a classificação e ou a posição de conhecimento mais universal sobre os estudos com os autistas. Ele se posiciona afirmando que não comunga com o que ele chama de falação intelectual em busca do universal e do verdadeiro. Ele defende que sua produção se faz a partir dos “topos”, ou seja, traça o espaço do agir autista, sem assumir um manual ou modelo que caracterize o autismo.
O humano e o sobrenatural é um texto envolto na ideia da vacância da linguagem das crianças autistas. Ele inicia o texto argumentando que elas desproveem da intenção de vagar e de balançar o seu corpo. Elas não acompanham o ato da consciência, o que elas fazem é o uso do seu corpo humano não como segregação, como faz o homem em muitos momentos da história da humanidade. A vacância da linguagem produz um espaço único de relação refrataria com a língua e com os gestos. Neste momento ele crítica o conceito de humanidade e linguagem humana.
A exibição é um título publicado em italiano, em 1980. O educador elabora sua posição desconfortável em relação a posição da psicanálise quando ela refere-se ao inconsciente e a linguagem dos autistas. Afirma que não compreende a língua psicanalítica.
Fala que essa língua não faz parte da língua do repertório aracniano, a língua que o interessa é de “quem vê um autista viver”. (DELIGNY, 2015, p. 180) Em 1978, escreve para um colóquio, em Paris, sobre o tema A liberdade sem nome e destaca que o autista tem a potência de ser refratário ao poder da língua do homem e que a potência da “experiência autista” (DELIGNY, 2015) se encontra no agir sem direcionamento ideológico e nada identitário. Trata-se, portanto, de um tipo de liberdade à deriva, de vivacidade desconhecida por nós, os homens.
O artigo Semblant de rien, refere-se a 1981, escrito em italiano.
A tradução dele não acontece para língua portuguesa porque é uma expressão francesa que dispara vários significados e o autor mescla o uso dos significados do título durante a sua escrita. A ideia da frase “semblante de rien” nos remete a ideia de um semblante significa o que? Para quem? Para quem o semblante não significa nada? Para os autistas. O semblante emite signos. Essa emissão sígnica não representa nada para eles. A língua que conhecem é a língua do agir em gesto, por isso, a expressão autística é uma língua estrangeira para os homens que vivem das palavras e sua verossimilhança com os signos.
No mesmo ano, publica numa revista francesa o ensaio com o título O obrigatório e o fortuito. O texto trata do tema da guerra, no período em que viveu em Armentières e “era professor primário encarregado de instruir crianças retardadas”. (DELIGNY, 2015, p. 198) O pedagogo se refere a ideia de que a obrigação é uma ação presente quando os homens estão diante da guerra e diante de instruções instituídas por culturas e instituições. E mesmo diante da guerra e das instituições a experiência do obrigatório chegava as crianças retardadas2 como um elemento desconhecido e sem referente.
Na data, em 1981, o texto Convivência é editado num congresso americano sobre o tema sexualidade e linguagem. O professor mostra que há um Ser subjetivado a linguagem da sexualidade, este Ser está escrito em letra maiúscula porque é determinado pela convivência do homem. Ele constata que com a “experiência autista” (DELIGNY, 2015), por ser refratária a subjetivação da linguagem, ela não é atingida por essa linguagem. Assim, a convivência autista se distingue da convivência do homem. Convivência, retirada dessa experiência autista que se encontra vinculada ao agir sem Ser subjetivado aos signos da sexualidade do homem.
A voz faltante, publicado em italiano, em 1982, faz parte do penúltimo dos textos escolhidos para compor este livro. O pedagogo escolhe apresentar o paralelo entre as palavras homofônicas na língua francesa: a voz (voix) e a via (voie). Em sua experiência no asilo, ele reconhece que o ato da ausência da fala por parte da maioria dos autistas produz outro efeito na relação com a linguagem. O efeito dessa relação passa pela via do traço e dos trajetos produzidos pelo “agir autista” (DELIGNY, 2015) que se faz pela linguagem não-verbal. Talvez, por isso à “experiência autista” (DELIGNY, 2015) acione algo estrangeiro e desconhecido ao humano. Se a voz é ausente, é um indicativo de que a investigação com os autistas exige uma via novo para se pensar a supremacia dada a linguagem oral na relação humana.
O último ensaio, compõem o segundo eixo de leitura do livro e ganha espaço como título: Quando o homenzinho não está (aí). A redação do texto refere-se aos fragmentos e as anotações de quem escreve um diário de pensamentos do tipo aracniano. As anotações versam sobre muitos conceitos já demarcados nos textos anteriores e sobre as vivências nos asilos e no movimento aracniano junto as crianças, principalmente junto ao Janmari, adolescente autista que o professor Deligny adotou.
Para finalizar, reintero que o livro é composto por várias singularidades conceituais de experimentações em pedagogia.
Uma das singularidades é que o livro se faz junto ao território de artes, tais como: escrita literária, fotos, imagens dos mapas, ou seja, ele flerta e se produz por meio de uma ínfima parte do pensamento do educador Deligny como um aracniano. O desafio da leitura deste livro é que ele escreve sobre práticas pedagógicas que trabalham com o radicalidade de investir no autismo como existência e com o rigor de retirar dela uma potência singular de vida, experimentando outro tipo de educação para o homem.
Poderemos desfrutar desta leitura como uma prática única que nos ensina a pensar como é uma pedagogia que se faz junto com o agir autista e não sobre o agir autista.
Notas
1 Ele utiliza como sinônimo de mapa.
2 Lembrando que este é o conceito usado pela literatura científica e especialidade nos anos de 1940. Deligny o usa de maneira a demarcar uma certa ironia e oposição a classificação institucional.
Sônia Regina da Luz Matos – Professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas – HERZOG (RH-USP)
HERZOG, Tamar. Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas. Cambridge: Harvard University Press, 2015. 384 p.p. Resenha de MOURA, Denise Aparecida Soares de. Uma contribuição para a pesquisa e o debate sobre a formação (Trans) territorial da Iberia. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
Este é um livro sobre a formação territorial de Portugal e Espanha na época moderna em dois continentes: na Europa e na América. A autora, Tamar Herzog, professora na Universidade Harvard e especialista em temas da história administrativa e da formação das identidades na América hispânica, com ênfase na história do vice-reinado do Peru, abordou este que é um dos temas, desde longa data, focalizado por grandes nomes da historiografia luso-brasileira,1 do ponto de vista dos múltiplos agentes sociais que viviam nos territórios de fronteira e que estiveram mais diretamente envolvidos com questões de posse e uso da terra.
Para Herzog a história da formação territorial ibérica não pode ser reduzida ao protagonismo do Estado, dos tratados negociados nas mesas diplomáticas internacionais, aos combates no front ou à constituição dos estados nacionais. Ao longo do foco narrativo e analítico de seu livro, o ambiente da fronteira aparece na condição de tribuna democrática, na qual fazendeiros, criadores, nobres, clero, párocos, missionários, povoadores, governadores, autoridades municipais e militares expressaram suas noções de direitos fundiários, recorrendo ao argumento dos direitos de uso antigo e costumeiro. Estes sujeitos sociais, ao longo do tempo, fizeram e desfizeram alianças para defender estes direitos que muitas vezes prescindiram da sua condição de vassalo a uma ou outra coroa, pois o que importava era o direito de posse da terra que, muitas vezes, se estendia para o território vizinho.
Para alcançar este mosaico social e inventariar diversos argumentos defensivos de direitos a autora pesquisou em volumosa e variada documentação, desde relatos de exploradores e missionários, correspondência político-administrativa e papéis judiciais existentes em arquivos de Portugal e Espanha e nos atuais países do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, que foram domínios territoriais destas monarquias no ultramar. A especialização da autora na história político-administrativa do vice-reinado do Peru, com foco na região de Quito, certamente influenciou a concentração de suas pesquisas de campo na região da Amazônia e Paraguai para a elaboração deste livro.
Contrastando e inter-relacionando o problema da formação territorial ibérica na Europa e na América, a autora verificou que, embora em ambos os continentes os agentes sociais tenham tido papel proativo, houve diferenças nos argumentos empregados para a defesa de direitos de uso da terra. Assim, na América, os monarcas de ambas as coroas, embora não possam ser vistos como força predominante das definições territoriais, se envolveram mais com esta questão tanto em virtude da vastidão dos territórios sobre os quais teriam de confirmar sua soberania como devido a necessidade de promoverem a incorporação de populações nativas. Como resultado, a definição das fronteiras na Europa foi menos tensa e pouco evocativa da condição de súdito português ou espanhol (p. 245).
Questões como estas estão distribuídas ao longo de uma obra dividida em duas partes contendo dois capítulos cada uma. O foco narrativo do livro é caracterizado por dois componentes que trazem preocupações teóricas com a própria escrita da história ibérica. Ou seja, a autora inverteu o paradigma narrativo Europa-América, começando a discussão do problema a partir desta última. Ao mesmo tempo, preocupou-se em romper com o modelo da divisão da história ibérica entre Portugal e Espanha, optando por tratar os dois espaços em conjunto.
No primeiro caso, seu objetivo foi o de mostrar que a “América não apenas precede a Europa, mas também introduz muitas das questões” que se tornaram objeto de sua investigação (p. 12). O efeito desta inversão em suas conclusões foi o de que as tensões e os debates dos vários agentes sociais sobre a formação territorial no Novo Mundo tiveram ressonância no Velho Mundo. A preocupação excessiva em defender este argumento levou a autora a descrever minuciosamente situações individuais de conflitos de terra em municípios de fronteira na península Ibérica, o que tornou o foco narrativo da segunda parte repetitivo. Um número menor de situações relatadas teria sido convincente, tendo em vista o volume da documentação que a fundamenta.
No segundo caso, ao tratar da história de Portugal e Espanha de maneira articulada e simultânea, a autora explicita um posicionamento teórico que está por trás dos trabalhos contemporâneos em história ibérica e que vem, desconstruindo suas fronteiras. Adeptos desta metodologia e abordagem têm recuperado a narrativa da Hispania, que persistiu para além da dissolução da União Ibérica e previa uma relação de interesses comuns entre os reinos da península Ibérica. Ainda no século XIX e sempre combatida pelos discursos nacionais, esta perspectiva de pensamento persistiu através do movimento denominado Iberismo e que pretendia a fusão de Portugal e Espanha em todos os seus aspectos.
Na primeira parte da obra, a histórica disputa entre as coroas de Portugal e Espanha pelo controle das terras da América, que remonta à assinatura do Tratado de Tordesilhas (1494), é apresentada criticamente a partir de dois planos: o do conflito das interpretações hispânicas e portuguesas das bulas, tratados e doutrinas e o das relações que estabeleceram com as populações indígenas.
Como observou a autora, as limitações de conhecimento geográfico no período, derivadas do próprio nível científico e técnico da época, contribuíram para dar vazão a muitas e variadas interpretações das determinações dos tratados e para a produção de muitos relatos, bem como debates que opuseram geógrafos e práticos do território (sertanistas) em relação ao correto curso de rios e a localização de sinais topográficos, como montanhas, e que poderiam definir os legítimos direitos fundiários de cada uma das coroas.
Entre seus súditos residentes nas zonas fronteiriças surgiram vários argumentos que poderiam endossar a defesa dos direitos de posse do território, como o do trabalho na terra, que para alguns deveria ser permanente e para outros poderia ser sazonal, como pescar, caçar, criar gado e coletar madeira; a navegação de rios, o comércio com populações nativas ou a abertura de estradas. Na medida em que estes usos e mobilidade fluvial ou terrestre inflamavam os debates, ambas as coroas se mantiveram alertas quanto à movimentação de comerciantes, sertanistas e padres missionários nas áreas em disputa, o que deu origem a um dos agentes sociais mais intrigantes e difíceis de biografar, ou seja, os espiões, que poderiam ser soldados ou sertanistas provenientes da capitania de São Vicente.
Nos arquivos e bibliotecas, a autora reuniu consistente volume de papéis públicos, na forma de correspondências trocadas entre autoridades e relatos de expedições que procuravam demonstrar a precedência na ocupação e, portanto, os direitos de posse territorial defendidos por ambas as coroas.
No segundo capítulo desta primeira parte, é discutida a relação entre conversão, vassalagem e direitos territoriais, através do trabalho intelectual e evangelizador dos missionários portugueses e espanhóis de várias ordens religiosas, cujo resultado garantiu a ambas as coroas argumentos que sustentaram suas reivindicações de direitos territoriais. Alguns desses missionários, como o nativo da Boêmia Samuel Fritz, se tornaram ícones na defesa de direitos territoriais dos espanhóis ou de denúncia das usurpações territoriais portuguesas entre seus contemporâneos e foram tidos como grandes geógrafos e reconhecedores de territórios.
O processo de formação territorial ibérica na América, portanto, contou com a efetiva atuação desses missionários que se estabeleceram justamente na região supostamente atravessada pelo meridiano de Tordesilhas, como a da Amazônia e das províncias do Paraguai. Segundo a autora, as coroas de Portugal e Espanha contavam com o poder dos missionários de persuadir os índios não somente a mudarem suas crenças religiosas, mas também a seguirem religiosos de naturalidade hispânica ou portuguesa, pois isto lhes asseguraria direitos de posse sobre territórios (p. 73).
Esta constatação estende a atuação dos missionários do campo da evangelização para o da formação territorial. Assim, suas rivalidades com outros agentes sociais na colônia não se restringiram à sua posição contrária à escravização indígena, como mostraram clássicos da historiografia.2 Várias autoridades régias, como governadores, encarregados de defender a soberania de suas coroas na América, vigiaram os movimentos dos missionários nas áreas de fronteira, classificando-os como ameaçadores da ordem vigente e, com isto, reunindo argumentos para combatê-los.
A conversão era útil para o Estado porque resultava em terras e vassalos, mas introduzia também outro problema: o do direito dos nativos a terra, um dos temas que parece ter aquecido os debates dos séculos XVII e XVIII. Com a emergência de novas diretrizes jurídicas no campo das relações internacionais, baseadas no princípio do direito natural, o conceito de soberania política sobre territórios passou a ser mediado pelo de ocupação, o que derrubou a antiga tradição de legítimo poder concessionário do papado.
Assim, as discussões sobre direitos a terra passaram a girar em torno da definição do tipo apropriado de sua ocupação e, por este viés, ambas as coroas conseguiram deslegitimar os direitos de posse dos índios convertidos. As distâncias de terras desocupadas que deveriam existir entre um grupo indígena e outro, por exemplo, consideradas espaços para caça ou para extração de seus recursos foram consideradas terras vacantes e sujeitas à ocupação pela Coroa, por exemplo. Deste modo, a ordem régia encontrou uma solução para conciliar conversão com concentração de terras, o que no longo prazo influenciou a estrutura fundiária desigual e conflituosa da América ainda nos dias de hoje.
Da formação ibérica na América a autora deslocou o seu foco, na segunda parte da obra, para o espaço da península Ibérica e nesta identificou uma série de similaridades, do ponto de vista da multiplicidade de agentes sociais e a defesa de direitos de posse territorial segundo argumentos específicos. Embora Portugal e Castela negociassem suas fronteiras desde a Idade Média, municipalidades, igrejas, contrabandistas e gente que se denominava fronteira – que vivia e se definia deste ponto de vista geográfico – questionavam divisas e negavam que sua identidade deveria coincidir com divisões político-administrativas oficiais.
Ponto alto desta parte são as constatações da autora sobre as diferenças no processo de formação territorial ibérica na América e na península. Na América, território do Novo Mundo, os conflitos por terra eram mais recentes, contavam com alianças interétnicas que se faziam e desfaziam circunstancialmente e os europeus tiveram pela frente a tarefa de apagar a história do continente, o que significou construir imagens e argumentos que suprimissem os direitos de posse dos antigos habitantes do território.
Esta última questão pode ter tido algum tipo de similaridade com o contexto das guerras de reconquista, quando os ibéricos expulsaram os mulçumanos da península. Em ambos os continentes, houve um processo de detração dos habitantes das fronteiras – fronterizos. Com esta discussão a autora cumpre sua promessa metodológica apresentada na introdução, fazendo com que as formações territoriais ibéricas nas duas pontas do Atlântico enriqueçam-se mutuamente.
Ainda nesta parte, a imagem da hidra, personagem da mitologia grega com várias cabeças, as quais sendo cortadas voltavam a nascer, serviu para indicar quão complexos foram estes conflitos, mesmo quando as divisões entre os dois reinos foram definidas. Municípios como Aroche e Encinasola (Castela) ou Serpa e Moura (Portugal), por exemplo, revezaram entre alianças e conflitos em relação à garantia de uso de suas terras, importando menos a que coroa deviam jurar vassalidade.
No bojo dos conflitos entre estas municipalidades, a autora inova ao demonstrar que as preocupações com as divisões das linhas de fronteira eram mais oriundas das populações locais do que das coroas. As fronteiras não foram, portanto, invenção dos estados ou dos monarcas, mas das populações que desejavam definir onde seu gado podia pastar, onde podiam plantar ou coletar madeiras (p. 184).
Este é um livro, portanto, cujas diretrizes teórico-metodologicas estão afinadas com uma das mais recentes abordagens da história ibérica crítica dos esquemas analíticos nacionais e que podem ser encontradas em trabalhos individuais, de grupos de discussão3 e em iniciativas de acadêmicos que optam pelo agregamento em rede. Herzog, no caso, é uma das coordenadoras da Red Columnaria.4
Mesmo diante deste volume de adeptos da ideia do tratamento articulado entre as histórias de Portugal e Espanha a autora considera que poucos ainda parecem dispostos a adotar o conceito de Ibéria como unidade de análise (p. 250) fora do convencional intervalo cronológico da União Ibérica (1580-1640).
Na tradição dos estudos latino-americanos nos Estados Unidos este trabalho de Herzog continua com perspectivas já apresentadas por certo autor na década de 1970, em tese ainda inédita e que discutiu a formação territorial da região do Madeira-Mamoré e Amazonas através também da atuação de párocos, índios, sertanistas e jesuítas, enfatizando a importância de uma questão como esta ser focalizada para além do mundo de diplomatas, conselheiros do rei e autoridades régias.5
Embora densamente fundamentado em evidências empíricas e bibliografia pertinente ao tema central da pesquisa, o livro é deficitário em relação à historiografia brasileira recente, o que chama atenção porque a proposta da autora é trabalhar a formação territorial também de Portugal na América. Um déficit como este poderia ter sido evitado com o rastreamento de artigos publicados pelas principais revistas acadêmicas em História do Brasil, do mesmo modo como a autora fez exaustivamente nas revistas em língua hispânica e inglesa.
De modo geral, a formação territorial é pensada a partir das áreas de fronteira. Mas, nos ambientes urbanos e das fronteiras internas (os sertões), observa-se um fenômeno bastante semelhante ao verificado por Herzog, ou seja, as articulações e rearticulações dos diferentes agentes sociais, independentes de hierarquias e identidades regionais, para expressão de suas noções – também variáveis no tempo – de direitos de uso da terra ou dos “chãos urbanos”, nas vilas e cidades coloniais, o que sugere que o desenho urbano dos municípios também não foi mera imposição dos poderes públicos.6
A autora conclui que o processo de definição de fronteiras na península Ibérica foi menos “nacionalizado” na Europa do que na América. Especialmente para o caso ibérico mostrou como a condição fronteiriça foi uma característica predominante das autopercepções e autodefinições sociais. Neste sentido, os indivíduos foram mais próximos de seus vizinhos regionais do que de uma estrutura política como o Estado, muitas vezes com suas instituições e agentes situados geograficamente – para não dizer também do ponto de vista das aspirações e ideias – tão distantes das populações residentes nos municípios.
Mas conforme demonstram textos de representações escritos pelas câmaras, esta situação foi muito semelhante às ocorridas em todas as partes da América portuguesa, nas quais também são observadas autodefinições que evocam o local (o ter nascido na cidade ou vila, a condição de fronteiriço, de ser republicado de câmara situada em tal ou qual vila). Neste caso, também na América portuguesa a definição de suas fronteiras foi tão pouco “nacionalizada” como na península.
Para finalizar pode-se dizer que o estilo analítico narrativo da autora em alguns momentos soa imperativo, especialmente quando quer enfatizar a ação dos múltiplos agentes sociais e sua argumentação na defesa dos direitos de posse, em detrimento dos tratados, tidos como “futilidades jurídicas” (p. 12) ou concluindo por sua “completa incapacidade” de solucionar as questões de fronteira e posse.
Entretanto, não podem ser minimizadas as forças de influência das novas tendências político-ideológicas anunciadas desde os acordos de Westfália (1648), que levaram à modernização das relações internacionais e valorização da soberania dos estados baseada no direito natural. Neste sentido, mais salutar seria ver os tratados como uma das vozes na tribuna da formação territorial ibérica, lembrando ainda que todos os agentes sociais, desde o índio ao criador de gado mais abastado, fizeram uso das instituições do Estado e dos papéis públicos para expressarem suas concepções de direito.
O trabalho de Herzog reveste-se de importância acadêmica e social. Para os historiadores profissionais apresenta rigor, coerência na aplicação de uma perspectiva analítico-metodológica. É profunda na pesquisa empírica e inova ao falar de formação territorial não do Brasil, mas de Portugal na península e na América. Para os estudantes de graduação em História esta é uma rica e provocante maneira de pensar a história do Brasil na época moderna e que contribui para a formação de percepções cada vez menos regionalizadas.
Do ponto de vista social, este trabalho traz à tona questões da história da América do Sul que ainda assombram, como a do acesso dos segmentos sociais menos privilegiados a terra, historicamente marcado por conflitos e violências.
Referências
ABREU, C. A. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. [ Links ]
CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. São Paulo: Funag, 2006. 2 vol. [ Links ]
DAVIDSON, David Michel. Rivers and empire: the madeira route and the incorporation of the Brazilian far west, 1737-1808. Dissertação em História, História da América Latina, Yale University, 1970. [ Links ]
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. 3ª edição. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. [ Links ]
MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. [ Links ]
MOURA, Denise A. Soares de. An expanding mercantile circuit in the South Atlantic in the late colonial period (1796-1821). E-Journal Portuguese History, vol. 13, n. 1. Brown: Brown University, 2015, p. 68-88. Disponível em: Disponível em: https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue25/pdf/v13n1a03.pdf . Acesso em: 17/08/2016. [ Links ]
______. Disputas por chãos de terra: expansão mercantil e seu impacto sobre a estrutura fundiária da cidade de São Paulo. Revista de História, n. 163. São Paulo: FFLCH, USP, jul/dez 2010, p. 53-80. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19169/21232. Acesso em: 03/08/2016. [ Links ]
PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiência hispano americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015. [ Links ]
PRADO, Fabrício. In the shadows of empires: trans-imperial networks and colonial identity in Bourboun Rio de la Plata (c. 1750-c. 1813). Dissertação em História colonial, História da América Latina, Emory Universtiy, 2009. [ Links ]
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Conflito de terras numa fronteira antiga: sertão do São Francisco no século XIX. Tempo n. 7. Rio de Janeiro: UFF, 1999, p. 9-28. Disponível em: Disponível em: http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg7-1.pdf . Acesso em: 03/08/2016. [ Links ]
1Exemplos de obras clássicas que se envolveram com este tema de maneira ensaística ou aprofundada em sólida pesquisa empírica: ABREU, Capistrano. Caminhos antigos e o povoamento do Brasil. In: Idem. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. 3ª edição. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990; CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. São Paulo: Funag, 2006. 2 vol.
2MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
3Destaco o grupo de discussão que se reúne anualmente no The College William & Mary, coordenado por Fabrício Prado e que tem dado tratamento trans-imperial à história do rio da Prata em especial. Destaco ainda trabalhos como: PRADO, Fabrício. In the shadows of empires: trans-imperial networks and colonial identity in Bourboun rio de la Plata (c. 1750-c. 1813). Dissertação em História colonial, História da America Latina, Emory University, 2009; PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiência hispano americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015; MOURA, Denise A. Soares de. An expanding mercantile circuit in the South Atlantic in the late colonial period (1796-1821). E-Journal Portuguese History, vol. 13, n. 1. Brown: Brown University, 2015, p. 68-88. Disponível em: https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue25/pdf/v13n1a03.pdfhttps://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue25/pdf/v13n1a03.pdf. Acesso em: 17/08/2016.
4Disponível em: http://www.um.es/redcolumnaria/index.php?option=com_content&view=article&id=6&lang=en. Acesso em: 03/08/ 2016.
5DAVIDSON, David Michel. Rivers and empire: the madeira route and the incorporation of the Brazilian far west, 1737-1808. Dissertação em História, História da América Latina, Yale University, 1970.
6SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Conflito de terras numa fronteira antiga: sertão do São Francisco no século XIX. Tempo n. 7. Rio de Janeiro: UFF, 1999, p. 9-28. Disponível em: http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg7-1.pdf. Acesso em: 03/08/2016; MOURA, Denise A. Soares de. Disputas por chãos de terra: expansão mercantil e seu impacto sobre a estrutura fundiária da cidade de São Paulo. Revista de História, n. 163. São Paulo: FFLCH, USP, jul/dez 2010, p. 53-80. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19169/21232. Acesso em: 03/08/ 2016.
Denise Aparecida Soares de Moura – Doutora em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professora assistente doutor no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNESP. Email: [email protected].
O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem – RIEGL (S-RH)
RIEGL, Aloïs. O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. Tradução de Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014 [1903]. 88 p. Resenha de: ROCHA, Mércia Parente; TINEM, Nelci. O culto moderno dos monumentos e o patrimônio arquitetônico. SÆCULUM – Revista de História [35]; João Pessoa, jul./dez. 2016.
Ao elaborarmos esta resenha da obra O Culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem, do historiador da arte austríaco Aloïs Riegl, publicada no início do século passado, em 1903, nos interessou a possibilidade de discutir quais os aspectos que a mantém, juntamente com a Teoria da restauração (1963) de Cesare Brandi, que veio à luz sessenta anos mais tarde, como as mais citadas no debate e na prática da conservação contemporânea do patrimônio arquitetônico, que hoje incorpora as obras da produção moderna do século XX, abarcando um campo interdisciplinar, que inclui entre outras disciplinas, a história, a estética, a filosofia e a própria arquitetura.
É, portanto, na perspectiva de darmos alguma contribuição para esse tema que este pequeno ensaio se coloca. Para tanto, tomaremos como referência duas traduções para a língua portuguesa, a primeira elaborada a partir da tradução francesa, por Elane Ribeiro Peixoto e Albertina Vicentini, em 2006, e a segunda, realizada por Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel, a partir do texto original em alemão, no ano de 20143.
Seu duplo vínculo, com a Universidade de Viena (reflexões teóricas) e com o Museu Austríaco de Artes Decorativas (intervenções práticas), lhe permitiu uma abordagem interdisciplinar teórico-prática da História da Arte (proporcionada pela formação no Instituto Austríaco de Pesquisas Históricas) e, ao mesmo tempo, uma compreensão das artes consideradas “decadentes” e a valorização das chamadas “artes menores”, ou seja, lhe permitiu uma visão ampla, diversificada e aberta da história das artes que redundou em uma ótica avançada e uma avaliação crítica dos valores das obras a serem conservadas.
[…] ele teve a audácia […] de negar, pelo menos em teoria, qualquer sistema normativo dos valores, de denunciar a noção de decadência, de renunciar à segregação entre a grande arte e as artes ditas menores.4
Assim como Teoria da restauração de Cesari Brandi5, O Culto moderno dos monumentos de Riegl busca estabelecer princípios operativos como forma de orientar a condução da política de conservação das instituições às quais estavam vinculados, fundamentando suas obras numa consistente relação entre teoria, História e prática, daí sua importância.
A razão da atualidade é clara, as reflexões propostas por Riegl são avançadas para um homem do século XIX, sob o domínio de uma concepção positivista da História.
Se, por um lado, defendia a “evolução” em direção ao progresso da história da arte, por outro, negava a existência de um valor de arte absoluto e advogava apenas um valor relativo e moderno6.
A obra desenvolve-se em três partes. Na primeira, o autor entende que sua tarefa é “definir a natureza do culto moderno dos monumentos, levando em consideração as mudanças ocorridas, com a comprovação de sua relação genética com as fases anteriores de evolução do culto dos monumentos”. A questão da evolução, para ele, era fundamental:
De acordo com os conceitos mais modernos, acrescentaremos a ideia mais ampla de que aquilo que foi não poderá voltar a ser nunca mais etudo o que foi forma o elo insubstituível e irremovível de uma corrente de evolução ou, em outras palavras, tudo que tem uma sequência, supõe um antecedente e não poderia ter acontecido da forma como aconteceu se não tivesse sido antecedido por aquele elo anterior. O ponto-chave de todo conceito histórico moderno é formado pela noção de evolução.7
Apesar de fundamentar-se em uma visão evolutiva da história, própria do século XIX, o autor desenvolve uma noção de monumento baseada não mais em valores permanentes e objetivos como na Renascença, mas em valores assentados antes na significação, do que na forma, e determinados no presente, pelos sujeitos históricos.
Interessa a Riegl compreender não apenas como os significados são atribuídos aos monumentos, mas como se dá a recepção desses valores pela sociedade e quais as gradações sociais desse acesso (os especialistas, o apreciador de arte médio, as massas).
Entendia que, se até o século XIX prevalecia a tese de que existia um cânone artístico rígido, um ideal artístico objetivo e absoluto, o século XX teria abolido definitivamente essa pretensão da Antiguidade, emancipando todos os períodos conhecidos da arte com seu significado independente, sem abandonar a crença em um ideal artístico objetivo. Assim, a kunstwollen (a vontade artística de uma época), como princípio, admite que a manifestação artística possa assumir diferentes alternativas conforme o momento histórico, a população envolvida e o lugar geográfico.
Consequentemente, a definição do conceito de ‘valor da arte’ deve variar de acordo com a visão adotada. Conforme a mais antiga, uma obra possui um valor da arte, na medida em que responde às exigências de uma estética supostamente objetiva, mas jamais formulada até agora de maneira correta.
Segundo o conceito moderno, o valor da arte de um monumento é medido pelo modo como ele atende às exigências do querer moderno da arte, exigências essas que não foram formuladas claramente e que, a rigor, nunca o serão, pois mudam constantemente de sujeito para sujeito e de momento para momento.
Para nossa tarefa, torna-se uma condição importante esclarecer essa diferença quanto à essência do valor da arte, pois para a preservação dos monumentos, esse princípio orientador terá uma influência decisiva. Se não existe um valor da arte eterno, mas apenas um relativo, moderno, o valor da arte de um monumento não é mais um valor de memória, mas um valor de atualidade.8
Riegl estabelece na sua teoria de valores uma taxonomia em que esses são agrupados em duas grandes categorias: os valores de memória, vinculados ao “aspecto não moderno do monumento” e os valores de atualidade, relacionados não mais à memória, mas às necessidades contemporâneas. E essas duas categorias são tratadas pelo autor nas duas partes finais do livro9.permanentes e objetivos como na Renascença, mas em valores assentados antes na significação, do que na forma, e determinados no presente, pelos sujeitos históricos.
Interessa a Riegl compreender não apenas como os significados são atribuídos aos monumentos, mas como se dá a recepção desses valores pela sociedade e quais as gradações sociais desse acesso (os especialistas, o apreciador de arte médio, as massas).
Entendia que, se até o século XIX prevalecia a tese de que existia um cânone artístico rígido, um ideal artístico objetivo e absoluto, o século XX teria abolido definitivamente essa pretensão da Antiguidade, emancipando todos os períodos conhecidos da arte com seu significado independente, sem abandonar a crença em um ideal artístico objetivo. Assim, a kunstwollen (a vontade artística de uma época), como princípio, admite que a manifestação artística possa assumir diferentes alternativas conforme o momento histórico, a população envolvida e o lugar geográfico.
Consequentemente, a definição do conceito de ‘valor da arte’ deve variar de acordo com a visão adotada. Conforme a mais antiga, uma obra possui um valor da arte, na medida em que responde às exigências de uma estética supostamente objetiva, mas jamais formulada até agora de maneira correta.
Segundo o conceito moderno, o valor da arte de um monumento é medido pelo modo como ele atende às exigências do querer moderno da arte, exigências essas que não foram formuladas claramente e que, a rigor, nunca o serão, pois mudam constantemente de sujeito para sujeito e de momento para momento.
Para nossa tarefa, torna-se uma condição importante esclarecer essa diferença quanto à essência do valor da arte, pois para a preservação dos monumentos, esse princípio orientador terá uma influência decisiva. Se não existe um valor da arte eterno, mas apenas um relativo, moderno, o valor da arte de um monumento não é mais um valor de memória, mas um valor de atualidade.8 Riegl estabelece na sua teoria de valores uma taxonomia em que esses são agrupados em duas grandes categorias: os valores de memória, vinculados ao “aspecto não moderno do monumento” e os valores de atualidade, relacionados não mais à memória, mas às necessidades contemporâneas. E essas duas categorias são tratadas pelo autor nas duas partes finais do livro9.
Para Riegl, dentre os valores de memória (valor de antiguidade, valor histórico e valor de comemoração), o de antiguidade corresponde àquele que se estabelece no decorrer do tempo, através da ação destrutiva da natureza, que age de forma lenta e gradual sobre as obras, provocando sua dissolução e remetendo ao ciclo natural da vida de criação-destruição.
Para ele, o valor de antiguidade seria o mais acessível às massas, e, inevitavelmente, o mais abrangente a partir do século XX. A recepção do valor histórico, pelo contrário, requereria conhecimentos de história da arte e estaria assentada em bases científicas e não atingiria as massas.
O valor de antiguidade tem, portanto, a pretensão de influenciar as grandes massas e se sustenta sobre a possibilidade de incluí-las na mobilização pela defesa do patrimônio. Uma preocupação permanente, ainda hoje não resolvida, nos debates contemporâneos do século XXI.
Contrariando o pensamento de Riegl, a arquitetura moderna torna-se patrimônio ainda no século XX, antes mesmo do tempo ter lhe conferido valor de antiguidade.
Essa ausência de valor de antiguidade, possivelmente, é a principal razão da dificuldade do reconhecimento desse patrimônio pela sociedade em geral.
Por outro lado, essa novidade, impensável para o teórico na época, distancia o patrimônio moderno dos constantes conflitos que se estabelecem entre o valor de antiguidade e os demais valores memória, como entre esses e os valores de atualidade definidos por Riegl, ao menos, enquanto o tempo entre o patrimônio moderno e a sociedade que o reconheceu for tão próximo.
Segundo Riegl, diferentemente do valor de antiguidade, para os valores histórico e de comemoração, interessa a obra em sua forma original e intacta:
O valor histórico é tanto maior quanto mais puramente se revela o estado original e acabado do monumento, tal como se apresentava no momento de sua criação: para o valor histórico, as alterações e degradações parciais são perturbadoras […] Trata-se mais de conservar um documento o mais autêntico possível para a pesquisa futura dos historiadores da arte […] As destruições passadas, imputáveis aos agentes naturais, não podem ser anuladas e, do ponto de vista histórico, elas não devem também ser reparadas. Mas as destruições futuras, as que o valor de antiguidade não somente tolera, mas postula, são inúteis aos olhos do valor histórico […].10 […] o valor de rememoração intencional não reivindica menos para o monumento que a imortalidade, o eterno presente, a perenidade do estado original […] A restauração é, pois, o postulado de base dos monumentos intencionais […].11
O aspecto mais atual no discurso de Riegl é a forma como ele enxerga o valor de arte, sujeito a flutuações de época, e o valor de antiguidade que se baseia na subjetividade e é acessível a todas as classes (o valor mais democrático). Riegl desloca-se de uma visada objetiva para uma subjetiva – quase religiosa – aproximando-se de Ruskin, mas apenas nesse ponto.
Na terceira e última parte do texto, Riegl se debruça sobre os valores que, segundo o autor, respondem às necessidades da sociedade moderna tal qual a obra nova: nos seus aspectos funcionais, sensoriais e espirituais. A estes denomina valores de atualidade, subdividindo-os em duas outras categorias: o valor de uso e o valor de arte. Para esses valores de atualidade, assim como para o valor histórico e de comemoração, interessa a manutenção do estado original da obra.
No caso das obras que continuam sendo utilizadas, no entanto, o valor de uso não pode fazer nenhuma concessão ao valor de antiguidade: “para a maioria, um monumento ainda utilizado deve apresentar, mesmo em nossos dias, a aparência juvenil e robusta de suas origens e recusar as marcas de seu envelhecimento ou de suas fragilidades”12.
Por outro lado, os monumentos dotados de valor de arte, que respondem à exigência da moderna Kunstwollen, ou seja, que satisfazem à aspiração de vontade artística do momento comportam duas exigências: uma refere-se à forma conservada nas suas cores e integridade, denominada por Riegl como valor de novidade, e pode ser apreciada por qualquer indivíduo; a outra, que chama de valor relativo, apenas acessível aos que possuem cultura estética, refere-se à presença nas obras passadas de certas qualidades atuais. Em ambos a necessidade recai sobre a conservação integral do bem.
Considerando que toda obra do passado, em princípio, possui valor histórico, e tendo em conta a ausência do valor de antiguidade no patrimônio moderno, pode-se dizer que são os valores de atualidade que melhor caracterizaram esse patrimônio, portanto, a observação desses valores é fundamental para as intervenções no mesmo.
É importante, porém, esclarecermos que esse fato não autoriza intervenções que recusem toda e qualquer marca do passado. Riegl, ao tratar dos valores de atualidade destaca, por um lado, que poderão ser tolerados “certos sintomas de degradação” e, por outro, esclarece que não existe valor de arte eterno, apenas relativo e que, portanto, as exigências relacionadas a esse valor devem ser consideradas em relação ao valor histórico do monumento, de forma que o mesmo não perca seu caráter de documento.
A formulação teórica de Riegl pressupõe um conflito constante entre os diversos valores presentes nos monumentos e a necessidade de uma abordagem crítica para o enfrentamento do dilema que se estabelece na conservação, uma vez que coexistem em uma mesma obra valores antitéticos.
Segundo Françoise Choay, pela primeira vez na história da noção de monumento histórico e de suas aplicações, Riegl toma distância para:
[..] empreender o inventário dos valores não ditos e das significações não explícitas, subjacentes ao conceito de monumento histórico. De uma só vez, este perde sua pseudotransparência de dado objetivo. Torna-se o suporte opaco de valores históricos transitivos e contraditórios, de metas complexas e conflitivas. Riegl mostra que, no plano da teoria assim como no da prática, o dilema destruição/conservação não pode ser opção absoluta, o quê e o como da conservação não comportando jamais uma solução – justa e verdadeira –, mas soluções alternativas, de pertinência relativa.13
Acertadamente Fabris (2014) afirma que Riegl “antecipa algumas propostas do restauro crítico que foram transformadas em reflexão teórica por Brandi”, em exatos sessenta anos depois. Enfatizando essa perspectiva, na apresentação da edição brasileira da Teoria da Restauração, de 2004, traduzida por Beatriz Mugayar Kühl, Giovanni Carbonara afirma que a reflexão de Cesare Brandi “manifesta uma dívida implícita no que concerne à contribuição teórica de Aloïs Riegl”14. Por isso mesmo, Annateresa Fabris destaca, na introdução à tradução de 2014:
O que resta de seu legado nos dias de hoje? A ideia de que toda intervenção em um monumento não pode prescindir de um juízo crítico, já que o restauro caracteriza-se por ser uma ação sociocultural, a requerer ‘uma investigação preliminar sobre a natureza daquilo que se conserva, a fim de detectar na vasta gama das preexistências, os papéis específicos e as vocações de cada uma delas’. Desse modo, Riegl antecipa as propostas do restauro crítico formuladas no segundo pósguerra por profissionais como Roberto Pane, Renato Bonelli e Agnoldomenico Pica, e transformadas em reflexão teórica por Cesare Brandi.15
Pouco mais de um século após a elaboração da obra de Riegl, e seis décadas da obra de Brandi, é possível afirmar que nenhuma outra obra de tamanha consistência teórica para a conservação surgiu, apesar do alargamento não apenas cronológico e geográfico dos bens patrimoniais ocorrida, segundo Françoise Choay16, a partir da década de 1960 e da ampliação da noção de Patrimônio Cultural, incluindo os bens imateriais desde o final do século passado.
Somado a isso, alguns desafios enfrentados para a conservação do recente patrimônio moderno não encontram precedentes na práxis da conservação como: as novas possibilidades documentais trazidas com o acervo de projetos das obras, os grandes componentes e sua substituição integral, ou as especificidades espaciais dessa arquitetura, abrindo o campo de pesquisa e sugerindo não necessariamente a negação dessas teorias, mas sua revisão e ampliação17.
Ao contrário da questão material, a abordagem dos aspectos espaciais das obras de arquitetura nas teorias da conservação é incipiente e, consequentemente, sua importância tem sido pouco considerada na prática patrimonial.
Em Riegl, embora o valor de uso devesse estar intrinsicamente vinculado aos aspectos espaciais da obra de arquitetura como parte de seu valor artístico, é reduzido apenas à sua dimensão utilitária e, nesse sentido, o foco, para o autor, recai sobre os possíveis conflitos com o valor de antiguidade18.
O autor, ao tratar o valor de uso e o valor artístico como distintos, cria não apenas a possibilidade de conflito entre eles, como a prevalência do valor artístico sobre o de uso, aspecto que é reforçado, posteriormente, na Teoria da Restauração de Brandi.
Por outro lado, o princípio de integração entre espaços interiores e exteriores, inerente à arquitetura moderna, torna-se difícil de ser contemplado quando são entendidos como entidades separadas e estanques e quando há prevalência do espaço exterior, conforme aborda Brandi no capítulo destinado aos “Princípios para a Restauração dos Monumentos”. A diluição desses limites faz com que os dilemas espaciais já existentes na conservação da arquitetura fiquem mais evidentes ou agudos com o patrimônio moderno.
A configuração espacial moderna, ao estar em parte fundamentada nas teorias do espaço arquitetônico do final do século XIX e início do século XX19, coloca em questão a preponderância dada à materialidade nas práticas da conservação dessa arquitetura e aponta para a impossibilidade, ou ao menos a inadequação, de uma abordagem conservativa sem a devida importância que deve ser dada também aos seus aspectos espaciais.
Apesar de muito citadas, as obras de Riegl e Brandi ainda são pouco exploradas na utilização operacional e pouco aprofundadas nos debates e reflexões sobre a questão da conservação do patrimônio artístico ou arquitetônico.
Quais as razões para tão pouca atenção e discussão sobre o tema? As razões estarão no enfraquecimento das relações entre teoria, historia e prática? O problema estaria na crescente complexidade da sociedade contemporânea e na diversidade do corpo patrimonial que dificulta a abordagem teórica no tratamento desse patrimônio? Aprofundar o entendimento sobre essas obras a partir do olhar contemporâneo, como nos ensina Riegl, talvez seja o ponto de partida para a ampliação da discussão da conservação da arquitetura (não apenas moderna), da prática da conservação, bem como do papel das instituições patrimoniais na conservação desse patrimônio.
Notas
3 As duas traduções brasileiras do livro de Aloïs Riegl consultadas são: a primeira, feita a partir da edição francesa, Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse (Paris: Seuil, 1984), publicada pela Editora da Universidade Católica de Goiânia em 2006, e a segunda, feita a partir da edição original em alemão, Der moderne denkmalkultus: sein wesen und seine entstehung (Viena & Leipzig: W. Braumüller, 1903), publicada pela Editora Perspectiva em 2014.
4 ZERNER apud FABRIS, Annateresa. “Os valores do Monumento”. In: RIEGL, Aloïs. O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. Tradução de Werner Rothschild Davidsohn e Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 19.
5 BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004 [1963].
6 O moderno a que se refere Riegl pertence às transformações modernas do século XIX e não pode ser confundido com o termo utilizado quando nos referimos à produção moderna da arquitetura no século XX.
7 RIEGL, O culto moderno…, p. 32.
10 RIEGL, Aloïs. O culto dos monumentos: sua essência e sua gênese. Tradução da edição francesa por Elane Ribeiro Peixoto e Albertina Vicentini. Goiânia: Editora da Universidade Católica de Goiás, 2006, p. 76-77.
11 RIEGL, O culto dos monumentos…, p. 85-86.
12 RIEGL, O culto dos monumentos…, p. 99.
13 CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo:
Estação Liberdade; Editora UNESP, 2001 [1992], p. 13-16.
14 CARBONARA, Giovanni. “Apresentação”. In: BRANDI, Teoria da restauração…, p. 9.
15 FABRIS, Annateresa. “Os valores do monumento”. In: RIEGL, O culto moderno…, p. 20-21.
16 CHOAY, A alegoria do Patrimônio…, passim.
17 ROCHA, Mércia Parente. Patrimônio arquitetônico moderno: do debate às intervenções. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2011.
18 RIEGL, O culto dos monumentos…, p. 38-39.
19 Sobre os trabalhos que ao final do século XIX introduzem na teoria da arquitetura o conceito de espaço, até então objeto de estudo em especial da filosofia, destacam-se aqueles elaborados pelos pesquisadores alemães August Schmarsow e Adolf Hildebrand, cujo pensamento está fundado numa visão da arquitetura a partir de seu interior.
Mércia Parente Rocha – Arquiteta, Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba. Professora do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do CESED/ FACISA em Campina Grande – PB.
Nelci Tinem -Arquiteta, Doutora em História da Arquitetura Urbana pela Universitat Politecnica de Catalunya. Professora Titular do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba.
[MLPDB]
“Proletarios de todos los países…’perdonadnos!” El humor político clandestino en los regímenes de tipo siviético y el papel deslegitimador del chiste em Europa central y oriental (1917-1991) – VÁRNAGY (RTA)
VÁRNAGY, Tomás. “Proletarios de todos los países…’perdonadnos!” El humor político clandestino en los regímenes de tipo siviético y el papel deslegitimador del chiste em Europa central y oriental (1917-1991). Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2016. 372p. Resenha de: GÓMEZ, Diego Hernando. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.8, n.18, p.445‐450, maio/ago., 2016.
Este libro es una mordaz y corrosiva crítica de los “socialismos realmente existentes” en Europa. El autor, de izquierdas y admirador del pensamiento de Karl Marx, aclara en el Prólogo (pp. 7 a 11) su postura en contra del capitalismo depredador, el imperialismo y la política exterior de los Estados Unidos. Su hipótesis central, “exagerando y a la manera de un chiste” (p. 359), es que la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética no fueron provocados por la política del Papa Wojtyla, ni los muyahidines de Afganistán, ni la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, tampoco Gorbachov o la ineficiencia del sistema soviético, sino que fueron incitados por los chistes y el humor clandestino.
En la Introducción (pp. 13 a 24), cita a Bertolt Brecht: “No se debe combatir a los dictadores, hay que ridiculizarlos”, y cuenta que comenzó a coleccionar chistes sistemáticamente luego de leer un libro de Agnes Heller, Ferenc Fehér y György Márkus (discípulos de György [Georg] Lukács de la Escuela de Budapest) en el cual se narra el siguiente: Un día Stalin hizo comparecer a Radek, que era bien conocido por su cinismo y dado a decir cosas que otros ni siquiera se atrevían a pensar.
Stalin le dijo: Me han informado, camarada Radek, que te expresas de mí de un modo irónico. ¿Has olvidado que soy el líder del proletariado del mundo? Discúlpame, camarada Stalin – replicó Radek –, ese chiste en particular no lo inventé yo.
Existe un debate sobre la naturaleza paradojal del humor, y la pregunta que trata de responder el autor es si los chistes políticos clandestinos (prohibidos) en los regímenes de tipo soviético fueron efectivamente un factor de deslegitimación o tuvieron un papel inoperante y nulo. Su hipótesis es que los chistes efectivamente pesaron en el proceso de deslegitimación política de estos regímenes, desestructurando y poniendo “patas arriba” el orden establecido.
Los chistes hacían constante referencia a la brecha entre la propaganda y la realidad concreta, reflejando una doble vida que diferenciaba claramente lo público de lo doméstico. Con esos chistes, se pretendía mostrar las incongruencias y distorsiones en un mundo dicotómico entre la ideología oficial dominante y las circunstancias materiales reales, produciendo una risa liberadora de las constricciones, pues se revelaban las contradicciones entre ambas esferas.
En el primer capítulo, “Teorías del humor” (pp. 25 a 69), se hace un análisis acerca de las teorías del humor, la risa y el chiste, mostrando las diferentes perspectivas que resultan en casi un centenar de teorías documentadas con respecto al tema. El autor aborda la historia del pensamiento occidental, desde el Antiguo Testamento y los Evangelios, pasando por la risa homérica, las comedias de Aristófanes y la filosofía griega, tanto Platón como Aristóteles. También analiza la “seriedad oficial” medieval, el pensamiento de Tomás de Aquino, la interpretación de Humberto Eco en El nombre de la rosa y el Carnaval del Medioevo, que producía un “mundo al revés” en donde la risa de los campesinos era una revuelta en contra de todo lo establecido.
Thomas Hobbes desarrolló la teoría de la superioridad, comenzada por Platón, afirmando que la risa es de los poderosos. Con Immanuel Kant, apareció la teoría de la incongruencia, pues lo que provoca risa tiene que ver con una expectativa que queda en la nada. Herbert Spencer consideró a la risa como un desahogo de energía y Sigmund Freud retomó esta teoría de la descarga, discurriendo que el humor y los chistes son un alivio que permite la expresión de tensiones sexuales y agresivas de una manera socialmente aceptable.
En el segundo capítulo, “Humor político” (pp.71 a 111), Várnagy, desde una perspectiva general, considera que los chistes expresan concentradamente eventos sociales y políticos, dando cuenta del humor político en la Antigüedad y el Medioevo y, con la invención de la imprenta y la lucha entre católicos y protestantes, muestra el surgimiento de toda una corriente de chistes anticlericales. El humor político podía ser peligroso – Daniel Defoe fue a la picota por su parodia de los Tories – y cuestionador – Jonathan Swift escribió un ensayo crítico de las condiciones paupérrimas de Irlanda debido al colonialismo inglés.
Hubo chistes políticos durante la Revolución Francesa, sobre Napoleón y muchos otros temas candentes. Así que, en el siglo XIX, debido a la vigilancia y la censura, se produjo la aparición de la prensa clandestina en muchos países. El cabaret se convirtió en un eficiente medio de crítica, extendiéndose por toda Europa y, en la Alemania nazi, el humor fue empujado a la clandestinidad. Además, se destaca que el humor patibulario de los chistes (anti) nazis fue una importante forma de resistencia.
El tercer capítulo, “Humor político ‘comunista’” (pp. 113 a 173), trata específicamente sobre el humor “comunista”. En ese punto, el autor hace notar que los chistes políticos clandestinos eran vitales en esos países porque eran un instrumento para expresar quejas y críticas. Menciona también que la persecución por contar chistes se remonta a la Antigüedad y ya está registrada en la Grecia clásica; en la Unión Soviética era considerado como una “actividad contrarrevolucionaria”.
Anekdot es la palabra rusa para “chiste político clandestino” y era una forma de desmentir la política oficial. Su tremenda popularidad, de acuerdo a Várnagy, socavó y deslegitimó al régimen soviético. Se hace referencia a la influencia del humor judío, armenio y georgiano, las diferencias entre la esfera pública y la doméstica, los chistes sobre la estupidez, y se realiza una periodización del humor político “comunista” desde la década de 1920, pasando por el estalinismo, el deshielo, la década de 1960, el centenario del nacimiento de Lenin, el estancamiento brezhneviano y los cambios producidos por Gorbachov, con ejemplos concretos de una recopilación de chistes tanto en la Unión Soviética como en todos los países de los socialismos realmente existentes en Europa.
El capítulo cuatro, “Chistes en la Unión Soviética” (pp. 175 a 273), es una colección de humor clandestino desde 1917 hasta 1991. Se cita a Karl Marx cuando éste dice que “La última fase de una forma histórica mundial es su comedia” (Introducción a la Contribución de la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel de 1844). Se presenta aquí una síntesis de la vida en la URSS: ¿Cómo es la vida en la Unión Soviética? Con Lenin era como estar en un túnel: rodeados de oscuridad pero con una luz adelante que nos guiaba. Con Stalin era como andar en autobús: uno conduce, algunos están sentados [“estar sentado” en ruso es sinónimo de “estar en prisión”], el resto temblando. Con Jrushchov era como estar en un circo: un hombre habla y todos los demás se ríen. Con Brezhnev era como estar en el cine con una mala película: todos están esperando que el espectáculo termine y, finalmente, Gorbachov es quien descorre las cortinas para que la gente salga.
El capítulo quinto, “Chistes en Europa central y oriental” (pp. 275 a 335), selecciona y recopila el humor prohibido de Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia. La migración del humor fue una característica de todos esos países, y el mismo chiste podía contarse sobre Ulbricht, Ceaucescu o Rákosi: En Bucarest hay una larga fila de más de dos kilómetros para comprar pan. Uno de los posibles clientes, furioso, grita: “¡Voy a matar a Ceaucescu!”, y se va corriendo. Regresa una hora después y le preguntan: “¿Lo mataste?” “No, la cola allí era más larga…”.
Otro chiste, más específicamente nacional, referido a la fuerte religiosidad de los polacos y claramente subversivo, es el siguiente: Un político francés visita Polonia. El domingo expresa su deseo de ir a misa y se le asigna un alto funcionario para que lo acompañe.
“¿Es usted católico?”, le pregunta el francés.
“Creyente, pero no practicante”.
“Por supuesto, ya que usted es un comunista”.
“Practicante, pero no creyente”.
El último capítulo, “Humor y deslegitimación” (pp. 337 a 359), se discurre el tema de la legitimidad en la URSS y los países del bloque en Europa, donde el autor considera que los chistes reflejaban la crisis de los valores socialistas y el quebranto de su legitimidad, pues atacaban las bases y fundamentos mismos de la ideología, subvirtiendo al sistema y produciendo una inversión del mundo. Introduce aquí el pensamiento del ruso Mijaíl Bajtín, en La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, en que analizó el carnaval medieval y la conciencia popular, el divorcio entre el lenguaje oficial y la realidad concreta. Várnagy afirma que la incongruencia entre ambos se daba tanto en el Medioevo como en la Unión Soviética, y la naturaleza rebelde del carnaval y la risa fueron una fuerza liberadora y revolucionaria. El humor carnavalesco produjo la desestructuración de la cultura oficial y la deslegitimación del orden existente.
En síntesis, el autor tiene en cuenta que las tendencias centrales de los chistes apuntaban a los mismos fundamentos del sistema, abarcando un rango excepcionalmente amplio, desde aspectos de la vida cotidiana hasta los eventos políticos más importantes. Los chistes fueron una respuesta integral a todo el cuerpo doctrinario, desacreditando el carácter científico de la teoría y la práctica, y revelando la traición al pensamiento de los fundadores, lo que produjo una pérdida de legitimidad que subvirtió todo el esquema del bloque soviético.
El libro es un trabajo sumamente original, exhaustivo en el análisis del tema, con recopilación de materiales inexistentes en lengua española y, por momentos, tan divertido que resulta imposible no soltar una risa franca. Además, contiene una importante bibliografía (pp. 361 a 372) en varios idiomas y más de 80 ilustraciones poco conocidas (fotos, afiches y caricaturas).
Tomás Várnagy, húngaro‐argentino, es profesor de Filosofía, doctor en Ciencias Sociales y enseña Teoría Política en la Universidad de Buenos Aires.
Diego Hernando Gómez – Sociologo e historiador de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajo en la Universidad del Salvador y ETER. Argentina [email protected]
[IF]
La motivación, el punto clave de la educación. Curso de cocina rápida – GARCÍA ANDRÉS (I-DCSGH)
GARCÍA ANDRÉS, J. La motivación, el punto clave de la educación. Curso de cocina rápida. Burgos: Universidad de Burgos, 2015. Resenha de: SÁNCHEZ AGUSTÍ, María. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.83, p.81-82, abr., 2016.
El doctor García Andrés, profesor de educación secundaria en Burgos y, también, en la universidad de esta ciudad castellana, ha escrito un sugerente libro sobre motivación escolar, publicado por el Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional de la universidad burgalesa.
Ya su tesis doctoral en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad de Valladolid –«Mecanismos motivadores en la enseñanza de la historia. Un modelo de aplicación con alumnos de ESO»– obtuvo una mención honorífica en la convocatoria del CIDE para premios a la investigación educativa y tesis doctorales defendidas en el año 2006. Y ese mismo año, además, obtenía el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa, en el área de humanidades y ciencias sociales, por una «investigación de archivo» (según la propia denominación del trabajo) titulada «Asesinato en la catedral, una propuesta didáctica» que el lector puede encontrar resumida en un artículo publicado por el autor en el número 63 de Íber (2010). Si en estos trabajos (y en otros de su amplio currículum) García Andrés se ha preocupado por la motivación en la enseñanza de la historia, en la obra que comentamos ésta se aborda con un carácter más general: la motivación en el aula, circunscrita a cualquier materia.
Se trata, por tanto, de un libro dirigido al profesorado escrito por un profesor interesado en cómo despertar la curiosidad de los alumnos por el qué. Pero ahora, además, como docente experimentado, el autor busca avivar también el interés de los futuros lectores por los planteamientos que expone. Y para ello, creativa (y acertadamente), compara la función de enseñar con la de un chef y el aula, con una cocina. Ciertamente, los ingredientes con los que cuenta un chef suelen los mismos, si bien su fraccionamiento, su preparación, sus mezclas, sus grados de coc-ción, sus salsas añadidas… varían según sean los comensales: primaria, secundaria, adultos, «dietas» individuales… A este respecto no nos resistimos a anotar las originales «raciones» que componen el libro: I. Abriendo el apetito (el aperitivo… el perejil de todas las salsas…), II. Los ingredientes básicos (la motivación inicial): materia prima y condimentos, III. Los ingredientes extra (la motivación continua); primeros platos, «las cosas claras»; segundos platos, «las cosas raras».
En sus «primeros platos», García Andrés aborda «los ingredientes que favorecen la forma de enseñar » (como por ejemplo «comer con los ojos»), mientras que, en los «segundos platos», señala «los ingredientes que favorecen la forma de aprender» (como por ejemplo «¿cueces o enriqueces?»).
Todo acaba con «la guinda del pastel», en el postre, y con la motivación final («la cuenta»), donde se busca aprender de forma autónoma.
Dentro de estos originales capítulos y atractivas denominaciones, nos encontramos con el tratamiento de los procesos de aprendizaje, las capacidades cognitivas, el esfuerzo, el fracaso escolar, la enseñanza activa, el aprendizaje comprensivo y, en definitiva, con aquello que es la preocupación fundamental de esta obra: la diferente naturaleza de las motivaciones (y desmotivaciones) de los alumnos y las diversas posibilidades para la acción didáctica del profesor.
Se trata pues de un libro sobre motivación válido para el alumnado de cualquier nivel que, por la presentación y variedad de las propuestas didácticas que contiene, a quien primero motivará es a los docentes, quienes, sin duda, se sentirán motivados por las citas, los ejemplos, las imágenes, los gráficos, las alusiones, etc., pero sobre todo por una nueva visión del tema, claramente novedosa, diferente a los tradicionales planteamientos científicos propios del mundo de las ciencias de la educación.
Y por si fuera poco, para terminar esta reseña, el autor utiliza un castellano muy correcto, muy ágil, de facilísima lectura. Todo ello presentado en una edición en donde es de destacar la riqueza gráfica y cromática de sus atractivas páginas.
María Sánchez Agustí – E-mail: [email protected]
[IF]Hajari, as fúrias da meia-noite de Nisid: o legado mortal da partição da Índia | Oliver Stuenkel
A partição, a divisão do subcontinente indiano em dois países em 1947, sempre será lembrada como uma das maiores tragédias do século XX, envolvendo uma das maiores migrações humanas forçadas da história, deslocando mais de 10 milhões de pessoas. Isso levou a mais de um milhão de mortes no contexto da saída da Grã-Bretanha do subcontinente e da independência da Índia e do Paquistão. Finalmente, foi o capítulo de abertura de uma das rivalidades mais complexas e não resolvidas do mundo, produzindo um hot spot nuclear que muitos consideram o mais perigoso do mundo. Nisid Hajari escreveu um livro muito legível sobre a política da Partição, detalhando as negociações e dinâmica de energia na véspera de 15 de agosto de 1947.
Com habilidade jornalística, o autor fornece retratos íntimos dos personagens principais do livro, Jawaharlal Nehru e Mohammed Ali Jinnah. Gandhi, Vallabhbhai Patel (Sardar) e Lord Louis Mountbatten também aparecem com frequência, mas Hajari descreve essencialmente o drama da Partition como um show de dois homens.
Enquanto Hajari se destaca em transformar um evento complexo e pesado em um virador de páginas, sua conta é centrada na Índia e, no final das contas, muito tendenciosa às visões de Nehru para fornecer uma conta equilibrada. O primeiro primeiro-ministro da Índia, o leitor é informado nas primeiras páginas do livro, era “arrojado”, “famoso por algumas das mãos”, tinha “maçãs do rosto aristocráticas e olhos altos que eram piscinas profundas – irresistíveis para suas muitas admiradoras”. “Apesar de desdenhoso das superficialidades, ele cuidou muito da aparência”, maravilha-se o autor. Ao longo do livro, Hajari descreve as qualidades supostamente sobre-humanas de Nehru, por exemplo, quando ele oferece o risco de sua vida para proteger os muçulmanos em Old Delhi. Jinnah, por outro lado, é amplamente descrito como um bandido sedento de poder que carecia de princípios “irascível” e ”
Nehru, o autor admite, também tinha falhas. Como escreve Hajari, Nehru se recusou a aceitar a Liga Muçulmana como parceiro da coalizão em 1937, exceto em termos humilhantes que incluíam a fusão incondicional dos partidos parlamentares da Liga Muçulmana no Congresso. O comportamento arrogante e distante de Nehru era precisamente o que Jinnah precisava para fortalecer as ansiedades que os muçulmanos tinham em relação à Índia dominada pela maioria hindu. E, no entanto, o livro deixa poucas dúvidas sobre quem é o vilão da história.
O que talvez seja mais problemático com esse relato é que a idéia de criar o Paquistão é descrita como pouco mais do que uma manobra usada por Jinnah para retomar sua carreira política após o retorno de Gandhi da África do Sul e a ascensão do povo hindu. O congresso o empurrou para a margem. Depois que sua jovem esposa se suicida, Jinnah se muda para uma casa sombria com sua irmã do mal, Fátima. Enquanto Nehru é movido por altos ideais, sugere o livro, Jinnah é movido pela amargura e pelo desejo de vingança.
No entanto, a idéia do Paquistão era muito mais do que um mero argumento de barganha proposto por Jinnah. Hajari permanece calado sobre figuras-chave como Muhammad Iqbal, uma das figuras mais importantes da literatura urdu e o filósofo que inspirou o Movimento Paquistanês. O autor parece sugerir que seria necessário apenas um representante mais moderado da Liga Muçulmana para evitar a Partição.
Contudo, esse argumento ignora que as eleições supervisionadas pelos britânicos em 1937 e 1946, que o Congresso dominado pelos hindus venceu com facilidade, apenas endureceram a identidade muçulmana e tornaram inevitável a divisão. A política britânica de definir comunidades com base na identidade religiosa, que alterou fundamentalmente a autopercepção indiana, requer muito mais atenção para explicar a dinâmica que levou à Partição. Churchill, em particular, viu consolidar uma identidade muçulmana na Índia e alimentar tensões sectárias como essenciais para prolongar o domínio britânico no subcontinente (ele apoiou ativamente a causa de Jinnah nos anos anteriores a 1947).
Hajari reconhece que a decisão de Mountbatten de antecipar a retirada da Grã-Bretanha e deixar um cartógrafo despreparado traçar as fronteiras dentro de 40 dias (sem visitar as regiões afetadas, como o autor nota corretamente) tornou todo o projeto muito mais mortal do que poderia ter sido em outras circunstâncias . Jinnah dificilmente poderia ter antecipado tal comportamento irresponsável pelos britânicos.
Como escreve Pankaj ( Mishra, 2007 ), ninguém havia se preparado para uma transferência massiva de população. Mesmo quando milícias armadas vagavam pelo campo, procurando pessoas para sequestrar, estuprar e matar, casas para saquear e trens para descarrilar e queimar, a única força capaz de restaurar a ordem, o Exército Indiano Britânico, estava sendo dividida em linhas religiosas – soldados muçulmanos no Paquistão, hindus na Índia. Em breve, muitos dos soldados comunalizados se uniriam a seus co-religiosos na matança de facções, dando à violência a partição de seu elenco genocida … Os soldados britânicos confinados em seus quartéis, ordenados por Montana para salvar apenas vidas britânicas, podem provar ser a imagem mais duradoura do retiro imperial.
As Fúrias da meia-noite não descobrem muitas fontes novas e os especialistas não encontrarão nada que mude de opinião, mas o livro é bem pesquisado. Uma exceção um tanto estranha é a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), uma organização hindu de direita, que Hajari abrevia erroneamente como RSSS ao longo do livro.
Apesar de seu viés, o livro aponta para a importância de um ponto de virada histórico crucial que continua a moldar os atuais debates geopolíticos. Como a disciplina de Relações Internacionais, em particular, continua se concentrando demais no que aconteceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, são necessários muitos outros livros sobre as consequências da guerra na Ásia e em outras partes do mundo.
Referências
Mishra, Pankaj. Feridas de saída: o legado da partição indiana. 13 de agosto de 2007. Disponível em: http://www.newyorker.com/magazine/2007/08/13/exit-wounds ; Acesso em: 12 jan. 2016. [ Links ]
Oliver Stuenkel – Professor Assistente de Relações Internacionais, Faculdade de Ciências Sociais, Fundação Getulio Vargas (FGV). São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
STUENKEL, Oliver. Hajari, as fúrias da meia-noite de Nisid: o legado mortal da partição da Índia. Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt, 2015. 328p. Resenha de: STUENKEL, Oliver. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71 São Paulo, jan./abr. 2016.
Historiografia da revolução científica: Alexandre Koyré, Thomas Kuhn e Steven Shapin | Franscismary Alves da Silva
A institucionalização da Ciência Moderna, como a conhecemos hoje, tem a sua origem associada às transformações conceituais e metodológicas pelas quais o desenvolvimento científico passou, essencialmente, entre os séculos XVI e XVII. Tais transformações com o tempo passaram a ser trabalhadas pela historiografia sob a designação de “revolução científica”. A dinamicidade e a amplitude com que este conceito foi problematizado ao longo do século XX é o foco central da pesquisa realizada pela professora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) Francismary Alves da Silva em sua dissertação de mestrado, Historiografia da Revolução Científica: Alexandre Koyré, Thomas Kuhn e Steven Shapin, defendida junto ao Departamento de História da UFMG em 2010 e publicada recentemente (2015) com o mesmo título. Nesse estudo a autora discute de maneira didática, a partir de uma perspectiva histórica, as principais questões com que a História da ciência se deparou com relação aos conhecimentos humanos sobre a natureza, fundamentalmente, em três momentos específicos: na consolidação, no apogeu e o declínio da expressão “revolução científica”. Leia Mais
A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822) | João Paulo Pimenta
A desagregação dos impérios espanhol e português é objeto de vastíssima bibliografia. Vinculado a esse assunto, a independência das colônias americanas é um dos temas de estudo marcado por uma infinidade de debates historiográficos importantes. No caso específico do Brasil, um desses importantes temas historiográficos refere-se à dicotomia continuidade/descontinuidade com o passado colonial. Outros pontos importantes relacionam-se com a problemática da manutenção da unidade e com o debate sobre a recolonização do Brasil. A historiografia é abrangente, e boa parte dessas discussões remete ao século XIX.
O livro de João Paulo Pimenta, A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822), é mais um trabalho importante que surge nesse vasto conjunto bibliográfico. O livro propõe uma mirada significativamente insinuante ao tratar esse momento histórico de uma perspectiva ampla, que insere diversos espaços e atores em um cenário maior de profundas redefinições. Esses espaços e atores são aqueles vinculados à “crise e dissolução do Império espanhol na América” e aos envolvidos diretamente na realidade luso-americana.
Pimenta procura estudar como a experiência hispano-americana condicionou a trajetória política dos sujeitos na América portuguesa num contexto mundial turbulento, marcado pela guerra na Europa e pela fragilização dos controles metropolitanos sobre as colônias americanas. Em seus termos,
as transformações políticas em curso na América espanhola durante a crise e dissolução do Antigo Regime constituíram um espaço de experiência para o universo político luso-americano, em grande medida responsável pelas condições gerais de projeção e consecução de horizontes de expectativas na América portuguesa, dos quais resultou um Brasil independente de Portugal, nacional, soberano, monárquico e escravista” (p. 31)
Nessa passagem, estão sublinhadas as duas categorias históricas concebidas por Reinhart Koselleck, a categoria de “espaço de experiência” e a de “horizonte de expectativas”. De fato, ao longo do livro, é possível notar grande unidade narrativa que demonstra como o universo de crise do império espanhol constituiu-se como um espaço de experiência para que os atores vinculados diretamente ao mundo luso-americano pudessem projetar um horizonte de expectativas para o império português. Em diversos momentos do livro, a associação é evidente, como, para citar apenas um exemplo, no caso da Revolução Pernambucana de 1817, quando a experiência hispano-americana explodiu internamente no espaço político luso-americano.
Organizado em quatro capítulos que seguem a lógica dos acontecimentos internacionais entre 1808 e 1822, Pimenta acompanha as vicissitudes que marcaram os impérios espanhol e português, ambos afetados diretamente pelo curso das guerras napoleônicas e por um ambiente revolucionário que facultava a mobilização e a propagação de ideias de transformação. A leitura do livro permite o entendimento de que o Brasil se inseria num contexto marcadamente revolucionário na qual a proximidade com os acontecimentos da América espanhola era determinante para a atuação dos sujeitos – fossem eles apoiadores da Corte joanina ou críticos dela.
No primeiro capítulo, intitulado “A América ibérica e a crise das monarquias (1808-1809)”, tem-se uma compreensão da situação crítica vivida por Portugal e Espanha e da aproximação das experiências desses dois países, que combatiam o mesmo inimigo. A integração econômica entre diversas partes do império português e a América hispânica, especialmente as relações comerciais com o Rio da Prata, e os acontecimentos revolucionários que se iniciam com a invasão napoleônica das metrópoles ibéricas oferecem as bases para a atuação da política externa da Corte joanina. Com o colapso das metrópoles ibéricas, Pimenta expõe as reações hostis na América espanhola ao novo governante francês e o surgimento de diversos projetos para enfrentar a crise, com ênfase para o “projeto carlotista”, que impulsionou disputas em diversos pontos do continente, como no Alto Peru (p. 74-75).
Esse primeiro capítulo apresenta passagens importantes que contextualizam a crise do início de século XIX na América e na Europa, com destaque para a ação da Grã-Bretanha, numa clara tentativa de inserir os acontecimentos americanos na chamda Era das Revoluções. O momento revolucionário fica evidente no fracasso do projeto carlotista incentivado pela Corte do Rio de Janeiro, que pretendia a fidelidade da América espanhola a um parente – Carlota Joaquina – do rei espanhol destronado. Nas palavras do autor, tal projeto
encontrava o mesmo obstáculo que qualquer outro encontraria: a impossibilidade de obtenção de uma unanimidade dentro de uma unidade em profunda crise de legitimidade e de representação política como era o Império espanhol, e que agora conhecia a explosão conflituosa de sua natural diversidade. Vimos como o ocaso dos tradicionais vínculos de coesão nacional fazia surgir dilemas e contradições sem solução, convertendo-se em revolucionário até mesmo aquilo que se pretendia conservador. Ao propor uma manutenção – que era ao mesmo tempo uma substituição – desses vínculos por meio da preservação da dinastia, o projeto carlotista tampouco escaparia a essas armadilhas. (p. 84)
O capítulo 2, “O Brasil e o início das revoluções hispano-americanas (1810-1813)”, apresenta a monarquia portuguesa já consolidada no Rio de Janeiro. Sua ideia central é simples. À medida que se aprofunda na América hispânica, a crise do colonialismo espanhol teria condicionado a política na América portuguesa. De acordo com Pimenta, foi crucial para o governo de D. João acompanhar de perto as notícias da parte convulsionada da América espanhola, especialmente porque, como já referido, os contatos entre uma parte e outra dos domínios ibéricos – muitos dos quais comerciais – eram frequentes, e o perigo de contágio, real. Uma vez mais, compreende-se por que o espaço de experiências das colônias espanholas constituiu-se como um horizonte de expectativas para a política joanina. Isso explicaria três elementos muito importantes abordados no capítulo. O primeiro diz respeito à intensa correspondência entre América e Europa travada pelas autoridades portuguesas. O segundo, à repercussão dos acontecimentos internacionais nos jornais que circulavam no Brasil, especialmente Gazeta do Rio de Janeiro, Idade do Ouro do Brasil e Correio Brasiliense. Por fim, à política interna do governo joanino como, por exemplo, os silêncios e lacunas nas notícias da Gazeta do Rio de Janeiro, a censura a periódicos e a perseguição feita pela Intendência Geral de Polícia do Rio de Janeiro aos franceses – inimigos naturais na Europa – e espanhóis – possíveis inimigos e vizinhos na América. Eles poderiam divulgar ideias perigosas e revolucionárias, segundo o ponto de vista das autoridades. Por isso, conclui Pimenta, “a situação dos domínios espanhóis claramente punha em xeque a própria possibilidade de sustentação da monarquia como regime político. O que notadamente não poderia deixar de dizer respeito ao Brasil, ainda mais porque tudo isso se passava em territórios a ele contíguos” (p. 186).
No terceiro capítulo, denominado “O Brasil e a restauração hispano-americana (1814-1819)”, tem-se um enfoque mais preciso na situação dos países ibéricos no contexto da nova ordem pós-napoleônica. O cenário de turbulência da América hispânica, marcada pela guerra civil – objeto de denúncia do Correio Brasiliense – e o acompanhamento e a atuação do governo de D. João frente à situação dramática dos vizinhos são dois pontos que o autor consegue muito bem correlacionar. Nesse contexto, as peças de um xadrez revolucionário se movimentam no tabuleiro do espaço Atlântico, tanto do lado de cá, na América, quanto do lado de lá, na Europa, com a nova ordem sendo construída a partir do Congresso de Viena. O difícil jogo de aproximação que se constrói entre os governos de Portugal e Espanha nesse contexto, a ameaça à segurança interna ao império português, as tensões geradas pelo governo de Buenos Aires e pela atuação de Artigas, a necessidade de proteção às fronteiras e a invasão da Província Oriental, tudo isso chama a atenção do leitor para a complexidade do quadro que se apresentava para o universo político português. Nesse sentido, cumpre destacar dois pontos: a caso da localidade de Marabitanas, às margens do rio Negro, na Amazônia, e a atuação de Lecor na Província Oriental. No que se refere ao primeiro ponto, destaca-se a proteção às fronteiras dos domínios portugueses em uma localidade distante do Rio de Janeiro. O aparente isolamento não esconde as intensas comunicações feitas pelo comandante do posto militar de Marabitanas, Pedro Miguel Ferreira Barreto, com o governador do Rio Negro, bem como a necessidade de negociações entre os portugueses nessa fronteira e os revolucionários na Venezuela. Com relação à Província Oriental, destaca-se o modo como atuou o militar Carlos Frederico Lecor na consolidação dos interesses portugueses na região sul do Brasil. Todo esse cenário de turbulências, guerra civil e ameaças de revolução preocupavam a Corte joanina, especialmente após o movimento revolucionário de 1817 em Pernambuco. Justificava-se, desse modo, o acompanhamento das transformações no mundo hispano-americano. Como escreve Pimenta, “o ano de 1817 agregou a um conhecido quadro de medos, tensões e descontentamentos um novo componente: a revolução, que agora se concretizava não somente na vizinhança, mas também no interior do Reino Unido, em Portugal e no Brasil”.
O momento crítico entre os anos de 1820 e 1822 é o assunto do último capítulo, “A Independência do Brasil e a América”. Esse capítulo representa uma continuidade com a tese central da pesquisa de Pimenta, qual seja, a de que a experiência da América espanhola conformou o universo político do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e também a experiência histórica dos partidários da independência do Brasil. Apesar disso, não houve uma determinação mecânica dos ritmos e caminhos entre o que ocorria nas independências da América hispânica e no Brasil. Nas palavras do autor, a experiência hispano-americana
desfrutará [no momento de crise final dos impérios ibéricos] de condições especialmente favoráveis de amplificação no mundo português, amadurecida e publicizada em proporções até então inéditas. Após ter introduzido, durante os anos anteriores, elementos determinantes para as modalidades desde então assumidas pelos projetos de futuro formulados no universo político luso-americano, essa experiência continuará a ser metabolizada no contexto vintista, para fazer despontar uma solução progressivamente hegemônica para a crise portuguesa, cuja perpetuação será o ‘motor’ da própria independência e constituição do Brasil como Estado autônomo, nacional e soberano.
A crise manifestada pela experiência hispano-americana e suas implicações para o universo político do Reino Unido se manifestará em diversos assuntos, como os debates acerca da permanência de D. João no Brasil e a incorporação da Província Cisplatina ao Reino Unido. A Revolução do Porto e a reunião das Cortes de Lisboa, episódios que acentuaram as diferenças entre os interesses portugueses e os do Brasil, são analisados de modo integrado ao quadro de ruptura definitiva que ocorria em diversos pontos da Américas espanhola. A crise apresenta aos brasileiros um leque de alternativas temerárias. Entre elas estavam a guerra civil – que no plano linguístico expressava-se pelos termos anarquia e revolução – e a independência.
Ao final da leitura, uma certeza. A de que é imprescindível inserir os acontecimentos ocorridos na América no quadro mais amplo da Era das Revoluções. Sem dúvida, as ocorrências estudadas por Pimenta podem ser classificadas como revolucionárias porque “tanto Portugal e Espanha quanto seus respectivos impérios ultramarinos integram uma mesma conjuntura política e econômica mundial, marcada pelo avanço do Império de Napoleão e sua subsequente submissão aos padrões reacionários legitimistas da Santa Aliança, bem como pela emergência da Grã-Bretanha na condição de potência hegemônica, alavancada pelo seu pioneirismo no desenvolvimento de padrões industriais de produção capitalista” (p. 462). A leitura do livro, sem dúvida, permite perceber essa perspectiva ampla.
Agregando valor aos grandes temas historiográficos sobre a independência do Brasil, o livro de João Paulo Pimenta será referência para qualquer estudo que revisite o processo de independência do Brasil quebrando as grades de ferro do nacionalismo metodológico.
Marco Aurélio dos Santos – Departamento de História da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiênciaamericana (1808-1822). São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2015. Resenha de: SANTOS, Marco Aurélio dos. A independência das Américas na era das revoluções. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 214-217, jan./abr., 2016.
Revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais – LIMA et al (AF)
LIMA, Edilson Vicente et al; FERNANDES, José Antônio da Costa (Org). Revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais. São Paulo: Editora Kafka, 2016. Resenha de: PAOLIELLO, Guilherme. Artefilosofia, Ouro Preto, n.21, 2016.
Organizado a partir de um evento promovido pelo Ministério da Cultura em parceria com a Casa de Portugal (SP/BR) e o Centro Cultural 25 de Abril, sobre a Revolução de 25 de abril-entre nós mais conhecida como a Revolução dos Cravos-, o livro “A Revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais” aborda temáticas que englobam aspectos políticos, sociais, históricos e culturais, e amplia não apenas nossa compreensão daquele movimento inspirador para o destino da democracia no mundo, como estabelece reflexões aprofundadas acerca das possibilidades de relações entre Portugal e Brasil.
O livro é estruturado em três capítulos, cada qual precedido de uma introdução elucidativa.
O capítulo 1, intitulado “desafios de Portugal: da revolução aos dias de hoje” trás dois textos. No primeiro, “Revolução e contrarrevolução em Portugal (1974-1976)”, Augusto Buonicore contextualiza o ambiente politico e social que possibilitou o advento da revolução que democratizou o país após os anos de ditadura salazarista, projetando a nação para um futuro que se identifica com ideais mais libertários e progressistas. A fim de compreender a grande complexidade da sociedade portuguesa no período pós-revolucionário, o segundo texto, intitulado “Portugal entre prósperos e calibans: ontem e hoje”, de José Antônio da Costa Fernandes, interliga momentos da história de Portugal numa perspectiva de longa duração, desde o Portugal Imperial, anterior ao 25 de abril, até o Portugal europeu, da União Europeia, em busca de uma identidade ressignificada no mundo globalizado. Para isso se vale d o potencial crítico de conceitos definidores da identidade portuguesa, a partir de autores como Boaventura de Sousa Santos, tais como “pós-colonialismo”, “neocolonialismo”, “barroco”, “periferia e semiperiferia”, a fim de perspectivar o papel das ciências sociais na compreensão e significação de Portugal.
O capítulo 2, “Revolução dos Cravos: cultura e trânsitos coloniais” é composto por três textos que enfatizam o papel da cultura, das artes e das letras na construção de todo um contexto de longa duração no qual se insere a Revolução.
Edilson Vicente de Lima e Rosemeire Moreira, em “F ado, trânsitos coloniais e resistência” traçam um painel histórico no qual o fado, enquanto manifestação musical autenticamente portuguesa, tem origens e se relaciona com gêneros musicais híbridos, tais como a modinha e o lundu, todos eles resultantes dos trânsitos e das trocas culturais triangulares entre Portugal, Brasil e países africanos de colonização portuguesa.
Tendo a diáspora negra como fator determinante na construção da cultura ocidental, “ressoa no fado atual uma memória longínqua de quando nos encontrávamos na festa, na dança e na música, ou seja, nos fados, compartilhando nossos destinos plurais”. Assim como a música sintetiza os trânsitos e as trocas culturais, outras linguagens também inscrevem seu modo de interpretar o mundo. É assim que Alexandre Huady Torres Guimarães, em “ A Revolução dos Cravos pelo olhar foto jornalístico” analisa um conjunto de fotografias de jornais no período da Revolução estabelecendo uma leitura dessas imagens tanto do ponto de vista de sua significação histórica, quanto da composição propriamente fotográfica. No terceiro texto deste capítulo, Lincoln Secco, em “Fernando Pessoa depois da Revolução” investiga a produção textual política do poeta portugues, esquecida nos anos da ditadura, mas de interesse crescente após a Revolução. Não apenas a produção poética e textual propriamente dita mas a fotografia jornalística e a música são tratadas, neste capítulo, como textos a serem lidos e interpretados, no sentido que propõe Alberto Manguel, para quem ler é um “processo de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, pessoal”.
Após contextualizar e problematizar os desdobramentos da Revolução dos Cravos no primeiro capítulo e ampliar o arco interpretativo tendo como referência diferentes modos de ler a cultura e a história, no segundo, o terceiro capítulo do livro se volta para os sujeitos da relação Portugal-Brasil.
Daí o título “Imigrantes, resistências e acomodações”. Neste capítulo podemos observar parte das discussões que envolvem a Revolução dos Cravos e seus desdobramentos, pois durante o período da ditadura salazarista, vários foram os deslocamentos de portugueses pelo globo, e que impactaram os países receptores e construíram formas novas de sociabilidade e de inserção nestes países. O primeiro texto deste terceiro e último capítulo, “Ações antissalazaristas e protagonismo feminino: Maria Archer e Arajaryr Campos (décadas de 1950-1970)”, de Maria Izilda Santos de Matos, parte de uma sólida pesquisa documental para evidenciar o processo de recepção de imigrantes portugueses em São Paulo e sua atuação política na condição de exilados.
O texto ressalta a importância do jornal “ Portugal Democrático ”, que funcionou numa das salas do Centro Republicano Português de São Paulo, editado ininterrupta e mensalmente, entre 1956 e 1977 com tiragem de cerca de 3000 exemplares, por iniciativa de membros do Partido Comunista Português.
O texto final do livro, “Influências políticas na programação cultural da Casa de Portugal de São Paulo”, de Leandro Rodrigues Gonzalez Fernandez, analisa, sob a ótica da história cultural, parte da programação desta instituição que recebeu algum tipo de influência política, mormente as homenagens e honrarias concedidas pela Casa, já num período mais recente, a membros de partidos políticos brasileiros de viés conservador.
Dessa maneira, o livro “A revolução dos cravos e os trânsitos coloniais”, surge num momento crucial da história de nosso país. Chama a atenção para a urgência de discussão e ampliação do aparato crítico em tempos de retrocesso social e desestabilização da ordem democrática. Conhecer e discutir o processo de democratização perpetrado pela Revolução de 25 de abril de 1974, em Portugal, representa não apenas uma oportunidade de aprofundar as relações entre esses dois países, mas é, sobretudo, um alento para nós brasileiros, n o momento em que se instaura em nosso país uma espécie de estado de exceção operado por um aparelho judiciário historicamente vinculado a setores conservadores da sociedade, sustentado por um oligopólio midiático sem precedentes no mundo contemporâneo e um a tendência à regressão no campo dos costumes pressionada pela atuação de grupos religiosos com forte atuação nos poderes legislativo e executivo.
Guilherme Paoliello-Professor do curso de Música no Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
El ala rota – ALTARRIBA; PUIGARNAO (I-DCSGH)
ALTARRIBA, A.; PUIGARNAO, Aubert (KIM), Carmen. El ala rota. Barcelona: Norma Editorial, 2016. Resenha de: ALAMEDA ARAUS, Maria Carmen. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.86, p.82-83, ene., 2016.
Esta interesante novela gráfica del novelista, ensayista y reputado guionista Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) y del dibujante y miembro fundador de la revista El Jueves Joaquim Aubert Puigarnao (Barcelona, 1941), más conocido como Kim, se puede considerar la segunda parte de El arte de volar (Premio Nacional de Cómic 2010). Si bien se trata de dos obras independientes entre sí, el nexo común es que en ésta que nos ocupa se narra la vida de la madre de Altarriba y, en la anterior, la de su padre. De este modo, dos vidas reales sirven de hilo conductor para describir la historia política y social de la España del siglo xx.
El punto inicial de la difícil existencia de la madre de Altarriba es el descubrimiento por parte de Antonio, su hijo, incluido como un personaje más en la novela, de que su progenitora ha tenido siempre el brazo inmóvil y que nadie se ha dado cuenta. A partir de esta anécdota los lectores somos testigos del clima político-social de la España de esos años: la caída de la monarquía y la llegada de la Segunda República, la Guerra Civil, los duros años de la posguerra y la dictadura franquista. El tema femenino está muy presente, viéndose cómo las mujeres de ese período de nuestra historia –un país dominado por el machismo en todos los ámbitos: político, religioso y social– compartían unas características comunes: eran devotas, sufridoras, obedientes y muchas veces sufrían maltrato.
Debido a la multiplicidad de temas relacionados con la historia de España que se abordan, es una novela gráfica muy útil, de lectura recomendada tanto para profesores como para alumnos, especialmente para aquellos que estén cursando 4.º de ESO o 2.º de bachillerato (en este caso, en relación con las unidades didácticas que marca el temario oficial). En este sentido, El ala rota se divide en cuatro partes que, intituladas con los nombres de los varones que marcaron la vida de Petra, la madre del autor, van unidas, a su vez, con los distintos momentos históricos mencionados anteriormente.
A modo de breve comentario la primera parte, «Damián» (1918- 1942), aborda cómo el nacimiento de Petra trae consigo la muerte de su madre durante el parto (ésta se desangra) y la consiguiente locura de su padre, que le lleva a querer asesinarla sin razón. Estos hechos nos pueden servir para explicar a los alumnos la pobreza que se padecía en el medio rural en aquellos primeros años del siglo xx, así como los escasos adelantos médicos que existían.
También se puede comentar el ambiente social, muy sacralizado, en donde la Iglesia tenía un papel fundamental que influía en el modo de pensar y sentir de las personas; el pluriempleo y la difícil situación de los actores y del teatro en el mundo rural analfabeto; o el embarazo «deshonroso» de la hermana soltera de Petra, que ejemplifica la ardua situación de las mujeres y su continua dependencia con respecto a los hombres.
Otros temas que aparecen reflejados y que se pueden estudiar y tratar en las aulas son, en el ámbito político, la proclamación de la Segunda República, la aparición de la Falange y los sindicatos y el estallido de la Guerra Civil, y, en el social, la vida en los pueblos y el analfabetismo, el trabajo rural infantil, el maltrato de los niños y niñas, o el lugar de la mujer (limitado prácticamente a las tareas propias del hogar) y su indefensión, así como el alcoholismo y la figura del sereno.
Bajo el título de «Juan Bautista» (1942-1950), la segunda parte se desarrolla dentro del contexto del éxodo rural, pues Petra va a trabajar a la ciudad a casa de un alto mando militar. Es ahí en donde conoce al que será su marido.
Observamos aquí los siguientes temas político-sociales, todos ellos interesantes desde un punto de vista didáctico: las diversas facciones políticas, el estamento militar, las conspiraciones para derrocar a Franco, los principales símbolos franquistas (como la izada de banderas, las insignias y los himnos); así como el mundo de las «chachas », el lujo de la ciudad frente a la pobreza del pueblo o la educación en manos de la Iglesia.
En el tercer apartado, «Antonio» (1950-1985), los padres de Altarriba se casan y tiene lugar el nacimiento de Antonio. Con el paso de los años, el matrimonio acaba separándose. Los temas más destacados y útiles para su estudio en el aula son la violencia de género, las miserias de la vida en la ciudad, las nuevas clases sociales, las diferencias entre pobres y ricos en el hogar, las radionovelas y la llegada de la televisión, la censura, el estraperlo y los nuevos transportes.
La última parte de la novela, titulada «Emilio» (1985-1998), narra el ingreso de Petra en una residencia de ancianos dirigida por monjas y su posterior muerte. En este apartado merecen destacarse dos temas: el de las mujeres repudiadas y el de la vida de los ancianos en las residencias, este último muy actual.
Como puede observarse, el número de temas susceptibles de ser utilizados para ejemplificar el estudio de la historia de España en estos años es múltiple. Igualmente, también se puede hacer uso de distintos caminos en el modo de estudiarlos: lectura del cómic, comentarios de partes de la obra que más interesen, averiguar historias parecidas dentro de la familia del alumnado y posteriormente dibujar lo más destacado, investigación por parte de los estudiantes de los temas que aparecen… Por todos estos motivos, la lectura tanto de El ala rota como del libro anterior es pedagógicamente muy sugestiva porque permite visualizar un amplio espectro temporal de nuestra historia de una manera sencilla y entretenida. ¡Adelante, hagan la prueba!
M.ª Carmen Alameda Araus – E-mail: [email protected]
[IF]A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II) – CALAFATE (FU)
CALAFATE, P. A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II). Coimbra: Edições Almedina, 2015. Resenha de: NASCIMENTO1, Marlo do. Os mestres da Escola Ibérica da Paz. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.1, p.81-84, jan./abr., 2016.
A publicação da obra A Escola Ibérica da Paz vem a ser um resgate de textos latinos manuscritos e impressos de alguns professores renascentistas das Universidades de Coimbra e Évora. Os dois volumes da referida obra foram publicados sob a direção de Pedro Calafate, professor da Universidade de Lisboa, e são fruto do trabalho de uma equipe interdisciplinar que realizou suas atividades via projeto Corpus Lusitanorum de Pace: o contributo das Universidades de Coimbra e Évora para a Escola Ibérica da Paz2. Este grupo de pesquisadores tratou de investigar, transcrever e traduzir manuscritos e textos latinos impressos de autores como Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez, Martín de Azpilcueta, Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
O volume I tem por título A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI), com direção de Pedro Calafate e coordenação de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Este volume contém dois estudos introdutórios, apresentação dos textos e, em seguida, a transcrição e tradução de textos de Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez (todos em versão bilíngue latim/português) e ainda, em anexo, um texto transcrito de autor anônimo. Os temas abordados versam sobre questões da guerra e da paz, relacionando-as a temáticas que implicam problemáticas de cunho ético, político e jurídico. Conforme aponta Pedro Calafate, est es textos não deixam de ser verdadeiros manifest os sobre o valor da paz e o respeito pela soberania dos povos.
O Estudo introdutório – I, escrito por Pedro Calafate, tem por título “A Guerra Justa e a igualdade natural dos povos: os debates ético-jurídicos sobre os direitos da pessoa humana”. Nest a introdução, o autor aborda várias temáticas desenvolvidas pela Escola Ibérica da Paz, entre elas: o limite do poder papal e do imperador, a legitimidade das soberanias indígenas, a noção de que o poder dos príncipes pagãos não difere daquele dos príncipes cristãos, a compreensão de que a rudeza dos povos não lhes impede a liberdade nem o direito de domínio e de posse. Discute ainda as punições de crimes contra o gênero humano (sacrifícios humanos, morte de seres humanos inocentes) e apresenta a compreensão de que o cumprimento de ordens superiores não deve justificar o ato de um soldado cometer um crime contra o gênero humano. Ressalta ainda a importância do respeito ao direito natural de sociedade e comunicação, e ainda o direito ao comércio, sendo justa causa de guerra o caso de haver impedimentos violentos contra est es direitos.
No Estudo introdutório – II, escrito por Miguel Nogueira de Brito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o qual versa sobre “A primeira fundação do Direito Internacional Moderno”, ressalta o autor a relevância dos escritos dos teólogos-juristas da segunda escolástica para a fundação do direito internacional moderno. Para isso, ele apresenta o contraste entre as doutrinas dos autores da segunda escolástica (primeira fundação do direito internacional) e os autores da “segunda” fundação do direito internacional público, com destaque para Grócio e Pufendorf. Assim, expõe que os da primeira fundação entendem o direito internacional como direito dos povos e os da segunda assumem que a comunidade é como um instrumento de proteção do indivíduo. Compreender o direto internacional a partir do direito dos povos conduz o autor a relacionar o pensamento dos autores da segunda escolástica com o pensamento de John Rawls. Isso porque a obra de Rawls A Lei dos Povos (1999) é alvo de muitas críticas justamente porque ele aborda as relações internacionais na perspectiva dos povos havendo uma grande semelhança com o pensamento dos autores da segunda escolástica. Por fim, enaltece a importância das ideias destes escolásticos para as discussões sobre o direito internacional mais recente.
Antes de adentrar propriamente os textos transcritos e traduzidos, Ricardo Ventura, da Universidade de Lisboa, tece uma apresentação dos textos, o que muito auxilia na posterior leitura. A apreciação destes textos não só traz à tona a cultura presente nas universidades portuguesas do século XVI, como também mostra o que se tem de mais original no pensamento português, fruto de uma extensão da influência da Escola de Salamanca.
Como primeiro texto temos o escrito de Luís Molina intitulado Da fé – Artigo 8 Se os infiéis devem ser forçados a abraçar a fé (p. 76-105), transcrito e traduzido por Luís Machado de Abreu. A primeira conclusão que se tem é que não é lícito obrigar nenhum dos infiéis a abraçar o batismo e tampouco a fé, e que não é lícito fazer guerra contra eles por est a razão ou subjugá-los. Como uma segunda conclusão se tem que é lícito atrair aqueles que são infiéis com favores, dinheiro e afabilidade, para que desta forma possam ser levados a prestar culto a Deus. A terceira conclusão é que qualquer pessoa tem o direito de anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Quarta conclusão: é lícito fazer guerra, se for necessário, contra aqueles que impedem a pregação do Evangelho como forma de vingar alguma ofensa, com a devida proporcionalidade. Mostra-se lícito forçar os hereges e apóstatas a conservar a fé que receberam no batismo ou fazê-los abraçá-la novamente, porque a ideia é que a Igreja tem poder sobre aqueles que receberam o batismo.
Em seguida, temos o texto chamado Notas sobre a Matéria acerca da Guerra, lecionadas pelo Reverendo Padre Pedro Simões no ano de 1575 (p. 106-209). Este teve a transcrição de Joana Serafim, tradução e anotação de Ana Maria Tarrío e Mariana Costa Castanho, com o estabelecimento do texto e revisão final de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Pouco se sabe sobre Pedro Simões: apenas que em 1557 ingressou na Companhia de Jesus e em 1569 foi professor da Universidade de Évora. Nest e escrito, o autor trata da questão da guerra em três momentos. Além da referência tomista, o texto tem como inspiração as cinco questões sobre a guerra apresentadas na suma de Caetano. Os três momentos abordados por Pedro Simões são: (i) Acerca das condições da guerra justa; (ii) acerca dos soldados e dos restantes que cooperam na guerra; e (iii) acerca do que é lícito fazer em uma guerra justa. Uma das temáticas que permeia est es momentos e vale ser destacada é a importante discussão sobre os títulos que legitimam o poder português nas Índias.
Em seu escrito, António de São Domingos também discute sobre a matéria da guerra. Este autor nasceu em Coimbra em 1531 e professou em 1547 no convento de São Domingos em Lisboa. Assumiu a cadeira prima na Universidade de Coimbra em 1574 e veio a falecer entre 1596 e 1598. Seu texto De bello. Questio 40 (p. 210-341) tem a mesma estruturação feita por São Tomás ao tratar do tema em sua Suma Teológica, ques ão 40, que a estrutura em quatro artigos. Este escrito teve a transcrição e o estabelecimento do texto feitos por Ricardo Ventura e contou com a revisão final da transcrição, tradução do latim e notas de António Guimarães Pinto. Os quatro artigos são assim apresentados: no Artigo 1º, a questão é se fazer guerra é sempre pecado; no artigo 2º, se é lícito aos clérigos combater; no artigo 3º, se numa guerra justa é lícito usar de ciladas; e no artigo 4º, se é lícito combater nos dias santos. É importante destacar, deste manuscrito, que Frei António, ao elencar os títulos que dão direito à guerra justa, diverge de Francisco de Vitória e seus discípulos que defendiam que o direito que Cristo concedeu aos apóstolos de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura (Mc 16,15) era um direito natural. Para Frei António de São Domingos não era assim, pois est e direito concedido por Cristo não poderia ser confundido com um direito natural. Além disso, salienta (f. 68) que o Evangelho deve ser pregado com mansidão e não por força das armas. Desta maneira, é possível revelar o reconhecido respeito que o autor possuía por quem ainda não era conhecedor da revelação cristã.
Temos ainda o escrito de 1588 intitulado Sobre a Matéria da Guerra (p. 342-497), de Fernando Pérez. A transcrição e o estabelecimento do texto são de Filipa Roldão e Ricardo Ventura, e ele teve como revisor final da transcrição e tradutor António Guimarães Pinto. Fernando Pérez, nascido em Córdoba por volta de 1530, foi professor da Universidade de Évora, ocupando a cadeira prima nesta Universidade de 1567 a 1572. In materiam de Bello a Patre Doctore Ferdinandus Perez é um texto inspirado, principalmente, na questão 40 da II-II da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Desta forma, o autor também desenvolve sua temática por meio de quatro artigos a partir das questões levantadas por São Tomás. Cabe lembrar que o texto de Pérez é semelhante em estruturação ao De Bello de António de São Domingos. Talvez a novidade apresentada neste texto seja justamente a relação que Pérez faz das questões levantadas por Tomás com questões pertinentes à sua época, como, por exemplo, reflexões sobre a questão da soberania dos hispânicos sobre as Índias, sobre a guerra contra mouros e turcos, sobre o poder papal, se o mesmo se estende para fora da Igreja, sobre a defesa do direito natural no caso de matar inocentes, sobre a legitimidade de subjugar povos considerados bárbaros (africanos, indígenas do Brasil e outros).
No final deste primeiro volume, também podemos encontrar a minuta de uma carta dirigida a D. João III, de autor anônimo, de 1556 (?), e nela se encontram as causas pelas quais se poderia mover guerra justa contra infiéis. A minuta desta carta tem a transcrição paleográfica de João G. Ramalho Fialho. Este texto carece de um pouco mais de atenção do leitor pelo fato da grafia ser um pouco distinta daquela com que est amos acostumados.
É possível dizer que este primeiro volume é um convite a pensar o direito internacional e seus vários desdobramentos, principalmente no diz respeito a questões de guerra e de paz. O que fica muito claro nestes escritos é a preocupação dos autores em pensar a guerra em função da paz, e est a relação é um dos motivos que tornam seus escritos fascinantes. Por fim, imagino que seja preciso ressaltar uma pequena falha do volume I, que é a falta do Índice Onomástico, o que se pode encontrar no Volume II, que em seguida abordaremos. Ressalto a falta deste tipo de índice porque est a é uma obra com uma da gama de autores importantes citados e a busca dos mesmos se torna um pouco mais difícil sem est a ferramenta.
Ao adentrar o Volume II, deparamo-nos com escritos sobre a justiça, o poder e a escravatura. Sob a direção e coordenação de Pedro Calafate, est e volume é estruturado em duas partes. A primeira parte contém uma introdução à Relectio C. Novit de Iudiciis de Martín de Azpilcueta, de autoria de Pedro Calafate. Em seguida, temos o texto propriamente dito e, no final dest a primeira parte, em anexo o Novit Ille de Inocêncio III. A segunda parte também possui uma nota introdutória elaborada por Pedro Calafate. Na sequência temos três capítulos, nos quais encontramos, respectivamente, a tradução dos escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
Inicialmente, é importante ressaltar que a introdução à Relectio de Martín de Azpilcueta, feita pelo Pedro Calafate, é muito válida, pois ela cumpre o intuito de realmente introduzir o leitor no escrito de Azpilcueta que vem em seguida. Nela, Pedro Calafate apresenta claramente o contexto em que o escrito se insere, além de destacar as principais questões discutidas nele. O escrito Sobre o Poder Supremo (p. 23-181), propriamente dito, de Martín de Azpilcueta, tem a tradução do latim e anotação realizada por António Guimarães Pinto. Martín de Azpilcueta, que foi professor da Universidade de Coimbra, aborda em sua Relectio C. Novit de Iudiciis variados temas, porém a discussão central gira em torno do poder supremo dos reis e dos papas, uma temática um tanto delicada de ser trabalhada, pois o que est á em pauta são os limites do poder temporal e do poder espiritual, questões que envolvem a relação de soberania do Estado e da Igreja.
A Relectio é estruturada em forma de anotações, seis no total. Elas foram desenvolvidas a partir da reflexão sobre o texto de Inocêncio III Novit Ille (1204), que pode ser encontrado em anexo à Parte I deste volume, logo após o escrito de Azpilcueta. Nas duas primeiras anotações, encontramos discussões de questões referentes à onisciência divina à sua relação com o livre-arbítrio, e a crítica à astrologia supersticiosa e às práticas de adivinhação, pelo fato de que elas interferem no âmbito da ciência divina. Porém, é nas anotações III a VI que podemos encontrar o centro do escrito, que versa mais propriamente sobre a questão do poder supremo dos monarcas supremos (tanto reis como papas). Cabe ainda ressaltar que Azpilcueta, fazendo jus à Escola Ibérica da Paz, trata da defesa da soberania legítima dos povos do Novo Mundo, defendendo, no âmbito jurídico, que nem o papa nem o imperador possuíam direito sobre o território e a soberania indígena do Novo Mundo.
Na segunda parte deste volume, podemos encontrar uma nota introdutória seguida de três capítulos onde temos, respectivamente, a tradução de escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
A nota introdutória desta parte, de autoria de Pedro Calafate, apresenta a relevância do conjunto de textos escolhidos dos professores das Universidades de Évora e Coimbra, que tratam de questões como: origem e natureza do poder civil, a escravatura, as relações entre infiéis e cristãos no período entre os séculos XVI e XVII.
No primeiro capítulo, encontraremos excertos de Martín de Ledesma, professor na Universidade de Coimbra entre os anos de 1540-1562, tendo como título Secunda Quartae (p. 197-202). A seleção de textos e a tradução do latim são de Leonel Ribeiro dos Santos a partir da edição príncipe (Coimbra, 1560). São seis excertos intitulados pelo próprio tradutor. Neles são tratados temas que envolvem a defesa da soberania dos povos e do direito natural, o combate do argumento de que a inferioridade civilizacional justifica a guerra e a escravatura, condenando, assim, a escravatura e declarando-a ilegítima quando se tem como pretexto tornar cristãos os escravos. Também discorre sobre o poder papal, destacando que o mesmo não é senhor das coisas temporais e que o poder civil não está sujeito ao poder temporal do papa.
No segundo capítulo, temos o texto de Fernão Rebelo, nascido em 1547, que foi professor da Universidade de Évora. Este escrito tem por título Opus de Obligationibus, Justitiae, Religionis et Caritatis3 (p. 203-241), cuja tradução do latim é de António Guimarães, a partir da edição príncipe (Lyon, 1608). A opção por traduzir apenas algumas questões desta obra se deve à escolha temática. Pelo fato deste escrito possuir uma gama variada de temas, explica Calafate (p. 194), optou-se traduzir apenas as questões relativas à escravatura. E é dentro dessa temática que Fernão Rebelo discorre sobre algumas questões como: quando é legítimo um homem tornar-se escravo de outro, o que legitima a posse de escravos, que tipo de poder tem o senhor sobre o escravo e quais os limites desse poder, quais direitos possui um escravo, quando é lícita a fuga de um escravo e quando est e deve tornar-se livre.
No terceiro e último capítulo deste volume, encontramos o texto de Francisco Suárez chamado Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae Adversus Anglicanae Sectae Errores4 (p. 243-301). Suárez é movido a escrever est a obra no intuito de combater a teses jusdivinistas do rei Jaime I de Inglaterra. A tradução destes capítulos do livro III, cujo título Principatus Politicus se justifica pelo fato deles incidirem mais especificamente sobre a questão da fundamentação da doutrina democrática de Francisco Suárez, conforme explica em nota o tradutor do texto, André Santos Campos (p. 245). Já o capítulo IV do livro VI, que tem por título De Iuramento Fidelitatis, vem de certa forma complementar o que foi exposto no livro III, porém com destaque para o direito à resistência ativa e a discussão em torno do poder indireto do papa ao tratar de questões de ordem temporal.
Cabe ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II) é importante por vários motivos. Dentre eles, pode-se destacar que est a obra é válida por resgatar o pensamento destes autores do Renascimento através de seus escritos, pensamento est e que ilumina de maneira crítica vários acontecimentos históricos dos séculos XVI e XVII referentes às questões de guerra e paz, justiça, poder e escravatura. Ela também resgata uma memória histórica que nos auxilia e influencia a pensar o presente e o futuro sob uma nova perspectiva, ou seja, sob a perspectiva de quem compreende o direito como algo inclusivo, do qual todos fazem parte, não distinguindo as pessoas por raça, credo, classe social, costumes, etc. Além disso, é importante ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II), que pode ser adquirida através do site da Editora Almedina, permite o contato, de maneira mais fácil, com textos de autores que, de outra forma, seriam de difícil acesso ao público menos especializado.
Notas
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950, Cristo Rei, 93022-750, São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: [email protected] 2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
3 Desta obra foram traduzidas as questões 9, 10, 11, 12, 13 do livro I.
4 Traduziram-se do latim, a partir da edição príncipe (Coimbra, 1613), apenas os capítulos II, III e IV do livro III, que possui em sua totalidade nove capítulos, e o capítulo IV do livro VI, que possui em sua totalidade 12 capítulos.
Marlo do Nascimento – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
Didáticas da História – entre filósofos e historiadores (1690-1907) | Itamar Freitas
Itamar Freitas (2015) não se furta a dar resposta à questão motivadora e espinal desta obra, mesmo que a faça com certa dose de anacronismo, como alerta durante o texto. Aliás, o que poderia representar para muitos historiadores como uma falha estrutural na urdidura da sua hipótese, levando ao esfacelamento e descrédito dos argumentos, Freitas vale-se do “bicho papão” dos historiadores, o anacronismo, para construir uma interpretação ousada e coerente para questão: “o que é pensar historicamente em…?”. O autor indaga a questão a cinco filósofos e historiadores que entre os séculos XVIII e XX, trataram de alguma forma dos usos da história na formação de pessoas em uma duração conjuntural.
O historiador nos informa que a opção por autores com vivência na Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra está justificada pelos nos nossos modos de ensinar história, que estiveram ancorados em epistemologias de fundo dominantemente empirista (nos casos de J. Lock e F. Herbart) e empirista/evolucionista (J. Dewey), panorama esse, que somente se alteraria no início do século XX, momento em que tais suportes são, em parte, substituídos por uma epistemologia histórica, ainda empirista, embora não positivista (R. Altamira e C.-V. Seignobos). Leia Mais
Los reinos bárbaros em Occidente – COUMERT; DUMÉZIL (PR-RDCDH)
COUMERT, M.; DUMÉZIL, B. Los reinos bárbaros em Occidente. Resenha de: CASTILLO LOZANO, J. A. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.161-162, 2016.
El libro que nos proponemos reseñar es una traducción de Rafael G. Peinado Santaella delconocido libro Les royaumes barbares en Occident (Presses Universitaires de France, 2010) ycuya autoría recae en Magali Coumert y Bruno Dumézil. Magali Coumert es profesora titular en laUniversidad de Bretaña occidental y su campo de estudio siempre ha versado en la época conocidacomo Antigüedad Tardía y/o Alta Edad Media, destacando su obra L’origine des peuples. Les récitsdu Haut Moyen Áge occidental (550-850) (Institut d’Études Augustiniennes, 2007). El segundo autorde este libro es Bruno Dumézil que es profesor titular en la Univerdad de París Oeste-Nanterre LaDéfense y su campo de estudio ha estado enfocado sobre todo al mundo de la tardoantigüedadcon cierta predominancia del reino austrasiano en sus trabajos, de ahí que sea autor de grandespublicaciones entre la que debemos destacar su obra de referencia: La Reine Brunehaut (Fayard,2008).
El estudio de los pueblos germánicos siempre ha sido un tema que ha originado abundantesdebates desde las primeras voces que los señalaban como destructores del Imperio romano hastaa aquellas que en el s. XIX-XX los ponían como los padres fundadores de las naciones europeasa la luz de la génesis de los nacionalismos europeos. En definitiva, este nuevo volumen pretendearrojar luz sobre la interesante historia de estos pueblos.
El libro está compuesto por una serie de capítulos que van acordes a las principales ideas quesurcan la mente de los historiadores de este periodo histórico y que se articulan en torno a la entrada,el establecimiento y la consolidación de los reinos de estas gentes/nationes. De esta manera, enel primer capítulo se nos hace un recorrido sobre aquellas fuentes a las que debemos acudir a lahora de conocer el pasado de estos pueblos antes del contacto con el imperio de la ciudad eterna,Roma (11-17). Estas fuentes son los etnógrafos antiguos (como es el caso de Heródoto), las fuenteshistoriográficas romanas (como es la conocida obra de Tácito: Germania), los restos materiales através de los estudios arqueológicos y, finalmente, la Historia Gentium, es decir, la historia de losorígenes de estos pueblos creadas (o puestas por escrito) mucho tiempo atrás en un intento dedotar de historia y legitimidad a los reinos bárbaros como es el conocido caso de la Getica u Origeny gestas de los Godos de Jordanes. Este capítulo se complementa con una teoría actualizada enla que, siguiendo las últimas tesis del mundo académico, se deja de señalar una supuesta invasióno macro-migración (pp. 17-22), un concepto que tiene claros tintes políticos, para ir dando fuerzaa una migración constante que al mismo Imperio le favorecía, sin olvidar el interesante proceso de etnogénesis progresiva que se iba dando (pp. 22-25).
El segundo capítulo (“Roma y sus vecinos”, pp. 31-54) y el tercero (“Las formas delestablecimiento”, pp. 55-76) son complementarios e intentan sintetizar esos contactos que hubieronentre Roma y los reinos bárbaros antes de la caída de la pars occidental del Imperio. Siguiendo unmodo divulgativo, no carente de un método científico totalmente pulido, el libro traza la existenciade ese limes, de esas fronteras vivas del Imperio que eran testigos de la entrada y de la convivenciaentre esos “bárbaros” y los habitantes del Imperio. De igual manera, se muestra como Roma, dentrode ese espíritu pragmático que siempre la caracterizó, adoptó a estas tribus para su beneficio propio.
Es decir, siempre que pudo sacar beneficio de ellas, lo sacó bien fuera a través de pactos, como losconocidos foedus, o a través de la asimilación directa de este mundo a su organigrama estatal bienformando parte de las tropas regulares o de la administración pública. Todas estas ideas, si bien hansido estudiadas por grandes expertos, nosotros intentamos recogerlas y analizarlas en un recienteartículo nuestro centrándonos en el pueblo godo.
En los siguientes capítulos, bajo los títulos “La cultura bárbara en el siglo V” (pp. 77-99) y“La construcción de los Estados Bárbaros” (pp. 101-125) se nos muestra un momento clave enel devenir de la historia europea ya que tras la simbólica caída de Roma en el 476, la autoridadimperial en Occidente desaparece, se crea un vacío que estos pueblo tenderán a llenar. Si bien escierto, que ya en este mismo siglo, Roma no tenía la suficiente autoridad como para manejar loshilos del destino de estos bárbaros por lo que en cierta medida este proceso de la génesis de losreinos bárbaros lo podemos retrotraer antes de esta fecha simbólica. De este modo, los autores deesta monografía pretenden arrojar una síntesis completa de este complejo pero apasionante arcocronológico a través de las fuentes arqueológicas y literarias.
El último capítulo del libro (“La conversión de los reinos bárbaros”, pp. 101-126) correspondesegún los presupuestos teóricos de los autores al último momento del proceso de la consolidaciónde estos reinos que ya se vienen viendo ellos mismos como los continuadores/herederos del otrorapoderoso Imperio romano.
El libro finaliza con unas breves conclusiones (pp. 147-148) y una selección de aquellasfechas más significativas para los autores y de los trabajos más importantes para adentrarse en estecampo de estudio (el traductor del libro añade una breve selección de títulos recientes en españolsobre este tema).
En definitiva, y a modo de conclusión, nos encontramos ante una monografía que con untono divulgativo intenta demostrar y trazar una historia general de los pueblos bárbaros desde sullegada y primeros contactos con el Imperio romano hasta su instalación como reinos. En definitiva,se trata de una buena manera para aproximarse por primera vez a estos temas y que sirve como unmagnífico recurso para aquellos alumnos o personas con inquietudes que se enfrentan por primeravez a este complejo mundo.
José Ángel Castillo Lozano – Universidad de Murcia
[IF]
Historia. Las últimas cosas antes de las últimas – KRACAUER (CCS)
KRACAUER, Siegfried. Historia. Las últimas cosas antes de las últimas. Buenos Aires: Las Cuarenta. 2010. Resenha de: GURPEGUI VIDAL, F. Javier. Una epistemología del fragmento. El pensamiento histórico de S. Kracauer. Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, Salamanca, n.20, p.165-170, 2016.
Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía/ la Historia y las Ciencias Sociales (CCS)
En esta publicación, con frecuencia hemos trabajado con los autores de la “Escuela de Fráncfort”, pero nunca nos detuvimos en Siegfried Kracauer (Fráncfort, 1889 – New York, 1966), mentor y amigo personal de Adorno, personaje marginal y compañero de viaje, recurrente interlocutor crítico de los planteamientos del grupo. Durante mucho tiempo, en el entorno español su figura estuvo casi exclusivamente vinculada al cine, a raíz de la publicación de dos estudios relativamente tardíos: el relativo al expresionismo alemán, De Caligari a Hitler (1947), así como su Teoría del Cine. La redención de la realidad física (1960). Sin embargo, su obra significativa arranca a comienzos de los veinte, cuando publica en el diario liberal Frankfurter Zeitung una serie de crónicas culturales y sociológicas (1921-30), de donde surgen libros como La novela policial. Un tratado filosófico (1925), Los empleados (1930) o la recopilación El ornamento de la masa (1963). Tras escribir en París su “biografía social” Jacques Offenbach o el secreto del Segundo Imperio (1937), se traslada a Estados Unidos. Todo ello aparte de dos novelas y otros trabajos académicos.
Estas obras han sido traducidas, con un cierto desorden, entre España y Latinoamérica, al castellano. A ellas habría que añadir la publicación argentina de un texto póstumo, Historia. Las últimas cosas antes de las últimas (Kracauer, 2010), a partir de la edición preparada por Paul Oskar Kristeller en 1969, que partía de unos apuntes fragmentarios, especialmente dispersos en tres de los ocho capítulos del libro. Y precisamente en la reflexión histórica de Kracauer se centra una publicación reciente, Historia y teoría crítica.
Lectura de Siegfried Kracauer (Díaz, 2015), que recoge los trabajos presentados en el seminario del mismo título, mantenido en 2013 en la sede valenciana de la Menéndez Pelayo. Se trata del segundo estudio editado en España sobre el escritor, después de la biografía de Enzo Traverso Siegfried Kracauer, itinerario de un intelectual nómada (1998). Como suele ocurrir en los libros de autoría colectiva, sus capítulos ostentan un desigual calado, produciéndose frecuentes solapamientos, y, sin embargo, constituye una llave valiosa para acercarse al universo histórico del autor.
En un autor como Kracauer, que concede gran importancia cognitiva al fragmento y al detalle, resumir sistemáticamente los planteamientos de Historia (2010) constituye una especie de traición, pero resulta inevitable para aprehender su enfoque general. El primer eje expositivo de Kracauer se corresponde con los ámbitos del conocimiento.
Sitúa en el siglo XIX el nacimiento de la historia moderna, en un movimiento de emancipación respecto a las especulaciones filosófico- teológicas sobre el pasado. El relato tradicional debía sustituirse por un discurso objetivamente científico, aun admitiendo las especificidades del conocimiento histórico.
Mientras las leyes científicas se basan en el establecimiento de predicciones, las ciencias de la conducta aspiran a la comprensión de los fenómenos humanos y sociales. Ahora bien, aun así, la historia moderna no deja de atribuir a los hechos históricos rasgos de los acontecimientos naturales. Incurren los historiadores así en dos errores: identificar “historia” y “naturaleza” y confiar en el tiempo como continuo homogéneo. Pero la historia se revela impermeable a las leyes longitudinales, de manera que el historiador se ve abocado a explorar las cualidades específicas de los hechos.
Al hilo de esta explicación, la obra resalta los paralelismos entre historia y fotografía (asimilando a esta última también otro medio, el cine). Para Kracauer, la realidad de la cámara posee los rasgos distintivos del “mundo de la vida”, ya que está destinada a retratar el flujo heterogéneo de la vida. Los planteamientos del autor, relativos tanto a la historia como a la teoría del cine comparten la misma perspectiva epistemológica.
Un segundo eje se corresponde con la dialéctica entre pasado y presente. Se considera al historiador un hijo exclusivo de su tiempo, de manera que la verdad histórica se convierte en una mera variable del interés del presente. Sin embargo, el contexto histórico y social del historiador no es un todo autosuficiente, sino un flujo frágil y heterogéneo.
Pensar que todas las evidencias históricas van a cuadrar en un sistema cerrado del presente se corresponde con el sueño imposible de una razón liberada. Ni el presente es la llave que abre las puertas del pasado, ni la perspectiva del historiador se agota en términos de influencias contemporáneas. El historiador está condenado, por consiguiente, a reconocer el carácter dinámico de su “yo”, alterando la disposición de su mente para llegar al núcleo de las cosas, sin por ello desprenderse de todas las categorías de origen. La realidad histórica se convierte así en un palimpsesto, que superpone las capas del pasado y del presente. Lo cual nos lleva a una concepción no homogénea del mundo y del tiempo histórico.
El mundo histórico tiene una estructura heterogénea porque lo macro y lo micro, lo general y lo particular, no son categorías mecánicamente reconciliables. Cuanta más generalidad se alcanza, se incrementa la inteligibilidad, pero disminuye la densidad de la realidad histórica. Moverse entre los dos niveles implica el reconocimiento de dos principios. Según la ley de perspectiva, el avance hacia lo macro conlleva la ocultación o priorización de circunstancias concretas.
Según la ley de los niveles, la heterogeneidad de universo histórico siempre impedirá la fusión completa entre la perspectiva del pájaro y de la mosca.
La fascinación de las fechas, propia del tiempo cronológico, ayuda a dar sentido a los acontecimientos, provocando además un hechizo de homogeneidad que desencadena la tentación de concebir el pasado histórico como un “todo”, vinculado muchas veces a la idea de progreso. Así se configura el pretencioso fantasma de esa historia universal, que cuestiona fuertemente la obra. Sin embargo, cada secuencia de acontecimientos tiene su propia agenda, según su pertenencia a diferentes “áreas” (arte, literatura, política, economía…), porque cada hecho es significativo en función de una magnitud. El concepto de periodo histórico tampoco será homogéneo, sino que será el punto de encuentro para cruces casuales, algo así como la sala de espera de una estación.
La historia, como la fotografía, ocupa un espacio provisional, situado entre la ciencia y la mera opinión. Si la ciencia no sirve como modelo para la historia, tampoco la filosofía, discurso que apunta al estudio de las “cosas últimas”, desde una perspectiva general y aspirando a una validez objetiva.
El radicalismo y la rigidez de las ideas filosóficas no se adecuan bien al conocimiento histórico. La historia constituye un pensamiento de antesala, situado entre el “mundo de la vida” y la filosofía, alimentado de la heterogeneidad inherente al mundo intelectual, pues ni el histórico ni el intelectual son universos homogéneos.
Este resumen no hace justicia a la obra, porque es fragmentaria por inacabada, pero también por situar en el centro de su reflexión el fragmento que se resiste a pertenecer a una totalidad. No en vano en uno de los trabajos de Historia y teoría crítica (2015, pp. 101-21), Miguel Ángel Cabrera señala que la de Kracauer es una lectura convencional de teoría de la historia. Quizá por ello Cabrera lo instrumentaliza al servicio de su propio discurso, sin respetar su entidad.
Sin embargo, lo interesante del libro del escritor alemán reside en los intersticios que deja entrever la estructura, quizá excesivamente académica, de algunos capítulos. ¿De qué nos habla esta “tierra de nadie”?
Por lo pronto, aspectos de una corriente de pensamiento considerada “central” como la Escuela de Fráncfort pueden resultar más claros a la luz de un personaje marginal como Kracauer.
Es significativo en este sentido el vínculo teórico con otro marginal, como Walter Benjamin, cuestión estudiada por Carlos Marzán (ob. cit., pp. 167-87), especialmente en relación con la famosa introducción a El origen del Drama Barroco alemán (1925) y las Tesis de Filosofía de la Historia (1940). Ambos autores parten de un diálogo con Husserl, y ambos rechazan el historicismo, el cientifismo y la especulación filosófica en historia, que les conduce a un giro epistemológico donde lo concreto y fragmentario viene a representar el testimonio de las víctimas de la historia. Otro colaborador del libro, Sergio Sevilla (ob. cit., pp. 57-59), insiste en la importancia para Kracauer de la mencionada introducción al Drama Barroco, “Algunas cuestiones preliminares de crítica del conocimiento”, según la cual el conocimiento se relacionaría con las ciencias positivas, y la verdad se manifiesta otorgando un sentido a los conceptos, con los que operan las ciencias.
El conocimiento es la posesión conceptual de fenómenos, mientras que la verdad, interpretación y símbolo.
Prosigue su discurso Marzán, ahondando en las diferencias entre los dos autores: mientras el benjaminiano “ángel de la historia” reivindica un anhelo de justicia que desquicia el presente, inclinándolo hacia una acción revolucionaria, el judío errante de Kracauer es identificado con un melancólico “ángel de la duda” (en palabras del cuentista Andersen), más compasivo y sereno que realmente reivindicativo. Con todo, nosotros entendemos que no hay que sacar excesiva punta teórica a estas alegorías de carácter ensayístico, frecuentes en estos autores, y que el “aire de familia” entre los dos es evidente. Aunque Kracauer plantea su reflexión histórica en lo epistemológico, tiene consecuencias éticas y políticas evidentes.
Su llamada a que ningún hecho histórico se pierda por criterios macro es una forma de piedad por los muertos (2010, pp. 141-171).
Dos trabajos clarifican la relación de Kracauer con el grueso de la Escuela de Fráncfort.
Para Hernández i Dobon (Díaz, 2015, pp. 147-65), hacia 1931, el autor ejerce sobre el “Instituto de Investigación Social” una intensa influencia dialógica, que activa un juego de mutuas influencias, que se cruzan a menudo con el pie cambiado. Lleva algún tiempo trabajando sobre las manifestaciones culturales como exponentes de las tendencias inconscientes de la sociedad. La idea de ratio, acuñada en su estudio sobre el relato policial, constituye un importante antecedente de la razón instrumental, mientras que sus trabajos sobre los empleados contradicen las profecías de Marx sobre la progresiva dualización de las clases sociales, en una perspectiva dialéctica sobre lo social característica del grupo. Cuando llega a Estados Unidos, Kracauer ha profundizado en la necesidad de estudios empíricos, justamente cuando Adorno se encuentra de vuelta de ellos. En Historia Kracauer parece dirigirse hacia el horizonte de una “empiria sin teoría” (valga la expresión figurada, no literal, del mismo Hernández), en un intento de pensar a través de las cosas, no por encima de ellas (2010, p. 220).
En este contexto, añadimos nosotros, es imposible ignorar las consecuencias de la famosa “disputa del positivismo” en la sociología alemana, que a lo largo precisamente de los años sesenta estaba enfrentando a autores como Habermas o Adorno, representantes de la teoría crítica de la sociedad, con otros como Karl Popper o Hans Albert, identificables con el llamado “racionalismo crítico”. La desconfianza respecto a lo empírico (vinculado a la razón instrumental) que se derivó de estas posturas ha teñido medio siglo de pensamiento de la izquierda, de modo que lo teórico y abstracto se ha consolidado como la forma por excelencia del pensamiento crítico, capaz de desnaturalizar las prácticas sociales, mientras que la empiria es un instrumento naturalizador del poder. De alguna forma, seguimos con el “pie cambiado” respecto a Kracauer.
Pero sigamos. Para Jiménez Redondo (ob.cit., pp. 123-46) las discusiones con Adorno explicitan una cuestión medular para la Escuela.
En su artículo del Frankfurter “El ornamento de la masa” (1928), Kracauer explica cómo el pensamiento abstracto procede a desmitologizar la naturaleza, pero a su vez no puede sobrepasar los límites que él mismo se ha impuesto, al configurarse al servicio de un sistema económico que lo limita. Dicho de otra forma, al nacer bajo una lógica de dominio capitalista, el pensamiento abstracto paraliza el alcance de la razón, y se acaba convirtiendo a su vez en una mitología.
Años más tarde, en su discurso radiofónico de 1964, retratando a Kracauer, Adorno sería plenamente consciente de la deuda de la Dialéctica de la Ilustración (1944) con estas ideas.
En la paradójica relación que ambos mantenían, Kracauer siempre cuestionó en Adorno la falta de referencias positivas para el ejercicio de una razón crítica tanto en la mencionada Dialéctica de la Ilustración como en la Dialéctica Negativa (1966). Para Antonio Aguilera (ob. cit., pp. 78-79), se cuestiona la existencia de una “dialéctica sin suelo”, el libre vuelo de un pensamiento sin nada que se le resista, que acabe fagocitando lo fáctico.
En el otro extremo, el escritor defiende un proceder filosófico que se entregue a la cosa, para lo cual le será útil un concepto heredado de Husserl, el “mundo de la vida” (Lebenswelt), mediador entre lo abstractosistémico y lo concreto-vivido. El trabajo más importante del libro, a cargo de Sergio Sevilla (ob. cit., pp. 51-75), profundiza en esta construcción.
Para Sevilla, ante la necesidad de hacer inteligible la heterogeneidad de las evidencias empíricas, las ciencias idealizan las experiencias humanas. Para evitar esto, y satisfacer la necesidad de atender a lo particular por parte de la historia, Kracauer recurre al “mundo de la vida”, que para Husserl es un entorno de experiencias y vivencias prerreflexivas que da sentido al discurso, y que debe ser trascendido a través del pensamiento científico. Kracauer reelabora el concepto como una instancia que otorga sentido a un mundo de particulares, evitando que el historiador se diluya en la multiplicidad.
La historia limitaría de esta forma tanto con el “mundo de la vida” como con la “filosofía”.
El “mundo de la vida” articula así una pluralidad de ámbitos, proponiendo para el mundo histórico una lógica semejante al sentido común de la vida cotidiana. Desde el “mundo de la vida”, la historia mantiene una continuidad con el historiador, lo cual tiene dos consecuencias: la historia trasciende el status de “objeto”, para provocar la iluminación de un ámbito de la experiencia social y el historiador deja de ser mero sujeto de conocimiento, ya que el sujeto se distancia de la experiencia y excluye formas de acción ubicada. Por ello está llamado a ser respecto al mundo histórico un exiliado o un nómada.
En el contexto del “mundo de la vida” se entiende la opción de Kracauer por el empirismo.
En su trabajo, Pedro Ruiz Torres (ob.cit., pp. 213-38) señala el distanciamiento del autor respecto al “empirismo ingenuo”, propio de los historicistas y positivistas del XIX, que pretenden inducir a partir de los datos las leyes generales de la historia. Pero también respecto a algunas perspectivas críticas (la escuela de los Annales, la historiografía marxista…), que parten de la puesta en marcha de procesos deductivos, que parten de preguntas e hipótesis. Sin embargo, ambos empirismos parten de la misma base:
más que del culto al dato positivo, de considerar el conocimiento de lo general como la clave para la comprensión del mundo. A este respecto, Ruiz Torres llama la atención sobre la obra de dos autores, Charles V. Langlois y Charles Seignobos, a los que no hay constancia de que Kracauer conociera, que en 1898 alertaron contra los historiadores que, influidos por su formación filosófica, introducían “conceptos trascendentes” en la organización de la historia.
Pero Kracauer no renuncia al uso de generalizaciones. Así, configura un concepto de periodo histórico (2010, pp. 173-94) semejante a la mónada benjaminiana, entendido como el punto en que se entrecruzan tensiones históricas diversas, más que como un periodo de tiempo homogéneo. También acuña una variante especial de “idea histórica”, el resultado de intuiciones del historiador, surgida a raíz de los hechos, pero que deriva en algo distinto a ellos. No dejaría de ser una generalización, pero más producto de una intuición basada en criterios prácticos que de un proceso de abstracción lógica.
Diríase que Kracauer busca perfilar un concepto de “idea histórica” vinculado al “mundo de la vida”, más que basado en procesos académicos; sin embargo, justamente esa intención genera una ambigüedad que dificulta la eficacia del concepto. Por un lado, a pesar de sus reticencias respecto a la filosofía, Kracauer se está moviendo en el terreno de la filosofía de la historia y de la epistemología.
Para él, hay un punto en el que lo general y lo concreto son irreductibles, es decir, lo general es solo general, y lo concreto solo concreto. Solo entonces es posible una dialéctica que nunca se clausure, añadimos nosotros. Kracauer desconfía de la abstracción porque se encuentra demasiado cerca de la lógica del sistema. Al mismo tiempo, su opción por el empirismo (o, mejor dicho, “lo concreto”) trasciende lo académico para convertirse en una propuesta que debe ser concretada en el mundo de la vida, donde nuestros razonamientos se entremezclan con nuestra percepción e intuición ante las cosas.
Todo lo cual es perfectamente coherente con sus formas expositivas. Kracauer se reafirma en el uso de una narración como un dispositivo literario apropiado para el discurso histórico. Sin embargo, la cualidad artística de esta modalidad textual narrativa es un subproducto del planteamiento, no un objetivo central (Kracauer, 2010, pp.195-218). En una línea semejante a la defendida por Adorno en “El ensayo como forma” (1954-58), el gusto por lo concreto, la flexibilidad y la capacidad de sugerencia propias de un género literario hacen que el relato sea el más adecuado para mostrar el fluir heterogéneo de la realidad. Esta actitud cristaliza en distintas metáforas, resaltadas por Miguel Ángel Cabrera (2015, pp. 101- 103): en su reseña a Los empleados, titulada “La politización de los intelectuales”, Benjamin denominó a Kracauer como un trapero al amanecer del día de la revolución, que recoge jirones lingüísticos y trapos discursivos para confeccionar un tejido polícromo de retazos, como es el calicó, claro equivalente del caleidoscopio, imagen de raigambre proustiana que alude a la catarata de tiempos históricos, imposible de homogeneizar.
La insistencia de Kracauer en lo inmediato e intuitivo está estrechamente relacionada con su reflexión sobre la imagen. Sobre dos trabajos de la compilación no vamos a ahondar: el que viene a ser un adecuado artículo introductorio a Kracauer, a cargo de su biógrafo Enzo Traverso (ob. cit., pp. 39-50), así como un útil resumen crítico del libro Historia, escrito por Sabina Loriga (ob. cit., pp. 239-62). Y aludiremos ahora a los tres artículos específicos sobre lo visual.
Por su parte, Anacleto Ferrer (ob. cit., pp.192-195) hace especial hincapié en los 499 textos para Frankfurter Zeitung (1921-1930), que establecen un canon crítico que concede importancia a la cultura de masas, como un instrumento para el desvelamiento de las ideologías sociales, a pesar de su fragmentariedad, y con una autonomía estética instransferible.
Subraya Ferrer la idea de que el realismo estético del cine es consecuencia de su realismo técnico. Justamente poco más tarde, publicaba Benjamin “Pequeña historia de la fotografía” (1931), estudiado por Antonio Aguilera (ob. cit., pp. 77-100), que también vinculaba la productividad estética del medio a sus dimensiones técnicas.
Ese mismo año, Kracauer también publicará “La fotografía” (1931), trabajo que para Susana Díaz (ob. cit., pp. 11-37), configura algunas ideas que determinarán su enfoque sobre historia. Al constituirse la foto, a diferencia de la pintura, como un producto relativamente independiente de las intenciones últimas del fotógrafo, se convierte en testimonio objetivo de una época.
Desde este punto de vista, cualquier intento de practicar la fotografía artística se alineará con las fuerzas sociales defensoras del orden establecido. Para la autora, este planteamiento se perfilará en el posterior Teoría del cine (1960), donde a partir de “la naturaleza fotográfica” del medio, se reivindicará su capacidad para “captar al vuelo” la realidad física. La publicación de Teoría del cine en España sugirió en la crítica una cierta relación con el cine inmediatamente anterior, es decir, con el neorrealismo italiano y algunas modalidades del estilo clásico.
El cine, frente a formas artísticas basadas en el pleno dominio del lenguaje por parte del autor, constituye un reducto que el pensamiento abstracto no debe colonizar.
Mirar la imagen en la pantalla proporciona una sensación de extrañamiento respecto a la realidad preexistente a la filmación. Como Jasón percibe el rostro de la Gorgona desde su reflejo en el escudo (para no quedar petrificado con su mirada), contemplar el cine proporciona una mirada más distanciada sobre el contexto cotidiano. De esta manera, deducimos que el cine facilita un constante ejercicio de aprender a mirar y volver a mirar las cosas desde distintas perspectivas.
Más que de un empirismo propiamente filosófico, o inserto en el método científico, la opción de Kracauer por lo concreto parte de la inmersión del individuo en la sensorialidad visual intuitiva del “mundo de la vida”.
Aunque tan solo sea esa sensorialidad vicaria que nos facilita el cine. Desde esta perspectiva, la mera insistencia en que el cine construye la realidad, y no la “refleja”, se ha convertido en un callejón sin salida, si no entramos a detallar cómo es esa construcción.
Referencias pricipales
DÍAZ, Susana (Ed.) (2015). Historia y teoría crítica. Lectura de Siegfried Kracauer. Madrid: Biblioteca Nueva.
KRACAUER, Siegfried. (2010). Historia. Las últimas cosas antes de las últimas. Buenos Aires: Las Cuarenta.
Javier Gurpegui Vidal – I.E.S. “Pirámide”, Huesca.
[IF]Três 3-6-9-12 Diventare grande all’epoca degli schermi digitali – TISSERON (REi)
TISSERON, Serge. 3-6-9-12 Diventare grande all’epoca degli schermi digitali. Brescia: La Scuola, 2016 (153p). Resenha de: FATIN, Monica. Revista Entreideias, Salvador, v. 5, n. 1, p. 123-127, jan./jun. 2016.
O livro 3-6-9-12 Diventare grande all’epoca degli schermi digitali,1 de Serge Tisseron, ainda não traduzido no Brasil, reafirma algumas ideias sobre tecnologia e crianças a partir dos usos das telas nas diferentes “idades da infância”, que constam no título do livro, 3-6-9-12. A discussão já se anunciava na trajetória do autor, que foi um dos responsáveis pelo relatório da pesquisa “A criança e as telas”, publicado pela Academia das Ciências, em 2013 na França, e pelo Manifesto “Il bambini e gli schermi”.2 O interesse do autor não é discutir o que as mídias fazem com as crianças ou o que as crianças fazem com as mídias, mas o que acontece nesse “meio”, com uma abordagem que foge da simplificação e renuncia às tentações de “idealizar ou demonizar” as tecnologias. Um convite para educadores conhecerem as mídias e discutirem com as crianças ensinando-as a distinguirem contextos e situações.
Em tempos como estes, em que certas polêmicas se forjam em argumentos dicotômicos, a contundente voz do autor ao falar das “idades da infância” em relação às telas – da televisão, do videogame, do computador, do tablet e do celular/smartphone – é muito coerente com o lugar que o psiquiatra, doutor em psicologia e pesquisador da Universidade Paris VII ocupa. Consciente da complexidade que envolve a relação mídia e infância, ele defende a mediação adulta na negociação com a criança sobre suas escolhas e esclarece que as modalidades de uso de telas a partir da fórmula 3-6- 9-12, que além de se referir às idades e etapas da vida das crianças, também se relaciona às fases da escolaridade infantil e representa um ponto de partida para discutir quando e como introduzir as telas na vida das crianças para aprender a usá-las corretamente.
Embora a reflexão tenha como ponto de partida perguntas de pais e professores, Tisseron não lhes diz o que fazer e convida o leitor a mobilizar-se, a ler, a buscar entender, a estar com as crianças, a observá-las, a compreender suas necessidades e seus medos, pois “o problema das mídias digitais se resolve juntos, não sozinhos”, como responsabilidade nossa, da sociedade civil e das instituições.
Na introdução, Tisseron chama atenção para quatro pontos: “Nunca deixar uma criança com menos de 3 anos diante de televisores; não permitir o uso de videogame em console antes dos 6 anos; acompanhar as descobertas da internet entre 9 e 12 anos; não deixar navegar de forma ilimitada sem que tenha alcançado a idade para poder fazê-lo sozinho”(2016, p.16). Tal radicalidade inspira-se no pensamento arendtiano, sem excluir as crianças do mundo nem abandoná-las a si próprias retirando delas a oportunidade de fazer algo novo, e sim preparando-as para a tarefa de renovar o mundo que compartilhamos com elas.
No capítulo um, a ineficácia das campanhas contra os riscos ligados às telas é discutida diante do forte apelo comercial e de interesses de grupos de comunicação que se apoiam em publicidades enganosas, além do argumento das telas representarem também uma forma de fuga dos problemas da vida cotidiana. Para Tisseron é mais importante encorajar boas práticas que denunciar os perigos, sempre considerando a complexidade de nossas relações com as telas, para além de ser contra ou a favor, e reforça suas indicações em 3 direções: autorregulação; alternância; e acompanhamento.
O apelo é para transformar nossas relações com as telas de forma conjunta, sem responsabilizar ou culpar crianças ou adultos mas explicitando os discursos e trabalhando juntos.
No capitulo dois, o autor defende a fórmula 3-6-9-12 ponderando o quanto a tecnologia digital tem transformado a vida pública, os hábitos familiares e a nossa própria intimidade. Enfático, afirma que antes dos 3 anos a criança precisa construir suas referências espaciais e temporais, seu conhecimento de mundo e de si própria em interação com o ambiente, e os novos objetos digitais fazem parte desse aprendizado tanto no ambiente familiar como escolar. Diferencia as possibilidades de uma tela interativa e não interativa, o papel dos jogos tradicionais, da oralidade, e da cultura do livro nas experiências sensório-motoras e na construção narrativa das crianças pequenas, e apresenta pesquisas feitas com crianças com menos de 3 anos sobre as desvantagens do uso de telas não interativas e suas incidências sobre a linguagem e aprendizagem. Enfatiza as necessidades da criança em cada etapa: descobrir as possibilidades da compreensão de mundo (3 a 6 anos), descobrir as regras do jogo social (6 a 9 anos), explorar a complexidade do mundo e das relações (9 a 12 anos) e questionar as referências familiares (12 em diante). Elenca vantagens e perigos das telas em cada etapa e como elas podem contribuir e preparar a criança “para a sociedade da informação em que a reflexão estratégica, a criatividade e a cooperação são faculdades essenciais”.
(TISSERON, 2016, p. 40) Entre os riscos que o autor aponta, dos 6 aos 9 anos o uso da internet pode fragilizar certas referências que a criança está construindo e que são indispensáveis, entre elas a distinção entre espaço íntimo e espaço público e a noção de ponto de vista do outro. A violência nas telas é um risco para todas as idades, e 9 dos aos 12 anos o autor se refere ao uso excessivo das telas que pode ser indício de outros problemas subjacentes, como baixa autoestima, ansiedade social, violência escolar, etc. que podem desencadear outros problemas.
No capítulo três, ao propor de um percurso para todas as idades, Tisseron enfatiza que “a educação não consiste em proteger e controlar uma criança, mas em ensiná-la, progressivamente, a defender-se e orientar-se por si” (2016, p.45). No entanto, para conseguir tal propósito, enquanto a criança pequena precisa ser protegida e distanciada dos perigos, a capacidade de assumir certos riscos é essencial para o adolescente desenvolver a autonomia, pondera o autor. Em ambos os casos, o diálogo sempre é importante.
As propostas fundamentam-se nas possibilidades de aprendizagem em cada idade e no confronto com certos discursos do senso comum. Em qualquer idade é importante escolher os programas junto com as crianças, limitar o tempo de consumo, convidá-las a falarem sobre o que veem ou fazem encorajando as suas produções.
No capitulo quatro, as redes sociais são entendidas como instrumento que favorece a construção da individualidade e a descoberta das regras do jogo social entre os adolescentes. Tisseron busca desconstruir ou validar certos discursos sobre as práticas no facebook, problematiza o mito que considera os adolescentes extraordinariamente criativos na internet, destaca a falta de conhecimento da natureza do contrato que firmam sem ler, e adverte sobre o grande número de sintomas de depressão e insônia entre os adolescentes que se intensificam em quem já possui tais tendências. Entre as explicações possíveis, o autor menciona a dificuldade do adolescente administrar a própria identidade, por vezes apresentada de modo idealizado e em comparação com outros perfis, questão relacionada ao capital social e às diversas formas de pertencimento nas redes.
As ponderações sobre “o bom uso da rede” são discutidas no capítulo cinco, a partir dos mecanismos do “desejo de extimidade”.
(TISSERON, 2016, p. 75) Diante da exposição da intimidade que torna público alguns elementos da vida íntima, o autor discute as razões do querer mostrar-se, a busca de aceitação nos diferentes clicks, os modelos de autoestima, as “virtudes” da invisibilidade, o anonimato, e outros modos de ver, seduzir e relacionar que as redes propiciam. Tensiona argumentos sobre renuncia à vigilância dos filhos/alunos, e sobre os usos sociais das redes nas instituições educativas, discutindo diversos espaços, regras, formatos e critérios a serem construídos conjuntamente para ampliar as possibilidades do dispositivo. Diante da educação indireta das redes sociais, ressalta o papel da mídia-educação.
No capítulo seis, o autor redimensiona as transformações discutidas nos capítulos anteriores num quadro mais amplo da cultura, relacionando as práticas da cultura do livro às da cultura das telas – para além da contraposição ligadas aos saberes, às aprendizagens, ao funcionamento psíquico e à construção de relações. Destaca as “quatro revoluções da tecnologia digital”, ou seja, revolução “nas relações com os saberes”, “em relação à aprendizagem”, “revolução psicológica” e “revolução das relações e da sociabilidade” e a suas complementariedades.
No capítulo sete, o autor destaca o papel da educação voltada à dimensão do digital desde a infância e as formas de aprendizagem em cada idade, sugerindo a construção de propostas como uma sucessão de momentos capazes de remotivar os estudantes de todas as idades.
Nas conclusões uma síntese sobre o dispositivo tratado no livro com destaque à mediação adulta: “seria inaceitável que as crianças hoje com três anos devessem aprender sozinhas a apropriar-se das telas, exatamente como fez a maioria dos adolescentes de hoje, a seu risco e perigo”. (TISSERON, 2016, p. 133) Certamente, as ideias do autor inspiram muitas reflexões.
Poderíamos questionar a radicalidade de evitar as telas antes do 3 anos e a provável discussão diante dos diversos interesses que movem a cadeia produtiva das produções televisivas para crianças pequenas. Importa notar que o autor nem chega a ponderar sobre a qualidade que tais programas deveriam ter nessa idade, diferente de quando se refere às idades das telas. É na tensão entre “vantagens e perigos” que se expressa a complexidade dessa relação, para além da discussão semântica. Se é notável o ineditismo de tal reflexão em relação às faixas etárias referidas, não podemos perder de vista a importância de relativizar certas fronteiras. Muitos argumentos sobre a mediação entre crianças e telas e papel da família/escola dependem sempre do contexto sócio-econômico-cultural em que se inserem, bem como das diferentes formas de acesso e apropriação das tecnologias, que são diferentes de uma cultura para outra. Interessa vislumbrar a possibilidade de diálogo a partir do nosso lugar e da nossa singularidade cultural, inclusive para “estranhar o familiar” e problematizar certas práticas que nos parecem tão naturais, mas que só o distanciamento crítico possibilita por em questão.
Notas
1O original foi publicado em francês, em 2013 com o título 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir, que pode ser traduzido por Domesticar as telas e crescer.
Na tradução italiana feita por P. C. Rivoltella, em que se baseou esta resenha, o título pode ser traduzido por Tornar-se grande na época das telas digitais.
2Pode-se fazer download do manifesto e do cartaz original no site do autor . Na versão italiana está disponível em: .
Traduzimos o manifesto para língua portuguesa e está disponível no site do Grupo de Pesquisa Núcleo Infância Comunicação Cultura e Arte, NICA, UFSC/CNPq .
Monica Fantin – Professora Associada do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina.
War, states, and contention: A comparative historical study – TARROW (CSS)
Sidney Tarrow. Foto: WRVO /
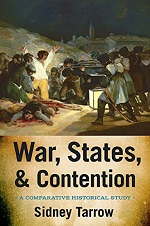
Sidney Tarrow is Maxwell Upson Emeritus Professor of Government and Visiting Professor of Law at Cornell University. He is the writer of numerous books, including The Language of Contention: Revolutions in Words, 1688–2012 and Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics. His book, War, States and Contention. A Comparative Historical Study, is a splendid and ground-breaking contribution to the comprehension of how war and states converge with contentious political issues.
Through a double accentuation on the structural foundations of war and dispute, from one perspective, and actor mobilization and repertories of contentious political issues from the other perspective, Sidney Tarrow addresses issues that lie at the heart of contemporary investigation on the restructuring of the state and on the obscuring of territories between internal and external politics. Beginning from the famous contention progressed by Charles Tilly that “states make war, war also makes states,” the book adds contentious politics to the equation. This adjunction provides further understandings of the relationship between states and war; contentious politics clarifies why and how states participate in wars, and the impacts of war on states. But the book additionally reveals insight into a second, less known equation of Tilly’s, which builds up a relationship between war and natives’ rights. Tarrow talks about how war prompts the employment of emergency measures that lessen rights, regardless of whether they are reinstated later. In other words, when a state rolls out war this involves changes in: the nature of internal contentious politics, the state’s reactions to conflict, and in state organization.
Tarrow examines these issues through a comparative historical study that uncovers how current structural changes in states, fighting, and types of contentious politics alter what we might see in the time of Western state-building. Drawing on these mechanisms connected to the formation and union of Western European states, Tarrow acknowledges two pivotal upturns. On the one hand, it puts contention between war and the state, considering both opposition from within national boundaries and from outside. Through this, he also studies the various forms through which domestic and international conflict stand in relation to each other. On the other hand, Tarrow updates these issues to the present in the analysis of the U.S. state and the War on Terror. He reveals how structural changes linked to globalisation and internationalisation alter the relationships between states, warfare, and forms of contention.
The author’s argument is built around a triptych—war, state, and contention—and bridges the gap between social movement studies, comparative historical sociology studies, and international relations. The relevance of this approach relies not only on placing three usually separate strands of literature in dialogue with one another, but also on the major results that the book offers. Powerful hypotheses for further research are provided. The present discussion engages with the book’s arguments on three intertwined topics, which constitute some of its major results: the relation between war and citizens’ rights; the transformation of the territoriality of war, states and contention; and the relation between war and the state. The inclusion of contention between war and rights reveals itself to be crucial for clarifying the relationship between the two. This is needed given that the issue seems not entirely solved by the historical sociology of the state, and is almost left unaddressed by research on contemporary wars and social movements. In this respect, one of the most striking results of the book is to reveal at what point the modern state is characterised by periods of restriction of citizens’ rights in wartime. In Tilly’s argument about war, states and rights, the relation between the three elements has a positive effect on rights. Because he looks at contentious politics, Tarrow demonstrates that the shrinkage of rights in times of war is a recurrent and understudied feature of the state as a specific political system. The advent of this “emergency script” is unveiled through a detailed historical account.
Chapters about U.S. politics after 9/11 shed light on a major transformation related to the use of legal instruments to modify the limits of the legally accepted boundaries of states’ interventions on bodies and limitations of individual liberties. The “rule by law” argument provides key understandings of how liberal democracies combine their foundational creeds with increasingly illiberal policies. Instead of despotic emergency rule, what is observed is a creeper process. Formally and procedurally, the U.S. state did not roll back liberal constitutionalism; however, in its content, the latter has been partially reshaped by the transformation of legally accepted boundaries on crucial issues such as the right to a fair trial or to individual integrity. In addition, both the increasing duration of wars and the undefined boundaries between times of war and peace have created a new hybrid status that seems to facilitate the perpetuation of these measures. By showing how the U.S. state deals with composite and long wars, and analyzing the interplay between contention, war, and states’ activities, Tarrow provides a critical contribution for the study of the blurred boundaries between domestic and international politics. The study of how international movements engage with states and vice versa sheds light on a major restructuring of the spatial dimension of power, while Tarrow also points out recurrent mechanisms of diffusion from policies for war to civilian policies.
In his book, Tarrow provides a stimulating perspective on the restructuring of state territoriality and its effects. In doing so, he echoes the questions raised by scholars who start from the idea that territoriality—bounded political authority—is a fundamental principle of modern political systems, and are interested in current processes of unbundling territoriality.
Sidney Tarrow’s investigation gives valuable insight in to the notion new territorialities in politics, and could engage more straightforwardly with these writers and with his own particular past contributions on these issues. Indeed, Tarrow has two fundamental arguments to make in this regard. This first is that he draws on the state-building literature, he indicates how the territorial restructuring of both war and contention influences the state, whose organization is as a matter of first importance territorial. Along these lines, Tarrow puts war back into the examination of state territorial restructuring. While most research sheds light on economics as a main thrust, contentious politics and composite wars additionally involve new types of state intervention and institutional arrangements. The second argument of Tarrow is that the unbundling of political power and rights are mutually related. The historical backdrop of the state and rights is a matter of territorial infiltration, confinement within boundaries, and the definition of the criteria that consider the privileges of political and social rights. A third set of comments highlights war and the transformation of the state in terms of power and bureaucracy. The preparation for war and the state of war opens up new opportunities for state authority in terms of the repression of opponents, as well as for the strengthening of both tax and repressive apparatus.
Tarrow’s main consequence for the U.S. state in relation to these issues is fascinating.
Indeed, there is an expansion of the structure of government; for example, the scope of the FBI and the Pentagon, as well as the multiplication of new agencies and joint-government organisations. Both the scope and the size of the U.S. state have expanded, despite a strong anti-state tradition. In the War on Terror, the contradiction between the expansion of the national security state and the anti-state movement has been somewhat resolved through increased outsourcing to private firms for the delivery of military and intelligence services.
This form of “government though contracts” allows for the preservation of existing budgets in the security sector, while increasing side-expenditure which is more difficult to track and control. The quick and poorly coordinated multiplication of contracts has created a much more intrusive U.S. state, but also a state more vulnerable to penetration from civil society and to regulatory capturing from firms. The writer conceptualizes this transformation of state power through Michael Mann’s distinction: there is in this manner a double extension of both the hierarchical and the infrastructural force of the U.S. state in connection to the War on Terror. This point, which is significant to the argument, is to a great degree stimulating.
Sabah Mushtaq – History Department. Quaid-i- azam University Islamabad, Pakistan [email protected].
[IF]Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung – KAISER; ROSENBACH (RH-USP)
KAISER, Michael; ROSENBACH, Harald. Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. 243 pp. Resenha de: MATA, Sérgio da. A weberianização do mundo. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
Uma das mais sedutoras teses presentes na obra de Max Weber é a que postula um processo geral, inexorável, de racionalização do mundo. Vista de uma perspectiva brasileira, não é preciso dizer o quão ambiciosa, até mesmo quimérica, tal tese pode parecer. O virtual emperramento do nosso sistema político desde as grandes manifestações de junho de 2013 – com sua recusa explícita dos partidos e a denegação do direito de ir e vir como estratégia privilegiada de pressão dos grupos à margem (direita ou esquerda, pouco importa) do poder -, o caos das contas e da saúde pública, a recusa em encarar de frente o caráter finito dos recursos naturais, os níveis alarmantes de violência interpessoal, a crise de legitimidade de uma presidente recém-eleita, o autismo generalizado, tudo isso sugere que a perspectiva weberiana da história tem lá os seus limites.
Mas teria Weber dado um sentido literal à sua ideia da racionalização do mundo? Entre 1917 e 1919, ele acompanha atônito a derrota alemã na guerra, a renúncia do kaiser, a proclamação dos conselhos operários em diversas cidades alemãs e o caos político em seu país. Ele viu na democracia a única salvação possível, e sua última série de escritos lança luz, quando não por simples homologia, sobre os dilemas do Brasil contemporâneo. Weber constatava a ascensão da rua como o espaço privilegiado da política, e pressentia que se a revolução alemã tinha o potencial de mover o país, certamente não seria no rumo do socialismo, mas sim no da mais abjeta reação. Nos últimos parágrafos de Economia e sociedade, ele escreve que
um fator completamente irracional (…) é dado pelas “massas” não-organizadas: a democracia de rua. Esta é mais poderosa em países com um parlamento impotente ou politicamente desacreditado, e isto significa sobretudo: na ausência de partidos racionalmente organizados. Na Alemanha, (…) organizações como os sindicatos, mas também como o Partido Social-Democrata, constituem um contraponto muito importante ao atual domínio irracional da rua, típico de nações puramente plebiscitárias.1
Àquela altura Weber considerava o sistema político alemão ante bellum “completamente obsoleto”. No início de 1919, em meio às reuniões da comissão que elaborou a Constituição da República de Weimar, Weber – então no auge de sua popularidade como erudito e homem público – advertia que caso se mantivessem intocadas as bases de tal sistema,
a democracia política e economicamente progressiva não terá nenhuma chance num futuro previsível. As eleições mostraram que, por toda a parte, os antigos políticos profissionais conseguiram, contrariamente à disposição dos eleitores, eliminar os homens que gozam de confiança dessas massas em favor de uma mercadoria política ultrapassada. Como resultado, as melhores cabeças têm se afastado de toda a política.2
Poderíamos continuar indefinidamente, apontando as homologias existentes entre a Alemanha de 1917-1919 e o Brasil de 2013-2016. Que Weber tenha avaliado aquela época com notável clareza talvez seja uma razão a mais para ver em sua obra um potencial de esclarecimento que nem de longe se poderia encontrar no marxismo tardio de um Mészáros, no obscuro esteticismo de um Agamben, no cômico nonsense de Žižek ou nas incontinências verbais de um Olavo de Carvalho. Estamos condenados a pensar o hoje; mas em face do vazio de ideias contemporâneo, não nos resta outra saída senão buscar os clássicos de ontem. Chame-se a isso, se se quiser: aprender com a história.
A racionalização do mundo, tal como a descreveu Weber no preâmbulo do primeiro volume dos seus ensaios reunidos de sociologia da religião, não se concretizou. As grandes forças mobilizadoras deste processo (o direito, o capitalismo moderno, a ciência e a burocracia) nem sempre atuaram com o grau de integridade que se lhes atribuía.
Apesar de tudo isso, talvez se possa falar de uma weberianização do mundo. Num sentido muito preciso: o de uma gradativa mundialização de seu legado intelectual. Não apenas na condição de clássico das ciências sociais, mas também como um autor de cabeceira dos poderosos – de Theodor Heuss, o primeiro presidente da Alemanha após a catástrofe do nazismo, a FHC. De sua Alemanha natal à América Latina, dos Estados Unidos à Rússia, do leste europeu ao mundo árabe, o interesse pelo pensamento de Weber não encontra fronteiras nem padece do veto da história que se abateu sobre o marxismo após 1989.
Sendo assim, é apenas natural que, em julho de 2012, os institutos de humanidades alemães no exterior, há pouco rebatizados como Fundação Max Weber, tenham dedicado um simpósio internacional ao tema “Max Weber no mundo – Recepção e influência”. O volume resultante, publicado em 2014, é o que nos cabe aqui resenhar. Estudos sobre a recepção de Weber não são propriamente uma novidade, todavia o interesse a respeito tem adquirido força, entre outras razões graças à redescoberta de Weber nos países que compunham o antigo mundo socialista.
“Max Weber em tempos de transformações”, de Edith Hanke, abre o volume com um esboço de sociologia comparada da recepção da sociologia weberiana. A tese principal da autora é que o interesse por Weber tende a crescer especialmente em sociedades que passam por períodos de intensa transformação econômica, social e política (p. 2). Primeiramente, ela procede a uma avaliação do número de edições/traduções por país, o que nos revela algumas surpresas. A primeira delas é a liderança absoluta do Japão, com nada menos que 190 títulos entre 1925 e 2012. A carreira japonesa de Weber é, por assim dizer, inteiramente autóctone, deu-se sem intermediários. Mais que isso, os estudiosos daquele país produziram trabalhos sobre Weber que, vistos desde hoje, estavam muito à frente de seus congêneres anglo-saxões. Em 1981, Yoshiaki Ushida já criticava a perspectiva “a-histórica” da literatura internacional sobre Weber. Isso é tão mais impressionante se levarmos em conta que o início da publicação na Alemanha da edição crítica das obras de Weber (Max Weber Gesamtausgabe) só se iniciou em 1984. Hanke mostra ainda que, em países como Japão, Itália, Grécia e Coreia do Sul, as traduções mais recentes de Weber têm se baseado no gigantesco trabalho de erudição histórico-filológica da Gesamtausgabe. Poupemos ao leitor uma constrangedora comparação com o que, a esse respeito, se tem feito no Brasil.
Hanke identifica três tipos de transformação por detrás dos booms weberianos em diferentes países: (a) rápidas e drásticas mudanças de paradigmas científicos, (b) na estrutura socioeconômica e, por fim, (c) crises de legitimidade do ordenamento político. Tendo exercido o papel de pioneira (data de 1897 a tradução do opúsculo A bolsa), a Rússia assistiu a uma virtual proscrição de Weber após a década de 1920. Tornou-se famosa a passagem da Grande Enciclopédia Soviética de 1951, em que Weber é chamado de “sociólogo, historiador e economista alemão reacionário, neokantiano, inimigo maldoso do marxismo” (apud p. 15). Na década de 1980, sobretudo a partir de 1990, com a derrocada do regime comunista e o fim do veto ideológico, a situação se inverte. Em curto espaço de tempo mais que dobra o número de obras de Weber disponíveis em russo.
Situação semelhante se observa na China, onde o advento do turbo-capitalismo gerou uma demanda irrefreável por paradigmas alternativos. Graças aos esforços da germanista Rongfen Wang traduziram-se seções de Economia e sociedade, Confucionismo e taoísmo e as conferências Ciência como vocação e Política como vocação. A versão chinesa de A ética protestante e o espírito do capitalismo, publicada em outubro de 1986, esgotou-se em horas. Naquele mesmo ano, um jornal chinês publica uma entrevista com a sra. Wang com o significativo título “A febre Max Weber e a democratização política”. Em 1989, tal situação se alteraria dramaticamente. Num colóquio realizado em julho de 2014 na Universidade de Erfurt, este resenhista teve a oportunidade de ouvir da própria sra. Wang o impressionante relato de como o auditório reservado para acolher o primeiro grande simpósio sobre Weber em Pequim acabou sendo usado como depósito militar tão logo estourou a repressão ao movimento estudantil na praça da Paz Celestial. O evento evidentemente não pôde ocorrer, frau Wang mora há anos na Alemanha e os chineses ainda esperam pela democracia.
Como o maoísmo não passa hoje, na China, de uma formalidade vazia na autoencenação do poder, não paira ali qualquer proibição formal a Weber e é revelador do espírito dos novos tempos que em 2006 A ética protestante tenha se tornado um verdadeiro best seller naquele país. Situação muito diferente da do Irã, em especial depois da derrota da “Revolução verde” de 2009. Edith Hanke (p. 20) mostra que Said Hajjarian, “que estava entre os mais próximos estrategistas do presidente reformista Khatami, foi ameaçado com a pena de morte também por difundir as teorias de Weber”, e tendo de desculpar-se publicamente por isso.
O fato de Weber não ter produzido qualquer estudo sistemático sobre o islamismo decerto contribuiu para sua fraca recepção no mundo muçulmano, tema do ensaio de Stefan Leder (Max Weber in der arabischen Welt). Embora A ética protestante esteja disponível em árabe desde 1980, poucas traduções se seguiram. A recepção deve ali muito ao impulso de comentaristas franceses como Julian Freund, Colliot-Thélène e Philippe Raynaud. De forma geral, porém, Leder constata a inexistência de uma “confrontação produtiva com Max Weber” (p. 27). As razões não seriam apenas de natureza intelectual, posto que refletiriam também a ausência de uma relação dialética entre racionalismo prático (intramundano) e a ética religiosa islâmica. A conexão presente em toda a obra de Weber entre valores religiosos e a dinâmica da vida político-econômica, não se revelaria naquelas culturas uma chave heurística tão fértil quanto o foi no Ocidente.
Alexandre Toumarkine mostra, em “The introduction of Max Weber’s thought and its uses in Turkey”, que a Turquia diverge do padrão descrito acima. O autor evoca o interessante caso de Kayseri, uma capital de província famosa por seu tradicionalismo religioso e dinamismo empresarial. Um antigo prefeito da cidade, Şükrü Karatepe, chegou a declarar que, “para entender Kayseri, é preciso ler Max Weber” (apud p. 33). A possível existência de um islamic calvinism gerou um amplo debate na imprensa turca. Tornavam-se evidentes os resultados a que chegaram diversos pesquisadores, para os quais “a fé islâmica não é um obstáculo ao desenvolvimento econômico ou à modernização social” (p. 34). É interessante notar que a Turquia tem uma história de recepção análoga à do Brasil sob vários aspectos: a defasagem temporal em relação a outras comunidades intelectuais, a importância dos imigrados de origem germânica (Alexander Rüstow e Gerhard Kessler tiveram ali um papel similar ao de Otto Maria Carpeaux e Emílio Willems entre nós), a influência exercida pela tradução de livros como As etapas do pensamento sociológico de Raymond Aron, e a coletânea From Max Weber de Gerth e Mills.3 As apropriações de Weber na ciência social turca giram em torno de questões como a aplicabilidade do conceito de carisma a Ataturk, o fundador da república, e ainda à permanência de um forte componente patrimonialista naquele país. Para o historiador Halil Inalcik o Estado turco constituiria um caso extremo de patrimonialismo, chamado por Weber de sultanismo. Inalcik teria demonstrado que “a fusão entre poder político e espiritual na pessoa do sultão fez do Império otomano o tipo perfeito de sultanismo” (p. 46).
O weberianismo no islã é objeto de outro capítulo, “Max Weber and the revision of secularism in Egypt”. O autor, Haggag Ali, expõe as discussões que intelectuais egípcios têm feito nos últimos anos sobre a “secularização” numa chave weberiana. Atenção especial é dada à monumental Enciclopédia dos judeus, judaísmo e sionismo escrita por Abdel-Wahab El-Messiri (1938-2008), em que se faz uma distinção entre “secularismo parcial” e “secularismo compreensivo”, sendo o primeiro uma modalidade mais branda (e que El-Messiri acreditava ser compatível com o Islã), e o último uma forma mais radical de desencantamento do mundo. É interessante notar que o que adquiriu centralidade na recepção de Weber no Egito é talvez o aspecto mais frágil de sua visão da modernidade, qual seja, o conceito mesmo de “secularização”. Mas nada se compara ao mal-entendido que atribui a Weber a ideia de que somente no Ocidente teria havido racionalização, e que Haggag Ali repete um tanto acriticamente. Sob a influência da legenda segundo a qual a racionalização conduziu ao holocausto – é preciso desconhecer um livro como Mein Kampf para se estabelecer uma relação entre uma coisa e outra –, El-Messiri difunde em seu país um mal-entendido em cuja origem, curiosamente, está o antimodernismo judaico presente em autores como Horkheimer e Bauman. Sua preocupação maior era fazer um diagnóstico histórico-sociológico do sionismo, visto como “uma ideologia secular que aspira à salvação dos judeus, prometendo a seus adeptos (…) o fim das perseguições e do sofrimento no aqui-e-agora” (p. 57).
“Max Weber in the world of Empire” é o título da contribuição de Sam Whimster. Trata-se de situar Weber no contexto da época áurea do imperialismo, bem como as possíveis ressonâncias disso para sua obra. Com base em cartas inéditas até então, Whimster mostra a evolução das ideias de Weber a respeito das aspirações de grandeza da Alemanha – contudo não estamos certos de que ele de fato “olhava para o mundo através das lentes do império, mais que das do estado-nação” (p. 77). Excetuada a forte influência dos junkers, não há dúvida de que Bismarck e a Prússia das décadas de 1870-1890 permaneceram como uma espécie de modelo para Weber durante quase toda sua vida. Entretanto, é revelador que o conceito de imperialismo não seja definido com mais clareza por Whimster, o que lhe permite – assim nos parece – empregar o termo com uma liberdade demasiada, e assim classificar Weber como um “imperialista”. Sinceramente, não nos vem à memória algum texto deste autor que dê ensejo a tal classificação.
Seguem-se dois importantes estudos sobre a Rússia e a Polônia. O primeiro deles, da autoria de Dittmar Dahlmann (p. 81-102), examina o interesse de Weber pelo enigma russo, assim como o papel da Rússia em sua obra. Mantendo estreita relação com a comunidade eslava em Heidelberg, Weber publicou dois longos estudos sobre a fracassada revolução liberal de 1905 naquele país, e seu conceito de “pseudoconstitucionalismo” tornou-se influente nos meios jurídicos russos antes da ascensão dos bolcheviques. Cabe notar ainda que não foram sociólogos, mas historiadores (Dimitri Petrusevski, Nicolai Kareev, Alexandr Neusychin) os que deram início à recepção russa de Weber. Em artigo de 1923, Neusychin defendeu inclusive a tese, que nos inclinamos a abonar, de que a sociologia weberiana nada mais é que “a história traduzida na linguagem dos conceitos gerais” (apud p. 87). Igualmente curioso é o fato de que alguns excertos de A ética protestante e da Ética econômica das religiões mundiais tenham sido traduzidos e publicados no período soviético, precisamente num número de 1928 de uma revista chamada Ateísta. De resto, prevaleceu o veto ideológico a Weber. Uma tradução de A ética protestante chegou a ser feita em 1972 por Neusychin, mas como levava um selo com as palavras “apenas para o uso interno”, evidentemente não pôde ser publicada. Desnecessário dizer que uma Weber-renaissance digna desse nome teria de esperar pela Glasnost e pela derrocada definitiva do aparato de poder em 1990.
Marta Bucholc se dedica ao espinhoso capítulo polonês da weberianização do mundo em seu estudo “A reação dos sociólogos poloneses aos escritos de Max Weber sobre a Polônia”. Relação espinhosa nem tanto pelo fato de este país ter se tornado parte da Cortina de Ferro, mas porque as poucas menções de nosso autor aos poloneses estão entre as mais infelizes que ele escreveu.4 A ponto de ele próprio admitir em 1916: “Eu era tido como um inimigo da Polônia. Preservo ainda hoje uma carta assinada e enviada de Lemberg há vinte anos, em que se lamentava que meus antepassados não tivessem sido comidos por um porco mongol” (apud p. 111-112). O fato é que não houve influência alemã digna de nota sobre os pais fundadores da sociologia polonesa, Stefan Czarnowski e Florian Znaniecki, os quais reverberavam uma nítida ascendência francesa. Segundo Bucholc, esta situação não se alterou desde então.
Traduções de Weber em polonês só surgiram no alvorecer do século XXI. Mas mesmo com o advento da open society, observa Bucholc,
os escritos políticos de Weber provavelmente eram percebidos como irrelevantes na nova realidade da integração europeia, na qual Polônia e Alemanha há muito mantinham relações amigáveis (…). Os escritos políticos de Weber sobre a Polônia seriam então não apenas muito difíceis de se ler e de maneira alguma aceitáveis, mas seriam também desinteressantes (p. 118).
Caso inteiramente diverso e sob todos os aspectos digno de atenção nos é apresentado por Wolfgang Schwenkter em “Controvérsias japonesas sobre A ética protestante de Max Weber”. Um dos mais competentes estudiosos das relações intelectuais entre Japão e Alemanha, Schwenkter enumera em seu bem documentado ensaio as razões da ascendência japonesa nos estudos weberianos. A carreira japonesa de Weber deve muitíssimo a eruditos devotados à história econômica (Fukuda Tozuko, Kawada Shiro e Hani Goro). Não menos importante foi a passagem pelo Japão de autores influenciados por Weber, tais como Karl Löwith e Robert Bellah. Para que se tenha noção da singularidade do caso em tela, basta dizer que, desde 1964, existe uma versão japonesa integral de O judaísmo antigo. Praticamente toda a obra de Weber acha-se hoje traduzida naquele país, algo com que o pobre leitor brasileiro só pode sonhar. Em seu diagnóstico da situação atual, Schwenkter mostra que a chegada das teorias pós-modernas ao Japão se articula com o surgimento de uma nova geração de intelectuais japoneses que questionam – como é justo que seja – a atualidade do legado de Weber. O autor examina ainda a grande polêmica gerada em 2002 pela publicação de livro do sociólogo Hanyu Tatsuro, O crime de Max Weber. O “crime” em questão assenta no uso pouco rigoroso que Weber fez de certas fontes bíblicas na Ética protestante. Raramente se terá empregado uma terminologia tão forte numa querela essencialmente filológica, mas no final das contas há que dar razão a Schwenkter por sua crítica a Tatsuro por se valer de um título “inteiramente absurdo” por razões mercadológicas (p. 140).
Nos quatro ensaios seguintes de Max Weber in der Welt o leitor familiarizado com os estudos weberianos não consegue manter o mesmo nível de atenção. Ora o tratamento dos problemas não se aprofunda o suficiente, ora os resultados apresentados são magros demais para recompensar o esforço de leitura. Em “A estadia romana (1901-1903) e a relação de Max Weber com o catolicismo”, Peter Hersche trata de uma questão potencialmente relevante, mas para a qual, ao fim e ao cabo, nenhuma evidência nova chega a ser aportada.
Em “The American journey and the protestant ethic”, Lawrence Scaff oferece uma síntese de sua alentada monografia Max Weber in America (2011), revisitando os topoi da experiência americana de Weber: da longa viagem empreendida com sua esposa em 1904 à importância de nomes como Parsons e Edward Shils ou de instituições como as Universidades de Chicago, Columbia e a New School na recepção de sua obra. Scaff sublinha dois pontos que parecem mesmo relevantes. Por um lado, o impacto da viagem aos Estados Unidos sobre a redação da segunda parte da Ética protestante; de outro, o fato de que sua recepção norte-americana jamais teria sido a mesma, caso este escrito não oferecesse uma espécie de narrativa mestra do American dream.
Quanto ao ensaio “Max Weber e a Philosophie de l’art de Hippolyte Taine”, de Francesco Ghia, este parecerista não encontrou razões para traçar qualquer comentário a respeito, dado o seu caráter altamente especulativo e inconclusivo. Melhor seguir em companhia de Hinnerk Bruhns e seu capítulo “Max Weber na Guerra Mundial (1914-1920) – Com uma olhadela da França”. No país da escola durkheiminiana, a introdução do pensamento de Weber jamais teria sido algo fácil. Por muito tempo, intelectuais como Raymond Aron e Julian Freund amargaram uma solidão de mil desertos. A lentidão com que apareceram as traduções francesas é de fato impressionante. Até o ano de 2014 não havia uma versão francesa da pioneira biografia publicada por Marianne Weber em 1926. Bruhns explora a experiência de Weber na Primeira Guerra Mundial – ele foi encarregado de administrar os hospitais da região de Heidelberg – e como as vivências daquele período se traduzem em seus escritos posteriores. É sabido que Weber saudou o conflito entusiasticamente, sem, porém, aderir ao Hurrapatriotismus de um Max Scheler ou dos signatários do famoso manifesto “Ao mundo cultural”, em que eruditos alemães de prestígio defenderam as ações do exército alemão. Não é pequeno, em todo caso, o papel do fenômeno “guerra” na sua sociologia, e ninguém duvida que, ao definir a política como “luta”, ele pavimentou uma perspectiva do político que atingiria seu ápice em Carl Schmitt.
Chegamos finalmente ao último ensaio do volume, “Max Weber e os problemas histórico-universais da modernidade”, de Gangolf Hübinger (p. 207-224). O autor faz um criativo exercício de análise da modernidade – entendida enquanto um estágio da vida social marcado antes de mais nada pela aceleração civilizacional e pela tensão crescente entre visões seculares e religiosas de mundo (p. 208) – a partir das pistas deixadas por Weber em seus escritos. Hübinger distingue na sua obra quatro indicadores fortes do caminho alemão para a modernidade: o advento e afirmação do capitalismo, a crítica do historicismo, a cultura de massas e a democracia. Nas seções seguintes de seu capítulo, Hübinger trata de iluminar cada uma dessas variáveis à luz da erudição histórica e, sobretudo, de mostrar como o legado intelectual e científico de Weber constitui um lócus privilegiado para visualizarmos cada um desses processos. Tanto do ponto de vista econômico quanto do científico, cultural e político, o pensamento weberiano se presta, como poucos de seu tempo e posteriores a ele, a iluminar uma época que – a despeito de toda doxa pós-moderna – ainda não deixamos para trás.
Nesse sentido, e ao menos enquanto as quatro estruturas acima evocadas se mantiverem, o lugar de Max Weber no grande museu das antiguidades intelectuais do Ocidente permanecerá vazio. Ele continuará incontornável para nós, no sentido preciso daquele termo que volta e meia surge em seus escritos, a saber: como destino.
Referências
MATA, Sérgio da. Modernity as fate or as utopia: Max Weber’s reception in Brazil. Max Weber Studies, v. 16, 2016, p. 51-69. [ Links ]
VILLAS BÔAS, Glaucia. A recepção controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980). Dados. Revista de Ciências Sociais, v. 57, n. 1, 2014, p. 5-33. [ Links ]
WEBER, Max. Economia e sociedade, vol. II. Brasília: EdUnB, 1999. [ Links ]
WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014. [ Links ]
1WEBER, Max. Economia e sociedade, vol. II. Brasília: Edunb, 1999, p. 580.
2WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 385.
3Cf. MATA, Sérgio da. Modernity as fate or as utopia: Max Weber’s reception in Brazil. Max Weber Studies, v. 16, 2016, p. 51-69; VILLAS BÔAS, Glaucia. A recepção controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980). Dados. Revista de Ciências Sociais, v. 57, n. 1, 2014, p. 5-33.
4WEBER, Escritos políticos, op. cit., p. 3-36.
Sérgio da Mata – Professor do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E-mail: [email protected].
Para que(m) se avalia? Livros Didáticos e Avaliações (Brasil, Chile, Espanha, Japão, México e Portugal) – OLIVEIRA; COSTA (RHH)
O livro didático é um instrumento importante na “transposição didática” dos saberes de referência, tornando-se um dos principais recursos utilizados por professores e alunos nas salas de aula. Inúmeros pesquisadores têm se debruçado sobre esse objeto cultural, reconhecendo a sua centralidade no processo de ensino-aprendizagem. Nas últimas décadas, com a renovação do Ensino de História ampliaram-se as perspectivas da análise do livro didático. As pesquisas mais recentes, ainda que se dediquem à análise dos conteúdos, buscam investigar os múltiplos agentes que interferem no processo de produção dos livros didáticos; as políticas públicas; a relação entre historiografia e a historiografia didática; a conexão entre textos e imagens; o papel das atividades; os usos e apropriações que alunos e professores fazem dos livros no seu cotidiano (Rocha, 2009; Caimi, 2009; Miranda; Luca, 2004).
O livro Para que(m) se avalia? Livros Didáticos e Avaliações (Brasil, Chile, Espanha, Japão, México e Portugal) organizado por Margarida Maria Dias de Oliveira e Aryana Costa, insere-se nesse lugar de renovação das pesquisas sobre o livro didático. A obra composta por seis capítulos é dedicada às políticas de avaliação dos livros didáticos em diferentes países. Um dos méritos do livro é a possibilidade de conhecermos outros processos de avaliação e, por comparação, observar as semelhanças e diferenças entre as políticas públicas brasileiras e as dos demais países, favorecendo a visualização da qualidade e complexidade do nosso modelo avaliativo. Leia Mais
História da escola dos imigrantes italianos em terras brasileiras – LUCHESE (RBHE)
LUCHESE , T. Â. (Org.). (2014). História da escola dos imigrantes italianos em terras brasileiras. Caxias do Sul: Educs, 2014. Resenha de: MOTIM, Mara Francieli; ORLANDO, Evelyn de Almeida. História da escola dos imigrantes italianos em terras brasileiras. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 16, n. 1 (40), p. 413-419, jan./abr. 2016
O livro História da escola dos imigrantes italianos em terras brasileiras, organizado por Terciane Ângela Luchese, é fruto de investigações produzidas pelo grupo de pesquisa História da Educação, Imigração e Memória, da Universidade de Caxias do Sul. Além de textos de pesquisadores de universidades italianas, a publicação reuniu trabalhos sobre as experiências escolares de imigrantes italianos e seus filhos, entre o final do século XIX e início do século XX, nas regiões Sul e Sudeste. Esta obra permite um olhar para a escolarização desses sujeitos, caso a caso, contribuindo, conforme destaca Emilio Franzina no prefácio deste volume, para uma possível revisitação da história imigratória italiana no Brasil, em seus processos de interação e desenvolvimento.
Nesse panorama das discussões a respeito dos processos culturais dos imigrantes, no primeiro capítulo do livro, Lúcio Kreutz aborda o tema Identidade étnica e processo escolar. Na conceituação do autor, o pertencimento étnico expressa uma composição entre sujeitos e grupos, cujas práticas, ao longo do tempo, vão se reconfigurando, podendo diferenciar e determinar uma organização social. Ele enfatiza que o étnico não é uma herança constituída, mas sim um processo, uma vez que culturas não são realidades mudas. Dessa forma, afirma que a pesquisa sobre a escola nesse contexto étnico é de fundamental importância, uma vez que tal ambiente pode ser produtor ou reprodutor da cultura.
Kreutz apresenta um balanço histórico sobre como a etnia e o processo escolar foram sendo tratados e afirma que, entre os diversos projetos, perpassa a construção de uma nacionalidade, manifestada na Europa no final do século XVIII e que chega à América, pouco tempo depois, como uma construção monolítica, sem diferenciação étnica. O autor defende que a escola precisa compreender como o étnico se constrói nas práticas sociais, não podendo quantificar um valor para determinadas culturas, mesmo que estas tenham conseguido se impor nos processos históricos concretos.
No segundo capítulo, “Governo italiano, diplomacia e escolas italianas no exterior”, a pesquisadora italiana Patrizia Salvetti discute a legislação da Itália em relação às escolas subsidiadas no exterior.
Abordando a Lei Crispi, de 1889, explica que um de seus objetivos era a construção de uma política italiana no exterior com subsídios destinados à instrução dos imigrados italianos. Ela aponta algumas divergências nesse financiamento, principalmente em relação às escolas laicas e às escolas confessionais. A problemática girava em torno de conflitos não resolvidos entre Estado e Igreja, na Itália, os quais foram exemplificados no artigo com base em relatórios como o de Pasquale Villari (1901). Salvetti afirma que a Sociedade Dante Alighieri, uma das principais organizações colaterais do governo, tinha como função acentuar e organizar essas relações escolares entre a Itália e o exterior.
Em seguida, a autora analisa a Lei Tittoni, de 1910, na qual se tentou amenizar a relação entre Estado e Igreja, estabelecendo o ensino religioso como facultativo e financiando escolas confessionais. Ela afirma que a Reforma Gentile, de 1923, ocorrida no contexto do regime fascista, não modificou sensivelmente a organização das escolas no exterior, porém, sua administração passou a ser controlada, em sua maior parte, por funcionários ligados ao Partido Nacional Fascista. Por fim, salienta que até os dias de hoje as escolas italianas no exterior são a principal forma de difundir a língua e a cultura desse país.
No terceiro capítulo, “Instrução pública e imigração italiana no estado do Espírito Santo, no século XIX e início do século XX”, Regina Helena Silva Simões e Sebastião Pimentel Franco propõem uma discussão sobre a educação capixaba e a relação entre os imigrantes italianos que chegaram ao Espírito Santo, no período de 1850 a 1920.
Por meio de relatórios da província e do estado do Espírito Santo, os autores demarcam o contexto da instrução pública nas terras capixabas, onde, desde 1850, existia um discurso a favor da educação, considerando o contexto da grande diáspora italiana na segunda metade do século XIX e suas consequências, como o preenchimento dos vazios demográficos no Espírito Santo. Não obstante esse discurso, os autores ressaltam as diversas dificuldades da instrução pública local e destacam a pressão que, ao desembarcar no Espírito Santo, os imigrantes italianos exerciam sobre o governo no sentido de garantir a educação de seus filhos, embora suas colônias estivessem localizadas na parte mais desassistida da instrução pública.
À pesquisadora Maysa Gomes Rodrigues coube o capítulo 4, “Imigração e educação em Minas Gerais: histórias de escolas e escolas italianas”. A autora aborda a educação mineira, entre o final do século XIX e início do século XX, como um lugar em que foi possível relacionar a escolarização italiana e a formação cultural de outros espaços. Ela utilizou como fontes os acervos da Secretaria do Interior e da Secretaria da Agricultura e Obras Públicas, além de Relatórios dos Presidentes da Província, de Inspeção de Ensino, Mensagens dos Presidentes do Estado, jornais e estudos feitos sobre a imigração em Minas.
O contexto educacional mineiro e sua escolarização, com base nos regulamentos consultados, não se referem a escolas de imigrantes ou escolas estrangeiras. Assim, a autora constata que, nos núcleos coloniais, que tinham por objetivo a assimilação étnica, as escolas públicas foram um meio de oferecer a instrução oficial. A ênfase do texto recai sobre essa modalidade de ensino nas colônias como um caminho da nacionalidade brasileira para os filhos de imigrantes, embora, como destaca a autora, existisse uma escola mantida por uma Sociedade Italiana que se destinava a atender uma camada privilegiada economicamente de italianos de Belo Horizonte. Dessa forma, a autora põe em evidência que ambas as realidades escolares foram importantes no processo de instrução desses imigrantes, e de modo geral, na educação de Minas Gerais.
“A formação das escolas italianas no Estado do Rio de Janeiro (1875 – 1920)”, constitui o capítulo 5, escrito por Carlo Pagani. O autor chama a atenção para a presença de imigrantes italianos em quase todas as áreas mais importantes do Rio de Janeiro, os quais contribuíam para o desenvolvimento industrial, para os movimentos operários, além de trabalhar na produção de carvão e no comércio, na área central. Pagani descreve o cenário da escolarização destes imigrantes e das escolas italianas no Rio de Janeiro, considerando sua relação com a educação primária italiana, no final do século XIX. Em ambos os casos, ele aponta um grande número de analfabetos e, com base na legislação, demonstra que os resultados da escolarização no período, no Rio de Janeiro, não foram muito satisfatórios.
Destaca a influência anarquista na imigração italiana, que, nas reivindicações fabris, deparava-se com o analfabetismo dos operários e passava a promover a escolarização dos líderes. Consultando relatórios de escolas italianas no exterior, além de jornais do período, o autor constrói a origem das escolas italianas em algumas cidades cariocas. Essas instituições de ensino foram fruto das necessidades desses imigrantes, que colaboraram para a escolarização de massa, atendendo a toda a população próxima destas escolas, sejam elas italianas ou não.
No capítulo 6, “Acondicionamento das escolas de primeiras letras paulistas no período que compreende os anos de 1877 e 1910”, Eliane Mimesse Prado descreve o processo de criação das escolas de primeiras letras em São Paulo, as quais eram frequentadas pelos imigrantes peninsulares e seus descendentes. A autora explora o processo de imigração em alguns dos núcleos coloniais paulistas. Constam no texto quadros comparativos a respeito da criação dos núcleos coloniais entre 1877 e 1907, em São Paulo. A autora chama a atenção para o grande número de imigrantes e para a demanda de criação de um número maior de escolas de primeiras letras, nem sempre atendida pelo governo, o que levava os próprios colonos a organizar e criar escolas.
Os esforços desses imigrantes também eram sustentados pelos religiosos, de forma que a educação acabava por adotar funções mais amplas, regidas pelos preceitos do catolicismo. Algumas dessas instituições de ensino foram resultantes de iniciativas coletivas, com o apoio do governo italiano, por meio das Sociedades de Mútuo Socorro. Mesmo com iniciativas escolares específicas, a autora constata que uma grande parcela desses imigrantes e de seus filhos esteve nos bancos escolares das instituições públicas de ensino de São Paulo.
No capítulo 7, “Escolas da imigração italiana no Paraná: a constituição da escolarização primária nas colônias italianas”, a pesquisadora Elaine Cátia Falcade Maschio apresenta um panorama do processo imigratório italiano no Paraná. A autora explica que esse processo teve início na região litorânea, primeiramente na Colônia Alexandra e posteriormente na Colônia Nova Itália. Além de enfrentar a má administração dessas colônias, os imigrantes não se adaptaram à região e foram realocados nos arredores da capital, na produção de produtos cultivados na terra e comercializados em Curitiba.
Caracterizando a educação primária no Paraná com base em relatórios e regulamentos, Maschio constata que inúmeros foram os abaixo-assinados desses imigrantes solicitando escolas e, com a demora no atendimento dessas solicitações, eram organizadas instituições de ensino particulares, comunitárias ou subvencionadas. Além dessas modalidades escolares, a autora apresenta as escolas étnicas, mantidas por associações ou por instituições religiosas. Maschio deixa claro que, nesses locais, procurava-se manter e difundir a italianità com base principalmente na moral católica, mas, mesmo assim, predominavam as escolas públicas, pois esses colonos também valorizavam a aprendizagem da língua portuguesa. Um destaque do texto é que, com as reivindicações para abertura de escolas públicas, esses imigrantes contribuíram para o processo de expansão do ensino primário paranaense em geral.
Clarícia Otto, responsável pelo capítulo 8, “Escolas italianas em Santa Catarina: disputas na construção de identidades”, apresenta as escolas como estratégias para a manutenção de uma identidade cultural. Otto explica que as primeiras iniciativas escolares para esses imigrantes catarinenses foram particulares e que, no final do século XIX, essas ações passaram a ser da Igreja Católica, da diplomacia italiana e do governo republicano brasileiro. Otto defende que o processo escolar foi resultante de uma articulação com outros campos, como o político, cultural e religioso, os quais influenciaram as estruturas sociais desses sujeitos.
Pautando-se em um conjunto de correspondências, Otto ressalta ainda a disputa pelo controle do campo educacional entre uma organização religiosa e a Dante Alighieri. Com as medidas nacionalistas do governo republicano brasileiro, esses conflitos foram ainda maiores, sobretudo a partir de 1911, quando a inspeção escolar em Santa Catarina passou a ser efetiva, o que levou muitas escolas estrangeiras a ser fechadas. A autora conclui o texto marcando que, mesmo com os investimentos na construção de uma educação nacional, as diferenças culturais continuaram a existir, sendo colocadas em pauta em 1975, no centenário da imigração, para despertar o sentimento de ser italiano.
O último capítulo do livro, dos pesquisadores Terciane Ângela Luchese e Gelson Leonardo Rech, “O processo escolar entre imigrantes italianos e descendentes no Rio Grande do Sul (1875 – 1914)”, é destinado ao processo escolar desses sujeitos nas terras gaúchas, destacando as
Iniciativas escolares, suas organizações e especificidades. Segundo os autores, no processo imigratório italiano no Rio Grande de Sul, os imigrantes saíram da Itália como excluídos e chegaram ao Brasil como civilizadores. Durante o Império, na Província de São Pedro do Rio Grande, as políticas educacionais constavam apenas no papel e não nas práticas; com a proclamação da República e a influência de um grupo gaúcho calcado no positivismo, a escola passou a ser vista como um local de modernização. Assim, a expansão do ensino primário no Rio Grande do Sul, por iniciativa do Estado, das Igrejas, associações e/ou particulares, tornou-o um dos locais brasileiros com o menor índice de analfabetismo em 1920.
Os autores destacam ainda as escolas étnico-comunitárias rurais, que surgiram pela necessidade e pela ausência de escolas nas colônias, as escolas étnicas, mantidas por associações, geralmente laicas, que recebiam subsídios do governo italiano, e as escolas mantidas por congregações religiosas, que, mesmo não sendo consideradas étnicas, mantinham os valores culturais do país de origem da congregação. As escolas públicas também foram muito requisitadas pelos imigrantes, principalmente para a aprendizagem do português, mas estas também eram marcadas por características étnicas.
O leitor interessado em conhecer o processo escolar dos imigrantes italianos e seus descendentes, no final do século XIX e início do século XX, encontra nos capítulos deste volume uma rica reflexão a respeito da relação entre esses sujeitos, o governo brasileiro, o governo italiano e a Igreja Católica. A obra é significativa para os estudos de história da educação brasileira, por trazer à tona diversas fontes históricas que possibilitam um aprofundamento em estudos na área, além de descrições que permitem traçar algumas características destes imigrantes na construção de uma nova vida no outro lado do Atlântico. Além disso, por se tratar de uma obra que reúne pesquisadores de diferentes lugares, ela apresenta uma multiplicidade de práticas e de representações da educação e da cultura italiana em diferentes contextos de produção. Essa perspectiva plural permite ampliar as lentes para compreender melhor os modos de ser e se fazer italiano em diferentes espaços.
Mara Francieli Motin – E-mail: [email protected]
Evelyn de Almeida Orlando – E-mail: [email protected]
Lugares para a história – FARGE (RHR)
FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Resenha de: ESTACHESKI, Dulceli de Loures Tonet. Relações de gênero nos lugares para a história. Revista de História Regional n.21 v.2, p.735-739, 2016.
Uma das características dos estudos de gênero é a pluralidade teórica, metodológica e temática. São diversas possibilidades reflexivas que refletem a própria essência de tais estudos, que visam não apenas produções acadêmicas consistentes, mas principalmente, objetivam reflexões que possibilitem transformações nas práticas sociais. O intuito é a construção de um mundo mais justo que, como os estudos de gênero, valorize a diversidade. Teorias e metodologias diversas para pensar práticas diversas de pessoas diversas, essa é a essência.
Arlette Farge é uma historiadora francesa que se dedica aos estudos do século XVIII. No Brasil temos duas de suas importantes obras publicadas, o primeiro, ‘O sabor do arquivo’, de 20091 é uma escrita quase poética sobre a pesquisa arquivística. Trata do contato com o documento, do encantamento pela descoberta na pesquisa histórica que utiliza como fontes os documentos judiciais. Pessoas, queixas, delinquência, vigilância, controle, narrativas, são elementos que constituem tais documentos e revelam histórias, costumes, o cotidiano de pessoas que não queriam suas vidas expostas de tal forma, mas que por terem sido assim documentadas, ajudam a pensar sobre as relações de poder. Os arquivos judiciários expressam os ajustes e os impasses nas relações do sujeito com seu grupo social e com os poderes estabelecidos. E quando pensamos em relações de poder, pensamos em gênero, que “é um primeiro modo de dar significado”2 a elas e, mesmo que a autora não cite especificamente o termo, ela salienta que as mulheres são encontradas nesses arquivos que, para ela, desvendam também “o funcionamento do confronto do masculino e do feminino”3. A segunda obra, mais recente, publicada em 2015, é ‘Lugares para a História’4 e novamente ela não escreve especificamente sobre gênero, mas então, como sua obra pode ser importante para as pesquisas na área? Afinal, de que ela trata? Em sua introdução Farge ressalta que a historiografia precisa ocupar-se de escritas que interessem à comunidade social e que confrontem o passado e o presente. Quando pesquisamos as relações hierárquicas de gênero por uma perspectiva histórica, é isso que fazemos, é o que queremos, confrontar o passado, as formas como foram constituídas essas relações para melhor argumentar em nossas problematizações em relação ao presente. As questões de gênero são essenciais para a comunidade social e por isso devem ser escritas, lidas e refletidas.
Em sete capítulos a autora apresenta o que chama de ‘lugares para história’, que são situações que encontram eco na atualidade, como o sofrimento, a violência e a guerra, ou que consideram sujeitos e experiências singulares, como a fala, o acontecimento, a opinião e a diferença dos sexos. Para ela Esses dois conjuntos se religam pela presença hoje de configurações sociais violentas e sofridas, e de dificuldades sociais que desqualificam o conjunto das relações entre o um e o coletivo, entre o homem e a mulher, o ser singular e sua – ou suas – comunidade social, entre o separado e sua história.5 No primeiro capítulo, ‘Do sofrimento’, Farge questiona se a historiografia pode dar conta do sofrimento humano. O sofrer pode ser um tema para a história ou o sofrimento um lugar para ela? A história tem dado conta de grandes “catástrofes humanas” fazendo com que a dor que elas causam nos sujeitos seja pensada como se fosse apenas fatalidade, consequência de eventos maiores que merecem a total atenção. Dificilmente a história se volta para os “ditos do sofrimento”, para as palavras de dor, à exceção, como aponta a autora, da história do tempo presente que valoriza os relatos de pessoas que vivenciaram momentos históricos tensos e apresentam as suas percepções sobre eles. Um bom exemplo disso é o texto de Wollf6 que analisa relatos de familiares de desaparecidos políticos da América Latina, evidenciando que os apelos aos sentimentos da opinião pública foram utilizados para fins políticos, para desacreditar regimes militares e fortalecer a luta por direitos humanos.
Para Farge é possível e preciso entender que “a dor significa, e a maneira como a sociedade a capta ou a reusa é extremamente importante”.7 Os grandes eventos como guerras e revoluções afetam a vida das pessoas de formas muito distintas, dependendo do lugar social que elas ocupam. Farge salienta a necessidade de se pensar na tristeza de mulheres que sofrem em um mundo caracteristicamente masculino e de pobres que vivem em sociedades tão desiguais. Ela enfatiza que há racionalidade nessas distorções, nessas diferenciações que causam dor e pesquisar sobre isso, escrever a partir desse entendimento, é uma forma de buscar erradicar o sofrimento dos que hoje são atingidos pelos ecos dessas situações históricas. Para Wolff8 emoções e gênero se entrelaçam, pois fazem parte da experiência humana. É sobre essa experiência, essencialmente a que causa sofrimento, que Farge nos convida a escrever e é por isso que sua obra é tão importante para pensar as relações de gênero. A racionalização do sofrimento nessas relações sendo historicamente analisados pode explicar os dispositivos que fizeram surgir tais sentimentos e práticas, podendo “fornecer os meios intelectuais de suprimi-los ou de evitá-los”9 Há uma insatisfação em relação aos discursos históricos sobre a violência.
“A interpretação histórica da violência, dos massacres passados, dos conflitos e das crueldades, praticamente não permite, na hora atual, ‘captar’ em sua desorientadora atualidade o que se passa sob nossos olhos”10. Em seu capítulo ‘Da violência’, a autora convida a não nos dobrarmos ao sentimento de fatalidade ou impotência diante da violência e ressalta que é legítimo buscar outras interpretações históricas, como o fazem as pesquisas sobre as emoções que destacam sujeitos, gestos e falas. Para ela, a historiografia pode, não apenas, apresentar o conhecimento, mas indicar caminhos para a luta, para o enfrentamento à violência.
A violência tem racionalidade. A violência de gênero é pautada numa racionalidade em relação a uma sociedade hierarquizada na qual homens devem ser dominadores e mulheres submissas, contrariar essa lógica pode levar ao ato violento. Entender a racionalidade da violência, para Farge, é um caminho para evitá-la, transformando a realidade com outras formas de racionalização.
‘Da guerra’ problematiza a ideia de que a guerra é inevitável e questiona a “estranha disposição que nos fez considerar esse fenômeno como normal”11.
No capítulo seguinte, ‘Da fala’, Farge afirma que o/a historiador/a dá sentido à fala para que o passado se torne inteligível ao leitor e alerta para o fato de que “a história pode ser dita rápido demais”12 e dessa forma invisibilizar as pessoas que a fazem. A escrita da história pode dar lugar aos sujeitos, como Foucault o fez em ‘A vida dos homens infames’13 ou em ‘Eu, Pierre Riviere…’14, como Davis fez com Martin Guerre15, Esteves com as ‘meninas perdidas’16 e Wolff com as mães de desaparecidos políticos17.
A história pode pensar a resistência pelas vozes de quem transgride a ordem. Estas percepções são apresentadas nos capítulos seguintes, ‘Do acontecimento’ e ‘Da opinião’. Em seguida, a autora dedica um capítulo para pensar a ‘diferença dos sexos’ como um lugar para a história. Como salientado acima, Farge não parte dos estudos de gênero, então não se ocupa em pensar as categorias de análise sexo e gênero e suas problematizações. Ela parte de discussões propostas por uma história das mulheres da França, para acusá-la de pessimista, marcada por uma inércia que apresenta as diferenças entre homens e mulheres como algo estável, não tendo como intuito mover o leitor a pensar a necessidade de mudança. A autora critica, assim como o fazem os estudos de gênero, esse caráter fixo das coisas. A ordem hierárquica, desigual, deve ser pensada pelas transgressões que sofre, pois “reconstituir os momentos em que a instabilidade, o desequilíbrio, as recusas”18, ocorrem pode demonstrar a possibilidade de novas estruturas.
Farge conclui que “buscando conhecer outro tempo, não escapamos do nosso, e, se este último, como o faz hoje, se arranca brutalmente do passado, a história se engaja também nessa ‘realidade’ para encontrar seu sentido”.19 Ao propor uma reflexão histórica que dê conta das dores humanas, sem entendê-las apenas como fatalidades, mas embrenhando-se pelo que move as ações, os sentimentos, as inquietações e os desejos, que transformam as pessoas, fazem sofrer ou lutar, submeter-se ou transgredir, ‘Lugares para História’ ajuda a pensar a categoria gênero como essencial para as reflexões históricas, mesmo que não a cite. Os estudos de gênero possibilitam compreensões que podem gerar mudança social, que se configuram em uma história engajada, como almeja a autora.
Notas
1 FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: EDUSP, 2009.
2 SCOTT, Joan. Gênero uma categoria útil para análise histórica. Educação e realidade. Porto Alegre. Vol. 20. N. 2. Jul/dez, 1995. p. 14.
3 FARGE, op. cit.,p. 43.
4 FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
5 FARGE, Lugares… Op. cit. p. 9-10.
6 WOLFF, Cristina Scheibe. Pedaços da alma: emoções e gênero nos discursos da resistência. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, 23(3), setembro/dezembro, 2015.
7 Ibidem. p. 19.
8 WOLFF, op. cit.
9 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 23.
10 Ibidem. p. 25.
11 Ibidem. p. 43.
12 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 61.
13 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2006.
14 FOUCAULT, Michel. Eu, Pierre Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
15 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
16 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: Os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
17 WOLFF, op. cit.
18 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 114.
19 Ibidem, p. 129.
Dulceli de Loures Tonet Estacheski – Doutoranda em História pela UFSC. Professora do curso de História da UNESPAR, campus de União da Vitória. E-mail: [email protected].
Mitten in Europa. Verflechtung und Abgrenzung in der Schweizer Geschichte – HOLENSTEIN (DH)
HOLENSTEIN, André. Mitten in Europa. Verflechtung und Abgrenzung in der Schweizer Geschichte. Baden: Hier und Jetzt, 2014, 285p. Resenha de: FURRER, Markus. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.181-182, 2016.
Der Berner Historiker André Holenstein tritt mit seiner transnationalen Deutung der Schweizer Geschichte « Mitten in Europa » gegen Vorstellung und Klischee an, die Schweiz sei eine politische und historische Insel. Er hat mit seinem Buch in einer Zeit, in der Identitätspolitik und die Frage nach den Ursprüngen an Virulenz zugelegt haben, breite öffentliche Resonanz gefunden.1 Eine Antwort auf diese Entwicklung gibt André Holenstein gleich zu Beginn: Die von Globalisierung und Liberalisierung besonders betroffene Schweiz, die sich auch der europäischen Integrationsdynamik nicht entziehen könne, wirke fundamental verunsichert. Als Kleinstaat erfahre die Schweiz die Auswirkungen solch dynamischer ökonomischer und politischer Prozesse besonders drastisch. Der Blick in die Geschichte, wie ihn André Holenstein vornimmt, zeigt zudem, dass die Schweiz als Staatswesen « mitten in Europa » den vielfältigen politischen, gesellschaftlichen und auch ökonomischen sowie kulturellen Prozessen des europäischen Umfeldes schon immer stark ausgesetzt war und diese zur Staatswerdung und Identität gar massgebend beigetragen haben. André Holenstein bringt dies auf die Formel von « Verflechtung und Abgrenzung », welche er als zwei Seiten derselben Medaille verstanden haben will – ein Spannungsverhältnis, das sich durch die Jahrhunderte zog und bis in die Gegenwart immer wieder zu frappanten Parallelen führt, sei es in der Aussenhandelspolitik, der Diplomatie generell und überhaupt in der schweizerischen Wahrnehmung Europas und der Welt. Diese Bezüge und Sichtweisen sind im vorliegenden Band besonders prägnant herausgearbeitet. Transnationalität wird in der Folge als « condition d’être » der Schweiz erkannt und ausgelegt.
Das für ein breiteres Lesepublikum anschaulich und beispielhaft geschriebene Buch ist auch für den Umgang mit und den Einbezug von Schweizer Geschichte im Unterricht von grossem Nutzen. Einmal postuliert André Holenstein, was Geschichte zu leisten vermag, und legt überdies Strukturen offen, wie man sich den Prozess der Herausbildung des schweizerischen Staatswesens erklären kann. Zur Sprache kommt auch die gesellschaftliche Funktion von Geschichte. So bedient historisches Wissen Orientierungsbedürfnisse: es schärft den Sinn für die Kräfte der Verflechtungen und der Abgrenzung und kämpft gegen das Verhaftetsein in statischen Geschichtsbildern an. Historisches Wissen kann so helfen, die Zeitgebundenheit von Geschichtsbildern und Geschichtsauffassungen zu entziffern und den Sinn für die Wandelbarkeit politischer Konstellationen und Machtlagen zu schärfen (S. 261).
Das Buch geht chronologisch verschiedenen Entwicklungssträngen und Prozessen nach und räumt mit Klischeevorstellungen mehrfach auf. Ein spezielles Augenmerk erhalten die Prozesse der Identitätsbildung wie der Alteritätserfahrungen im 15. Jahrhundert. Verflechtungen sowie Abgrenzungen in der alten Schweiz werden profund ausgeleuchtet. Als Beispiele für die Verflechtungen werden Migration (darunter militärische und zivile Arbeitsmigration) sowie kommerzielle wie auch die aussenpolitischen und diplomatischen Verflechtungen diskutiert. Beispiele für Abgrenzungen bilden insbesondere die Neutralität, die sich vom Gebot der Staatsräson zum Fundament nationaler Identität entwickelt hat, oder auch das Gefühl des Bedrohtseins des ‹ eidgenössischen Wesens ›. Zwei weitere Kapitel widmen sich den Prozessen der modernen Schweiz zwischen « Einbindung und Absonderung ». Mit einem Blick zurück erfahren wir vorerst, dass Schweizer Kaufleute bereits früh aus der günstigen Lage mitten in einem chronisch kriegerischen Europa heraus einen florierenden Handel mit Kriegsmaterial und lebenswichtigen Gütern betrieben (S. 105) oder auch, wie stark der strategisch sensible Raum des Landes durch die geopolitische Lage im « Auge des Hurrikans » bestimmt war. Die eidgenössischen Orte unterhielten bereits früh mit allen wichtigen antagonistischen Mächten langfristige Vereinbarungen und verschafften sich auf diese Weise Sicherheit (S. 123). Eine besondere Bedeutung hatte Frankreich für die Schweizer Geschichte. Dieser Macht vermochten die kleinen eidgenössischen Republiken wenig entgegenzusetzen, und so wirkte die Eidgenossenschaft bald als ihr Allianzpartner und bald als ihr Protektorat, je nach europäischer geopolitischer Grosswetterlage. Dabei war die alte Eidgenossenschaft auch ein schwieriges Pflaster für die ausländische Diplomatie, die sich um diesen strategischen Raum bemühte, was wiederum zeigt, dass der schweizerische Raum schon früh als eigenständiges Völkerrechtssubjekt betrachtet worden ist.
Immer wieder ist von Ambivalenzen die Rede. Das tiefe Bedürfnis nach Abgrenzung von einem als wesensfremd und bedrohlich wahrgenommenen Ausland gehört ebenfalls zur Geschichte der schweizerischen Aussenbeziehungen. Nach André Holenstein ist dies darauf zurückzuführen, dass in der konfessionell, später auch sprachlich-kulturell sowie politisch uneinheitlichen Schweiz die traditionellen Anknüpfungspunkte für die Begründung nationaler Zusammengehörigkeit fehlten und ihre kleinen Republiken auch über keine Bezugspunkte zu fürstlichen Dynastien verfügten.
André Holensteins breit angelegte Analyse zeigt mit ihrer stringenten und originellen Fragestellung von « Verflechtung und Abgrenzung », was Geschichte zum Verständnis und Verstehen einer Staatswerdung beitragen kann. Sie hilft uns, vom starken Mythenbezug der Schweizer Geschichte abzurücken und an dessen Stelle in Gesellschaft und Schule historische Analyse und Reflexion einzubringen. Dafür machte sich bereits Herbert Lüthy 1964 stark, als er schrieb:
« Es ist gefährlich, wenn Geschichtsbewusstsein und Geschichtswahrheit, und damit auch Staatsbewusstsein und Staatswirklichkeit, so weit auseinanderrücken, dass wir von uns selbst nur noch in Mythen sprechen können. »2
[Notas]1 Z.B. die Rezension von Maissen Thomas, Verflechtung und Abgrenzung, in http://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/verflechtung-und-abgrenzung-1.18432160 (20.07.2015).182 | Didactica Historica 2 / 2016
2 Lüthy Herbert, Gesammelte Werke, Bd. IV, Zürich 2005, S. 82‒102, S. 84, zit. in André Holenstein…, S. 15.
Markus Furrer – PH Luzern.
[IF]Schweizer Heldengeschichten – und was dahinter steckt – MAISSEN (DH)
MAISSEN, Thomas. Schweizer Heldengeschichten – und was dahinter steckt. Baden: Hier und Jetzt, 2015, 234 S. Resenha de: ZIEGLER, Béatrice. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.183-184, 2016.
Thomas Maissen ist in der Deutschschweiz im « Jubiläumssuperjahr » 2015 hervorgetreten durch seine Bereitschaft, wissenschaftlich basierte Geschichte gegen die geschichtspolitisch motivierten historischen Erzählungen von Christoph Blocher, der Leitfigur der schweizerischen SVP, zu stellen und die Diskussion um die Frage von Mythos und Geschichtswissenschaft zu führen. Dank seiner « Geschichte der Schweiz » (2010)
bestens bekannt und mit dem Renommee einer Professur an der Universität Heidelberg und der aktuellen Leitung des Deutschen Historischen Instituts Paris ausgestattet, bewegt er sich damit zwischen dem Geltungsanspruch von Experten und demokratischer Aushandlung von Geschichte. Dieser Problematik widmet er sich denn auch in der Einleitung seiner « Schweizer Heldengeschichten » und unterstreicht darin die Berechtigung von demokratischer Diskussion und Entscheidung über das kollektive Hoch- und In-Wert-Halten von Mythen. Wie bei jedem demokratischen Entscheid benötigt es, so Maissen, keiner Expertise, um eine Meinung zu haben und diese legitimerweise in die öffentliche Diskussion einzuwerfen. Die Geschichtswissenschaft sei in derselben nur eine Stimme unter vielen. Allerdings billigt er ihr dann doch die Position der Expertenschaft zu, in der methodisch gesichert, analytisch fundiert und theoretisch basiert Geschichte erzählt werde und damit auch die Differenz zwischen Mythen und Geschichte mahnend benannt werden könne. Dort lägen auch ihre Rolle und ihre Verantwortung. Was Maissen damit deutlich macht, ist der Sachverhalt, dass Mythen eine andere Funktion erfüllen als Geschichte, aus deren Fundus sie sich, über jede Anbindung an Wissenschaftlichkeit hinwegsetzend, immerhin (auch) bedienen.1 Und es ist wohl einfach der gesellschaftlichen Realität geschuldet, wenn er festhält, dass der Historiker nicht bestimmen könne, wie ein Mythos laute und welche Wirkung er entfalte. Die Chance, die Geschichtsbilder der schweizerischen Bevölkerung und Öffentlichkeit aufklärerisch zu beeinflussen, lägen demgegenüber darin, die Lücken aufzufüllen zwischen den beiden geschichtskulturellen Fixpunkten der schweizerischen Geschichte, der sogenannten Gründungszeit der Eidgenossenschaft und der Zeit des Zweiten Weltkriegs, deren mythische Bedeutung er in der heldischen Bewährung gegen Bedrohungen und äussere Feinde sieht.
Diese Aufgabenzuweisung bestimmt denn auch das Buch: In 15 Kapiteln zitiert Maissen mythische bzw. politische Aussagen zu schweizerischer Geschichte, diskutiert sie und entwickelt danach die entsprechende Geschichte so, wie sie angesichts des aktuellen Forschungsstandes und der vorhandenen und bekannten Quellen erzählt werden kann. Vom Rütlischwur bis zum Sonderfall erörtert er geduldig die jeweiligen Erkenntnisse der Wissenschaft und leistet damit aufklärerische Arbeit. Dass ihm dies auf überzeugende und gut lesbare Art gelingt, erstaunt niemanden, der seine früheren Publikationen gelesen hat.
Man möchte dann aber doch mit dem Geschichtswissenschaftler Thomas Maissen streiten: weniger über seine wissenschaftlich fundierten Erzählungen und Aussagen als vielmehr über einiges, was er über die fachliche Expertenschaft und ihre Arbeit sagt. Vorerst schiebt er zwischen die Einleitung und die 15 Kapitel eine spannende Einführung in die Geschichte der Geschichtsschreibung zur Schweiz. Auch hier folgt man ihm interessiert und durchaus zustimmend. Weniger begeistert nimmt man aber den defätistischen Ton zur Kenntnis, in welchem er eine der grundsätzlichen Besonderheiten von Geschichte als Wissenschaft erwähnt – die fortwährende Erneuerung, Revidierung und Erweiterung der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis –, die er dann aber neben die Aussage stellt, es sei in der politischen Auseinandersetzung legitim, auf veraltete Forschungsstände zurückzugreifen. Nun ist Erkenntnisfortschritt und damit die Revidierung von Wissen ein überaus wichtiges Kennzeichen wissenschaftlicher Arbeit, und zwar auch im Falle der Geschichtswissenschaft. Zudem ist der politische antiaufklärerische Rückgriff auf revidiertes und damit überholtes Wissen eine unredliche, das « Volk » täuschende Vorgehensweise im Interesse um « Macht und Wähleranteile », wie Maissen dies durchaus benennt, die schwerlich als legitim bezeichnet werden kann, wie er dies aber tut.
Auch die selbstbezichtigende Wendung befremdet, mit der Maissen die von ihm genannte Funktion von Geschichtswissenschaft in der Geschichtskultur beschreibt: So ist es zweifellos richtig, wenn er die Tätigkeit, in welcher die Geschichtswissenschaft die « volkstümliche Deutung der Geschichte mit dem aktuellen Wissensstand unter Fachleuten vergleicht », als dekonstruierend bezeichnet.2 Warum er ihr aber das Attribut des Negativen hinzufügt (S. 11) und es bedauert, dass ein Historiker nicht in gleicher Weise über gewonnene Erkenntnisse hinweggehen darf (S. 12), wie das Teile der Geschichtspolitiker tun, ist unverständlich. Und die Frage, wie eine mythische Erzählung Räume für Entwicklung öffnen soll, wenn sie sich elementarer wissenschaftlich begründeter Kritik an einzelnen ihrer Elemente oder an der mangelnden Begründung ihrer Sinnstiftungen kategorisch verschliesst, müsste dann doch gestellt werden (S. 12).
[Notas]1 Man tut gut daran, Roland Barthes’ Nachdenken über die Spezifität des Mythos nicht zu vergessen. Barthes Roland, Mythen des Alltags, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1964.184 | Didactica Historica 2 / 2016
2 Die Dekonstruktion als eine Textanalyse, die denselben auf Entstehungszusammenhänge, Interessen und Aussageabsichten, fachliche Richtigkeit und Plausibilität hin untersucht, ist in den letzten Jahren in der Geschichtsdidaktik als De-Konstruktion bedeutsam geworden, gerade weil der Umgang mit geschichtskulturellen Geschichtsdeutungen neben der Fähigkeit zur Erstellung der eigenen Narration als zwingend erachtet wird, um selbstbestimmt mit Geschichte in der Gesellschaft umzugehen. Vgl. Schreiber Waltraud, Körber Andreas, Borries Bodo von, Krammer Reinhold, Leutner-Ramme Sibylla, Mebus Sylvia, Schöner Alexander, Ziegler, Béatrice, Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell, Neuried: ars una, 2006.
Béatrice Ziegler – PH FHNW, Aarau und Universtät Zürich.
[IF]
Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas – HERZOG (RTF)
HERZOG, T. Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015. Resenha de: LOPES, Jonathan Felix. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 9, n. 1, jan.-jun., 2016.
A autora deste livro, Tamar Herzog, é professora da Universidade de Harvard desde 2013 onde leciona nas cadeiras de América Latina, História espanhola e portuguesa, além de ser afiliada à Escola de Direito da mesma universidade. Foi, também, professora na Universidade de Stanford e desde a década de 1980 tem actuado em actividades académicas em outras Universidades norte-americanas, além de Israel e Espanha.
Graduada em direito e mestra em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutora em História pela Escola de (em francês) Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, com a tese (nome e data). Desde trabalharam resultaram duas obras publicas no ano seguinte La administración como un fenónemo social: la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)1 e Los ministros de la Audiencia de Quito 1650-1750, 2 sendo a primeira posteriormente traduzida para o francês e reeditada em língua inglesa.
Tamar Herzog possuiu uma sólida produção académica nos campos de sua formação, procurando analisar articuladamente as relações entre a lei e o cotidiano de realidades específicas. A partir de meados da década de 1990, se dedica a estudos que buscam associar dinâmicas locais ao contexto imperial no qual se inserem. As obras Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII-XVIII)3 e Ritos de control, prácticas de negociación: Pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750),4 consolidaram-na no campo de estudos de História do Atlântico.
Com foco no início da modernidade e no império espanhol, publicou uma série de artigos que envolvem desde as relações jurídicas ao estatuto social dos indivíduos. Em Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas, publicado em 2015 pela Harvard University Press, Tamar Herzog expande o horizonte de análise para o chamado Mundo Ibérico, isto é, os impérios de Portugal e Espanha. Com foco nas dinâmicas de fronteiras, o texto está envolto no eixo entre diplomacia, guerra e direito, tendo por base uma ampla gama documental. O livro está dividido em duas partes, que, no seu conjunto, representa uma inovação diante das análises historiagráficas mais tradicionais ao tomar como ponto de partida a análise da área colonial. Já na introdução estabelece uma série de críticas a parte da historiografia Colonial e do Atlântico.
Diante desse quadro, justifica tal inversão ao estabelecer que começar pela América pode clarificar particularidades dessa área e revelar o quanto as relações nela estabelecidas podem ter atuado sobre as metrópoles coloniais, construindo imagens reflectidas de ambos os lados do Oceano.
A primeira parte, intitulada “Defining Imperial Spaces: How South America Became a Contested Territory”, está dividida em dois capítulos, nos quais a autora busca contextualizar as relações diplomáticas entre os dois impérios no que diz respeito ao espaço sul-americano. Herzog argumenta sobre a aplicação de diferentes concepções de soberania, evoluindo entre modelos abstractos de delimitação – como os eixos latitudinal e longitudinal das bulas Inter coetera e de Tordesilhas – estabelecidos entre 1493 e 1494 e modelos com base na posse do território, tal qual priorizado no Tratado de Madrid, em 1750, até a combinação entre perspectivas, de que será exemplo o Tratado de Santo Idelfonso, firmado em 1777. Demonstra, também, a escalada territorial no estabelecimento formal de soberania das duas Coroas Ibéricas, desde a bacia do Prata, área chamada pela autora de Heartland da América do Sul, até o eixo ocidental do território brasileiro. Ressalta ainda que as sucessivas negociações diplomáticas foram incapazes de sanar as questões de delimitação entre as duas Coroas, configurando-se, na prática, numa série de conflitos territoriais e ideológicos, diante do complexo emaranhado de atores e interesses.
Esta ideia conduz Tamar Herzog a concentrar-se na organização do território, avaliando, com estreita base documental, as relações entre colonos europeus e populações autóctones. Argumenta a autora que a conversão de nativos constituiu um aspecto competitivo fundamental entre portugueses e espanhóis. Tal competição é explicada pela lógica social, ao se associar a conversão à transformação dos indígenas em vassalos de uma ou outra Coroa, permitindo, no campo geoestratégico, firmar alianças e estabelecer soberania sobre o território. Nesse contexto, acirravam-se as disputas entre ordens religiosas pelo direito de conversão. Em termos formais isso garantia às populações nativas aliadas o acesso a direitos junto à Coroa, como a manutenção das terras ancestrais e a protecção contra grupos rivais.
O aspecto mais inovador da obra, todavia, consiste em uma série de hipóteses sobre os interesses e estratégias dos indígenas ao estabelecer acordos com os colonizadores, contrariando assim a visão tradicional que tende a estabelecer a dicotomia entre passividade e resistência das populações autóctones no processo colonial. Reconhece ainda que os termos dos acordos nem sempre eram claros aos indígenas e, por vezes, as condições de negociação os desfavoreciam, pois consistiam na escolha entre conversão ou aniquilação. O uso da violência aparece nesse quadro de modo mais complexo, regulado pela noção de “guerra justa”, o que forjou uma complexa narrativa histórica que expunha o colonizador como vítima e não como agressor, presente em diversos registros feitos por europeus quando na América. Essa dinâmica revela que o recurso a violência consistia mais em uma estratégia para conseguir obediência do que de extermínio, distinguindo os nativos em duas categorias: aliados e inimigos.
Utilizando um olhar analítico estrangeiro, a autora busca inspiração na literatura anglo-americana do período colonial e revela uma estratégia de domínio territorial subjacente, a qual consistia em estabelecer uma relação direta entre uso e o direito à terra.
Na prática, isso garantia exclusivamente aos colonizadores europeus a reorganização do regime de terras e alavancou uma competição entre os agentes do território, que guiou à uma lógica de ocupação com base na máxima “better safe than sorry” (é melhor prevenir do que remediar).
A segunda parte, “Defining European Spaces: The Making of Spain and Portugal in Iberia”, está dividida em dois capítulos. O primeiro deles tem o curioso título de “Fighting a Hydra: 1290-1955”. A autora faz uma interessante associação entre o mitológico ser de nove cabeças enfrentado por Hércules e as diversas frentes de disputa territorial entre Portugal e Espanha no espaço da Península Ibérica durante o longo período em causa. Afirmando que os conflitos entre as duas Coroas forjaram uma espécie de hidra, Herzog ressalta a particularidade de cada caso, no que diz respeito as estratégias, atores e interesses. É neste contexto que nos descreve a área de fronteira como sendo caótica e descontrolada, e estabelece a esse propósito um paralelo com o sertão sul-americano.
No derradeiro capítulo, “Moving Islands in a Sea of Land: 1518-1864”, Herzog concretiza uma análise pormenorizada de duas áreas fronteiriças: Verdoejo, área meridional ao Rio do Minho, hoje pertencente ao concelho de Valença, Portugal, e a área montanhosa de Madalena/Lindoso, hoje concelho de Ponte da Barca, também em Portugal. Sucessivamente, são analisados em detalhe os aspectos relativos ao início do conflito, às partes envolvidas e respectivas reinvindicações.
Nas conclusões a essa obra, Tamar Herzog retoma algumas características centrais de cada capítulo e ressalta a importância dos aspectos territoriais na agenda das Coroas. É destacado o facto do Arquivo Nacional de Portugal se ter consagrado como Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em memória aos cadastros de propriedades – tombos. Herzog retoma uma vez mais o seu objecto de estudo, retractando a dificuldade de enquadrá-lo conceitualmente. A esse propósito, a autora sugere que devido a inadequação entre os termos limite (border) e fronteira (frontier), talvez fosse mais adequado empregar o termo território.
Aqui vale ressaltar a importância de uma compreensão conceitual advinda de outro campo, isto é, da Geografia, para compreensão de questões histórico-espaciais e, também, da geopolítica quando transcendem à relação entre impérios, países e grupos nativos. A diferenciação entre fronteira e limite já foi por muitas vezes tratada por geopolíticos desde o estudo pioneiro de Kristoff.5 Além disso, o estudo de Herzog, mais do que trabalhar com a categoria de território, ao nosso ver, poderia se enquadrar na dinâmica de territorialização e aos processos adjacentes de desterritorialização e reterritorialização, capitulados por Deleuze e Guattari6 e articulados para análise geográfica por Rogério Haesbaert.7 O carácter interdisciplinar do livro, sobretudo ao conjugar História e Direito, mereceria, assim, uma aproximação maior com a Geografia Histórica. Tal abordagem contribuiria para o melhor entendimento conceitual, notadamente às noções de soberania e de apropriação territorial, as quais já foram tratadas para o caso lusobrasileiro pelos geógrafos Maurício de Almeida Abreu8 e António Carlos Robert Moraes, 9 assim como em trabalhos mais pontuais, como, por exemplo, o da historiadora Iris Kantor.10 Mais do uma crítica, a ressalva aqui levantada busca ressaltar o carácter original e metódico da abordagem da autora e que, como tal, aponta novos caminhos para compreensão dos processos jurídicos e espaciais no longo curso da História. De modo que este trabalho constitui um contributo muito importante para reavaliarmos as narrativas e o lugar das populações nativas na formação do território americano.
1 HERZOG, Tamar. La administración como un fenómeno social : la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750). Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1995.
2 HERZOG, Tamar. Los ministros de la Audiencia de Quito (1650-1750). Quito: Ediciones Libri Mundi, 1995.
3 HERZOG, Tamar. Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII). Frankfurt/ Main: Vittorio Klostermann, 1996.
4 HERZOG, Tamar. Ritos de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750). Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000.
5 KRISTOFF, L. K. D. The nature of frontiers and boundaries. Annals of the Association of American Geographers, Washington DC, v. 49, n. 3, p. 269–282, 1959.
6 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
7 HAERSBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: do “Fim dos Territórios” à multiterritorilidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
8 ABREU, M. de A. A apropriação do território no Brasil colonial. In: FRIDMAN, F.; HAESBAERT, R. (orgs). Escritos sobre espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.
9 MORAES, A. C. R. de. Bases da formação territorial do Brasil : O território colonial brasileiro no “longo” século XVI. São Paulo: Annablume, 2011.
10 KANTOR, Iris. Soberania e territorialidade colonial: Academia Real de História Portuguesa e a América Portuguesa (1720). Temas setecentistas: governos e populações no Império português, Curitiba. Jornadas Setecentistas. Curitiba, v. 1. p. 233-239, 2007. Disponível em: http://www.humanas.ufpr.br/portal/cedope/files/2011/12/Soberania-e-territorialidade-colonial- %C3%8Dris-Kantor.pdf. Acesso em: 29 fev. 2016.
Jonathan Felix Ribeiro Lopes – Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ). Doutorando em Geografia na Universidade de Lisboa. Investigador associado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-ULisboa). Correspondência: Rua Gonzaga Bastos, 209, bloco B, ap. 104, Vila Isabel. Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CEP: 20541-000 E-mail : [email protected].
La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français – FUREIX; JARRIGE (H-Unesp)
FUREIX, Emmanuel; JARRIGE, François. La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français. Paris: Éditions La découverte, 2015. 390 p. Resenha de: ROZEAUX, Sébastien. História [Unesp] v.35 Franca 2016.
Voici un ” essai historiographique ” voué à devenir un ouvrage de référence pour celui qui étudie, de près ou de loin, l’histoire de la France au XIXe siècle, en cela qu’il nous offre une recension précise et très informée de l’historiographie de ces trente dernières années. Ce tableau compréhensif de la recherche historique s’inscrit, et c’est là la grande vertu de ce livre-panorama, dans une histoire de la France qui s’écrit, de plus en plus, dans diverses langues et dans un dialogue accru entre des traditions historiographiques différentes. Cette attention accordée aux traditions française et anglo-saxonne, en particulier, a largement contribué à enrichir et complexifier, un peu plus encore, l’histoire d’un siècle sur lequel les historiens, en France et dans le monde, publié qu’aujourd’hui.
Cet ouvrage écrit à quatre mains paraît dans une nouvelle collection intitulée ” Écritures de l’histoire “, qui aspire à mettre en évidence ” la fabrique de l’histoire en train de se faire “, soit une attention particulière donnée aux conditions de la production du discours historique, passé et présent, ainsi qu’à ses usages dans l’espace public. L’ouvrage d’Emmanuel Fureix et de François Jarrige s’ouvre ainsi sur le constat amer d’une histoire du XIXe siècle dont l’ample renouvellement est contemporain de son éloignement dans les mémoires et les imaginaires, à mesure que les programmes scolaires, notamment, en atténuent ou édulcorent les traits les plus saillants, réforme après réforme. Or, dans le même temps, les deux auteurs constatent un certain regain d’intérêt pour ce XIXe siècle – dont l’historiographie récente porte la trace -; regain d’intérêt qu’ils relient, en particulier, à l’essor des mouvements de contestation contre la ” radicalisation du néolibéralisme “, en cours depuis les années 1980, contexte favorable, à leurs yeux, pour comprendre ” la quête incessante d’un autre XIXe siècle, à la fois plus réaliste et émancipé à l’égard des œillères héritées du passé ” (p. 37).
En effet, les deux historiens ont à cœur, dans cet essai, de mettre en évidence l’actualité du XIXe siècle, dès lors que celui-ci est restitué dans son irréductible complexité. Car, comme il est rappelé dans l’introduction, ” le siècle du progrès et de la modernité fut donc aussi celui des ambivalences, des inachèvements et des désenchantements ” (p. 10). Observateurs attentifs et enthousiastes de ce paysage ” luxuriant ” qu’offre le XIXe vu à travers le prisme de l’historiographie la plus récente, Emmanuel Fureix et François Jarrige ont l’ambition commune, tout au long des sept chapitres thématiques que compte l’ouvrage, de témoigner des vertus de cette attention nouvelle des historiens pour les arrangements, les discontinuités, les résistances et les expériences singulières qui ont permis de rompre avec une lecture trop linéaire ou téléologique du XIXe siècle.
Ainsi, l’ouvrage s’ouvre sur une relecture critique du siècle de la modernité advenue, ce ” macro-récit téléologique qui rend invisibles la richesse et la diversité des situations ” (p. 50). Le renouvellement concomitant de plusieurs champs historiographiques (parmi lesquels, l’histoire économique, celle des sciences, du travail ou encore rurale) permet d’offrir un tableau contrasté du siècle de la ” révolution industrielle “, dont la modernité affichée cache le plus souvent une réalité autrement plus complexe, faite d’accommodements, d’adaptations et de résistances, afin de dépasser le paradigme réducteur des prétendus ” archaïsmes ” d’une société en quête de ” modernité “.
Le livre fait ensuite l’inventaire des novations les plus remarquables en histoire culturelle, depuis l’histoire des sensibilités, jusqu’à l’histoire du livre et de la presse. Ces différents renouvellements historiographiques ont permis de prendre la mesure de l’ampleur et des limites des bouleversements d’un siècle marqué par l’émergence de la culture de masse, la démocratisation de l’éducation scolaire ou le ” triomphe du livre “. Sur ce dernier point, les deux auteurs s’attardent, à raison, sur l’étude très féconde des usages sociaux quotidiens du journal, qui ont contribué à renouveler en profondeur une histoire des appropriations de l’imprimé et des pratiques de lecture. Si l’essai se fait l’écho des nouvelles approches transnationales de l’histoire des intellectuels et de la circulation de la notoriété d’une œuvre ou d’un auteur, il est toutefois regrettable, ici, que les deux auteurs n’accordent pas la même attention au renouveau de l’histoire du livre et de l’édition. De nombreux travaux collectifs et internationaux, menés récemment, ont déjà établi qu’il était indispensable, désormais, de penser le livre et le monde de l’édition en France dans une perspective transnationale, connectée. Ce faisant, l’histoire des transferts et des circulations culturelles transatlantiques fournit des éclairages précieux sur une histoire culturelle qui entre en résonnance avec la mondialisation des phénomènes culturels, en cours au XIXe siècle – et en particulier entre les continents américain et européen.1
Par ailleurs, l’attention accrue des historiens à l’agency des acteurs a contribué au renouveau d’une histoire culturelle et sociale attentive, depuis le Linguistic turn, à historiciser les processus d’identification (individuel ou collectif) via l’analyse des constructions discursives dont, pour une part, ils résultent. En témoignent, par exemple, la nouvelle histoire du genre (appréhendée comme une construction sociale et culturelle de la différence des sexes), les débats autour de la question des identités sociales ou le renouveau des approches pour penser la construction du national – des réflexions que, là aussi, une attention nouvelle aux approches comparées et internationales ne manqueront pas d’enrichir plus encore à l’avenir.
Sur le versant politique, les auteurs rappellent la nécessité de ” rompre avec une histoire univoque de l’acculturation républicaine ” (p. 233) : la déconstruction du grand récit de la modernisation démocratique a mis en lumière les limites de la démocratisation, l’importance des résistances et l’extraordinaire diversité des voies de la politisation, au-delà du rôle encore limité de l’élection et du vote. La construction de l’État offre un autre champ de renouveau, par l’importance accordée à la réflexion socio-historique sur la progressive étatisation de la société, comme le permet, notamment, l’étude des ” nouvelles ingénieries du politique “, depuis l’essor de la statistique jusqu’au ” gouvernement des honneurs “. Une nouvelle histoire sociale de l’État et de ses agents, la réflexion sur le pouvoir régulateur de l’État vis-à-vis du marché et la mesure précise de son autorité au sein de la société sont autant de contributions pour penser à nouveaux frais la construction de l’État, l’étatisation des sociétés et ses limites.
Cette réflexion sur l’État et ses pouvoirs se trouve prolongée dans sa dimension impériale, puisque la colonisation est un champ d’études particulièrement fécond, en vertu des ” dynamiques pluridisciplinaires et transnationales ” et de ” la montée en puissance de l’histoire globale ” (p. 330). Dans la droite ligne des études postcoloniales, l’émergence d’une nouvelle histoire impériale a produit de nombreux travaux sur les mutations à l’œuvre au sein des sociétés métropolitaines et coloniales, par la mise en évidence de la complexité de leurs échanges et de leurs relations. L’imposition de l’ordre colonial sur les territoires colonisés se révèle être ainsi la source de violences protéiformes et de nouvelles inégalités, comme il produit des singularités remarquables, au prix de résistances et d’arrangements de ces sociétés soumises à ces formes inédites de la domination.
Historiens du XIXe siècle, Emmanuel Fureix et François Jarrige rappellent à travers cet essai les vertus d’une science, l’histoire, qu’ils envisagent comme la ” mise en scène de la pluralité des possibles à travers l’étude des sociétés passées et de la diversité des modes d’inscription dans le monde ” (p. 386). Et les deux auteurs d’énoncer, peut-être trop rapidement, les vertus émancipatrices de la science historique, en ces temps gagnés par le ” désenchantement ” et une ” insatisfaction ” anxiogène. J’ajouterai aux mérites de cet ouvrage, pour un public lecteur étranger, et notamment brésilien, celui de mettre en évidence la fécondité d’une histoire comparée à l’échelle internationale, compte tenu de l’intensification croissante de la circulation des hommes, des idées et des marchandises au XIXe siècle. Pour un spécialiste de l’histoire du Brésil à l’époque impériale, il ressort de la lecture de cet essai que l’histoire de la France au XIXe siècle, dont le dynamisme et le renouvellement sont ici brillamment exposés, doit désormais se lire et s’écrire dans sa dimension connectée et transnationale. De cette exigence découle aussi l’injonction faite aux spécialistes de l’histoire culturelle, sociale, économique ou politique, du Brésil en particulier et de l’Amérique latine dans son ensemble, à une plus grande attention à ces transferts, circulations (importations et exportations) et connexions auxquels le ” nationalisme méthodologique ” a longtemps fait obstacle. C’est par ce dépassement du carcan national dans l’écriture de l’histoire, en France et ailleurs, que les historiens peuvent prétendre in fine contribuer à produire collectivement une histoire mondiale ou atlantique des sociétés contemporaines.
1 Voir, en particulier: COOPER-RICHET D.; MOLLIER, J.-Y. Le Commerce Transatlantique de Librairie . Campinas/S.P: UNICAMP/Publicações IEL, 2012. ABREU M.; DEAECTO M. M. A Circulação transatlântica dos impressos [recurso eletrônico]: Conexões. Campinas, São Paulo: UNICAMP/IEL/Setor de Publicações, 2014. ABREU. M.; SURIANI DA SILVA A. C. (eds.). The cultural Revolution of the Nineteenth century . Theatre, the Book-trade and Reading in the Transatlantic World. Londres/New York: I. B. Tauris, 2016.
Sébastien Rozeaux – Docteur en histoire contemporaine. Centre de recherche sur le Brésil colonial et contemporain – Mondes américains. École des hautes études en sciences sociales, Paris. EHESS (Siège), 190-198 – Avenue de France – 75244 – Paris – CEDEX 13.
O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina – COSTA PINTO, A.; MARTINHO (Topoi)
COSTA PINTO, António; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 336p. Resenha de: GUIMARÃES, Gabriel Fernandes Rocha. A democracia na penumbra. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Recentemente muito se tem falado nos círculos intelectuais e na grande mídia acerca do golpe militar de 1964 e de que forma ele moldou a política brasileira durante o regime implementado, e mesmo depois, já no período da chamada redemocratização, que tipo de herança política ele deixou, seja de caráter institucional ou ligado à cultura política nacional. Muito se tem especulado acerca deste período. Alguns afirmando que se tratou de um dos maiores, se não o maior, trauma político da história nacional, outros dizendo que foi o solapamento de uma jovem e incipiente democracia brasileira. Há ainda aqueles que falam do golpe como uma resposta a um crescente ganho de força dos grupos de ideologia comunista no Brasil, seja através de guerrilhas rurais, seja através da criação de quadros marxistas dentro das forças armadas, sobretudo no médio e baixo oficialatos.
Embora essas correntes analíticas estejam em debate desde a década de oitenta do século passado, foi nos últimos anos que a discussão se tornou mais acirrada. Então fica a pergunta: por que apenas em governos ou períodos específicos a busca pela “verdade” e pelo passado ganha maiores impulsos? Por que o passado é visto como alvo de uma averiguação mais profunda em certos contextos e em outros não? Por que em certos contextos se defende um maior silêncio em relação a passados ditatoriais sob o argumento de que não é bom para uma democracia nascente abrir velhas “feridas”, e em outros se argumenta que as “feridas” devem ser reabertas justamente em benefício da democracia? Por que em alguns casos os “regimes de transição” parecem remediar bastante os traumas políticos gerados por regimes autoritários (como na Grécia) e em outros se dá lugar a um silêncio que só será contestado muitos anos depois (como na Espanha)? É sobre esta problemática que O passado que não passa, livro organizado por Antônio Costa Pinto e Francisco Carlos Palomanes Martinho vai tratar analisando países sul-americanos com ênfase no Brasil e países da Europa do sul, colocando em foco Portugal, Espanha, Itália e Grécia.
Os diversos autores que escrevem no livro organizado por Costa Pinto e Martinho tentam mostrar como e por que surgem as “políticas do passado”, quais os grupos que as defendem, se elas vêm à tona durante a redemocratização, através dos “regimes de transição”, ou anos, ou mesmo décadas depois de fim dos regimes autoritários. Os países da Europa do sul, como Itália, Portugal, Espanha e Grécia trataram de formas bastante diferentes o seu passado, uma vez que o modo como lidaram com as principais lideranças dos regimes autoritários imediatamente à queda destes mesmos regimes foi muito diverso.
O regime fascista italiano teria caído no contexto de uma sangrenta guerra civil entre fascistas e partisans comunistas no norte italiano, além de uma invasão de forças norte-americanas e inglesas que avançou a partir do sul. Os saneamentos ligados a cargos políticos e burocráticos, protagonizados pela esquerda radical, fizeram com que 309 dos 420 senadores fossem afastados de seus cargos, assim como todos aqueles que ocupavam cargos nos níveis mais altos da administração pública. Os saneamentos selvagens que foram administrados pelos partisans junto ao desmantelamento do paraestado fascista foram uma das primeiras medidas tomadas pela esquerda radical enquanto o regime desmoronava. Estimou-se que entre doze e quinze mil supostos agentes do fascismo tenham sido fuzilados através de processos de justiça sumária. O Comitê de Liberação Nacional (CLN), durante a libertação e depois dela limitou-se e comprometeu-se a cumprir as ordens das autoridades aliadas, sendo que a defesa dos saneamentos selvagens e da condenação daqueles que deram suporte aos fascistas, após o término da segunda guerra, ficou a cargo, sobretudo da esquerda radical, o PCI (Partido Comunista Italiano), e na região mais ao norte, seu líder Palmiro Togliatti defendeu a necessidade do “sagrado ódio do povo” se manifestar contra seus antigos opressores. No sul, por outro lado, adotava-se uma posição mais conservadora, preferindo-se “esquecer” o passado fascista tendo em vista a necessidade de pôr fim aos conflitos fratricidas que desde o período da guerra assolavam a sociedade italiana. Os partidos de direita foram revitalizados após a guerra e o movimento Uomo Qualunque, (homem comum) que tanto havia se oposto aos saneamentos, assim como à CLN, conseguiu assegurar a reabilitação de muitos que haviam sido saneados.
O legado do regime fascista italiano persiste até os dias de hoje, de acordo com o artigo, através das disputas entre partidos de direita e de esquerda. Os primeiros defendendo a ideia de que os partidos de direita do pós-guerra impediram que o comunismo, uma força supostamente mais violenta que o fascismo, tomasse o poder na Itália, e os segundos colocando os partisans comunistas como os responsáveis pela derrocada do regime mais tirânico que seu país conheceu. Muitas vezes a esquerda italiana associa a direita de Berlusconi a uma retomada do fascismo na Itália, sendo que a memória do passado está bastante viva no presente político italiano.
Os portugueses, por sua vez, não desmantelaram estruturas paraestatais como os italianos, nem promoveram saneamentos selvagens tão violentos após o fim do regime autoritário em 1974 (estes ficaram restritos a algumas áreas do norte português). Os acertos de contas com o passado dirigiram-se, sobretudo, à PIDE, a polícia secreta do regime salazarista, que atuava tanto em Portugal quanto nas colônias africanas. Assim como na Itália, a demanda por justiça em relação a todos que, de alguma forma, colaboraram com o regime foi encabeçada pelos partidos colocados mais à esquerda do PS (Partido Socialista) no espectro político, no caso o PCP (Partido Comunista Português) e a UDP (União Democrática Popular), de inspiração maoista. A UDP, inclusive, defendia execuções sumárias, nos moldes dos partigiani italianos definidas por tribunais revolucionários populares, para quem tivesse apoiado o regime. No entanto, assim como o PCP, obtiveram pouco apoio popular.
Os saneamentos feitos no sistema burocrático e administrativo encontraram os mesmos problemas que na Itália, uma vez que provar definitivamente quem apoiava integralmente o regime ou não era muito difícil, e julgar todos os suspeitos gerava o risco de paralisia de toda a estrutura burocrática nacional. Apesar do forte apelo feito pelo PCP e pela UDP, dos saneamentos feitos dentro da PIDE e do caráter revolucionário da fratura política, o regime de transição português se caracterizou por uma posição relativamente moderada (pelo menos se compararmos com o caso italiano), no sentido de que as demandas comunistas-maoístas foram amenizadas por uma espécie de apatia de boa parte da sociedade portuguesa em relação a tais propostas.1 A maioria da sociedade lusitana se contentou com a prisão dos membros da PIDE como forma de acertar as contas com o antigo regime de Salazar e Marcello Caetano. A memória popular ligada ao regime do Estado Novo ficou muito vinculada à imagem de Marcello Caetano que, segundo os autores, teve a sua principal faceta, a de um grande intelectual, apagada da memória popular em função de momentos esporádicos de sua carreira, como a repressão à Capela do Rato ou as restrições às listas eleitorais de 1969 e 1973. Dois anos após a queda do regime, o que se viu foi um quase desaparecimento das políticas do passado. A vitória do PS em 1976 deu continuidade a este processo de esquecimento e de reconciliação frente a processos de caráter mais punitivo.
Já o caso espanhol aparece como um dos mais curiosos, uma vez que, mesmo com a violência e grande duração (36 anos) do regime de Franco, as políticas do passado e a busca pela verdade só vieram à tona já adentrado o novo século, tendo havido uma espécie de esquecimento que durou décadas até ser ativado pelo governo de Zapatero. Ao contrário do caso italiano, em que o regime de Mussolini caiu frente a uma violenta guerra civil, ou do caso português, que viu o regime ruir frente a um movimento revolucionário que se desenvolveu dentro das Forças Armadas em um contexto de guerra colonial, o regime franquista espanhol nasceu, se desenvolveu e morreu com Franco. O ditador faleceu de velho em sua cama em 1975, em uma conjuntura de pouco conflito político-militar, com a monarquia logo tomando as rédeas do processo de democratização.
De certa forma, as elites que conduziram a redemocratização insistiram em um argumento utilizado pelo próprio Franco de que os espanhóis seriam inaptos para viver em democracia sem recorrer à violência. Embora essas elites conduzissem o sistema rumo a uma democracia, este argumento foi utilizado no sentido de estabelecer rapidamente um discurso de reconciliação e evitar novos confrontos que pudessem vir à tona junto com a busca pelas raízes do governo franquistas. Isto se traduziu numa procura obsessiva pelo consenso, e um princípio indispensável durante o governo de transição. Desta maneira, o argumento de Franco foi utilizado de forma ex negativo como forma de superação do regime do próprio Franco.
A transição para a democracia foi, em alguma medida, baseada num desejo quase explícito de esquecer, ou mesmo silenciar as dimensões do passado. A Lei de Anistia de 1977 para crimes políticos, votada no Parlamento por todos os partidos, menos a ala de direita dos ex-franquistas, satisfez, sobretudo bascos e catalães, que haviam sofrido repressão direta do regime. Entretanto, essa lei protegia de ações judiciais também os perpetradores da ditadura. O referendo para Lei para a Reforma Política de 1976, que estabelecia a lei como princípio político e a soberania do povo através do sufrágio geral teve amplo apoio popular (77% votou pelo sim) e a maioria dos partidos políticos espanhóis optou pela moderação.
Os primeiros sinais da necessidade de pensar o passado vieram com as pensões destinadas a viúvas de militares republicanos mortos na guerra civil, e a reabertura de valas comuns em certos municípios, onde estariam enterrados membros da oposição assassinados pelo regime. A reabertura das valas foi uma iniciativa popular situada, sobretudo, em pequenos municípios, canalizadas por parlamentares recém-eleitos das câmaras municipais, mas as iniciativas de “desenterro” do próprio passado ficaram reduzidas a isso. Mesmo com o PSOE vencendo as eleições espanholas de 1982 e 1986, pouco se propôs para uma maior averiguação do passado ditatorial. Apenas com o PP (Partido Popular), um partido de direita chegando ao poder em 1996, começou-se realmente a tentar desvelar o passado franquista. A política do passado se fez incisivamente relevante no presente, assumindo um ponto central no discurso da esquerda a partir de 2000. O PSOE passou a associar a direita espanhola de forma geral com a ditadura franquista, de maneira a enquadrá-la como a revitalização de um passado sombrio, cabendo à esquerda a tarefa de barrar esta suposta ameaça. Desta forma, a averiguação do passado ditatorial está intrinsecamente ligada a um discurso partidário de plataformas eleitorais de esquerda como PSOE, IU (Izquierda Unida), ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) e vivo no presente político espanhol, como no caso da ARMH (Associação para a Recuperação da Memória Histórica) fundada no ano 2000. De qualquer forma, os próprios autores concordam que a necessidade de recuperar a “verdade” acerca do passado autoritário na Espanha ter ocorrido apenas nestas datas específicas permanece uma questão a ser estudada mais minuciosamente.
No caso grego, curiosamente parece ter ocorrido justamente o contrário. O “governo dos coronéis” caiu em 1974, sendo que suas mais proeminentes lideranças foram presas e condenadas quase que imediatamente ao fim do regime. Isto parece ter, em alguma medida, saciado a necessidade de acerto de contas com o passado, visto que o tema da ditadura militar parece ter sido “apagada” da memória coletiva dos gregos. À queda do regime sucedeu o retorno do conservador Konstantinos Karamanlis ao poder, o mesmo que havia sido deposto em 1967 pelos militares. Quando da queda dos militares o partido mais à esquerda, o Partido Comunista da Grécia (EKK), curiosamente não foi quem colocou demandas mais radicais em relação ao que fazer com os administradores da ditadura. Quem assumiu esta posição foi o Partido Socialista Grego (PASOK). Isto se deve, segundo o autor, ao fato de muitos membros do EKK terem vivenciado a semidemocracia de antes da ditadura, onde partidos socialistas e comunistas eram proibidos de competir em eleições. Para os membros do EKK, o direito às eleições após o fim da ditadura já era um grande ganho e tinham receios do que poderia ocorrer caso colocassem demandas demasiadamente radicais, tendo em vista as perseguições que sofreram durante os governos conservadores de antes do regime dos coronéis. Os mais jovens membros do PASOK, não tendo tão fresca a memória acerca dos regimes conservadores, não hesitavam em exigir penas duríssimas para os responsáveis pela ditadura. Por causa desta questão geracional, os gregos inverteram a regra portuguesa, onde os comunistas haviam assumido um maior radicalismo e os socialistas uma maior moderação. Com a condenação à prisão perpétua de três dos principais membros dos círculos governantes, a necessidade de desenterrar o passado ficou no próprio passado, no caso grego.
Voltando nosso olhar para a América do Sul, o Brasil foi o maior alvo da atenção dos autores. De acordo com Palomanes Martinho, os silêncios acerca da ditadura no Brasil foram vários, incluídos aqueles em torno das iniciativas políticas institucionais e extrainstitucionais da esquerda antes do golpe e aquele em torno dos torturadores, que parece ocupar um lugar central nos atuais debates acerca do tema. A averiguação dos crimes cometidos pelo regime militar, no caso brasileiro, também teve, no início, iniciativas bastante tímidas. Elas se limitaram às buscas do frade franciscano Paulo Evaristo Arns e do pastor presbiteriano Jaime Wright, ainda durante o regime (entre 1979 e 1985) por meio de documentos confidenciais acerca do julgamento de 707 “subversivos” julgados pelo Superior Tribunal Militar (STM). No governo Collor, muito pouco se fez para aprofundar um anseio que já se desenvolvia em alguns setores da sociedade civil desde a década de 1980: acesso aos arquivos em busca da verdade acerca dos mortos e desaparecidos.
Foi no governo FHC que começaram medidas mais significativas em relação ao passado ditatorial. Em 1995 a Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos por Razões Políticas (CFMDRP) publicou o “Dossiê das mortes e desaparecimentos políticos a partir de 1964” e o governo respondeu apresentando um projeto de lei para reconhecer a morte dos 136 presos políticos e compensar as famílias dos mortos e dos torturados. O governo também assinalou o décimo sexto aniversário da Lei de Anistia, que liberou presos políticos e torturadores de qualquer forma de processo por parte do Estado. Ainda em 1995, a Lei das Vítimas de Assassinato e Desparecimento Político tornou-se o eixo da “justiça de transição” do governo FHC. Ela reconhecia a responsabilidade do Estado pela morte de 136 militantes políticos e estabelecia a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos com o objetivo de analisar esses e outros casos pendentes, além de comprometer o governo com o pagamento de indenizações às famílias das vítimas.
O governo Lula deu continuidade a essas propostas, aprofundando-as através de uma nova Comissão de Anistia e do estabelecimento de uma Comissão Nacional da Verdade promovendo um conjunto de “políticas da memória”. O governo Lula representou o primeiro esforço oficial para contar a verdade desde os esforços de Arns nos anos 1980. Entretanto, deparou-se com as mesmas dificuldades encontradas durante o governo FHC, em particular com a resistência dos militares em abrir os arquivos e com a forte resistência contra a violação dos limites impostos pela Lei de Anistia. No governo Dilma Rousseff este processo se aprofundou realmente. A política do passado ganhou tonalidades mais gritantes. Ao passar a Lei da Comissão da Verdade, a presidente Dilma também sancionou a Lei de Acesso à Informação, que permitiria aos cidadãos entrar em contato com os documentos governamentais. Esta lei entrou em vigor em 2012 e garantiu acesso a documentos públicos de órgãos federais. Porém, a existência dos tribunais separados para a polícia militar continua gerando certo clima de impunidade e de continuidade de certos traços do regime ditatorial, permanecendo como um dos principais temas de conexão entre as políticas do passado e do presente.
Encontrar um eixo comum que caracterize todos os casos estudados se mostra bastante difícil, no que se refere ao momentum em que essas reivindicações são de fato postas em prática. A busca pela verdade e pelo acerto de contas pode vir ainda durante o regime, mas ganhar contornos mais incisivos apenas anos depois, como no Brasil. Pode também vir à tona apenas décadas depois como no caso espanhol. Segundo os autores, o passado pode sobreviver e influenciar na luta partidária do presente como na Itália, ou permanecer no passado como na Grécia e, em certa medida, Portugal.
Os gregos, inclusive, foram o caso mais claro de esquecimento do passado autoritário, talvez porque os principais responsáveis tenham imediatamente recebido penas duríssimas, satisfazendo assim o desejo de retaliação de certos setores sociais. O que podemos ver em todos os casos analisados é que são basicamente os setores de esquerda que reivindicam a luta pela memória. Tanto nos regimes de transição, onde a esquerda radical defende muitas vezes julgamentos populares para os suspeitos, quanto já no período democrático, onde a esquerda clama para si o papel de antagonista daqueles que supostamente ainda perpetuam certos traços das ditadura, ela em todos os casos analisados assume o papel de grande adversário do espírito autoritário que dominou seus países, mesmo em situações onde grande parte da população não esteja tão interessada na questão, como em Portugal. Isto se deve, muito provavelmente, ao fato de todos os regimes estudados no livro terem sido ditaduras de direita. Mas fica a pergunta: a esquerda, e sobretudo, a esquerda radical, entra em cena nesses momentos para lutar por um regime poliárquico no sentido de Robert Dahl, ou para alavancar um processo revolucionário extra, ou intraparlamentar? Seria interessante um aprofundamento deste estudo comparando os casos analisados com os países do leste europeu, seus regimes de transição, quais atores afrontaram os regimes autoritários e como o fizeram, e de que maneira o passado influencia na política do presente.
1Não se quer dizer que na Itália não houve de for ma alguma um desinteresse popular pela extrema esquerda. Queremos dizer apenas que a esquerda radical italiana conseguiu capitalizar o processo de saneamento do regime fascista por mais tempo e de forma mais contundente.
Gabriel Fernandes Rocha Guimarães – Doutorando em Sociologia pelo Iesp-Universidade do Estado do Rio de janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
Mitos papais: política e imaginação na História – RUST (Topoi)
RUST, Leandro Duarte. Mitos papais: política e imaginação na História. Petrópolis: Vozes, 2015. Resenha de: MARTINS, William de Souza. A Santa Sé e os impasses da modernidade. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Há um século, o historiador Benedetto Croce elaborou uma análise que marcou posteriormente diversas interpretações. Afastando-se da perspectiva segundo a qual a História contemporânea abrangeria apenas o passado muito próximo (“os cinquenta últimos anos, o último decênio, o último ano, mês ou dia ou mesmo a última hora ou minuto”), o erudito italiano entendeu que os fatos do presente mantinham relações próximas com diferentes temporalidades históricas: “somente uma preocupação da vida presente pode nos impelir a fazer pesquisas sobre um fato do passado”. Ou, dito de modo mais claro: “a contemporaneidade não é própria de uma categoria de histórias (…), mas caracteriza intimamente toda a história”.1
As considerações desenvolvidas parecem adequadas para introduzir a discussão do novo livro de Leandro Duarte Rust, professor de História Antiga e Medieval da Universidade de Mato Grosso, e autor, entre outras obras, de as Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média Central (São Paulo: Annablume, 2011). Buscando atingir simultaneamente o público acadêmico e o leitor não especializado interessado nas investigações históricas, o autor se propõe a analisar o que designa como “mitos papais”, quais sejam: o suposto pontificado de São Pedro, o apóstolo; o Cristianismo Primitivo; a Reforma Gregoriana; o papado de Alexandre VI, da família Bórgia; e o pontificado de Pio XII, que recentemente recebeu o cognome de “papa de Hitler”.
Não se trata assim de uma história linear da Igreja, como muitas já disponíveis. O leitor tem em mãos uma obra construída em torno de um problema de pesquisa bem delimitado. Além disso, salta aos olhos a habilidade do autor em alternar diferentes temporalidades históricas, indo do cristianismo dos primeiros tempos até o século XX, sem perder o fio da narrativa. Este modo de narrar resulta da forma como os mitos papais foram construídos. Nos cinco casos analisados, trata-se de narrativas estruturadas aproximadamente entre 1870 e 2000, período em que a Igreja se viu diretamente desafiada pelos processos resultantes da Modernidade, conforme será detalhado. Um dos argumentos centrais do autor é que tais narrativas mitológicas cumpriram a função de redefinir de maneira positiva o lugar da Igreja católica em geral, e da Santa Sé em particular, em um período marcado pela perda da sua influência social e política. A produção das referidas narrativas não foi obra de erudição desinteressada, resultando antes da necessidade de assumir posições políticas para combater projetos de poder rivais. Os mitos papais foram construídos no calor dos acontecimentos dos séculos XIX e XX, deixando-se impregnar pela contemporaneidade de que Benedetto Croce falava.
Antes de passar ao comentário dos mitos escolhidos pelo autor, cada um ocupando um capítulo à parte no livro, deve-se dialogar com a definição de mito utilizada na obra. O autor se baseia na análise de Christopher G. Flood, para quem os
Mitos políticos são perspectivas assumidas sobre a autoridade e a dominação, a resistência e a exclusão, a unidade e a separação. Quando narrativas deste tipo surgem conectadas, circulando em uma mesma época como armas empregadas na luta pelo controle do comportamento coletivo, elas formam uma mitologia política. (p. 27)
Mais conhecida pela historiografia brasileira, a obra de Raoul Girardet, Mitos e mitologias políticas, aparece citada somente de maneira pontual, para tratar da importância do apelo à unidade em tempos de crise (p. 71-72). Não obstante, a análise do professor Leandro Rust ganharia amplitude caso tivesse recorrido com maior frequência à obra do estudioso francês. A interpretação que Girardet propõe do mito político, segundo a qual este cumpre uma tripla função, a de fabulação, a de explicação e a de mobilização, se torna basilar para compreender as tramas conspiratórias e os complôs produzidos em série ao longo dos séculos XIX e XX, de que constituem exemplo as perseguições promovidas contra os judeus e os jesuítas.2 Sem dúvida, a gênese da produção deste tipo de mitologia política se situa um pouco mais além, no âmbito do imaginário das Luzes e da Revolução Francesa. A apropriação de alguns elementos do primeiro por parte de algumas monarquias setecentistas levou-as a medidas contrárias à Companhia de Jesus, que culminaram com a supressão da Ordem em 1773 pela Santa Sé.3 Além disto, esta se viu ameaçada com o corte de relações diplomáticas, como o que foi praticado por Portugal, entre 1759 e 1770.4 No que tange à importância dos eventos políticos da França para a produção de mitos, pode-se assinalar a contribuição de François Furet, segundo a qual a temida “conspiração aristocrática”, denunciada pelas lideranças revolucionárias, tornava-se a imagem invertida da ideologia democrática e igualitária promovida pela própria Revolução.5 Na sequência do processo revolucionário, e tornando-se porta-voz dos ideais laicizantes e republicanos da França, Napoleão Bonaparte ensejou uma farta produção de leituras e imagens míticas, “ancoradas seja na luta entre o bem e o mal, seja na perspectiva da vinda de um salvador, seja no regresso a uma idade de ouro, seja ainda, especialmente, na visão do anticristo”.6
Parece válida a chave interpretativa proposta por José D’Assunção Barros no Prefácio da obra, segundo o qual os mitos papais se situam nas “tensões produzidas pelas relações do papado com a Modernidade” (p. 17). Esta última deve ser compreendida no seu significado histórico e filosófico mais amplo de ruptura com a tradição: “a modernidade não pode e não quer continuar a ir colher em outras épocas os critérios para a sua orientação, ela tem que criar em si própria as normas por que se rege”.7 Segundo a conhecida análise de Koselleck, as condições para a afirmação plena da Modernidade foram dadas na segunda metade do século XVIII, quando o horizonte de expectativas dos sujeitos históricos se distanciava cada vez mais do espaço de experiência em que tinham sido formados, criando uma dinâmica de aceleração e de descontinuidade do tempo histórico.8 Ainda que o próprio autor não tenha recuado até o século XVIII para situar a perda de poder político e social da Igreja de Roma, talvez seja útil reconstituir aqui este contexto mais amplo para aprofundar a compreensão dos “mitos papais”.
Cabem também algumas palavras gerais sobre a composição da narrativa do autor. Em cada capítulo, é analisado um mito político particular a respeito da Santa Sé. O autor mostra convincentemente que narrativas míticas que evocavam pontificados da Antiguidade, da Idade Média e do Renascimento foram construídas muito tempo depois dos referidos acontecimentos ou, mais exatamente, entre 1870 e o pós-Segunda Guerra Mundial. Por trás da elaboração dos referidos relatos, situavam-se estudiosos e historiadores comovidos com o impacto das consequências da Modernidade sobre o poder da Igreja e do pontífice romano, como pilares dos valores da tradição e da cultura do Ocidente. Após a exposição das narrativas míticas, o autor promove a desconstrução das mesmas, valendo-se de farto material crítico, constituído por contribuições da historiografia especializada e por fontes de natureza muito variada. A partir das operações complementares de contextualização, de exposição dos mitos e da crítica, o autor fornece aos leitores valiosas pistas, que poderão levá-los a construir suas próprias visões sobre os papados em foco, atingindo o objetivo da obra historiográfica aberta a sucessivas contribuições e reinterpretações.
No primeiro capítulo, a autor discute o mito do pontificado de São Pedro. Ainda que os Evangelhos atribuam a Jesus a frase “também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja” (Mt, 16,18), está longe de consenso historiográfico a hipótese de que Pedro tenha sido o primeiro papa e fundador da Igreja de Roma. Não obstante, ao longo da Segunda Guerra Mundial, o papa Pio XII (1939-1958) promoveu escavações no subsolo da Basílica de São Pedro, a fim de obter informações que pudessem comprovar a atuação do apóstolo como primeiro pontífice. Em 1950, um relatório elaborado por uma equipe de arqueólogos e estudiosos convenceu o papa de que havia indícios suficientes sobre a descoberta da tumba e dos restos mortais do apóstolo. Esta última informação, bem mais difícil de auferir, foi encampada pela arqueóloga Margherita Guarducci, da Universidade de Roma. Para tanto, a estudiosa se baseou em diversas fontes, que são cuidadosamente apresentadas e contextualizadas pelo autor. Guarducci se apoiou também nos testemunhos das inscrições contidas na suposta tumba do apóstolo. Em diálogo crítico com a referida interpretação, o professor Leandro Rust mostra que as fontes citadas podem ser lidas de diversas maneiras, relativizando as conclusões da pesquisadora italiana. No pós-guerra, período marcado pela crise dos valores da civilização ocidental, a Santa Sé, amparada na pesquisa de diversos estudiosos, buscou se fortalecer por meio do mito do pontificado de São Pedro.
O conceito de “Cristianismo Primitivo” constitui o segundo mito analisado pelo autor. Ao longo do século XX, tanto na imprensa como em obras de natureza historiográfica, tornou-se corrente o uso daquela expressão para caracterizar o cristianismo dos primeiros tempos. De modo mais exato, o cristianismo dos três primeiros séculos, anteriores à ascensão de Constantino, que oficializou o culto cristão no âmbito do Império Romano. Além de encerrar definitivamente as perseguições dirigidas aos cristãos, o édito de Constantino teve o efeito de afastar os bispos da comunidade dos fiéis, acentuando as divisões hierárquicas na instituição eclesiástica, e de preparar o terreno para a posição central do bispo de Roma sobre toda a Igreja. Em contraste, segundo Max Weber, o “Cristianismo Primitivo” caracterizou-se pela “rejeição antipolítica do mundo”, isto é, “uma religiosidade voltada para a redenção através da fraternidade, da renúncia material, do repúdio à violência e da diferença perante o Estado” (p. 83).
O autor apresenta diversos elementos que matizam a tese weberiana, diminuindo os contrastes entre os períodos situados antes e depois da decisão de Constantino. Uma parte das elites imperiais já havia se cristianizado antes do ano 200. Outros indícios mostram que os cristãos tinham adotado previamente um código social mais pragmático, acomodado ao status quo. Em 197, o sacerdote Tertuliano defendeu a compatibilidade entre o cristianismo e a defesa dos poderes imperiais. De maneira complementar, o professor Leando Rust refuta a ideia de que o bispo de Roma teria assumido um poder centralizador sobre toda a Igreja, imediatamente depois das medidas de Constantino. Adotando o código moral das elites romanas, baseado na autoridade do pater familias e na exaltação da piedade, da castidade e da moderação, a autoridade dos pontífices romanos foi construída a partir de outras bases: “nos últimos séculos do mundo antigo, se outros bispos os obedeciam não era porque os enxergavam como líderes estatais ou soberanos, mas porque viam em suas ações e em sua retórica a patria potestas, ou seja, o poder paternal” (p. 103).
No terceiro capítulo, o autor traz à discussão o tema da Reforma Gregoriana, que foi primeiramente elaborado na tese de doutorado de Augustin Fliche, publicada na década de 1920. De acordo com este erudito, sob a ameaça dos poderes dos senhores feudais e o do imperador, que interferiam diretamente na escolha dos bispos, o papa Gregório VII (1073-1085) tomou uma série de decisões, estabelecendo que somente o pontífice romano possuía a autoridade para a investidura dos bispos. Esta e outras medidas estabeleceram o primado do poder espiritual sobre os poderes temporais, transformando a Igreja em um protótipo de monarquia centralizada, responsável pela ordem pública e pela moralização da sociedade. O professor Leandro Rust salienta que a tese da Reforma Gregoriana se tornou um poderoso mito papal, cuja repercussão se encontra presente em contribuições historiográficas recentes. Elaborada em um contexto marcado pela derrocada dos impérios russo, Habsburgo e Otomano, a tese traz a marca de um pensamento tradicionalista, temeroso diante de um quadro político em que “as instituições estavam desacreditadas; a ordem, espatifada; a lei, desacatada” (p. 115). O mito da Reforma Gregoriana vinha reforçar o papel da Igreja como guardiã da unidade e da tradição, em uma época conturbada. Além de situar o contexto de produção do mito, o autor desenvolve um exercício semelhante ao praticado nos capítulos precedentes, mostrando que a suposta “monarquia papal” do século XI era mais frágil e incerta do que se imagina: “o papado comandado por Gregório VII não foi uma monarquia centralizada capaz de inaugurar uma época inteiramente nova. Ele foi uma instituição feudal, repleta de tensões e de limitações, como o mundo que a abrigava” (p. 139).
O quarto capítulo do livro analisa o pontificado de Alexandre VI (1492-1503), da família Bórgia. A fama negativa deste papado se deve à “lenda negra” construída em torno do cardeal Rodrigo Bórgia e de seu clã espanhol, que permanece arraigada até os dias atuais, a ponto de se considerá-lo “o pior papa da história” (p. 169). De acordo com o mito papal em questão, a corrupção da conduta moral da cúpula da Igreja e o favorecimento de parentes atingiram o clímax no pontificado de Alexandre VI. A própria eleição do papa foi marcada pela denúncia da compra de votos no colégio dos cardeais. Conforme assinala o autor, o mito em questão foi lavrado por Ferdinand Gregorovius. A obra A história de Roma na Idade Média foi redigida em 1870 pelo erudito alemão sob o impacto da perda dos territórios da Santa Sé para o Estado italiano e da proclamação do dogma da infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, convocado por Pio IX (1846-1878). Adepto do ideal nacionalista, Gregorovius atribuía à “tirania” dos papas a ausência de unidade política na península italiana, colocando no mesmo plano o domínio estrangeiro dos Bórgia e o “despotismo” absoluto do papa Pio IX (p. 153 e 184).
Em contraste com as avaliações parciais do pontificado de Alexandre VI, o autor busca entendê-lo a partir dos condicionamentos coevos. Assim, “o favorecimento da própria família cumpria uma função política: redirecionando recursos da Igreja para filhos e parentes, o Papa Bórgia estruturava um grupo leal à sua autoridade” (p. 178). Ademais, estudos recentes a respeito do período do Renascimento e do Antigo Regime têm mostrado a importância dos vínculos de sangue na formação de redes de poder de famílias aristocráticas, em que a ocupação de posições no alto clero e na carreira eclesiástica em geral assumiam uma posição estratégica.9 Por fim, o autor mostra a ligação entre a imagem inteiramente negativa do pontificado de Alexandre VI com a “lenda negra” de tradicionalismo e obscurantismo associada à cultura ibérica (p. 185). Neste caminho, valeria a pena ter dialogado mais com a historiografia dos mitos políticos construídos em torno da Companhia de Jesus e da Inquisição, instituições eclesiásticas marcadas simultaneamente pela herança ibérica e pela vinculação à Santa Sé.10
No quinto capítulo, o autor discute o silêncio do papa Pio XII (1939-1958) diante das atrocidades cometidas pela Alemanha nazista. De acordo com o referido mito político, “traumatizado pelo envolvimento judaico com a luta política de 1918-1919, identificado com a cultura alemã e obcecado por fazer carreira no interior da Cúria Romana, Pacelli teria optado por uma conciliação com o nazismo” (p. 200). A tese foi difundida por John Cornwell na obra O papa de Hitler: a história secreta de Pio XII, publicada no Brasil em 2000. Pacientemente, o autor desmonta os argumentos do silêncio do papa. Sem exército e com um território mínimo, o Estado do Vaticano contava apenas com os canais diplomáticos como instrumentos de pressão externa. Em encíclicas publicadas em 1937 e em 1939, o papa condenou o antissemitismo, a exaltação da raça e a invasão da Polônia pelo exército de Hitler. Durante a Segunda Guerra, com a Itália ocupada pelas tropas alemãs, a Santa Sé mudou o tom das condenações formais, recorrendo à resistência indireta e fluida. Milhares de judeus foram poupados dos campos de concentração ao se abrigarem em estabelecimentos católicos, cuja imunidade tinha ficado assegurada pela concordata estabelecida em 1933 entre a Alemanha e o Vaticano, representado pelo cardeal Eugenio Pacelli, o futuro Pio XII.
Por trás dos mitos analisados, o autor mostra a existência de uma lógica simplista e maniqueísta que, derivada dos embates políticos, se revela incapaz de perceber as nuances e complexidades presentes no processo histórico. O livro constitui um ótimo exercício de como construir e descontruir histórias, e tem o mérito de se colocar ao alcance do público não especializado ou que está principiando os estudos na área.
1CROCE, Benedetto. Théorie et histoire de l’historiographie {1915}. Genève: Droz, 1968, p. 13-14. Grifos do autor.
2GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 9-62.
3A respeito dos discursos mitológicos envolvendo especificamente a Companhia de Jesus, ver FRANCO, José Eduardo. O mito dos jesuítas em Portugal, no Brasil e no Oriente (séculos XVI a XX). Lisboa: Gradiva, 2006, v. 1, p. 19-45; WRIGHT, Jonathan. Os jesuítas: missões, mitos e histórias. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006, p. 137-194.
4MILLER, Samuel J. Portugal and Rome, c. 1748-1830: An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Università Gregoriana Editrice, 1978, p. 232-245.
5FURET, François. Pensar a Revolução Francesa [1978]. Lisboa: Ed. 70, 1988, p. 80-84.
6NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Napoleão Bonaparte: imaginário e política em Portugal (c. 1808-1810). São Paulo: Alameda, 2008, p. 29.
7HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1990, p. 18. Grifos do autor.
8KOSELLECK, Reinhart. “Espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”: duas categorias históricas. In: KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 305-327.
9MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poder senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia. In: HESPANHA, António Manuel (Coord.). O Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Estampa, 1993, p. 332-379; LAVEN, Mary. Virgens de Veneza: vidas enclausuradas e quebra de votos no convento renascentista. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 67-83.
10PROSPERI, Adriano. Tribunais da consciência: inquisidores, confessores, missionários. São Paulo: Edusp, 2013, p. 189-211, a respeito da “lenda negra” da Inquisição. A respeito dos jesuítas, ver a nota 3 acima.
William de Souza Martins – Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
Poesia e Polícia – Redes de comunicação na Paris do Século XVIII – DARNTON (Topoi)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Tradução Rubens Figueiredo. Resenha de: QUELER, Jefferson. Fazer a história cantar: oralidade e política na Paris do século XVIII. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Buscar e compreender sons do passado, fazer a história cantar. Estes são os principais objetivos de Robert Darnton neste livro recentemente traduzido no Brasil – a publicação original foi feita nos Estados Unidos em 2010. Intelectual renomado, capaz de entrar em fóruns de discussão composto por historiadores do porte de François Furet, Albert Soboul e Roger Chartier, e ainda assim propor abordagens e interpretações novas para a França do Antigo Regime; pesquisador notável, capaz de encontrar documentação inédita em arquivos e seguir suas pistas e desdobramentos em fontes as mais variadas possíveis; dono de uma narrativa ágil e eletrizante, capaz de dialogar não apenas com a academia, como também com o público em geral; ele certamente traz todos esses elementos nesta obra e faz jus à série de resenhas elogiosas que ela vem recebendo em revistas acadêmicas e jornais de grande circulação, tanto no Brasil quanto no exterior.1 Contudo, pouco ou nada se discutiu sobre suas contribuições à luz dos debates em torno do seu tema central, a oralidade.
Entre as famosas publicações do autor, é possível encontrar estudos sobre a Encyclopédie, literatura pornográfica, impressos em geral; material subversivo amplamente consumido e discutido na França às vésperas da revolução de 1789. Na obra ora analisada, Darnton continua a lidar com o tema da calúnia política sobre a monarquia francesa; e é bem cuidadoso ao não estabelecer nenhuma relação simplista de causa e efeito entre a primeira e a queda da segunda. Porém, sua abordagem dos impressos e dos manuscritos ganha uma coloração nova: a palavra escrita passa a ser compreendida em suas interações com as redes de comunicação oral da Paris pré-revolucionária.
Passemos à trama. Em meados do século XVIII, o estudante de medicina François Bonis foi preso pela polícia parisiense por levar consigo versos que detratavam o monarca Luís XV. Na sequência da investigação, outras treze pessoas foram presas, membros dos estratos médios da sociedade francesa, como clérigos, burocratas, outros estudantes e um professor universitário. Mais cinco poemas subversivos afloraram entre os acusados. O Caso dos Quatorze, como ficou registrado nos arquivos policiais, revelava a extensa rede de comunicação no âmago da sociedade francesa. Versos eram copiados em pedaços de papel e carregados em bolsos de colete ou em mangas de camisa para serem recitados ou cantados entre amigos e, por vezes, em público. Tais composições eram reproduzidas e repassadas em grande quantidade, muitas vezes memorizadas pelos seus portadores. A ambição dos investigadores, de encontrar o autor dos versos, nunca foi satisfeita, porém. Segundo Darnton, nem poderia ser diferente, pois tais canções eram variações de uma “criação coletiva”.
Ora, o fato de a polícia não ter encontrado as pessoas que primeiramente compuseram os versos não significa que não existisse um ponto de partida; tampouco que não houvesse autoria envolvida no processo de difusão dos mesmos. A antropóloga Ruth Finnegan, em trabalho clássico publicado originalmente no final da década de 1970, criticou a ideia de que a poesia oral é produzida de maneira anônima ou coletiva. Em vez disso, é possível afirmar que os poetas envolvidos nessa tarefa são capazes de expressar certo grau de individualidade, seja na composição, seja na performance.2 A pesquisa de Darnton aponta também nessa direção. Ele chega a afirmar que a declamação dos versos ou a execução das músicas podiam alterar seus significados: o ritmo, o tom da voz, a melodia escolhida definiam a seriedade ou deboche das apresentações.
As referências bibliográficas do historiador para lidar com o tema da oralidade fornecem pistas para entender sua interpretação. Ele menciona tão somente o trabalho The Singer of Tales de Albert Lord. Trata-se de livro pioneiro, um clássico publicado em 1960. Contudo, muitas de suas conclusões vêm sendo contestadas nas últimas décadas, inclusive pelo referido trabalho de Finnegan.3 Em seu livro, ademais, a antropóloga africanista cita e analisa numerosos exemplos de poesia política, coletados especialmente durante os diferentes processos de independência política na África na segunda metade do século XX; poemas empregados para propósitos tão distintos quanto ridicularizar os colonizadores, conferir unidade à resistência, e esclarecer o funcionamento de processos eleitorais para populações majoritariamente analfabetas.4 Em suma, a poesia política de caráter oral é um fenômeno bastante conhecido e estudado, que demorou a ganhar destaque em fóruns de pesquisa como o da história da França do Antigo Regime; ainda que tenha sido estudada com grande engenho e criatividade por Darnton. De qualquer forma, este certamente podia ter se beneficiado dos debates mais recentes travados em torno do tema da oralidade.
Paul Zumthor indicou a amplitude do fenômeno da poesia oral no passado europeu. De caráter urbano, a canção de protesto esteve presente na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália dos séculos XV e XVI. Foram encontradas “baladas sediciosas” em Veneza por volta de 1575, canções francesas da época das guerras de religião, mazarinadas (panfletos contra o Cardeal Mazarino). Tal gênero poético, desprezado pelos eruditos, mas seguido atentamente pela polícia, também aflorou no século XVII monárquico. Nas cidades holandesas, por volta de 1615, canções apareciam tomando partido pró ou contra Johan van Oldenbarnevelt na luta pela independência da Espanha; nas cidades inglesas, durante o reinado de Charles I, as streetballads atacavam com virulência os homens de negócio monopolistas. Impressores especializados e cantores de rua difundiam opúsculos satíricos, canções e profecias, frequentemente com teor político. É possível mencionar ainda a poesia operária cantada na França da época dos enciclopedistas. Havia a comemoração dos conflitos dos papeleiros de Angoulême em 1739 ou da revolta dos canuts lioneses em 1786.5 Em outras palavras, o livro de Darnton retoma, ainda que de maneira indireta, uma tradição documental bastante consolidada.
Os motivos da eclosão desse tipo de problemática em seu trabalho podem ser identificados nas páginas iniciais de seu livro. Darnton afirma que a propalada sociedade da informação dos dias de hoje favorece a emergência de uma consciência de que vivemos num mundo completamente diferente de tudo que já existiu. Em sua opinião, entretanto, as redes de comunicação da Paris do século XVIII demonstram a existência de uma sociedade da informação muito antes da cunhagem deste termo, antes da popularização da internet. É claro que sua análise tem o mérito de apontar as insuficiências de tal conceito; porém, ela acaba utilizando-o para entender não apenas o seu presente, como também a sociedade francesa do Antigo Regime. Ora, os fluxos de comunicação contemporâneos, sob o impacto de tecnologias como a imprensa, o rádio, a televisão e o computador, tornam a comunicação contemporânea radicalmente distinta daquela experimentada na França do século XVIII, seja do ponto de vista qualitativo, seja do quantitativo.
Por outro lado, Darnton apresenta um pensamento provocador e convincente para a redefinição da noção de opinião pública. Ele critica o tratamento desta última pela perspectiva sociológica de Habermas ou pela nominalista de Foucault. Em sua opinião, é possível conceber um público discutindo assuntos políticos e criticando os governantes mesmo antes do aparecimento do referido termo. Numa França sem periódicos, patrulhada pela censura oficial, as canções e versos atuavam como se fossem jornais cantados ao fazer a sátira da monarquia e seus delegados, bem como a crônica dos principais acontecimentos políticos. Por exemplo, “Qu’une bâtarde de catin”, canção surgida na corte para detratar Madame de Pompadour, amante de Luís XV, ganhou as ruas e transformou-se ao sabor dos interesses e intervenções de seus difusores. Muitos de seus versos foram modificados e novos assuntos acrescentados a ela. Em algumas de suas versões, foram comentadas as negociações de paz da Guerra de Sucessão Austríaca, as últimas disputas intelectuais de Voltaire ou a resistência a um novo imposto. De origem cortesã, muitos versos e músicas podiam deixar os salões da nobreza e depois retornar a eles com acréscimos das ruas. Não é por menos que Luis XV considerasse em certa medida as opiniões de seus súditos. Ainda que projetos revolucionários e propostas para derrubar a monarquia não fizessem parte de tais canções, Darnton demonstra com profundidade como estas últimas delineavam uma espécie de esfera pública numa sociedade fortemente marcada pela oralidade.
O historiador é bastante arguto ao interpretar esse material e estimar seu impacto. As canções, como ele destaca, veiculavam mensagens e eram igualmente eficazes em fixar seus conteúdos, uma vez que atuavam como poderosos instrumentos mnemônicos. Em meio às poesias e versos encontrados, especialmente em cancioneiros, Darnton notou indicações das melodias que deveriam acompanhá-los. Seguindo essas pistas, ele localizou uma série de partituras destinadas a reproduzi-las. Na Paris revolucionária, a poesia oral era cantada nas ruas com o apoio de violinos, flautas, elementos que aumentavam sua eficácia no processo comunicativo. O livro de Darnton chegou a ser criticado pela suposta inadequação de seu título, dado que este se propõe a estudar poesia, mas envereda pela análise de músicas.6 Crítica injusta, pois a poesia oral, em sua maioria, é cantada.7 Outro elemento que merece destaque em sua análise é a identificação das canções no interior de seus respectivos gêneros. Entre elas, emergem jogos de palavras, baladas populares, piadas, contos de natal burlescos, diatribes. Trata-se de observação fundamental, pois as formas das histórias narradas e comentadas nas letras, e não apenas seus ritmos e tons, eram componentes fundamentais na definição de seus sentidos.
Darnton questiona-se ainda sobre a recepção dessas músicas pelos seus ouvintes. Em busca de respostas, ele analisou memórias e diários (como o do Marquês d’Argenson, irmão do Conde d’Argenson, o encarregado-mor da repressão no Caso dos Quatorze) referentes àquele período, e pôde confirmar não apenas a origem cortesã de muitos dos poemas satíricos, como também os incômodos que tais versos podiam causar à monarquia. Em sua análise da recepção, contudo, Darnton não consegue avançar satisfatoriamente, uma vez que os sons, fugazes como o são, deixam poucos traços nos arquivos. De modo a suprir essa lacuna, ele estabeleceu parceria com a cantora francesa Hélène Delavault, a qual procurou reinterpretar algumas das referidas canções, de modo a oferecer uma ideia de como elas eram veiculadas nas ruas no passado – com direito a anexos e hiperlink que disponibiliza tais músicas gratuitamente aos leitores. Evidentemente, tal material não tem valor de prova na argumentação do autor; entretanto, possui o mérito de conferir ainda mais sabor à sua narrativa, um forte elemento de persuasão.
Suas técnicas de sedução, sua elevada qualidade de pesquisa e de interpretação, sem esquecer a estimada reputação do autor e o sedimentado interesse pela história francesa, talvez ajudem a explicar a boa recepção deste livro sobre poesia política no Brasil. Para efeitos de comparação, vale a pena destacar que o historiador irlandês Vincent Morley publicou trabalho muito parecido em 2002. Nessa obra de pouquíssima repercussão no país, o autor se dedica a investigar os impactos do processo de independência das colônias norte-americanas entre 1760 e 1783 na opinião de diversos setores da sociedade irlandesa. Morley demonstra como as notícias sobre o conflito que cruzavam o Atlântico e eram publicadas nos principais jornais irlandeses logo adentravam o universo da oralidade, sendo transformadas em música e versos em língua vernácula.8 Seu conhecimento de gaélico permitiu-lhe traduzir essas composições e perceber como a grande massa da população católica e analfabeta, outrora considerada passiva e despolitizada, acompanhou de perto os acontecimentos na América do Norte e apoiou a resistência dos norte-americanos ao domínio britânico, algo a que também aspirava, transformando figuras como George Washington em heróis populares.9 Não se trata aqui de diminuir a originalidade de Darnton, mas apenas de situar seu trabalho numa tendência mais ampla. Ademais, tal exemplo nos leva a refletir sobre as condições de circulação de conhecimento historiográfico, ou melhor, sobre os aspectos que levam um determinado assunto ou abordagem a receber atenção e reconhecimento entre historiadores.
De qualquer maneira, as análises e conclusões de Darnton contribuem não apenas para a história francesa do século XVIII. Elas também sugerem fecundos caminhos de pesquisa em diversas outras sociedades e períodos. No caso brasileiro, Sílvio Romero, em trabalho de folclorista, afirmava no final do século XIX que seria importante investigar a relação da poesia popular com nossos movimentos políticos e sociais. Em seu trabalho de compilador, ele notou a ausência de composições tratando das guerras de Independência, dos Farrapos, dos Cabanos, dos Balaios e do Paraguai, lacuna que em sua opinião poderia ser preenchida.10 Além disso, é de amplo conhecimento a presença de figuras políticas nos versos da literatura de cordel, especialmente vigorosa na região nordeste, o que também chama a atenção para a importância do estudo da poesia política de caráter oral no período republicano. O método sugerido por Darnton instiga a historiografia brasileira a encontrar e analisar esse gênero de sons do passado, e inseri-los nos debates travados em torno do tema da oralidade fortemente desenvolvido nos últimos anos. Seu livro deve interessar também aos estudantes da área de humanidades e comunicação, bem como ao público não especializado em geral.
1Dois exemplos significativos no Brasil: CABRAL, Luís Felipe. Darnton, Robert. Poetry and the Police: communication networks in eighteenth-century Paris. Rev. Bras. de Hist., v. 34, n. 68, p. 333-338, 2014; MATTOS, Yllan de; DILLMAN, Mauro. Darnton, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 357-362, 2015. O primeiro, baseado no texto original, faz uma boa descrição do conteúdo da obra e comentários elogiosos a ela. O segundo, apoiado na tradução, segue o mesmo caminho, apesar de apontar problemas no texto em português, como a utilização do termo “Velho Regime” em vez de “Antigo Regime”, além de notar a ausência de diálogo do autor com trabalhos importantes que já haviam tocado no tema por ele estudado.
2FINNEGAN, Ruth. Oral poetry: its nature, significance, and social context. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992, p. 201-210.
3Ibidem, p. 58-70.
4Ibidem, p. 217-222.
5ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010, p. 307-308.
6SHAW, Matthew. Robert Darnton. Police and Poetry: communication networks in eighteeth-century Paris. Cambrige: Belkap Press, 2010. European History Quarterly, vol. 43, n. 2, p. 348.
7FINNEGAN, Ruth. Oral poetry: its nature, significance, and social context, op. cit., p. 118.
8MORLEY, Vincent. Irish opinion and the American Revolution (1760-1783). Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 97-107.
9Ibidem, p. 281.
10ROMERO, Sílvio. Estudos sobre a poesia popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977, p. 263.
Jefferson Queler – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. Professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: [email protected].
Heidegger urgente: introdução a um novo pensar – GIACOIA JÚNIOR
GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo pensar. São Paulo: Três Estrelas, 2013. Resenha de: PROVINCIATTO, Luís Gabriel. Conjectura, Caxias do Sul, v. 21, n. 1, p. 232-237, jan/abr, 2016.
Já há no Brasil uma imensidão de obras, quer originais em português, quer oriundas de traduções de outros idiomas, que se propõem a comentar, introduzir, explicar ou compreender o pensamento de Martin Heidegger (1889-1796). A obra de Oswaldo Giacoia Junior, publicada em 2013, encontra-se nessa lista e conta com algumas peculiaridades que dão a ela um destaque diante das outras. Isso não sem justificativa: há elementos que somente um bom leitor, intérprete e escritor conseguiria captar diante dos volumosos números das Obras completas (Gesamtausgabe) do filósofo alemão; uma leitura atenta e refinada e, sobretudo, um olhar filosófico, estão presentes nesse pequeno ensaio que leva como subtítulo “introdução a um novo pensar”. Desse modo, a presente obra de Giacoia conduz não somente a uma introdução ao pensamento de Heidegger, mas a um pensar filosofante com Heidegger.
Para um bom entendimento daquilo que aqui se propõe, é muito interessante apresentar a estrutura da referida obra: Introdução; O pensador do fim da metafísica; O primeiro Heidegger; A viravolta e a história da verdade do Ser; Como ler Heidegger; Conclusão. As divisões da obra, com certeza, possuem uma lógica baseada na estrutura do pensamento de Heidegger, o que, de fato, deve ser considerado. Porém, mudanças no trajeto de leitura serão propostas com o presente trabalho, bem como a intersecção de textos do próprio Heidegger para que, assim, o “pensar com Heidegger” ganhe maior clareza e, ao final do texto, tenha-se reais condições para construir um “novo pensar”, singular e autêntico. Deve- se destacar ainda que o foco maior do presente trabalho recai sobre a penúltima parte da obra acima referida, pelo fato de ela mostrar a grande erudição do autor. Leia Mais
Genealogia di un pregiudizio. L’immagine di Spinoza in Germania da Leibniz a Marx – MORFINO (RFMC)
MORFINO, Vittorio. Genealogia di un pregiudizio. L’immagine di Spinoza in Germania da Leibniz a Marx. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2016. Resenha de: LANCIATE, Diego. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.4, p. 116-119, n.2, 2016.
Publicado pela Georg Olms Verlag em 2016, Genealogia di um pregiudizio. L’immagine di Spinoza in Germania da Leibniz a Marx [Genealogia de um preconceito. A imagem de Spinoza na Alemanha de Leibniz a Marx] de Vittorio Morfino é resultado de um estimulante e rigoroso trabalho de fôlego em que a articulação entre Spinoza e spinozismo se faz pela efetividade de sua recepção, sua Wirkungsgeschichte, em terras germânicas. Assim, três grandes momentos são divididos: a refutação do spinozismo clandestino, o renascimento spinozano e, por fim, o Spinoza do Idealismo. Filósofos como Leibniz, Wachter, Bayle, Mendelssohn, Lessing, Jacobi, Kant, Herder, Goethe, Schelling, Hegel, Heidegger, Feuerbach, Marx, Engels até Plekhanov, Althusser, Pascucci, Negri, Fischbach et alii são mobilizados, porém, longe de um procedimento genético e historicista de apreensão do par significante spinoza/spinozismo, Morfino investiga genealogicamente, ou seja, é tal articulação que é posta em exame em seus efeitos. E, para tanto, podemos dizer que seu centro geométrico é localizado em Marx, cujo olhar míope sobre Spinoza é, em certa medida, efeito do spinozismo germânico. Assim, a questão posta por Morfino assume traços e contornos ímpares: Marx lê Spinoza, todavia, tal leitura, não é caracterizada por uma inadequação no sentido em que se diz do inadequado enquanto erro – um pressuposto de um sujeito empírico de conhecimento – tampouco que seja uma leitura cujo pressuposto seria um sujeito tout-court como epicentro, mas que se trata, antes do mais, de um efeito sujeito que a historialidade efetiva do spinozismo provoca na leitura de Marx. Como efeito de um discurso, Marx é atravessado em seu ver. Uma efetividade post festum que retroage certos sentidos do spinozismo e de Spinoza construindo uma narrativa linear capaz de evidenciar-se na contemporaneidade de Marx leitor. E é em tal narrativa evidente que se instaura a opacidade mesma de Spinoza, então, que a contemporaneidade da evidência, que se faz narrativa da historialidade efetiva da articulação spinoza/spinozismo, é o que permite Morfino rearticular o jogo complexo entre tais significantes pelo ato de ler como efeito desta narrativa. Marx viu através dessa narrativa límpida e linear e, por isto mesmo, não viu em Spinoza uma teoria da História e da Política. Como Marx não pôde ver, o não-visto de Marx é o início da trajetória genealógica de Morfino, por aí ele propõe-se a abrir os pontos de sutura do discurso que interpela Marx e que compõe a imagem de Spinoza através da contemporaneidade de certo sentido que faz seu não-visto, porém, que reintroduzida em sua não-contemporaneidade, i.e.¸ em seu Kampfplatz, abre-se a complexa trama de operações discursivas em sua pluralidade mesma. Ou seja, o sentido é atingido em sua equivocidade pela abertura das suturas que compõem a narrativa da imagem de Spinoza/spinozismo, então, tudo se passa como se a estratificação de conflitos discursivos, deslocamentos de sentidos e defasagens articuladas em temporalidades diferenciais nas quais se desvelam os níveis em ritmos entremeados produzissem certo efeito-imagem de Spinoza, cuja estruturação não seria outra que a produção de sua opacidade pela lógica de poder característica da ideologia/imaginário. A leitura que faz Marx, assim, é o “efeito da complexa história da presença e ausência de Spinoza em terra germânica”.
Não-contemporâneo que se faz contemporâneo, a opacidade do real dada pela narrativa linear, pela sucessividade cumulativa de sedimentos discursivos, é submetida à desconstrução materialista por Morfino. Cada contexto pontual de disputa que se produz uma imagem sedimentada compondo a linearidade ideológico-discursiva do par significante Spinoza/spinozismo, sua trama interrelacional que produz o sentido desta narrativa, é submetida, então, ao exame e recontrução das interpretações que foram feitas de Spinoza nos três momentos principais. E, para tal reconstrução, Morfino suspende o juízo sobre a adequação dos objetos interpretados, i.e., não se trata de trazer um Spinoza como régua da adequação ou inadequação das interpretações que lhe são dadas, mas sim de examinar precisamente como tais interpretações se fazem e exercem um efeito na recepção de Spinoza e no spinozismo. Morfino analisa cada intérprete através da problemática que lhe é própria e não através da problemática do próprio Spinoza, e disto se pode dizer que cada problemática, cada estrutura de pensamento analisada, provoca significativas modificações e reafirma certas permanências da imagem mesma de Spinoza e do spinozismo. Mais ainda, trata-se de problemáticas não só de cada intérprete, mas também de sua dimensão conflitiva com problemáticas de intérpretes entre si, seu diálogo plural, tanto no que diz respeito à estrutura de pensamento de cada intérprete modificando a imagem de Spinoza e do spinozismo quanto no que diz respeito também ao ambiente de produção interpretativa. A tensão e conflitualidade entre problemáticas, os encontros entre os ritmos defasados, impõem-se na tarefa genealógica. Tal trama de problemáticas defasadas, que podemos chamar de sobreproblemática, é a interpenetração mesma das tramas problemáticas singulares, as quais configuram o presente de uma instabilidade discursiva de algo que, em sua posteridade, é tido como acabado, como ponto pacífico e suturado, ou seja, que se lê o presente passado pelo futuro já passado projetando-o teleologicamente – i.e.¸ pelos seus resultados sedimentados – num esquema genético de uma temporalidade histórica de sucessão, esquema cumulativo em sua opaca transparência, pois, em suma, também tais problemáticas sempre-já são interpenetradas por certo e determinado futuro anterior.
Daí que Morfino ausculta a materialidade textual em seu tecido através dos sintomas, da ausência e presença, os quais, por sua vez, são detectados em suas diversas roupagens. É, com efeito, a espectralidade mesma que faz dos significados sintomáticos procedimentos textuais no jogo entre as problemáticas e a sobreproblemática em sua historicidade tomada não mais geneticamente, mas sim genealogicamente, a saber, em sua historialidade efetiva. Sintomas tais que, em seu campo semântico, fazem-se como desvios de sentido, os quais são operados por mecanismos marcados, como a redefinição de conceitos, inversão de conceitos, os efeitos de tradução como sintoma da resistência de um campo problemático ao estranhamento de uma filosofia alheia em sua economia teórica o que força a “tradução criativa”, ou seja, força a tradução entre significantes tendo em vista a problemática de recepção, as remoções inusitadas como tecidos invisibilizados na própria materialidade textual de Spinoza e, sobretudo, dos efeitos destes movimentos de escritura que condensam a espectralidade em sua posteridade próxima como “imagemlimite”, como sentido retroagido capaz de transmitir-se como tal sob uma problemática de um intérprete futuro, um intérprete, de certo modo, do futuro anterior.
Morfino perquire a “imagem-limite”, ou a imagem de Spinoza/spinozismo, referindose a ela como pregiudizio, que podemos traduzir por preconceito, desde que considerando que aí se condensa o juízo dado pela inadequação de sua anterioridade temporal que se faz presente no ato de julgar – tenhamos em mente que preconceito está submerso no sentido propriamente spinozano de imagem, pelo que se remete aos mecanismos de superstição capaz de suscitar afetos e dominação.
Por trás da desconstrução materialista, são as teses de Althusser que Morfino não só mobiliza, mas que as aprimora consideravelmente em estado prático em sua genealogia. Assim, é à revolução teórica inaudita de Spinoza, segundo Althusser, que Morfino dá consequências: a história não se lê na evidência de seu discurso como um logos manifestando-se como a voz uníssona de uma estrutura sedimentada, contudo, que nesta presença mesma uníssona do logos a dissonância se faz pela sua ausência, pelo inaudível e ilegível. O ler, o escrever, o ouvir etc não são de modo algum indiferentes e atos neutros, e é a opacidade ela mesma em sua imediatidade ou, para utilizar-me de um oximoro, a translucidez turva do discurso uníssono manifesto, que exerce o efeito de modificação dos atos de ler, escrever, ouvir etc. Uníssono composto pela plural dissonância de uma contemporâneo não-contemporâneo, pelos ritmos diversos que compõe conflitantes os sentidos. Notável é que a revolução de Spinoza indicada por Althusser pela posição do problema do ler e do escrever tornou-se apreensível a partir da problemática do próprio Marx, pela sua estrutura de pensamento que mobilizou a articulação entre ideologia e política. É por isto que Morfino pôde escavar o subterrâneo dissonante suturado pela presença de uma narrativa de um preconceito, então, que ele pôde voltar Spinoza contra sua imagem que, com toda sua potência explicativa, fez da miopia de Marx o reconhecimento/ desconhecimento de Spinoza em sua problemática.
É o “trabalho spinozano sobre a linguagem da tradição” em sua conjuntura de produção e seu horizonte semântico que intervém como uma máquina filosófica combatente em seu Kampfplatz. Uma máquina de guerra filosófica que Spinoza opera pela posição do problema da Histórica e da memória, ou seja, é sua teoria da imaginação e sua teoria da História que são confrontadas com a imagem do spinozismo alemão em seus três momentos. Não é que a memória, para Spinoza, seja mero conhecimento inadequado, mas que ela é, simultaneamente, hábito, o que implica a eficiência de suas formas discursivas, de sua “história sacra”, como diz Morfino, na história real. São, por isto, os ritmos dos ritos, dos gestos e comportamentos, em suma, dos corpos que são materializados e efetivados na atualidade de um presente, de sorte que a pluralidade dos hábitos, a defasagem de seus ritmos todos, permitem a Spinoza desconstruir a temporalidade linear, simples e contínua de uma narrativa teológico-política. Daí a articulação entre a causalidade imanente e a opacidade do real (teoria da imaginação) permitir conceber a história “como construção conceitual que mostre o estatuto imaginário de cada autobiografia dando relevo ao complexo intrincamento de causas naturais e sociais que produzem a simplicidade de uma história.”
Aparente circularidade, Spinoza contra o spinozismo em terras alemãs, põe em questão a adequação deste Spinoza que permite abrir as suturas da narrativa do preconceito. De fato, o Spinoza que Morfino lança sobre o percurso genealógico seria a imagem de certo Spinoza? Seria a imagem de Spinoza composta pelo que podemos chamar de “segundo renascimento spinozano” datado, mais ou menos, dos meados do século XX na França até os nossos dias? A lição deste Spinoza materialista a que o século XX foi capaz de começar a dar outra voz através de Cavaillès, Guéroult, Deleuze, Chauí etc e, mais próximos de Morfino, de Althusser, Macherey e Balibar, é a de que justamente os ritmos plurais da história, suas defasagens e deslocamentos, em suma, a pluralização das temporalidades da história também produzem e são produtos de uma intervenção política em filosofia, ou seja, que a genealogia de Morfino não só nos presenteia com uma obra imprescindível de erudição e aprendizado de sua laboriosa empresa teórica, mas também e, sobretudo, que ela é a posição política que o materialismo do século XXI apenas começa a colocar em nosso atual Kampfplatz. Ademais, o trabalho de Morfino nos instiga à possibilidade de confrontar a desconstrução materialista com a tradição anglo-saxônica que hoje se faz presente e potente em nosso Kampfplatz, ou melhor, de desconstruir a posição das formas dominantes de interpretação idealista de Spinoza que repercutem com força em nossa conjuntura.
Genealogia di um pregiudizio é um acerto de contas do materialismo em geral e do materialismo de Spinoza em particular com a história que, simultaneamente, deixa seu rastro da vitalidade e força na impura conflitualidade constitutiva da filosofia entre materialismo e idealismo. Mas não só um acerto de contas. O trabalho de Morfino abre positivamente a articulação teórica imprescindível e demarcatória do próprio materialismo hodierno: trata-se de pensar a “fábrica Spinoza-Marx”, como escreve, visando construir uma ontologia da relação sob o primado das indicações do materialismo aleatório de Althusser e, ainda, pensá-lo sob o primado da teoria das temporalidades plurais. O problema fundamental aqui é pensar o compor-se e decompor-se de toda e qualquer estrutura em termos relacionais, de toda e qualquer história, o que implica diretamente a inteligibilidade do campo de ação política. Não só inteligibilidade, mas a intervenção teórica de Morfino é ela mesma política, pois, como dizia Althusser, filosofia é, em última instância, luta de classes em teoria, ou seja, filosofia e política são de certo e determinado modo – não idênticas – mas coextensivas. O êxito e rigor de Genealogia di um pregiudizio é um convite para a desconstrução materialista, para a posição materialista em filosofia e, também, um convite para enfrentar sob este prisma o desafiante e imprescindível problema da articulação entre História e Política.
Diego Lanciate – Doutorando Universidade Estadual de Campinas.
Livros e leituras na Espanha do Século de Ouro – CASTILLO (VH)
CASTILLO Gómez, Antonio. Livros e leituras na Espanha do Século de Ouro. Prefácio Marisa Midori Deaecto, tradução Claudio Giordano. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2014, 208 p. NEUMANN, Eduardo Santos. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Enhorabuena, esta expressão tão castelhana – que felicita uma realização ou parabeniza um determinado feito -, sintetiza de maneira apropriada a publicação em língua portuguesa de mais um livro do historiador, especialista em cultura escrita, Antonio Castillo Gómez. Este é o primeiro livro de Castillo publicado no Brasil, apesar do autor já possuir diversos artigos e capítulos de livros em periódicos e obras coletivas editadas em nosso país.
Desde a conclusão de sua tese de doutorado, publicada em 1997, ele tem direcionado seus esforços para consolidar uma linha de pesquisa cuja atenção está voltada aos materiais escritos, particularmente aqueles produzidos na sociedade hispânica durante os séculos XVI e XVII. É nesse contexto, o Século de Ouro espanhol, que está situado este livro.
A seleção de textos reunidos nesta obra, uma compilação de trabalhos reelaborados e atualizados, são o resultado da trajetória de um pesquisador maduro e interessado em rastrear as distintas práticas da leitura apesar de suas pistas difusas, pois esta é uma atividade plural. É consenso entre os historiadores que o advento da Idade Moderna marca o ingresso definitivo da sociedade ocidental europeia nas práticas da comunicação letrada, período no qual é registrada uma ampliação das taxas de alfabetização e do número de livros impressos. Assim, as indagações do autor estão direcionadas às práticas de leitura na sociedade castelhana, com ênfase nas suas diferentes modalidades e experiências, seja a leitura erudita ou aquela praticada por pessoas comuns que mantinham contato esporádico com a cultura escrita, fosse através de uma gazeta, um panfleto ou mesmos as escritas expostas ou cartazes fixados nas portas das igrejas.
Afinal, no que consiste atualmente história da leitura? Para responder a esta indagação e necessário inseri-la na perspectiva da história social da cultura escrita. Quando surge este novo campo de estudo? Primeiro: trata-se de um termo recente, cunhado em meados dos anos 90, e designa um campo de investigação fértil, que tem conferido sinais de vitalidade à pesquisa histórica. A segunda consideração diz respeito a sua formulação. Sua gênese está relacionada a recuperação ou as reconsiderações em torno da leitura e principalmente da escrita como objeto de análise histórica, mudança iniciada nos anos 60. E a escrita e suas potencialidades tem em Armando Petrucci, paleógrafo italiano, o principal expoente dessa renovação. Ao propor uma “ciência da escrita” ele argumenta que os textos podem revelar além do seu conteúdo expresso, os valores e condutas de uma época. A partir da fusão de duas vertentes – no caso a história social da escrita e a história do livro e da leitura -, cuja reformulação permitiu uma renovação dos pressupostos teóricos e metodológicos que pautava tais temas, tais modificações conferiram ao estudo da escrita e da leitura um ponto de observação privilegiado para a compreensão das sociedades pretéritas.
O livro no seu conjunto está organizado em 6 partes. No primeiro capítulo, o autor aborda os diferentes significados da leitura na sociedade hispânica – o que se lia, como liam e as avaliações a respeito desse habito-, pois como registrou Miguel de Cervantes, através de seu imortal personagem, Dom Quixote, do qual se dizia que de “tanto ler secaria o cérebro”. No segundo dedica atenção a leitura erudita, a leitura por excelência nas avaliações mais tradicionais sobre o tema, e seu vínculo imediato com a escrita. O terceiro “Paixões solitárias”, apresenta um estudo sobre as práticas de leitura daqueles indivíduos privados de liberdade, que exatamente pela reclusão atrás das grades, buscavam na leitura um alento. No quarto capitulo “Ler em comunidade” trata das leituras femininas, particularmente aquelas realizadas por religiosas efetuadas em conventos, no caso a leitura de textos espirituais que tem nas monjas carmelitas descalças, seguidoras de Santa Teresa de Jesús, seu exemplo maior. Nos capítulos finais, Castillo dedica atenção a dois temas de sua predileção: as práticas leitoras cotidianas e o contato estabelecido com a leitura nas ruas, através de folhetos, avisos ou mesmo os pasquins infamantes. O último capítulo é dedicado ao contato com os livros e a leitura. Analisa como esta prática despertou em alguns o desejo de se converter também em autores, seja através da redação de diários ou de “autobiografias”, uma manifestação de uma memória pessoal.
Pelo exposto e evidente que diante da primazia da cultura letrada durante o Século de Ouro espanhol a leitura e a escrita promoveram transformações que afetaram tanto as formas de organização política como as relações sociais. Sem dúvida, a prática da escrita e da leitura foi mais acentuada nos espaços régios, nos círculos cortesãos, mas também estava presente nas oficinas dos artesãos e mesmo nas ruas. Em seus trabalhos o autor tem procurando descrever através da análise dos materiais escritos, tanto os permanentes ou efêmeros, os significados relacionados à presença da leitura e da escrita, indagando a respeito dos efeitos da alfabetização entre as camadas médias e subalternas.
Ao contemplar a atividade de leitores particularmente nos espaços urbanos Antonio Castillo centra atenção àqueles que ao transgrediram as normas vigentes, fizeram outros usos da leitura. Afinal, não saber ler não implicava obrigatoriamente estar excluído do mundo da cultura escrita, e muitos indivíduos ao compartilharem a leitura com os demais utilizaram-na para finalidades distintas. O foco são os outros leitores. As leituras realizadas pelos grupos menos favorecidos, que nos espaços públicos entram em contato com os textos lidos de forma coletiva, independente do fato de serem escutadas ou lidas, permitiram aos distintos públicos contato com os últimos acontecimentos ou mesmo o conteúdo das edições recentes.
No seu conjunto a análise morfológica dos produtos escritos, dos textos manuscritos, está voltada a reconstruir as possíveis conexões existentes entre as diferentes práticas letradas e seus contextos sociais de recepção. Esta é uma das particularidades presentes a história social da cultura escrita, ou seja, uma interpretação pautada em evidências, na constituição de um corpus documental.
Por suas inquietações Antonio Castillo Goméz não se rende às explicações simplistas a respeito dos recortes sociais em sociedades de Antigo Regime. Seu interesse são aqueles grupos cujas evidências de sua capacidade alfabética, apesar de mais esparsas, comprovam a abrangência social da leitura. E a escrita, apesar de suas implicações imediatas com o poder, nem sempre remete obrigatoriamente a uma leitura elitista da sociedade e seu estudo têm sinalizado outras indagações a respeito do consumo cultural. Enhorabuena, repito, os leitores brasileiros agora têm ao seu alcance este excelente conjunto de textos.
Eduardo Santos Neumann – Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua Ivan Iglesias 184, Porto Alegre, RS, 91.210-340, Brasil [email protected].
R. G. Collingwood: A Research Companion – CONNELLY et al (IJHLTR)

In 1992, I became the fortunate owner of a small photocopied guide to the R. G. Collingwood papers in the Bodleian Library, Oxford. This much-thumbed, much-annotated booklet became the first item in a collection of transcriptions and notes that soon spilled over the limits of a single folder and settled into a row of boxes that continues to grow today.
Such was the lot of a researcher on the life and works of Robin George Collingwood (1889– 1943), philosopher, archaeologist, historian and luminary of Oxford University in the first half of the twentieth century. Until now. Connelly, Johnson and Leach’s companion for researchers admirably fulfils its aims of providing a comprehensive and systematic listing of materials by and on Collingwood and of placing those materials in the context of a detailed chronology of his life (p. 2).
The book is helpfully divided into eight sections, covering a biography, a chronology of life events, letters, unpublished and published works by Collingwood and his commentators and details of the many archive holdings. The largest section – a description of correspondence – is arguably the most helpful, for the volume and scattered nature of holdings provides a considerable challenge to any budding researcher. The chronology is also a powerful aide to understanding Collingwood’s battle with failing health, which he describes rather poignantly in a 1941 letter to Christopher Hawkes as the time ‘since the superincumbent sword of Damocles became clearly visible, and here I am driving a pen, though not well’ (p. 137).
To those who would argue that it is an important rite of passage for new researchers to find materials for themselves, the simplest rebuttal is that comprehensive aids for research assist in the development of a comprehensive and nuanced understanding of the ideas and life events of individuals and groups. Moreover, they minimise the risk of misunderstandings that arise from not having considered particular materials, protecting students, early career researchers and those interested in Collingwood because of his connections to others from the dreaded ‘but you haven’t read x’ of the experienced Collingwood researcher.
There is a little to quibble about the book. The biography (pp. 3–6) gives the reader little sense of The Idea of History as a posthumous collection brought together by Collingwood’s student, T. M. Knox, or of the significant discovery in 1993 of missing chapters from The Principles of History in the basement of Oxford University Press. The published Collingwood is only the tip of an extensive manuscript collection that shows the evolution of his thought at work.
Nor does the book give the reader a sense of what to expect when they see a Collingwood manuscript for the first time. Collingwood’s handwriting is far from challenging as far as philosophers go, and his use of recycled exam scripts provide a helpful reminder of the Oxford in which he worked. But readers do need to be warned about his liberal use of ancient Greek terms, as well as his predilection for quoting from poems without noting their source. What was customary intertextual reference in Oxford of the 1930s can take the present day reader by surprise, and the best remedy is to begin with the revised editions of Collingwood’s philosophical work – starting notably with David Boucher’s edition of The New Leviathan (1992) – as they contain transcriptions and explanatory notes to a significant group of manuscripts.
Finally, the collection does not explicitly give the reader a sense of the balance of Collingwood’s interests in toto, as distinct from a year-by-year summary. This is a significant gap, as an analysis of the Collingwood corpus can remind us not to pass over his contributions to aesthetics when we see the vast lists of writings on archaeology, metaphysics and the philosophy of history.
But these are minor quibbles, and given the significant opportunities for research posed by a still largely untapped group of writings, this Research Companion is a welcome introduction to those new to Collingwood studies.
Marnie Hughes-Warrington – Australian National University, Australia. E-mail: [email protected].
[IF]Ovcarovo-Gorata. Eine frühneolitische Siedlung in Nordostbulgarien – KRAUß (DP)
KRAUß, Raiko. Ovcarovo-Gorata. Eine frühneolitische Siedlung in Nordostbulgarien. Mit Beitragen von Gerwulf Schneider, Malgorzata Daszkiewicz, Ewa Bobryk, Nguyen Van Binh, Petar Zidarov, Florian Klimscha, Norbert Benecke und Elena Marinova (Archaologie in Eurasien 29). Bonn: Habelt-Verlag, 2014. 350p. Resenha de: GATSOV, Ivan; SIRAKOV, Nikolay. Documenta Praehistorica, v.43, 2016.
In the first half of the 1980s, lithic materials from the prehistoric settlement of Ovcarovo-Gorata in northern Bulgaria were studied by Vietnamese archaeologist Nguyen Van Binh. At that time, he was a doctoral student in the Department of Prehistory of the National Archaeological Institute and Museum Bulgarian Academy of Sciences. In 1985, Nguyen Van Binh completed his doctoral thesis “Prehistoric flint artifact assemblages from the Late Pleistocene and Early Holocene on the basis of materials from North East Bulgaria”, which presents the results of lithic assemblages processed from the site.
Three decades later, thanks to Raiko Krauss, the work of Nguyen Van Binh on the flint assemblages of this prehistoric settlement was published with his consent in Krauss’ monograph Ovarovo-Gorata. Eine fruhneolitische Siedlung in Nordostbulgarien. Archaologie in Eurasien, Herausgegeben von Svend Hansen, Band 29, DAI, Eurasien-Abteilung, Habelt- Verlag Bonn, 2014.
The study of flint assemblages from Ov≠arovo-Gorata by Nguyen Van Binh is one of the first comprehensive and professional studies in Bulgaria of chipped stone artefacts from the Neolithic period. Naturally enough, this analysis of flint assemblages bears the imprint of its time.
Work on the thesis was carried out in the early 80s and is consistent with the then prevailing methodological trends in lithic studies. These were associated with traditional technological and typological analyses, which still focused heavily on typology and the more formal treatment of technological aspects.
With regard to the work of Nguyen Van Binh, the valuable results of such a study of flint raw materials used in the preparation of flint tools should be particularly noted. The Neolithic flint industry at the prehistoric settlement of Ov≠arovo-Gorata has largely been associated with the use of local varieties of raw materials, which were processed mainly in the area of the settlement.
The analysis conducted by Nguyen Van Binh allows us to trace chaines operatoires stages within a prehistoric settlement as well as see that the core preparation stage was not done at the site under discussion.
The evidence for this is the absence of cortical flakes and the lower frequency of crest specimens compared to sites where core preparation occurred on site. Flint production focused mainly on the acquisition of flakes; moreover, the presence of splintered pieces was also noted. With regard to the core knapping process, the initial exploitation was linked to single platform specimens which were later transformed into two platform cores. The last stage of core knapping usually occurred on cores with an altered orientation – e.g., all surfaces were used. Nguyen Van Binh’s work revealed the relationship between technological characteristics and the type of raw material and nodule dimensions.
The lithic assemblage’s typological structure includes flakes, end scrapers, and retouched flakes; perforators and drills are relatively poorly represented, straight and oblique truncations, and denticuled tools and fragments. Microliths occur in single items in the form of micro end scrapers and bladelets. According to Nguyen Van Binh, this was due to the lack of sieving rather than other factors. It should be noted that some of the conclusions drawn by Wang Bin Ngun have not lost their relevance today, such as the similarity of Ovarovo-Gorata lithic assemblages and those of Ussoe I and Podgorica in northeastern Bulgaria.
On the other hand it is regrettable that the lithic assemblage was not available along with other groups of finds from the site in the monograph on Ov≠arovo- Gorata, so that the analysis could be updated and the possibilities for interpretation increased.
Van Binh assumed that they were at least two chaines operatoires, one of which is relatively poorly represented – for lamellar production (see bladelet cores – Abb.130: 1–3 and bladelet/microbladelet debitage products – Abb. 152: 9; Abb. 164: 6; Abb. 171: 1, 3; Abb. 173: 3–5, 7, 8, 19; Abb. 174: 4; Abb. 184: 1, 4, 5, 11). While there are no data on the processing of these bladelets in geometric microliths (which may be due to the lack of sieving and washing), there is still a series of retouched microlithic forms, sufficiently distinctive semi-circular and circular micro end scrapers (Abb. 155: 3, 10–12; Abb. 159: 9–12).
Although these elements are less represented in the Ov≠arovo-Gorata lithic collection, they deserve more attention than they were given years ago in Nguyen Van Binh’s dissertation.
The quality of illustrations is very high and allows one to get a good idea of the core types and retouched tools, all of which are accompanied by technical and typological characteristics.
It should be pointed out that it was Krauss’s ambition to present as fully as possible the results of different studies from this settlement in order to create a general background for studies of the Neolithic in the Central and Eastern Balkans. Although these studies were done more than 30 years ago, most of Nguyen Van Binh’s conclusions are relevant today and have their place and weight in the study of the Neolithic in the Lower Danube basin.
The professional level of the study of chipped-stone assemblages as presented by Nguyen Van Binh in the monograph Ov≠arovo-Gorata is undoubtedly to the great merit of Kraus, to whom we owe the invaluable opportunity to add these almost unknown data to our general scientific knowledge and to advance the debate on Neolithisation in Southeast Europe.
Ivan Gatsov – New Bulgarian University, Sofia.
Nikolay Sirakov – National Archaeological Institute and Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.
[IF]
Renascimento Italiano / Crítica Histórica / 2015
O desejo de organizar um dossiê especial sobre a Renascença surgiu das parcerias e encontros entre Flávia Benevenuto, Professora de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e analista das obras maquiavelianas e Fabrina Magalhães Pinto, Professora de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em História Moderna. Já há alguns anos fazemos parte do GT de Ética e Filosofia Política no Renascimento, da ANPOF, e, em 2014, participamos do SIMPOFI (Simpósio de Política e Filosofia, realizado na UFF\Campos, em 2014). Deste evento surgiu a ideia de organizarmos um trabalho que reunisse diversos pesquisadores que tivessem um interesse comum: buscar compreender a riqueza e a complexidade que envolve o tema da cultura do Renascimento em algumas das suas diversas faces, seja política, filosófica, retórica, histórica ou literária; bem como as relações entre inícios da Modernidade e a Antiguidade Clássica. Sabemos que vem crescendo no Brasil o número de revistas sobre o assunto e pesquisadores interessados nas diversas temáticas Renascentistas. Contudo, se comparamos com outros objetos de pesquisa, ainda temos um longo caminho a percorrer, e muitos novos pesquisadores a persuadir que sigam esta mesma estrada.
Os textos aqui reunidos tratam de temáticas diversas e são de áreas distintas, fato este que almejamos desde o início: uma perspectiva interdisciplinar das análises. Portanto, contamos com pesquisadores da filosofia (Alberto, Ana Letícia, Danilo Marcondes, Gilmar e Patrícia), da letras (Ana Cláudia e Helvio) e da História (Edmilson). Organizamos em ordem cronológica a nossa breve exposição sobre os textos e a iniciamos tratando de autores como Lorenzo Valla, Maquiavel, Michel de Montaigne, Francesco Patrizzi (Veneza, 1560) e Algernon Sidney (quem recupera os valores maquiavelianos no republicanismo inglês do século XVII). E, logo em seguida, passamos aos textos sobre os impactos do Novo Mundo na sociedade europeia, de Danilo Marcondes, e a transposição da noção europeia de cidade ideal na elaboração da cidade do Rio de Janeiro. Passemos então a eles.
Comecemos com o texto de Ana Letícia Adami, doutoranda em filosofia da USP, cuja pesquisa se detém na análise do diálogo De voluptate (Do Prazer) escrito por Lorenzo Valla, em 1431. Nesta obra o humanista elabora sua defesa epicurista do prazer como um bem, em oposição à doutrina estoica que nega o prazer; cabendo ao sábio estoico o abandono de todos os prazeres para uma vida sadia e perfeita. O prazer na obra valliana é visto como um bem, ou mesmo um verdadeiro bem. Mas Valla vai ainda mais além: elaborando uma associação direta entre os prazeres e a própria devoção cristã. Portanto, se a devoção inspira o amor e todo cristão deve ser tocado por ela, não faria sentido aos cristãos adotarem uma doutrina como o estoicismo. Esta arguta defesa de um “epicurismo cristão” leva Valla, como destaca Ana Letícia, a ser indiciado pelo Índex cristão em 1443.
O artigo escrito pela professora Patrícia Aranovich, professora do departamento de filosofia da UNIFESP, investiga o tema da guerra no pensamento de Maquiavel. Esse tema é, de fato, um tema muito debatido a partir da obra do autor de Florença. A autora, no entanto, supera o lugar comum dos debates em torno do tema que, via de regra, se centram no Príncipe – e, por vezes, na Arte da Guerra – para investigá-lo a partir das Histórias de Florença. Ao tomar essas últimas como referência principal, a autora conferiu originalidade à abordagem do tema, explorando-o atrelado às discórdias civis. Recorrendo aos exemplos de Roma e ao texto de Tito Lívio, mostrou como os assuntos de ordem interna e externa, dentre eles a guerra, se relacionam com as instituições encaminhando sua conclusão para a relação indissociável entre as armas e a forma política, passando pela questão da liberdade.
A proposta do artigo de Helvio Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL) da UNEMAT, é analisar três dos DieceDialoghidella Historia (Diálogos da História) de Francesco Patrizi da Cherso, escrito em 1560. Abordando os três primeiros diálogos (Il Gigante, overodell’historia; Il Bidernuccio, overodelladiversitàdell’historia; e Il Contarino, overoche sia l’historia), o autor nos mostra como Patrizi desenvolve tanto uma negação das concepções clássicas da História quanto uma tentativa de alargar ao máximo o campo da investigação histórica. Segundo a análise de Helvio, o tom que permeia os Diálogos é tanto o de insatisfação quanto às investigações e modelos metodológicos de autoridades como Cícero, por exemplo, quanto ao modo como são adotados por seus contemporâneos, sendo repetidas sem reflexão e sem a compreensão das suas limitações. Essa insatisfação moveria Patrizzia redefinir de forma precisa o campo histórico, diferenciando-o do campo filosófico e retórico, e influenciando, posteriormente, intelectuais como Jean Bodin e Vivo.
Ana Cláudia Romano Ribeiro, professora do departamento de Letras da UNIFESP e tradutora de Utopia para a língua portuguesa, apresenta em seu artigo os aspectos distintos identificados por ela em relação às traduções do libellus aureus. A autora conduz sua argumentação no sentido de evidenciar nestas últimas a perda das características próprias da expressão de Thomas Morus. Ela destaca o caráter poético, já anteriormente apontado por Erasmo. Há dois aspectos a serem investigados na Utopia, o uso da língua e o assunto propriamente dito. Ao negligenciar o primeiro, certas traduções tendem a destacar o segundo. Para a autora essa estratégia culmina em um resultado artificial, considerando-se forma e sentido indissociáveis. Nesse sentido o artigo contribui para uma compreensão completa do texto de Thomas Morus.
Gilmar Henrique da Conceição, professor do departamento de filosofia da Unioeste-PR, apresenta um lado pouco conhecido do autor em que se tornou especialista. Expõe-nos Montaigne pela via do amor, da volúpia, do erotismo. Ao aproximar-se do que mundano e sensual mostra-nos a possibilidade do pensamento filosófico também por essas vias. Aproxima a filosofia da intimidade revelando-a em Montaigne pelo conceito de voluptuosidade. Faz-se interessante notar que o autor aprofunda a relações que Montaigne estabelece com os antigos caracterizando-o como um autor renascentista e destacando o olhar dessacralizado sobre o mundo nesta abordagem. Por fim, o autor identifica o tema ao ceticismo, apontado por ele como a identidade filosófica de Montaigne.
Alberto Ribeiro G. de Barros, professor do departamento de filosofia da USP, investiga, no republicanismo inglês, a recuperação do texto de Maquiavel por Algernon Sidney em seus escritos políticos. O autor parte da análise da propagação dos textos de Maquiavel pela Inglaterra, passando pelas maneiras diversas em que o mesmo foi incorporado ao discurso político inglês. De acordo com o autor, ao adaptar a obra de Maquiavel à tradição política inglesa o cerne do pensamento republicano maquiaveliano é comprometido de modo que não se pode afirmar que o pensamento republicano de Maquiavel tenha sido totalmente acolhido. O autor conduz sua argumentação no sentido de evidenciar que a apropriação do republicanismo de Maquiavel menos problemática neste período foi feita por Algernon Sidney em seus escritos políticos.
O artigo de Danilo Marcondes, professor do departamento de filosofia da PUC-Rio e da UFF, trata das questões geradas pelo impacto do descobrimento do Novo Mundo. Segundo ele, são questionados durante os séculos XVI e XVII os fundamentos sobre a natureza humana, e sobretudo a aristotélica. Os descobrimentos produziram um novo tipo de conflito, ou mesmo potencializou o conflito já existente entre teorias da Antiguidade e do Cristianismo. São basicamente três os caminhos de investigação que o autor percorre. O primeiro analisa a base da doutrina da escravidão natural em Aristóteles (Política, I 3-6); o segundo os autores antigos que discutem a distinção entre bárbaros e civilizados; e o terceiro, os autores cristãos de São Paulo a Santo Agostinho, que adotam uma teoria da universalidade da natureza humana, inspirados pela origem comum da criação humana, o mito adâmico. Tem-se então o conflito entre três correntes filosóficas, mas, ainda mais importante: o conflito entre um projeto político colonialista e uma missão evangelizadora, cada qual buscando fundamentar-se em concepções tradicionais de natureza humana desde os filósofos gregos aos pensadores cristãos.
E, por fim, o texto de Edmilson Martins Rodrigues, professor do departamento de História da PUC-Rio e da UERJ, nos apresenta algumas investigações elaboradas ao longo de anos de docência e pesquisa. Possuindo um tom bem mais informal que os demais artigos, pois fora este um texto proferido na abertura do SIMPOFI, o autor levanta algumas hipóteses e aponta os caminhos que o levaram a pensá-las; indicando muitas vezes os textos que o estimularam. Entre as muitas conexões, Edmilson propõe a comparação entre a concepção de cidade no Renascimento, suas formas, seus princípios e modos de agir, suas ambições de cultivo da vida ativa, e a cidade do Rio de Janeiro, considerada por ele uma cidade Renascentista nos Trópicos. Segundo o historiador, na cidade setecentista do Rio de Janeiro aparecem muitos traços das tendências utópicas, sejam articulados pelo erudito francês Villegagnon, seja por Mem de Sá, irmão de Sá de Miranda. Desta forma, analisar a cidade apenas do ponto de vista economicista, como fez tantas vezes a historiografia mais tradicional – como uma feitoria que atende exclusivamente os propósitos comerciais da metrópole portuguesa – não leva a discussão adiante. Contudo, propõe Edmilson, se combinarmos a ideia de utopia e a ideia de República, o Rio de Janeiro se torna o campo privilegiado de combinação de ideias e experiências.
Feitas as devidas apresentações, resta-nos esperar que estes textos ajudem aos leitores e aos interessados nas temáticas Renascentistas a seguirem o caminho e a descobrirem seus próprios objetos de pesquisa neste campo ainda incipiente e vasto de possibilidades em nosso país.
Quanto aos artigos do fluxo contínuo da revista, Mário Maestri, professor da Universidade de Passo Fundo, parte do texto de Kátia de Queirós Mattoso, ‘Ser escravo no Brasil’ que, segundo o autor, apresenta a resistência do escravo brasileiro relacionando-a à incapacidade do mesmo de adaptar-se à sociedade brasileira, mesmo em condições razoáveis de trabalho e comida farta. O texto revisita o clássico e edifica sua crítica. Já Vinicius Bandera, pós-doutor em História Social pela USP e Instrutor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na Escola Superior de Polícia Militar e na Academia de Polícia Militar, aborda o desenvolvimento do higienismo na cidade do Rio de Janeiro. Sua análise parte da modernização capitalista como responsável pelo caos sanitário, assim como o papel protagonista de combatê-lo. Por fim, o artigo escrito pelos professores Diego Mendes Cipriano, Mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e Carlos Roberto da Silva Machado, Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) analisam as remoções de moradias do Bairro Getúlio Vargas entre os anos de 1971 e 1973. A análise apresentada busca esclarecer as consequências do deslocamento dos moradores, evidenciando as contradições do processo. O texto aprofunda-se no direito das populações desenvolverem livremente suas potencialidades e considera os meios de se promover sustentabilidade às gerações futuras.
Fabrina Magalhães Pinto – Professora de História da Universidade Federal Fluminense – UFF.
Flávia Benevenuto – Professora de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL
Maceió, novembro de 2015.
PINTO, Fabrina Magalhães; BENEVENUTO, Flávia. Apresentação. Crítica Histórica, Maceió, v. 6, n. 12, novembro, 2015. Acessar publicação original [DR]
Práticas de leitura e religiosidade em Dom Quixote – VIANNA (C)
VIANNA, Marielle de Souza. Práticas de leitura e religiosidade em Dom Quixote. Caxias do Sul: Educs. Resenha de: BOMBASSARO, Luiz Carlos. Conjectura, Caxias do Sul, v. 20, n. 3, p. 225-230, set/dez, 2015.
Para quem deseja estudar e compreender as significativas e complexas relações entre literatura, leitura e religiosidade, está à disposição um belo e instigante livro: Práticas de leitura e religiosidade em Dom Quixote, de Marielle de Souza Vianna, publicado pela Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs). Nesse livro, a autora mostra como o entrelaçamento de leitura e religiosidade constitui um dos temas centrais daquele que é considerado um dos romances fundadores da literatura moderna: Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Numa investigação meticulosa, que associa reconstrução histórica do contexto sociocultural e análise textual da obra cervantina, Vianna destaca a importância que a leitura e a religiosidade adquirem na estruturação dessa obra-prima, romance que marcou a transformação radical da literatura ocidental. O resultado é uma defesa inconteste do valor e do sentido da leitura e um convite para revisitar a fascinante, multifacetada e desafiadora obra de Cervantes.
A paixão pela leitura e pelo seu ensino é declaradamente o motivo que deu origem ao livro. Vianna a toma como pressuposto de seu trabalho que, além de ser uma produção simbólica marcante da nossa cultura, a leitura é antes um modo específico de interpretação da realidade e uma forma de vida. A leitura vem entendida, assim, como “um processo dinâmico constituído por múltiplas dimensões que envolvem o modo de ser, de perceber e de agir do ser humano no mundo”. (p. 12). Dessa hipótese de trabalho, o leitor encontrará provas incontestáveis já nas primeiras páginas do livro, quando a autora indica quatro dimensões básicas da leitura: uma ontológica, uma estética, uma gnosiológico-hermenêutica e outra ética. A prática de leitura configura, assim, o modo de ser, de conhecer e de agir. Por isso, Vianna descreve o ato de ler como “uma relação existencial, um processo de descoberta e de construção de si mesmo e do mundo”. (p. 9). A prática de leitura é uma forma de vida e de convivência. Leia Mais
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT et. al (VH)
SCOTT, Rebecca J; HÉBRARD, Jean M. JOSCELYNE, Vera. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Campinas: Editora da Unicamp, 2014. 296 p. DIÓRIO, Renata Romuldo. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 57, Set./ Dez. 2015.
Edouard Tinchant, um homem negro, “descendente de haitianos”, nascido em New Orleans, sul dos Estados Unidos, viveu na Antuérpia, onde foi fabricante e comerciante de tabaco. Em 1899, ele escreveu para Máximo Gomez, um dos líderes pela luta da independência cubana, para fazer um pedido. Tinchant pretendia usar o nome e o retrato do general Gomez como marca de seus melhores charutos. O pedido seria uma forma de reverenciar um defensor do antirracismo, causa que marcou a história dos seus antepassados e descentes.
A referida carta foi encontrada por Rebecca Scott e Jean Hébrard, no Arquivo Nacional de Cuba, e, a partir desta, esses pesquisadores iniciaram uma busca surpreendente por outras informações relativas à vida profissional e pessoal de Tinchant. Eles obtiveram dados sobre cinco gerações de uma família constituída pela união entre uma africana e um francês, Rosalie e Michel Vincent, e essa extensa pesquisa documental deu origem ao livro Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação.
As trajetórias de homens e mulheres de cinco gerações da família de Tinchant foram resgatadas com base em registros encontrados em arquivos. Estes documentam momentos de suas vidas em diferentes locais onde se instalaram, como Cuba, Estados Unidos (Luisiana), Haiti, Bélgica (Antuérpia) e França. As histórias são elucidadas a partir da análise de cartas de alforria, batismos, testamentos, contratos de casamento, recenseamentos, dentre outros. O pano de fundo são os acontecimentos políticos que perpassam a crise do escravismo e do colonialismo no Mundo Atlântico e as revoluções antirracistas e de cunho liberal do século XIX. As principais são a Revolução Haitiana, a Revolução Francesa de 1848, a Guerra Civil e a Reconstrução nos Estados Unidos.
Por meio dos estudos dessa família, o livro aborda questões relativas a tráfico, escravidão, liberdade e condições impostas aos descendentes de escravos nos séculos posteriores à emancipação e em contextos de guerras. As histórias dos membros dessa família convergem na luta por direitos, como a preservação da liberdade, a legitimidade das uniões conjugais e a garantia da cidadania. Na opinião de Rebecca Scott e Jean Hébrard, Rosalie e seus descendentes eram conscientes da importância dos documentos para a reivindicação de suas prerrogativas, e em função disso, procuravam os meios para que os registros fossem produzidos. Esse é o fio condutor de histórias vivenciadas pelas pessoas que possuíam laços consanguíneos em locais e momentos tão díspares.
O livro dialoga com trabalhos mais recentes que buscam uma narrativa de biografia. Nesse caso, trata-se de pequenas biografias desenvolvidas a partir das escolhas individuais dos descendentes de Rosalie, apresentadas em nove capítulos. São micro-histórias “em constante movimento”, como afirmam os autores. Partidas, chegadas e fixação em diferentes localidades denotam uma relação direta com condicionantes como legislação, hierarquia social e guerra.
Tráfico, escravidão e liberdade são elucidados pela trajetória de vida de Rosalie na segunda metade do século XVIII. Os principais mecanismos de administração da escravidão nos domínios franceses e espanhóis no Novo Mundo são relatados a partir das experiências dessa africana dentro de um contexto mais amplo em que estava inserida. São evidenciados os indícios da sua travessia pelo Atlântico, da Senegâmbia para Santo Domingo, Caribe, passando pelo período que viveu sob o regime da escravidão até a sua libertação.
No período da Revolução Haitiana Rosalie era denominada na documentação como Marie Françoise. Nessa ocasião, ela era liberta e possuía quatro filhos, fruto da relação conjugal com o francês Michel Vincent. Em uma tentativa de fuga para Cuba, a família foi separada, a filha, Elisabeth Vincent, foi levada para Nova Orleans, onde mais tarde casou-se com o carpinteiro Jacques Tinchant. Edouard, mencionado anteriormente, era um dos cinco filhos nascidos dessa união, nenhum deles se encontrou com a avó, Marie Françoise. Embora os Tinchant apresentassem uma confortável situação na Louisiana, a família partiu para a França em 1840. Pelo que consta nas fontes encontradas, o motivo teria sido a tentativa de escapar das severas leis que incidiam sobre homens negros e seus descendentes nos Estados Unidos daquela época.
A trajetória política de Edouard Tinchant merece destaque, pois ele foi diretor de uma escola de crianças libertas, veterano do exército da União na guerra civil e representante multirracial no sexto distrito de Nova Orleans. No entanto, foi na Antuérpia que ele teve uma espetacular ascensão econômica com a produção e venda de charutos finos. Seus negócios estenderam-se para Nova Orleans e também para o México, onde Joseph Tinchant, irmão de Edouard, representou o empreendimento. Eles transitaram entre a América do Norte e a Europa, deixando registros como empresários ou cidadãos respeitáveis. Em 1875, Joseph foi mencionado nos documentos como Don Joseph Tinchant, que, de acordo com as formas de tratamento local, indicava ser um cidadão do México.
Em 1937, Marie-José Tinchant, uma jovem de 21 anos que era neta de Joseph Tinchant, deu uma entrevista ao jornal londrino Daily Mail. A publicação mostra que, embora Marie-José fosse uma moça delicada, culta e filha de um próspero comerciante de charutos da Antuérpia, teve seu casamento anulado por causa da tez da sua pele. Mesmo fugindo e conseguindo realizar o casamento, ocorreram tentativas de anulação da união da parte dos pais do noivo, com base no preconceito racial. Anos depois ela é presa pelas forças nazistas de ocupação da Bélgica, supostamente por ser um membro do Movimento de Resistência durante a Segunda Guerra, e morre em um campo de concentração em 1945, na Ravensbrück, Alemanha.
Os momentos de vida elucidados no livro resultam de um levantamento exaustivo de fontes sobre os membros das famílias de descendentes da ex-escrava Rosalie, depois referida como Marie Françoise. As histórias são retratadas com acentuada tendência, por parte dos autores, em suposições de informações que não são captadas por meio dos documentos. De todo modo, isso em nada compromete o trabalho, tamanho o esforço em evidenciar como essas gerações fizeram uso desses papéis para legitimar seus direitos e superar restrições que os ligavam à escravidão. O livro nos mostra que quanto mais distante da condição escrava, maiores as chances de obter ascensão econômica, social e até mesmo política. Contudo, também deixa claro que em cada uma dessas conquistas havia uma luta constante em torno do combate ao racismo que assolou e ainda assola gerações até os nossos dias.
Por abarcar um período tão abrangente, marcado por tantas mudanças, o livro interessa aos especialistas da escravidão, do fim do colonialismo e dos conflitos antirracistas no Mundo Atlântico, mas também àqueles dedicados a debates mais contemporâneos acerca da luta contra o racismo
Renata Romuldo Diório – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Pós-Doutoranda em História Social da Cultura. Universidade Federal de Minas Gerais. Rua Amador Catarino Jales, 105, Distrito de Padre Viegas, Mariana, MG, 35422-000, Brasil. [email protected].
Como se constrói um santo: a canonização de Tomás de Aquino | Igor Salomão Teixeira (R)
 Igor Salomão Teixeira | Foto: AracneTV |
Igor Salomão Teixeira | Foto: AracneTV |
O fenômeno de santidade, marcado pela sua complexidade e pelo ânimo que alimenta a espiritualidade cristã ocidental, traz consigo toda a densidade que o comporta no que tange ao seu processo de desenvolvimento. Sendo o santo o expoente máximo, cuja vivência terrena lhe confere o acesso irrestrito ao plano sagrado, seu caráter intercessor o torna um importante elemento mediador entre a instância divina e o fiel.
Pensando-o como construção, isto é, imergindo mais profundamente em seu caráter sócio-cultural de concepção, ele é o produto de um intento individual ou coletivo. Nessa linha de raciocínio, ele segue um sentido de ser, encontrando seu delineamento a partir de determinados interesses. O santo reúne em si uma confluência de elementos característicos que ocupam, na lógica social na qual tem origem, finalidades específicas.
Levando em conta o acima exposto, trabalhar o processo de construção de um santo não se torna um exercício de simples execução, dado as múltiplas dimensões que envolvem seu desenvolvimento. Nesse sentido, Igor Salomão Teixeira encontra em sua empreitada um espinhoso, mas interessante caminho de buscar entender como se deu o processo de canonização de Tomás de Aquino e seus consequentes interessados.
Publicado no ano de 2014, o livro de Teixeira traz como objeto de pesquisa o desenvolvimento do processo de canonização de Tomás de Aquino, levado a cabo no papado de João XXII, bem como os possíveis interessados na santificação do dominicano. Trabalhando com o conceito de tempo de santidade (intervalo compreendido entre a morte da personalidade e sua efetiva canonização, de modo retroativo), o autor analisa comparativamente tais lapsos entre figuras contemporâneas e/ou próximas a Tomás de Aquino, buscando realçar semelhanças e diferenças entre elas e possíveis motivações ao resultado obtido no processo.
Sete questões norteiam o desenvolvimento da proposta: quem seriam os interessados na canonização de Tomás? Qual a santidade de Tomás de Aquino entre os dominicanos? Os interrogados conheceram Tomás de Aquino? Que relação tiveram com o candidato a santo? Qual a atuação do papa João XXII no processo? Ao final, canonizado, que santo é Tomás de Aquino? Como se deu a operação da construção narrativa que resultou na Ystoria? O que a canonização de Tomás de Aquino explica sobre o período e sobre as pessoas envolvidas? Outras tantas questões, de cunho secundário, são apresentadas, servindo de pontos de apoio para progressões mais detalhadas que auxiliam na costura do todo.
Procurando alicerçar seu posicionamento, buscando base no alinhamento ou refutação do que a bibliografia viabiliza ao tema, Teixeira estabelece diálogos com autores, como, por exemplo: Sylvain Piron, Andrea Robiglio, Roberto Wielockx, Isabel Iribarren, André Vauchez, etc. Em relação ao último, seu conceito de santidade seria contestado por Teixeira a partir da reflexão por ele feita tomando por base a noção de tempo de santidade, identificando com isso o que o processo de Tomás de Aquino carregaria de mais singular.
O livro se desenvolve basicamente em três capítulos, sendo cada um deles responsável por uma parte relevante na composição argumentativa do autor. O primeiro, voltado aos Inquéritos efetuados em 1319 e 1321, destaca, entre outros, uma não aproximação de João XXII com os dominicanos, dado sua negativa em iniciar o processo do também dominicano Raimundo de Peñafort, o que poderia indicar um possível favorecimento à Ordem. Nele também é destacada a predileção por um teólogo a um jurista, assim como era Peñafort. O alcance da santidade de Aquino é apresentado como sendo circunscrito ao local de seu sepultamento, assim como também é realçado o fato de as Ordens religiosas não comporem o corpo massivo nas oitivas, sendo os Pregadores inclusive menos numerosos que os cistercienses.
O segundo capítulo é direcionado para a questão da santidade de Tomás de Aquino em relação à Ordem dos dominicanos. Nele, Teixeira conclui que não havia uma unanimidade no que diz respeito ao posicionamento da Ordem em relação a Tomás de Aquino, sendo as variações produto dos diversos momentos experimentados pelos Pregadores. Nesse sentido, ganha ênfase o fato de no contexto da canonização nem todos estarem de acordo com os posicionamentos de Aquino. Em linhas gerais, por mais que o resultado comparativo efetuado entre as hagiografias de Pedro Mártir, Domingos de Gusmão e Tomás de Aquino indicassem um alinhamento deste ao propósito dominicano, assim como os demais, a carência de milagres e o desenvolvimento de um culto na Sicília dariam indícios de uma canonização que excede os interesses dominicanos.
Já no terceiro capítulo, trilhou-se o caminho de trabalhar o reconhecimento papal da santidade de Aquino a partir de aspectos teológicos. Havia, segundo Teixeira, um interesse, por parte do papado, em promover a canonização do dominicano em virtude da disposição existente entre ambos em relação à questões teológicas pontuais que favoreciam João XXII.
As necessidades alimentadas por um contexto turbulento (século XIV), no qual a autoridade papal se via em meio a constantes reviravoltas, fez com que João XXII, ao assumir um trono vacante (desde a morte de Clemente V, em 1314), iniciasse uma série de reformas, o que teria elevado as finanças papais. As diretrizes centralizadoras implementadas por ele, expropriando bens, aumentando taxas, aumentariam ainda mais o patrimônio eclesiástico. Para Teixeira, a canonização de Tomás de Aquino seria motivada dada a posição do teólogo em relação à pobreza radical da Igreja, sendo ele contrária a ela. Tal linha de pensamento, alinhada aos interesses de João XXII, teria feito com que este, buscando legitimação de suas ações, promovesse o processo de reconhecimento da santidade de Aquino.
Em linhas conclusivas, respondendo às questões principais de seu livro, destaca o autor que três seriam os possíveis interessados na canonização de Tomás: os dominicanos, sua família de nobres da região de Nápoles e o Papa João XXII, sendo o último o que de fato a procedera. Em relação à santidade de Aquino junto aos dominicanos, o autor percebe um posicionamento discreto destes no processo de canonização, com certa divergência dentro do grupo acerca das linhas de pensamento tomistas. No que diz respeito ao processo de canonização, poucos foram, dos que participaram do Inquérito, os que tiveram contato com Tomás de Aquino em vida.
A rapidez da canonização de um teólogo e não de um jurista, entre outras posições, desponta como resposta à atuação do papa João XXII no processo. Ao que se relaciona ao santo que é Aquino, bem como à construção narrativa que originou a Ystoria (sua hagiografia, de Guilherme de Tocco), destaca Teixeira que o santo tinha todos os caracteres dos demais santos da “Igreja Católica” (castidade, virgindade, virtuosidade, etc.), sendo a obra elaborada a partir de uma inserção de seu autor, Guilherme de Tocco, na própria narrativa, destacando os elementos que dariam conta de confirmar a santidade em proposta.
No que tange ao que a canonização de Aquino explica sobre o período e as pessoas envolvidas, o autor destaca as tensões existentes entre o papado e as Ordens religiosas, e mesmo entre estas, nos séculos XIII-XIV. Explica que a criação de uma crença e seu devido reconhecimento leva em conta um emaranhado complexo de elementos de ordem política, social, doutrinária, etc. Tais elementos formariam uma conjuntura que favorece os posicionamentos tomados para o desenvolvimento do processo e para a canonização.
O livro de Igor Salomão Teixeira, ao trabalhar os liames que envolveram a canonização de Tomás de Aquino, levando em conta os interesses envolvidos, traz a necessidade de pensar o próprio processo não unicamente como fonte para o estudo da santidade, mas primeiro como peça jurídica dentro de uma lógica que transcende exclusivamente esta questão. Só assim, os interesses envolvidos no reconhecimento da santidade puderam ficar evidentes, dando noção dos intentos que poderiam mover os agentes em tais processos.
Assim, ao trabalharmos com o fenômeno de santidade, seja através do estudo dos inquéritos desenvolvidos, ou das produções hagiográficos em si, entre outros, levando em conta o sentido dado a partir da construção discursiva, a necessidade de considerar as múltiplas dimensões que envolvem a constituição do santo se fará presente. Nesse sentido, pensar a densidade que os estudos hagiográficos, por exemplo, possam conter, considerando-os também como um elemento que compõe a peça jurídica, elevam em importância o teor narrativo que a obra traz consigo, demandando do pesquisador um fôlego a mais para além da pura santificação.
Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira – Mestrando PPGHC-UFRJ/Bolsista Capes. E-mail: [email protected]
TEIXEIRA, Igor Salomão. Como se constrói um santo: a canonização de Tomás de Aquino. Curitiba: Prismas, 2014. Resenha de: OLIVEIRA, Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.15, n.2, p. 229-233, 2015. Acessar publicação original [DR]
Imprensa italiana no Brasil, séculos XIX-XX – TRENTO (RBH)
TRENTO, Angelo. Imprensa italiana no Brasil, séculos XIX-XX. São Carlos: Ed. UFScar, 2013. Zaidan, Roberto. 276p. Resenha de: BIONDI, Luigi. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.70, jul./dez. 2015.
Décadas de pesquisa sobre o tema da imigração italiana, que renderam algumas das obras mais referenciais nesse âmbito historiográfico, levaram Angelo Trento, da Universidade de Nápoles “Istituto Orientale”, a aprofundar um dos aspectos centrais para a compreensão do mundo dos imigrantes no Brasil no livro Imprensa Italiana no Brasil, séculos XIX-XX, tradução para o português da edição italiana La costruzione di un’identità collettiva. Storia del giornalismo in lingua italiana in Brasile (Viterbo: Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana, 2011).
Na sua obra La dov’è la raccolta del caffè, publicada no Brasil com o título Do outro lado do Atlântico (São Paulo: Studio Nobel, 1989), ainda hoje a obra mais completa sobre a história dos italianos no Brasil, na qual a imprensa produzida por eles tomava um espaço temático próprio em alguns capítulos embora atravessasse o livro inteiro como fonte principal, Trento inseriu um apêndice com mais de quatrocentos periódicos italianos publicados no país. Esses foram o ponto de partida para pesquisas sucessivas que levaram Trento, nos últimos anos, a centrar a análise sobre a história dos impressos periódicos em língua italiana no Brasil, durante o século XIX e até a década de 1960. Aquela antiga lista se enriqueceu de mais títulos, encontrados nos arquivos do Brasil, Itália, Holanda e França, e se tornou o corpus documental que fundamenta agora, no seu livro Imprensa italiana no Brasil, uma história exaustiva da expressão escrita, em jornais, pelos imigrantes italianos.
Trento não se limita a tratar essa imprensa como formadora de representações de uma coletividade de imigrantes, indaga sobre os fundamentos sociais dos impressos periódicos e de seus grupos editores e sobre a relação destes com as redes de assinantes, os leitores e a comunidade italiana imigrada em geral. O jornal, além de ser o veículo intencional de transmissão de informações, configura-se como porta-voz e ao mesmo tempo articulador de grupos específicos, utilizando e forjando redes de imigrantes, polo agregador de sua intervenção na nova sociedade. A imprensa étnica como mediadora da transnacionalidade, na qual Trento enfatiza, na melhor tradição historiográfica italiana, suas dinâmicas políticas.
Essa imprensa é estudada também como construtora e expressão de identidades: a nacional – a italianidade – e as regionais, políticas e de classe, todas em suas diferentes e muitas vezes conflitantes versões, todas passando pela via da comum origem num Estado-nação de recente formação. O ser e sentir-se italiano numa experiência de migração por meio da imprensa, declinado em uma miríade de identificações complementares, parece ser o fio condutor de uma trajetória que o autor concentra entre o período da “grande imigração” (1885-1915 aproximadamente) e meados dos anos 1960, quando o longo processo de integração e os fluxos migratórios dos italianos terminam.
Trento dedica mais de metade da obra ao período entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, com dois capítulos iniciais: o primeiro para a imprensa como um todo e o segundo para a imprensa operária. É nessa época que o periódico impresso se configura não somente como órgão de informação, mas também como polo agregador dos próprios imigrantes italianos que chegam em massa ao Brasil. É o período do protagonismo político, comercial e industrial do Brasil urbano, quando o diário em língua italiana Fanfulla, a “joia da coroa” da então colônia ítalo-paulista, narra as vicissitudes da experiência migratória de cerca de um milhão de italianos – e não somente os de São Paulo, pois esse diário, assim como outros periódicos étnicos, era lido para além das fronteiras estaduais. Trento não se limita a estudar o fenômeno migratório nas suas amplas dimensões paulistas, também lança um olhar para as coletividades nos outros estados, para a imprensa italiana desde o Pará até os centros gaúchos e sulinos em geral, nestes bastante difusa.
Nesses dois capítulos, Trento explica a difusão extraordinária de alguns jornais, como os diários Fanfulla e La Tribuna Italiana, e das publicações explicitamente políticas como La Battaglia (anarquista) e Avanti! (socialista), e ao mesmo tempo analisa os vários periódicos que tiveram uma vida difícil, mas que, tomados em conjunto, tornam a expressão escrita da imprensa dos ítalo-brasileiros nesse período importante e significativa, a par de outras como as da Argentina ou dos Estados Unidos.
A separação dessa fase da “grande imigração” em duas esferas temáticas, ao longo de dois capítulos, pretende destacar o papel político da imprensa. No capítulo 1, a grande imprensa e os periódicos culturais, de notícias e multitemáticos, são analisados não somente nos seus aspectos gerais estruturais e representativos, supostamente neutros, mas também nas suas atenções ao mundo da grande massa dos imigrantes, incluindo o surgimento de um jornalismo investigativo étnico, que indaga sobre as condições materiais da coletividade, seus anseios e suas expressões políticas. O subcapítulo final introduz uma pesquisa pioneira sobre a imprensa de língua italiana durante a Primeira Guerra Mundial, num momento em que o nacionalismo italiano e a construção da identidade nacional no exterior vivenciam, por causa da guerra, uma intensificação extraordinária, enquanto os imigrantes experimentam novas tensões derivadas da radicalização das lutas operárias.
A “Outra Itália” de esquerda é o tema do capítulo 2, onde o foco é completamente voltado para entender a vida da imprensa em língua italiana que foi expressão de tendências e grupos políticos específicos, ligados ao mundo do trabalho urbano. Sobretudo em São Paulo, mas não somente ali, essa imprensa conseguiu frequentemente se tornar o polo agregador de anarquistas, socialistas, republicanos, radicais e sindicalistas, bem como de trabalhadores em geral. Um protagonismo conhecido na historiografia da história social e política dos trabalhadores no Brasil, que Trento, pela primeira vez após muitos anos, analisa num único capítulo de forma conjunta, coerente e renovada, incorporando as novas pesquisas suas e de outros colegas sobre o tema.
Temos um olhar completo para essa história, sem privilegiar a análise de uma ou de outra tendência, mas as conexões entre elas e o panorama dessa trajetória em sua complexidade, desde as origens, passando pelo auge dos anos 1900-1917, até o declínio no período posterior à Primeira Guerra Mundial, quando a imprensa reflete a diluição dos elementos étnicos da classe operária. Por isso, o autor dedica parte importante desse capítulo ao debate “identidade étnica versus identidade de classe” na imprensa política de língua italiana, tema ainda central nos estudos migratórios e da formação da classe trabalhadora nas Américas.
Na segunda parte do livro, o autor enfrenta a questão da penetração do fascismo na imprensa italiana, sua gradual conquista das redações, sua eliminação em outras, o surgimento e declínio, nas décadas de 1920 e 1930, da imprensa antifascista que viu no Brasil o episódio interessante e multipartidário do jornal La Difesa, enquanto o diário Fanfulla se dobrava aos interesses do governo italiano e ao mesmo tempo continuava se propondo como o porta-voz da italianidade no país. Trento se dedica ao exame de uma imprensa étnica ainda consistente, mas cada vez menor, não comparável em número, qualidade e variedade com a dos primeiros 30 anos republicanos. Uma imprensa que progressivamente se fecha em torno das questões ligadas à colônia, mediadora cultural de uma Itália cada vez mais distante e menos frequentada.
A imprensa é estudada para entender a capacidade de adaptação à nova situação brasileira, o equilíbrio entre as influências do fascismo italiano e as tensões derivadas desse posicionamento frente à política nacionalista do Estado Novo e à guerra.
A nova fase que se abre com o pós-guerra se ressente dessa história, de um passado não falado que Angelo Trento analisa no último capítulo, no contexto migratório mais recente, da segunda metade do século XX.
Entre a retomada no Brasil de posições políticas proibidas na nova Itália republicana (o neofascismo no exílio) e a narração da experiência migratória dos anos 1950 e 1960 (até 1965, quando o Fanfulla encerra sua publicação diária), o autor examina o conjunto muito menor de uma imprensa étnica testemunha de uma coletividade italiana imigrada, renovada sim pelos fluxos migratórios do pós-guerra, mas excepcionalmente reduzida.
Trento interpreta a função histórica da imprensa italiana no exterior como expressão viva do mundo dos imigrantes. Ao desaparecer a condição de migrantes, ao sumir gradualmente a operatividade das relações, das redes e das circularidades transnacionais, também essa imprensa deixa de existir. Apesar das dificuldades objetivas na prática da leitura de uma massa imigrante mediamente iletrada, o trabalho de Angelo Trento destaca que foi no período áureo da “grande imigração” que a imprensa étnica italiana mais se desenvolveu, âncora de uma transnacionalidade em ação.
Finalmente, é importante sinalizar que, além do valor da obra como o mais recente e mais aprofundado estudo sobre a história da imprensa italiana no Brasil, o livro se constitui como um recurso de pesquisa fundamental, terminando com um inventário cronológico completo e classificado por estado de mais de oitocentos periódicos em língua italiana publicados no país, onde se indica também a colocação arquivística de cada jornal.
Luigi Biondi – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), Departamento de História. Guarulhos, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
[IF]
Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva – PETIT (REi)
PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. 2. ed. Tradução de Celina Olga de Souza. São Paulo: Editora 34, 2009. Resenha de: MUNIZ, Dinéa Maria Sobral; VILAS BOAS, Fabíola Silva de Oliveira. Revista Entreideias, Salvador, v. 4, n. 2, 152-157 jul./dez. 2015.
Michèle Petit é antropóloga e tem obras traduzidas em vários países da Europa e da América Latina. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva foi a primeira lançada no Brasil (2008) e recebeu o Selo “Altamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Além dessa obra, a Editora 34 também publicou A arte de ler: ou como resistir à adversidade (2009) e Leituras: do espaço íntimo ao espaço público (2013). A edição brasileira de Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva estabelece o convite à leitura desde a capa, em tom azul forte, com uma xilogravura de Moisés Edgar, do Grupo Xiloceasa (SP). A “orelha” do livro, escrita por Marisa Lajolo, é igualmente convidativa, pois ressalta o fato de que a leitura integra a pauta de diferentes agendas brasileiras, o que torna o livro mais que oportuno no país, e por esse motivo, certamente, interessará àqueles “[…] fascinados pela alquimia que, através das palavras impressas, aproxima as pessoas umas das outras, descortinando novas paisagens do universo que compartilhamos.1” O sumário da obra, além do prefácio escrito por Petit especialmente para a edição brasileira, apresenta quatro seções: “As duas vertentes da leitura”, “O que está em jogo na leitura hoje”, “O medo do livro” e “O papel do mediador”. No prefácio, a autora declara que, antes de vir ao Brasil pela primeira vez, desde que participou, em Paris, no ano 2005, das comemorações do “ano do Brasil na França”, começou nutrir a esperança de conhecer o país.
Na ocasião das comemorações, assistiu a concertos e exposições, descobriu telas do pernambucano Cícero Dias, leu lendas contadas por Clarice Lispector, seguiu relatos de J. Borges e J. Miguel, através de suas xilogravuras, de modo que essas (e outras) experiências alimentaram o desejo de estar em terras brasileiras.
Também no prefácio, Petit, a fim de contextualizar o desenvolvimento das pesquisas apresentadas, analisa o processo da democratização do ensino na França e suas armadilhas. Para a antropóloga, a inserção de jovens oriundos de camadas populares e marginalizadas nos segmentos secundário e universitário sempre fora conduzida a passo forçado, sem a oferta de meios pedagógicos que de fato os acolhessem. A observação de suas formas de viver e estudar permitiu constatar que eles não tinham acesso à cultura escrita, faziam anotações malfeitas e ilegíveis, apresentavam desconhecimento total das bibliografias, não pesquisavam em bibliotecas.
Esse bloqueio extremamente prejudicial dos jovens em relação à leitura só foi ultrapassado “graças a mediações sutis, calorosas e discretas ao longo de seu percurso” (p. 11). A biblioteca, nesse cenário, figurou tanto como um espaço de formas de sociabilidade, que os protegia das ruas, quanto um local profícuo para que estabelecessem uma relação mais autônoma com a cultura escrita e mais singular com a leitura.
Na primeira seção, “As duas vertentes da leitura”, Petit toma depoimentos de pessoas de diferentes níveis sociais, nos meios rurais franceses, e apresenta duas concepções de leitura de onde deriva cada vertente: uma marcada pelo grande poder atribuído ao texto escrito e outra marcada pela liberdade do leitor. A prática de leitura individual e silenciosa era incomum para esses sujeitos, pois boa parte dos entrevistados evocou lembranças de leituras coletivas, em voz alta (escola, catecismo, internato), ocasiões nas quais era possível controlar o acesso aos textos escritos, seus conteúdos, seus modos de dizer. Opondo-se a essa concepção e prática de leitura como “controle”, Petit adverte:
[…] não se pode jamais estar seguro de dominar os leitores, mesmo onde os diferentes poderes dedicam-se a controlar o acesso aos textos. Na realidade, os leitores apropriam-se dos textos, lhes dão outro significado, mudam o sentido, interpretam à sua maneira, introduzindo seus desejos entre as linhas: é toda a alquimia da recepção. (p. 26)
Por acreditar na vertente que focaliza a leitura como elemento essencial à formação de um espírito crítico e livre, considerado a chave de uma cidadania ativa, a autora argumenta a favor do poder que a leitura tem para provocar um deslocamento da realidade, ao abrir espaço para o devaneio, no qual tantas possibilidades de interpretação podem ser cogitadas. Nesse sentido, Petit defende que a leitura instrutiva não deve se opor àquela que estimula a imaginação; ao contrário, ambas devem ser aliadas, uma vez que “contribuem para o pensamento, que necessita lazer, desvios, passos para fora do caminho.” (p. 28). Por fim, Petit discute e caracteriza o leitor “trabalhado” por sua leitura como um sujeito ativo, que opera um trabalho produtivo à medida que lê, inscreve sentidos na leitura, reescreve, altera-lhe o sentido, reemprega-o, mas que se permite, também, ser transformado por leituras não previstas.
Em “O que está em jogo na leitura hoje em dia”, segunda seção da obra, a antropóloga lança ao leitor questões disparadoras: “Por que é ler é importante? Por que a leitura não é uma atividade anódina, um lazer como outro qualquer? Por que a escassa prática de leitura em certas regiões, bairros, ainda que não chegue ao iletrismo, contribui para torná-los [os jovens] mais frágeis?” (p. 60). Pensando inversamente, Petit interroga: “de que maneira a leitura pode se tornar um componente de afirmação pessoal e de desenvolvimento para um bairro, uma região ou um país?” (p. 60).
Para a autora, tais questões envolvem uma série de ângulos e registros. Contudo, a verdadeira democratização da leitura engloba a concepção dessa como um meio para se ter acesso ao saber, aos conhecimentos formais, sendo capaz, assim, de modificar o destino escolar, profissional e social das pessoas. Passa também pelo aspecto da leitura como uma via privilegiada para se ter acesso a um uso mais desenvolto da língua, pois essa pode, por vezes, constituir-se “uma terrível barreira social” (p. 66). A linguagem e a leitura têm a ver, ainda, com a construção de si próprio como sujeitos falantes, pois a leitura pode, em todas as idades, “ser um caminho para se construir, se pensar, dar um sentido à própria existência, à própria vida; para dar voz a seu sofrimento, dar forma a seus desejos e sonhos”. (p. 72).
Petit também retoma nessa seção a ideia da hospitalidade da leitura literária, da literatura como um lar. Para ela, os jovens que leem literatura são os que mais têm curiosidade pelo mundo real, pela atualidade e pelas questões sociais. Dessa forma, a leitura permite ao sujeito conhecer a experiência de outras pessoas, outras épocas, outros lugares e confrontá-las com as suas próprias, ampliando, assim, os círculos de pertencimento e criando um pouco de “jogo” no tabuleiro social. (p. 100).
Na terceira parte, intitulada “O medo do livro”, Petit problematiza que, se por um lado a leitura é a chave para uma série de transformações e o prelúdio para uma cidadania ativa, ela também suscita medos e resistências que encontram representação na seguinte voz comum: “É preciso ler”. A partir dessa relação ambivalente com a leitura, a autora cita exemplos de pessoas de diferentes regiões, muitas do campo, que, para ler, enfrentaram obstáculos, tais como a falta de domínio da língua e de acesso aos textos impressos, acessível apenas para representantes do Estado e da Igreja. A leitura era, assim, arriscada para o leitor, que poderia se ver privado de sua segurança ao pôr em jogo “tanto as fidelidades familiares e comunitárias como as religiosas e políticas” (p. 110).
Petit finaliza o capítulo desenvolvendo esta questão central: agora, definitivamente, como nos tornamos leitores? Para além do que provoca em termos da estrutura psíquica, a autora responde que a leitura é, em grande parte, uma história de família, de presença de livros e de adultos leitores; é, também, o papel da troca de experiências relacionadas aos livros (ler em voz alta, com gestos de inflexão da voz); pode ser, ainda, uma máquina de guerra contra os totalitarismos, contra os conservadorismos identitários, contra os querem imobilizar o outro a qualquer custo; enfim, a leitura é “uma história de encontros”. (p. 148).
A última e quarta conferência, “O papel do mediador”, destaca a importância de cada um que atua como mediador de leitura, seja ele um professor, um bibliotecário, um livreiro, um amigo e, até mesmo, um desconhecido que cruza o nosso caminho.
Para Petit, um mediador funciona como um elo entre o leitor e o objeto de leitura e “pode autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse desejo.” (p. 148).
Os entrevistados participantes da pesquisa apontaram professores e, mais frequentemente, bibliotecários como seus principais mediadores. No caso dos professores, chamou a atenção um fato: mesmo muito críticos em relação ao sistema escolar, os jovens sempre lembravam um professor singular, que transmitia sua paixão por um livro, seu desejo de ler, fazendo-os, inclusive, gostar de ler textos difíceis. Após elencar excertos dos entrevistados sobre seus professores, Petit afirma que “para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha experimentado esse amor.” (p. 161). Sobre os bibliotecários, a autora os define como pontes para universos culturais mais amplos. Assim, o iniciador aos livros é aquele que ajuda o outro a ultrapassar os umbrais em diferentes momentos do percurso, “é também aquele que acompanha o leitor no momento, por vezes tão difícil, da escolha do livro, aquele que dá a oportunidade de fazer descobertas […]”. (p. 175).
Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva, de Michèle Petit, é, certamente, uma obra de grande relevância por sua temática, pela abordagem sensível e profunda do assunto e pelo evidente conhecimento da causa da autora sobre variadas questões relacionadas à leitura. Petit consegue arrematar, por meio das reflexões apresentadas, o quão importante é compreender a leitura como um elemento capaz de transformar sujeitos e retirá-los de um contexto de exclusão e segregação, dando-lhes novas perspectivas de vida.
Notas
(1) Trecho retirado da orelha do livro.
Dinéa Maria Sobral Muniz – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFBA Coordenadora do GELING (Grupo de estudo e pesquisa em Educação e Linguagem). E-mail: [email protected]
Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFBA. E-mail: [email protected]
Poesia e Polícia – Redes de comunicação na Paris do Século XVIII – DARNTON (AN)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 228p. Resenha de: MATTOS, Yllan; DILLMANN, Mauro. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 357-362, jul. 2015.
Em 2014, a comunidade de historiadores brasileiros recebeu a tradução de mais um livro do renomado historiador norte-americano Robert Darnton. Trata-se de Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII, publicado originalmente nos EUA, em 2010, (no mesmo ano de O Diabo na água benta, com tradução no Brasil em 2012). A obra é dedicada ao estudo dos circuitos de comunicação e poderes políticos de difamação na Paris de meados do século XVIII, uma continuidade e um complemento dos seus próprios estudos sobre o tema da arte da calúnia política.
Autor de obras historiográficas de grande repercussão internacional, como O grande massacre de gatos (1985) e O Beijo de Lamourette (1990), entre outras, o professor da Universidade de Harvard nos brindou com este novo livro que busca constatar as referidas “difamações” a partir da consulta a diversas fontes como poemas, canções, panfletos, cartazes e uma série de escritos críticos que imiscuíam política e moral contra o rei francês Luís XV [1710-1774].
A pesquisa de Darnton traz à luz a “mais abrangente operação policial” da Paris de 1749, seguindo a trilha deixada por seis poemas sediciosos (p. 8). Darnton está interessado em analisar os sistemas de comunicação e de circulação de informações na Paris semialfabetizada do século XVIII, através da poesia, seja em sua forma escrita, recitada ou cantada. Para tal, busca apreender a “opinião pública” (a atmosfera de opiniões, a “voz pública”) expressa nas poesias e nas canções que circulavam na época. Ao mesmo tempo, mas com menor envergadura, procurou compreender a maneira como as pessoas ouviam as canções, buscando recuperar os “sons do passado” para uma compreensão mais rica da história, a fim de “fazer a história cantar” e “[…] reconstituir alguns padrões de associação ligados a melodias populares” (p. 11, p. 85, p. 102). Em suma, Darnton busca rastrear uma rede de comunicação oral desaparecida, como ele enfatiza, há 250 anos, argumentando que “[…] a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p. 134).
Neste empreendimento, Robert Darnton parte de uma operação policial de 1749, grifada na capa do inquérito pelos algozes como “caso dos catorze”, quando a polícia prendeu catorze indivíduos na Bastilha acusados de difamar o rei Luís XV através da poesia. Uma das funções da polícia, à época, estava na “supressão da maledicência acerca do governo” (p. 09), pois difamar o rei era crime. O “caso dos catorze” foi o mote encontrado por Darnton para analisar a rede de comunicação oral e escrita e a circulação de informações, mas também de disputas políticas na França do Antigo Regime.
No que tange à comunicação oral, Poesia e polícia não consegue ir além daqueles que escreviam e copiavam poemas e versos sediciosos contra o rei e sua política, chegando muito pouco ao mundo dos analfabetos (ou semianalfabetos, como quer o autor) e pobres, quando muito aproxima-se daqueles que se envolviam com tais escritos, sejam clérigos, estudantes ou habitantes do Quartier Latin. É acertado que a memorização fora um instrumento importantíssimo nesses tempos, mas, no caso desses poemas, funcionava mais a rede escrita de bilhetes que circulavam de bolso em bolso, colete a colete. A leitura dos poemas em voz alta promovia uma “cadeia de difusão”, devido às amplas redes de comunicação que pouco puderam ser mapeadas tanto pela polícia do Antigo Regime quanto pelo historiador da atualidade, porque não deixaram registros facilmente identificáveis. Por outro lado, os poetas eram, em geral, filhos de chapeleiros, filhos de professores, escreventes, ex-jesuítas, estudantes, advogados, clérigos e os autores das poesias eram provenientes socialmente tanto da Corte quanto das camadas mais baixas (p. 119). Havia também um círculo clerical clandestino, já que era comum a presença de ideias políticas entre o clero e os padres interessados em literatura (p. 25), sobretudo quanto à temática acerca do jansenismo (p. 53-56).
Como argumenta Darnton, as poesias e canções não representavam nada de excepcional, mas revelavam o descontentamento social e o sistema de comunicação (p. 60) na França, uma vez que eram publicações irreverentes, sediciosas, satíricas, dadas ao escárnio.
Assim, o autor identifica a variedade de poesias e de gêneros, caracterizando-as em diversas categorias, como jogos de palavras, zombaria, piadas, tiradas de espírito, baladas populares, cartazes burlescos, cantos de natal burlescos, diatribes (p. 109-121).
O que Darnton enfatiza é o caráter político dos poemas, pois eram escritos que convertiam política em poesia (p. 49). Os protestos populares vinham desta rede de comunicação, dos poemas, das canções, dos impressos, cartazes e das conversas (p. 34). Alguns poemas tornavam-se odes, ou seja, “[…] versos trabalhados à maneira clássica e com um tom elevado, como se tivessem sido feitos para a declamação no palco ou numa tribuna pública” (p. 61). Poesias e odes tornavam-se facilmente canções, Chansonniers, cujos temas giravam em torno de diversas questões sociais, principalmente escárnio ao rei e críticas à administração pública. Cantores e canções moviamse nas escalas sociais; folhetos e manuscritos eram comercializados em Paris e a música estava na rua, o espaço do violino, da flauta e da gaita de fole. Essas canções eram, de fato, numerosas e, na sociedade semianalfabeta, as canções eram como jornais. Os versos compostos entre 1748 e 1750 pelos catorze incluíam 264 canções e o rei certamente via nessas canções o ódio de seu povo (p. 48).
A obra explicita claramente a metodologia empregada pelo historiador no manejo e na exploração de suas fontes, além do cuidado em apresentar os documentos como “prova” de seus argumentos, suas justificativas, suas interpretações, considerando, evidentemente, as dificuldades e os limites de apreensão da comunicação oral para um recorte temporal bastante recuado. O autor busca, então, os “ecos” dessa oralidade em outros textos, como epigramas, charadas, diários e cadernos de anotações (p. 81). Do mesmo modo, confessa a dificuldade do historiador para constatar a “recepção”, levando em conta que a análise textual não oferece conclusões sólidas sobre difusão e recepção (p. 108). De qualquer forma, ele busca a “reação dos contemporâneos aos poemas” (p. 122). Essa “reação” é indicativa da “recepção” e Darnton busca em fontes como diários e memórias. Para acessar a opinião pública, Darnton vale-se de uma série de documentos como diários, memórias, arquivos da Bastilha, fichas da polícia. O livro é justamente uma tentativa de recuperar as mensagens transmitidas em redes orais, em redes de comunicação, a “paisagem mental” composta de atitudes, valores e costumes, como Darnton refere na conclusão.
A metáfora do historiador-detetive, empreendida por Collingwood (A ideia de história) e Carlo Ginzburg (no famoso ensaio Sinais: raízes de um paradigma indiciário), é retomada por Robert Darnton, colocando em discussão o ofício do historiador: interpretar a interpretação, interpretar o significado, vinculados ao contexto de sua produção, ou em suas palavras: “[…] os detetives trabalham de modo empírico e hermenêutico […]”, interpretando pistas, seguindo fios condutores e montando o caso “[…] até chegar a uma convicção” (p. 146). Portanto, ele buscou interpretar a interpretação da política e da polícia, além do significado dos panfletos no contexto de comunicação do século XVIII francês.
É nesse sentido que a obra aproxima-se da metodologia de Clifford Geertz (1989). A inicial exposição descritiva do caso dos catorze e dos poemas (thick description, se quisermos usar o termo do antropólogo) segue-se à interpretação cultural, tomando por princípio a recusa à teorização, discordando tanto das perspectivas de Michael Foucault como das de Jürgen Habermas sobre a construção da “opinião pública”. Para este caso, além das explicações que faz em todo o livro, a discussão poderia ganhar mais fôlego se Darnton colocasse suas análises em relação a outros autores ligados a esta temática, tais como como Arlette Farge (Dire et mal dire: l’opinion au public XVIIIème siècle), Mona Ozouf (Verennes) ou Roger Chartier (entre outros: Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Règime e Origens culturais da Revolução Francesa), oferecendo bons contrapontos à sua análise. Um dos problemas da noção de “voz pública” é que se deixam de lado as diferenças sociais de todo tipo para dar ênfase ao que é comum. Lendo o livro de Darnton, pode-se ter a impressão de que todas as pessoas estavam imersas na crítica ao rei, à sua amante e às decisões reais. Embora o autor coloque em dúvida essa premissa (p. 132), não discorre muito sobre essa questão. Por outro lado, talvez nesse Poesia e polícia, Darnton tenha melhor utilizado a construção hermenêutica através do registro documental, recorrendo fartamente à contextualização, contrabalanceando com o uso do texto documental em si.
Por fim, considerando alguns aspectos formais, o livro é feito para atrair um público além dos historiadores: bastante conciso, com pouco mais de 140 páginas de texto, subdivididos em 15 curtos capítulos, e 44 páginas de anexos brevemente comentados, constituindo- se de fácil e prazerosa leitura, em que o leitor encontrará não poucas repetições de argumentos. Ressaltam-se, também, alguns desacertos da tradução, como “Velho Regime” ao invés de Antigo Regime, e ortográficos. Os anexos, por sua vez, são apresentados como apêndices e trazem a transcrição dos poemas analisados, divulgados em meados do século XVIII francês, e com um hiperlink para aquele leitor mais curioso que quiser ouvir as canções. Vale escutar essas canções subversivas através da voz de Hélène Delavault, acompanhada pelo violão de Claude Pavy, no seguinte endereço eletrônico: <www.hup.harvard.edu/features/dapoe>. Para melhor demonstrar essa circulação, Darnton construiu um diagrama com indicação do esquema de distribuição, do circuito de comunicação dos catorze homens das camadas médias, considerados “jovens intelectuais”, que foram presos pela polícia (p. 23). O livro também traz imagens dos documentos pesquisados, dos “pedaços de papel”, das “folhas rasgadas”, dos poemas manuscritos e rabiscados em folhas avulsas que chegaram aos dias de hoje, pois foram apreendidos e arquivados pela política francesa. Além disso, o autor ilustra a obra com pinturas retratando cantores e vendedores de livros e imagens de livros de canções manuscritas (p. 90-93).
O livro de Robert Darnton certamente interessará aos estudiosos das práticas de escrita e leitura, aos pesquisadores das ideias do Antigo Regime e da cultura política e aos interessados, especialistas ou não, em História Moderna, em História da Literatura ou em Crítica Literária. Uma boa leitura – poder-se-ia dizer adorável e prazerosa, se considerarmos a atual discussão que os historiadores brasileiros vêm fazendo a respeito da função social da História e da necessidade de significação histórica para além da academia – de um trabalho de historiador que nos brinda com uma diferente concepção da cultura política do Antigo Regime francês.
Referências
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009.
___________. Leituras e Leitores na França do Antigo Regime. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
COLLINGWOOD, R. G. A ideia de história. Portugal: Editorial Presença, 1981.
FARGE, Arlette. Dire et mal dire: l’opinion au public XVIIIème siècle. Paris: Seuil, 1992.
GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura.
In: A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989, p. 13-41.
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 143-80 .
OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realiza, 21 de junho de 1791. Tradução de Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Yllan de Mattos – Doutor em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense e professor do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ (UNESP, campus Franca). Contato: [email protected].
Mauro Dillmann – Doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS -RS). Professor do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
A História, a Retórica e a Crise de paradigmas – BERBERT JR (AN)
BERBERT JÚNIOR, Carlos Oiti. A História, a Retórica e a Crise de paradigmas. Goiânia: Universidade Federal de Goiás/Programa de Pós-Graduação em História/Funape, 2012, 296p. Resenha de: PASSOS, Aruanã Antonio dos. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 351-355, jul. 2015.
Mais de quarenta anos depois de seu início, o debate ainda causa polêmica. De um lado, os defensores de uma tradição que almeja à história o estatuto de ciência, rainha das humanidades. Do outro, alguns estudiosos interessados na dimensão narrativa e discursiva da história tentando mostrar que essa pretensão à ciência só se sustenta na cabeça de alguns sujeitos que monopolizam um saber e estão mais interessados em suas dimensões políticas e legitimidade institucional. Do olhar mais superficial de um jovem estudante que se inicia na difícil tarefa de entender uma profissão tão antiga, esses dois grupos mostram-se contraditórios e uma avaliação preliminar desse mesmo jovem tende a ressaltar que definitivamente as posições são irreconciliáveis. Ledo engano, como bem mostra o livro A História, a retórica e a Crise de Paradigmas, de Carlos Oiti Berbert Júnior, que vem a público pela editora da Universidade Federal de Goiás.
Apresentado como tese de doutorado defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília, o trabalho soma méritos ao campo da teoria da história e da historiografia no Brasil de forma consistente, e vem a enriquecer os debates sobre o pós-modernismo no campo do conhecimento histórico. Sob este aspecto, cabem aqui algumas observações. A primeira refere-se ao crescimento da teoria da história em território nacional. É inegável que ela nunca esteve ausente dos gabinetes e da pena dos historiadores.
Tampouco foi subordinada fiel ou joguete na mão daqueles que procuravam legitimar ideais e posturas políticas. Ao contrário, esse crescimento de publicações, cursos, livros, programas de pós- -graduação, eventos que se voltam para a teoria da história, pode ser entendida pelo próprio momento em que a historiografia vive. Nas palavras de François Dosse, um momento de “retorno do sentido”, em que após as críticas que emergiram de um lado pela linguistic turn norte-americana, além do esgotamento do estruturalismo e do marxismo, a sensação era de pós-orgia, metáfora que empresto do pós-moderno Jean Baudrillard. E nesse contexto a teoria passou a ser encarada como leitmotiv para uma reconstrução epistemológica e metodológica que superasse as aporias da pós-modernidade.
A segunda ressalva refere-se ao caráter inerente da escrita da história e sua narração, objeto de atenção especial por parte de Berbert Júnior. Podemos especular que desde que Heródoto e Tucídides iniciaram a escrita da história tal como a concebemos, o elemento da “narrativa” sempre esteve entre as preocupações dos historiadores.
O que não podemos negligenciar é a natureza da discussão em torno da narrativa no final do século XX. Em muito esta discussão tem por pano de fundo a “crise” dos paradigmas estruturalistas, marxistas e dos Annales do final dos anos 1970 e, por outro lado, um “retorno” à narrativa enquanto elemento de especificidade do conhecimento histórico que em muito se aproximaria da narrativa literária. O caráter de cientificidade almejado pelos Annales teria passado definitivamente por cima do caráter narrativo da história, por mais latente que esse caráter atualmente nos pareça e ainda que muitas das grandes obras produzidas por Marc Bloch e Lucien Febvre contemplem elementos literários (p. 19).
Como pano de fundo de todo o debate estabelecido em torno desse suposto “retorno” da narrativa, encontramos o estabelecimento de novas posturas teóricas e metodológicas em relação à produção de conhecimento histórico. Neste mesmo contexto, encontramos a micro-história italiana, a “new left” inglesa e, mais posteriormente à própria “guinada linguística” nos EUA, escrevendo – literalmente – o passado de forma diferente dos grandes modelos. A análise de Berbert Júnior leva esse contexto à tona a partir da constatação de que há uma
crise de paradigmas no interior da própria narrativa histórica (p. 9), o que já é ponto de grandes controversas ainda hoje. Assim, o autor define as dimensões do seu estudo: “[…] principalmente, apresentar os caminhos que levaram à crise que resultou, simultaneamente, no rompimento com o paradigma moderno e no estabelecimento de um novo paradigma, denominado pós-moderno” (p. 9).
Ao extremo, podemos observar Hayden White proclamando a história enquanto ficção documentada. Os efeitos causados pela historiografia da chamada “guinada linguística” caíram em erro ao absolutizar o estatuto do passado. Essa postura acabou por tornar qualquer compreensão do passado como ultrassubjetivista, em que a categoria moderna da “universalidade” assumindo contornos absolutos demoliu com a diferença entre as culturas (p. 223).
Porém, não se pode negar que a noção de White de imaginação histórica é fundamental dentro da epistemologia da história atual e os desdobramentos afetam vários campos do saber histórico: cultural, político, simbólico, religioso etc. O que Berbert Júnior revela de fundamental é que o paradigma pós-moderno acabou por relegar a retórica a uma simples questão de poder, quando, e aqui temos outro ponto forte do livro, a retórica está no centro de tensão entre as rupturas que pós-modernos almejaram fazer com as metanarrativas universais modernas (p. 10).
Assim, o coração da obra ressignifica a retórica como uma chave não apenas interpretativa, mas como alternativa diante das aporias tanto de modernos quanto de pós-modernos. Uma via para superação da crise de paradigmas: “[…] a retórica possui outras funções na teoria da história que não somente aquelas que foram destacadas pelos autores vinculados ao paradigma pós-moderno”, já que: “[…] a possibilidade de retomar o caráter de referência da narrativa a partir da capacidade do texto historiográfico de se referir ao passado”, efetiva-se na própria retórica (p. 227-229).
Ancorado em farta bibliografia, o trabalho divide-se em três capítulos, em que tanto o debate quanto autores fundamentais dos dois paradigmas – Dominick LaCapra, Paul Ricouer, Carlo Ginzburg, Jörn Rüsen, Hayden White, Terry Eagleton, Michel de Certeau, Frank Ankersmith, Keith Jenkins – são tratados de forma clara e ao mesmo tempo sem prolixismos ou vulgarizações que empobrecem a tessitura dos acontecimentos e muitas vezes tornam qualquer discussão teórica abstrata demais e descolada da realidade.
Um dos primeiros desafios é a definição do paradigma pós- -moderno, que também demonstra uma das tônicas de toda obra: sua acessibilidade e a escolha das interlocuções. Acertadamente, o texto foge das polemizações e se concentra no cerne do debate em que se definem as diferenças e surpreendentemente desvela as similitudes entre modernos e pós-modernos. Assim, “[…] a ruptura estabelecida entre o chamado paradigma pós-moderno e o moderno concede ao primeiro uma excessiva ênfase na interpretação” (p. 26).
Ao invés de estudar-se a “obra em si”, passou-se a dar maior valor às interpretações sobre a obra. A realidade em si não teria, dessa maneira, mais interesse central nas preocupações dos historiadores, já que a “[…] atribuição de significado e a interpretação estariam muito mais vinculadas a determinados esquemas a priori (tais como os encontrados em estratégias definidas a partir da ‘elaboração do enredo’, da ‘formalização da argumentação’ e das ‘implicações ideológicas’) do que à pesquisa histórica propriamente dita” (p. 36).
No limiar dessa perspectiva, como bem demonstra o capítulo dois (Universalidade, contingência a teoria da história: uma análise de categorias), ao analisar as asserções de Keith Jenkins, percebe-se que a relativização de toda abordagem dos historiadores é o resultado eminente da perspectiva pós-moderna, já que: “[…] se não existe, a certeza de que a história possa apreender diretamente do passado, a consequência maior será a relativização de todas as abordagens e o abandono da epistemologia no que se refere à análise do discurso entendido com ou um todo” (p. 43). Aqui encontramos outro ponto alto da análise da obra. Para além do mapeamento das premissas dos dois paradigmas, interessa a percepção dos caminhos alternativos que “[…] consigam evitar tanto o reducionismo objetivista, preconizado pelo paradigma moderno, quanto o voluntarismo subjetivista, exortado pelo paradigma pós-moderno, quando da atribuição do significado” (p. 45).
E, para a percepção dos possíveis caminhos alternativos, é a noção de retórica que, em diálogo com o direito, pode estabelecer uma compreensão das dimensões teóricas do debate. Nas palavras do autor: “[…] advogamos uma concepção de retórica que considere os aspectos cognitivos e o papel dinâmico da relação entre o historiador, os textos e o contexto e, que está inserido” (p. 77). Talvez aqui tenhamos uma pista importante para se pensar nas formas de superação das aporias e armadilhas que o debate coloca ao nosso jovem estudante, o qual antes não acreditava nessa possibilidade.
Por fim, é inegável que a obra contribui sobremaneira para a teoria da história e historiografia atuais, pela acessibilidade, clareza e pela qualidade das análises. Ao final, o leitor sente-se estimulado a avançar naquilo que o texto não pôde fazer: a crítica da recepção do debate em território nacional, ponto esse tangenciado no primeiro e segundos capítulos de forma breve. Mas a essa tarefa caberia outra obra tão ou mais densa quanto esta.
Aruanã Antonio dos Passos – Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Contato: [email protected].
Jan Hus – cartas de um educador e seu legado imortal – AGUIAR (RBHE)
AGUIAR, T. B. Jan Hus – cartas de um educador e seu legado imortal. São Paulo: Annablume; Fapesp; Consulado Geral da República Tcheca, 2012. 444 p. Resenha de: NASCIMENTO, Renata Cristina de Sousa. Cartas de Jean Hus: Indícios de uma intenção educativa. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 15, n. 2 (38), p. 309-314, maio/ago. 2015
Partindo da proposta epistemológica de Carlo Ginzburg (1989), no ensaio Sinais: raízes de um paradigma indiciário1, Thiago Borges de Aguiar procurou, em sua pesquisa, conhecer e interpretar a ação educativa de Jan Hus, pregador e importante intelectual, que viveu na Boêmia e morreu condenado pela inquisição em 1415. Ele procura os indícios de um educador, que esteve presente através de suas cartas. “Destas chegaram até nós cerca de uma centena, escritas no período de 1404 a 1415, com aproximadamente 80% em latim e o restante em tcheco” (AGUIAR, 2012, p. 39). Em que sentido essa documentação pode expressar a perspectiva educativa de Hus? É preciso ter em mente que a análise de fontes narrativas, como as cartas, sofre a interferência de nossos padrões conceituais, nem sempre compatíveis com a realidade em que foram concebidas. Presente, pois, esta ‘recomendação metodológica’, de aproximação com o passado medieval, dentro do que é possível ao pesquisador de hoje, o autor buscou por meio de dados, aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa, seguindo pistas que poderiam elucidar a rede de relações em que o clérigo boêmio estava inserido, e o discurso educativo presente em seus escritos.
A primeira edição da correspondência de J. Hus foi realizada no século XVI, pelo reformador Martinho Lutero, intitulada Epistola Quadam Piissima et Eruditissima Iohannis Hus. Outras edições foram publicadas seguidamente. Destas Aguiar trabalhou diretamente com duas: a que chamou Documenta, editada por Frantisek Palacký no século XIX, e a outra Korespondence, publicada em Praga em 1920 por Václav Novotný. Tanto o Documenta quanto a Korespondence possuem traduções para o inglês. Grande parte das cartas foi escrita na prisão, no período em que Hus esteve cativo na cidade de Constança. Como a publicação de Lutero foi a precursora da preservação da correspondência, é preciso considerar que parte delas pode ter sido perdida.
O autor analisa a forma de se escrever cartas no século XV, destacando que, nessa época, o manuscrito deixou de ser um objeto quase sagrado, tornando-se um veículo de transmissão do saber. Essa mudança foi notória a partir do século XII com a organização das universidades. Outra importante transformação narrativa foi o aumento significativo da escrita pessoal, privada. Em relação à correspondência hussita, partes dessas cartas também podem ser consideradas pastorais, endereçadas a uma comunidade específica, ou seja, aos praguenses, especialmente os que frequentavam a Capela de Belém, espaço de pregação e vivência direta do clérigo boêmio. Outra parte considerável, um total de 107, é constituída por cartas pessoais que esperavam por resposta. Nessas fontes, o autor procurou indícios de uma intenção educativa em Hus, pois ele correspondeu-se com todas as camadas sociais da época. “Hus era professor da Universidade de Praga e pregador da Capela de Belém. Esses dois lugares marcaram os espaços a partir dos quais ele participou de uma rede de relações, por meio da correspondência.” (AGUIAR, 2012, p. 97). Suas cartas são consideradas pelo autor como artifícios de ensino. Nelas teria a intenção de aconselhar; continuar seu trabalho intelectual; elaborar uma refutação às diversas acusações que lhe foram imputadas; defender a verdade; dar continuidade à sua tarefa pastoral. A produção escrita de J. Hus é imensa, incluindo, além das cartas, diversos sermões, textos devocionais e teológicos. Entre estes, o mais conhecido e discutido no âmbito acadêmico é o Tratado sobre a Igreja (Tractatus de Ecclesia). Nesse texto, afirmou que o pontífice não seria o chefe da Igreja Universal, motivo fulcral em sua condenação à morte como heresiarca, pelo Concílio de Constança no século XV. Uma característica de seus escritos é o uso da língua tcheca e não somente do latim. Devido a isso, sua produção também possui grande valor linguístico. Na busca pelo educador, o autor afirma que Hus realizou ação educativa por meio de sua produção escrita e de seus sermões. Em sua feroz oposição à Bulla indulgentiarum Pape Joannis XXIII, construiu parte de sua argumentação por intermédio de seus sermões na Capela de Belém, e de debates realizados na Universidade de Praga, o que lhe valeu, mais uma vez, a excomunhão2. Outra aproximação discursiva é com Paulo de Tarso. Assim como Paulo, Jan Hus educava por meio de cartas, escrevendo por estar distante. Nelas também afirmava que poderia morrer por defender a verdade, assim como Cristo o fizera. “Ele precisa escrever para pregar e defender seus princípios” (AGUIAR, 2012, p. 168). Parte importante da produção das cartas hussitas, segundo o autor, foram suas narrativas de viagem. Em agosto de 1414, o clérigo da Boêmia anunciou sua decisão de aceitar o convite do rei Venceslau e ir à Constança. Em seu trajeto, enviava cartas detalhadas sobre as cidades pelas quais passava, e a forma como era recebido. Com sua prisão em Constança, seu estilo de escrita sofreu alterações. Aguiar analisa, então, como os temas prisão e morte tornaram-se constantes em sua correspondência. Sua concepção de ensino adquiriu, ainda mais, um viés religioso. Ao escrever ao povo da Boêmia, enfatizava a importância da salvação e do louvor a Deus.
Thiago Aguiar oferece importante contribuição de cunho histórico, quando analisa as cartas enviadas a partir do dia 18 de junho de 1415, data da formulação final da sentença de morte na fogueira. “Neste período entre 18 de julho, quando recebeu a versão final de suas acusações, até 6 de junho, quando ocorreu seu julgamento, condenação e morte, encontramos vinte e cinco cartas escritas por Hus” (AGUIAR, 2012, p. 205). Nestas narrou pormenores de seu julgamento e a impossibilidade de defesa, criticou a desorganização do Concílio, a incompetência e fragilidade intelectual de seus adversários. Elas serviram também como possibilidade de se defender, já que não obteve em Constança espaço real para explicar seu pensamento, expresso em seus escritos. Essas fontes singulares revelam a memória de seus últimos dias e sua convicção de luta pelo que considerava verdade.
Na terceira parte do livro, o autor desenvolve o que chama de construção de um educador por seu legado. Neste âmbito, demonstra como aqueles que foram influenciados por Hus reelaboraram seu legado em diferentes épocas e contextos. Um dos primeiros biógrafos de Hus foi Petr de Mladoñovice, também responsável pela preservação de suas cartas. Mladoñovice foi seu aluno na Universidade de Praga, tendo sido escolhido pelo nobre Jan de Chlum, a quem Hus dirigiu parte de sua correspondência, para acompanhar o clérigo da Boêmia até Constança. Após a morte de Hus, tornou-se professor na Universidade de Praga, assumindo aos poucos papel de destaque entre os Utraquistas3. Seu relato sobre J. Hus é intitulado Historia de sanctissimo martyre Johanne Hus4, primeiramente publicado em Nuremberg em 1528, também por influência de Lutero. Como o próprio nome revela, essa narrativa foi fundamental na construção de Hus como mártir. O mártir defensor da verdade. “Preservar a memória e a verdade por meio do fiel registro do que aconteceu durante o Concílio de Constança foi uma intenção e pedido do próprio Hus” (AGUIAR, 2012, p. 248). Em suas cartas, sempre repetia que não era um herege, e sim um defensor do que era a verdade. Petr de Mladoñovice é o responsável pela divulgação do que a tradição diz que seriam as últimas palavras do mestre Hus: “Tem piedade de mim, ó Deus, eu me abrigo em ti” e “[…] em tuas mãos eu entrego meu espírito”. Uma clara analogia aos últimos momentos da crucificação de Cristo, narrada no evangelho de São Lucas.
A partir da página 274, Aguiar passa a construir o trajeto da expansão da memória de Hus além de sua terra natal, ou seja, a Boêmia. Mesmo com as cinco cruzadas enviadas a essa região, após a eleição do papa Martinho V em 1418, a memória da vida e do sacrifício de Hus, e de seu companheiro e principal discípulo Jerônimo de Praga, também condenado à morte na fogueira em Constança, não parou de crescer. A igreja da Morávia, de influência hussita, é resultado do grupo conhecido como União dos Irmãos. Jan Amós Comenius (1592-1670), destacado educador, foi um de seus mais famosos bispos.
Sem dúvida, o mais importante divulgador do legado de Hus foi Martinho Lutero (1483-1546). Leitor dos escritos hussitas, ele o considerava um verdadeiro cristão. Foi, como já afirmado, o primeiro a publicar suas cartas. Essa divulgação da memória escrita de Hus ocorreu justamente na época do Concílio de Trento (1545-1563), claramente como uma advertência contra a injustiça. Os elogios de Lutero a Hus elaboraram, ao longo do tempo, outra imagem desse personagem, para além de mártir e defensor da verdade: a de precursor do protestantismo, ao lado de John Wycliffe (1328-1384). Lutero afirmou, no prefácio à segunda edição das cartas, que se Hus tivesse sido um herege, ninguém sob o sol poderia ser visto como verdadeiro cristão. Outro escritor protestante que contribuiu para a rememoração de Hus, como precursor reformista, foi John Foxe, que viveu na Inglaterra ainda no século XVI. Aguiar analisa a importância desse autor, entre outros, na introdução do pensamento hussita entre os protestantes. Foxe foi um dos primeiros a traduzir para o inglês os primeiros escritos sobre Hus, sendo também autor do Livro dos Mártires.
Na discussão sobre as traduções da obra de Hus, o autor diz que “[…] cada nova publicação das cartas de Hus é uma nova leitura, acrescentando interpretações e propondo mudanças na compreensão desta correspondência” (AGUIAR, 2012, p. 288). Na França, destaca a figura de Émile de Bonnechose (1801-1875), que publicou, em sua época, dois importantes livros sobre Hus. Entre eles, a biografia intitulada “Os Reformadores Antes da Reforma: Século XV”. Nessa obra, aparece uma nova imagem dos hussitas, como defensores da liberdade de consciência. O contexto da França revolucionária e anticatólica foi fundamental nessa nova reelaboração. Outra contribuição de Thiago Aguiar foi a apresentação de grande parte da historiografia tcheca sobre a reforma na Boêmia. Para ele, “[…] existiram muitos Hus, dependendo da época que se escreveu sobre ele” (AGUIAR, 2012, p. 301). As fontes são as mesmas, mas cada historiador reconstruiu o próprio personagem.
Outro destaque é o uso da figura de Hus como símbolo nacional, representação identitária para o povo tcheco. O nacionalismo do século XIX e a luta pelo fim da anexação ao Império Austro-Húngaro contribuíram para a rememoração do legado desse personagem. As várias mudanças políticas no mapa da região, a criação da Tchecoslováquia e da futura República Tcheca buscaram também em J. Hus uma simbologia, revelando a longa duração do imaginário sobre ele. Essa busca pelo Hus histórico o recriou através de um discurso laudatório e até apologético. Em relação à área da educação, ele também foi visto como o educador da nação tcheca. Outro viés do legado do clérigo da Boêmia foi a construção de sua primeira estátua em 1869 e de seu memorial em 1915. Por fim, o autor procura, no legado imagético de Hus, sua herança cultural. Dividindo a análise em rostos e cenas, Aguiar faz uma rápida discussão sobre algumas representações escultóricas, desenhos, gravuras e imagens construídas desde a idade média. Entre elas, destacou as de mártir, santo, intelectual pregador e defensor da verdade. Percebe-se a inter-relação da narrativa escrita com a imagética. De que maneira Hus é lembrado nos dias de hoje? É importante sua contribuição na área da educação?
Como um personagem é uma construção contemporânea, o livro em análise pode ser visto como um novo olhar, uma nova leitura sobre o clérigo da Boêmia, garantindo uma contribuição da historiografia brasileira, por meio de Thiago Aguiar, na rememoração e reconstrução discursiva de Hus, um indício de seu legado imortal.
Notas
1GINZBURG, C. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
2O papa enviou a sentença de excomunhão maior, que foi tornada pública em 18 de outubro de 1412.
3 Utraquistas é um dos nomes atribuídos ao grupo dos Hussitas, posteriores à morte de Jan Huss, que defendiam o oferecimento da comunhão com o pão e com o vinho (sub utraque specie) também para os
leigos. O utraquismo foi condenado como heresia pelos Concílios de Constança, Basiléia e Trento (AGUIAR, 2012, p. 245).
4 O relato de Petr foi publicado na Boêmia apenas em 1869 por Palacký, sendo posteriormente revisto, a partir de novas fontes, em 1932 por Novotný. Esta última edição é base para a tradução de Matthew Spinka em 1965. Essa versão é a que foi utilizada pelo autor (AGUIAR, 2012).
Renata Cristina de Sousa Nascimento – Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Participante do NEMED (Núcleo de Estudos Mediterrânicos – UFPR). Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Mestrado em História). E-mail: [email protected]
Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur – ÁGUILA; ALONSO (VH)
ÁGUILA, Gabriela; ALONSO, Luciano (Coord). Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2013. 300 p. GONÇALVES, Marcos. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 56, Mai./ Ago. 2015.
Quais as correspondências possíveis entre o regime franquista (1939-1975) e as ditaduras militares instaladas ao sul do nosso continente a partir da década de 1960? Existem categorias de análise comuns que podem constituir-se em grade de interpretação sistêmica desses objetos? Estas são duas das indagações que atravessam os ensaios reunidos na coletânea “Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur”, coordenada por Gabriela Águila, professora de História Latino-americana da Universidad de Rosário, e Luciano Alonso, catedrático de História e Teoria Social da Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe/Argentina).
Desde o Prólogo a obra sinaliza para a complexidade de tais questões, não apenas pela evidência prévia das distâncias cronológicas e geográficas, mas igualmente pelas origens políticas e culturais distintas dos conflitos sociais que fizeram emergir esse conjunto de regimes. A este duplo aspecto são aditados os desdobramentos díspares quanto aos processos da experiência repressiva e transição democrática vivenciados pelas sociedades respectivas.
No entanto, as assimetrias passam a significar um fator de menos densidade quando a elas são aplicados modelos de compreensão que se afastam das definições normativas e rígidas, atribuindo a essa obra coletiva unidade metodológica, coerência teórica e pluralidade documental. A coletânea reúne contribuições de historiadores e estudiosos das ciências sociais de países como Espanha, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai cuja especialidade na temática núcleo – a ditadura repressiva como síntese sociopolítica dessas sociedades no século XX, e as consequentes sequelas herdadas – convida a revisitar subtemáticas alicerçadas ao núcleo. As categorias chaves de análise são o sistema repressivo engendrado pelos regimes; as coalizões de violência formadas por diversos níveis organizacionais e hierárquicos; as atitudes sociais que conformaram extensas redes de relacionamentos situadas entre o consenso e a resistência; o exílio como símbolo primordial do desterro.
A obra conta com a reedição de um clássico artigo escrito por Julio Aróstegui e publicado em dezembro de 1996, no Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne. Atual e robusto pelas inquietações que suscita, “Opresión y pseudojuricidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo,” (p.23-40) funciona como o fundamento metodológico para o agrupamento de ensaios que problematizam o papel das ditaduras de ambos os lados do Atlântico. No texto, Aróstegui advoga a necessidade de superação de tipologias dependentes da casuística politológica, para que sejam reconsiderados, efetivamente, os estatutos histórico e historiográfico da questão.
Em outras palavras, para Aróstegui, partindo do problema espanhol, a análise do sentido histórico de um regime não pode estar encoberta pela sua significação; ou, as interrogações não devem ser lançadas aos referentes do objeto numa categoria dada a prioriou circunscrita em definições formais de regimes políticos segundo critérios já estabelecidos. (p.25) Aróstegui reivindica uma “suficiente empiria” propiciada pela análise histórica que desconstrua as estratégias argumentativas da ciência política e da sociologia em interpretarem como “fascista”, “sin apelación, a un régimen [franquismo] que jamás se llamó a sí mismo tal cosa. Y lo mismo cabría decir de sus calificaciones como “autoritarismo” – con o sin “pluralismo limitado” -, “bonapartista” o “dictatorial.” (p.28)
Tendo em vista esses postulados teóricos, abrem-se para os autores da coletânea questões em série, todas elas proporcionadas, claro está, pela legitimação heurística e prática cotidiana que foram atribuídas aos regimes por si mesmos. De modo que as possibilidades de comparação não frutificam somente entre os regimes que tiveram certa proximidade geográfica e cultural; mas existem razões que justificam “comparaciones ampliadas”. Tais casos comparativos aparecem na reflexão de Luciano Alonso (p.43-68) e Daniel Lvovich, (p.123-146) ao ponderarem sobre os marcos gerais de uma época; as estruturas sociais e instituições políticas; os vínculos internacionais; e, principalmente; as mútuas influências e características ideológicas, fatores suficientemente capazes de romper barreiras temporais, culturais e geográficas assumindo certo caráter de permanência e densidade histórica, e tornando factíveis as comparações ampliadas, assim como, as devidas diferenciações entre os grupos políticos.
Não obstante, a grade de interpretação sistêmica mais recorrente da obra coletiva é instaurada pela noção de “dimensão repressiva” como aquilo que parece representar ou definir a natureza dos regimes políticos. Coerentes a essa noção, autores como Jorge Marco mergulham nos sistemas de “limpeza política” na Espanha franquista que levaram a assassinatos extrajudiciais. (p.69-96) Como reforço do argumento comparativo, esta prática em muito encontra parentescos com o que viria a ocorrer mais tarde em países como a Argentina, com a lógica de “desaparición” e Chile com os “assassinatos públicos” que inauguraram a ditadura pinochetista. Os dois países são analisados respectivamente por Gabriela Águila, no texto “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales,” (p.97-121) ou Igor Goicovic Donoso que em “Terrorismo de Estado y resistencia armada en Chile,” (p.245-270) desbasta a radicalização profunda da sociedade chilena com a chegada do socialista Allende ao poder, acompanhada do inconformismo de uma sociedade tradicional e na qual as Forças Armadas gozavam de imenso prestígio. Donoso destaca que, obstinadas pela ideia de uma “refundação” da sociedade chilena, as Forças Armadas recorreram à repressão como principal mecanismo de controle social: “La represión política fue, por lo tanto, una condición imprescindible para garantizar el éxito del proceso refundacional y un elemento clave para anular la relación entre izquierda política y movimiento popular.” (p.245)
A coletânea ainda conta com artigos sobre os sistemas repressivos do Brasil, a cargo de Samantha Quadrat, e Uruguai, com um ensaio escrito por Carlos Demasi. Enquanto Quadrat problematiza as cadeias de comando repressivo e as variantes de violência política; Demasi debate as ambíguas formas de coexistência entre a sociedade uruguaia e a ditadura.
Tal obra coletiva é especialmente recomendada aos estudiosos (professores e alunos de pós-graduação) da história política recente da América Latina, bem como, aos pesquisadores preocupados com a dimensão transnacional e de cruzamentos da cultura política hispanoamericana. Fundamentada em sólida metodologia e original emprego de documentação (sob a ótica de atribuir voz própria aos regimes políticos), a conjugação das variadas facetas assumidas pelos sistemas repressivos em pauta na coletânea pode subsidiar, como marco historiográfico comparativo uma série auspiciosa de objetos de estudos: o funcionamento dos sistemas penitenciários, as resistências armadas ou pacíficas, as funções representacionais e legitimadoras das ditaduras, os posicionamentos dos distintos agentes frente à dominação ditatorial, ou ainda, a autonomia adquirida pelo sistema repressivo nos âmbitos regionalizados.
Marcos Gonçalves – Departamento de História. Universidade Federal do Paraná. Rua General Carneiro, 460, 6º andar, Ed. D. Pedro I, Curitiba, PR, 80.060-150. [email protected].
Immigrants a les escoles – DEUSDAD (I-DCSGH)
DEUSDAD, Blanca. Immigrants a les escoles. Resenha de: BELLATI, Ilaria. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.79, abr., 2015.
Con Immigrants a les escoles, Blanca Deusdad, doctora en sociología y docente en la Universidad Rovira i Virgili, ha ganado en 2008 el décimo segundo premio Batec a la investigación e innovación educativas. Las conclusiones y reflexiones de este libro son el fruto de un trabajo acerca de los efectos del aumento de la población extranjera en la sociedad catalana y sus consecuencias en las aulas escolares. Leia Mais
The Rock Basins of Serra do Cume: Azores megalithic rocks and enigmatic inscriptions rearrange the old Atlantic geography / Maria Antonieta Costa
A formação vulcânica do arquipélago dos Açores apresenta uma admirável variedade de litologias (composições rochosas) com propriedades mineralógicas interessantes – assim começa o Abstract introdutório do livro. E continua: no que respeita à formação geológica da ilha Terceira encontram-se presentes quantidades notáveis de sílica, elemento que parece ser fundamental também na composição das construções megalíticas do continente europeu. Seja ou não uma coincidência esse fato dá a impressão de ser ele a razão explicativa segundo a qual os indícios (sinais) encontrados na ilha Terceira, tais como marcas em forma de cortes e de taças, construções megalíticas, “inscrições”, sugerindo que intercâmbios semelhantes entre seres humanos e seu ambiente, que se sabe ocorrerem no continente, podem surgir em lugares mais improváveis, como no meio do Oceano Atlântico. A escolha de tais rochas para construir as ocorrências descritas também implica a existência de um “plano” anterior à sua implantação.
Até aqui o Abstract. O projeto desta investigação faz parte das atividades da Autora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde atua em estágio de pós-doutorado, e onde conta com o apoio da Professora Doutora Alice Duarte, tutora do projeto. Embora a presença de formações rochosas de configuração incomum, e em grande quantidade, desde longa data tenha despertado a atenção de moradores e visitantes da ilha Terceira nunca um estudo sistemático fora empreendido, até que Maria Antonieta Costa, pesquisadora de História da Cultura, resolveu dedicar-se ao tema. Para levar a cabo uma investigação detalhada, cuidadosa, e em larga escala, ela convidou geólogos e arqueólogos, e pesquisadores de áreas afins, e com eles fez o levantamento completo de todo o conjunto. Uma vez que não se encontraram (ainda) vestígios de ocupação humana anteriores à presença portuguesa a atenção voltou-se para definir a sua maior probabilidade através de dois caminhos: comparação com sítios arqueológicos similares em outros locais da Europa (quase todos na Escandinávia), e a análise/interpretação do conjunto em termos de Antropologia do Espaço, ou Antropologia da paisagem cultural. Segundo este ponto de vista certas configurações do ambiente natural (flora, geologia) oferecem à observação um potencial de imaginário cultural que atraem a presença humana, ou, quando menos, a suspeita fundamentada dessa presença.
Uma das questões mais destacadas pela autora é a forte presença de sílica na composição rochosa da Serra do Cume: essa presença não existe em outros locais dos Açores, mas é conhecida em rochas de outros lugares do mundo, onde as propriedades “mágicas” (curativas) da sílica fazem as populações atribuir poderes sobrenaturais às formações rochosas. Há ainda outros aspectos (sinais) destacados no texto e muitos deles fotografados: os riscos e sulcos nas rochas, as formações que lembram animais, ou humanos, as construções de pedras sobrepostas em muros, as taças aparentemente esculpidas na pedra, e o conjunto todo dessas rochas, algumas das quais dificilmente se podem imaginar sem a ação humana, que parece demonstrar uma intencionalidade na sua disposição.
Redigindo a conclusão do livro (agosto de 2014) a Autora afirma que as taças na rocha (rock basins), que foram o pretexto inicial para conduzir a pesquisa, passaram a segundo plano perante a importância que entretanto se revelou no conjunto. Ao preparar uma nova etapa da pesquisa, com o apoio de mais especialistas, e ampliando o campo de ação, Costa já estava também iniciando outras abordagens e consolidações do projeto: o convite a antropólogos europeus para visitarem a Serra do Cume, e a publicação de crônicas em jornais locais – em ambos os casos com a intenção de captar a atenção e o interesse do público, estudiosos, e autoridades, e garantir meios de investigação e credibilidade aos seus resultados.
Sir Barry Cunliffe, professor em Oxford, é um dos antropólogos europeus mais respeitados da atualidade;nos últimos anos ele vem defendendo a hipótese da existência de uma cultura megalítica atlântica muito anterior (nove mil anos a.C.) à suposta “chegada” dos celtas ao extremo ocidente europeu. Pelo contrário, segundo ele – no que é secundado, senão antecipado, por investigadores espanhóis como Ramon Sainero – teria sido nesse extremo ocidente que se teria originado a cultura depois conhecida como celta. Não é pois de admirar que Sir Barry Cunliffe atendesse prontamente o convite, visitasse a Serra do Cume, e no dia 15 de outubro de 2014, ao proferir palestra na Câmara de Vereadores de Angra do Heroísmo (Terceira) se mostrasse muito favorável à continuação das pesquisas. Além disso indicou o antropólogo George Nash para também ele visitar a ilha Terceira, o que o professor britânico aceitou, permanecendo na ilha de 15 a 25 de fevereiro de 2015, e apresentando relatório com suas conclusões.
George Nash percorreu os locais e observou as evidências rochosas mais destacadas: grutas, petroglifos, muros de pedra, rochas zoomórficas, sulcos nas lajes do solo, e concluiu que há possibilidade de serem sinais de ação humana. Constatou, porém, que não há nenhuma prova concreta da presença humanas na ilha anterior aos europeus (portugueses e flamengos); e que o pote de moedas fenícias e cartaginesas encontrado na ilha do Corvo (distante da Terceira) em 1749 só por si não garante que os fenícios tenham visitado as ilhas – as moedas podem ter sido um trote, colocado lá intencionalmente. Por isso ele recomenda que se realize um amplo projeto paleoambiental, procurando, por exemplo, sinais de pólen exótico, ou indícios de corte de floresta; mas aceita a viabilidade de resultados positivos, ao concluir pelo seu engajamento nesse futuro projeto.
As crônicas, onde a autora traduz e detalha diversos aspetos do livro, foram iniciadas no final de novembro de 2014, e no início de abril de 2015 somavam 17 textos publicados, quase todos de cerca de uma página, e sempre com o mesmo título: “Crónicas de uma causa mal-amada” – mal amada porque tem sido rejeitada, ou pelo menos desconsiderada pelo público açoriano. Pelos moradores, que dizem: “Quem gostaria de vir de longe, ver pedras?” (Crónica 9); pelas autoridades, particularmente do Geoparque dos Açores, que se mostram “relutantes” e mesmo “irredutíveis” a propor a candidatura do local investigado para ser classificado de forma diferenciada (Crónica 10); e pelos especialistas, nomeadamente arqueólogos, que têm sido “cegos” (Crónica 11) para as evidências que contrariam a história oficial: a de que o arquipélago era desabitado e não tinha recebido presença humana antes da chegada dos portugueses. Mas, tanto as crônicas como o livro destacam a colaboração que a A. tem recebido de profissionais e especialistas, não só no levantamento completo do sítio (mapas, fotografias, descrições) como na análise e interpretação de alguns aspetos e no seu enquadramento teórico mais amplo. Contudo essas colaborações voluntárias, e os esforços da autora – apresentando-se em congressos, fazendo palestras, e seriados na televisão – não alcançaram ainda um objetivo fundamental do projeto: o de ter aprovada a realização de uma pesquisa arqueológica profunda e vasta, e com ela o reconhecimento da importância do sítio pelas autoridades e público interessados. É notável, porém, que uma obra composta numa ilha no meio do Atlântico, com pouco mais de cinqüenta páginas de texto, e 90 fotografias, tenha despertado a atenção de uma editora alemã e o interesse de dois importantes antropólogos europeus. Há nele certamente mais do que uma ingênua curiosidade, duas qualidades que fazem de Maria Antonieta uma descobridora de mundos novos, ou de novas maneiras de ver o mundo.
João Lupi – Docente do Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: [email protected].
COSTA, Maria Antonieta. The Rock Basins of Serra do Cume: Azores megalithic rocks and enigmatic inscriptions rearrange the old Atlantic geography. Saarbrücken: LAP/Lambert Publ., 2014, 73p. Resenha de: Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luis, v.15, n.2, 2015. Acessar publicação original. [IF]
O “Grande Norte”: interações, relações e conflitos na Europa Setentrional Medieval / Brathair / 2015
Grande Norte: Interações – Relações – Conflitos na Europa Setentrional Medieval / Brathair / 2015
É inegável o enorme crescimento, tanto quantitativo quanto qualitativo, das pesquisas brasileiras focadas no Medievo nas últimas duas décadas. É mesmo empolgante testemunhar e participar ativamente deste movimento: graduandos, pós-graduandos e titulados de, praticamente, todas as unidades da federação desenvolvem pesquisas sobre a Idade Média, situação que levou à constituição e multiplicação de Grupos, Núcleos e Laboratórios de pesquisa na área o que, por um lado, é muito salutar ao criar estruturas de pesquisa e orientação, facilitando, em teoria, a difusão dos estudos.
Por outro lado, em termos negativos, houve a constituição de um fenômeno de “isolamento” das pesquisas, com a maior parte dos grupos privilegiando explícita ou implicitamente recortes cada vez menores em suas circunscrições espaço-temporais, tratando-os como ilhas distantes de outros contextos vividos pelas mesmas populações em temporalidades diferentes e pouco considerando as relações matizadas por todos os tipos de interações com outras culturas (próximas ou distantes).
Essas abordagens exclusivistas também trazem em si a ameaça da formação de nichos particulares (verdadeiras “reservas de mercado”), em evidente contramão ao movimento de expansão das pesquisas, além dos cerceamentos (muitas vezes extremos e afastados da racionalidade) na escolha do objeto a ser estudado por neófitos na área. Todos sabem que o conhecimento científico só se constrói com projetos estruturados, circulação e debates construtivos, ou seja, em última instância, através da colaboração.
Assim, propomos uma abordagem mais ampla na confecção de nosso dossiê, que denominamos como perspectiva “hiperbórea”, inspirada na Hiperbórea, o além-norte dos gregos. O uso é proposital, uma vez que há uma tradição regional neste sentido: muitos eruditos tentaram encontrar as origens da humanidade e / ou da cultura greco-romana no Norte Europeu, ou ao menos tentaram equiparar o legado nórdico aos vizinhos meridionais e incluir sua importância na História do mundo. Tal tendência, denominada “Escola Hiperbórica”, foi fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento do Goticismo na Suécia (Bandle et alii, 2002: 358).
Os problemas destas leituras, porém, já foram amplamente denunciados; Assim, aproveitaremos o termo, mas, diferente dos nossos predecessores, propomos um olhar relacional, ou seja, pautado no estudo de interações, relações e conflitos na Europa Setentrional sem buscar origens, aclamar superioridade de raças, culturas, nações ou nacionalismos. Para nós, este complexo espacial abrigou inúmeras culturas e hibridismos culturais, problemas mais relevantes que discussões particularistas e ultrapassadas.
No bojo da questão, Kilbride condenou termos como “sincretismo” e “hibridismo” porque eles pressupõem um compromisso entre dois estados básicos (neste caso, cristianismo e paganismo) e negam a fluidez entre os dois (2000: 8). Porém, Aleksander Pluskowski e Philippa Patrick revalidaram o termo “hibridismo” sobre outras bases, i.e., para se referir a qualquer situação intermediária entre os dois paradigmas contrastantes, sem ignorar, contudo, as variedades de paradigmas “pagãos” e “cristãos” identificáveis a partir da cultura material (2003: 30-31).
Seria possível aplicar o mesmo instrumental para a Europa Setentrional: apenas nas ilhas Britânicas teríamos a Hiberno-latina, a Hiberno-escandinava, a Anglo-latina, a Anglo-escandinava, a Anglo-normanda, a Anglo-manx, dentre outras igualmente importantes, revelando uma realidade tão fértil quanto as interações que transformaram o Mediterrâneo em um cadinho civilizacional por excelência. Trata-se de uma proposta inclusiva que não refuta as abordagens exclusivistas, mas que conclama à sua integração frente às perspectivas mais amplas, que prometem trazer frutos que poderão impulsionar o futuro de muitos ramos da Medievística brasileira.
Portanto, é com imenso prazer que trazemos a lume o novo número da já tradicional revista Brathair, incluindo algumas novidades em sua programação visual. Sem mais delongas, este número apresenta em seu dossiê os seguintes artigos: de Michael J. Kelly (doutor pela Universidade de Leeds) nos cedeu a publicação em Língua Portuguesa de sua conferência (ministrada da USP dia 05 / 10 / 2015) “Quem lê Pierre Pithou?: O impacto da Renascença francesa na história Visigótica e nas modernas representações do passado medieval inicial”. Lukas Gabriel Grzybowski (doutor pela Universidade de Hamburgo) com “Virtudes e política: Bernardo de Clairvaux e Otto de Freising sobre temperantia e moderatio”, André Szczawlinska Muceniecks (Doutor pela Universidade de São Paulo) com “Ritos de passagem na Ọrvar-Odds Saga – o caso do Homem-Casca” e Isabela Dias de Albuquerque (Doutoranda pelo PPGHC – UFRJ) com “O Massacre do Dia de São Brício (1002) e o reinado de Æthelred II (978-1016): uma introdução a novas possibilidades de análise sobre as relações identitárias na Inglaterra anglo-escandinava”.
A seção de artigos livres conta com os textos de Juan Antonio López Férez (Los celtas en las Vidas de Plutarco, Benito Márquez Castro (Los Hérulos en la Crónica del obispo Hidacio de Aquae Flaviae, mediados de s.V), Dominique Santos & Leonardo Alves Correa (Peregrinatio et Penitentia no livro I da Vita Columbae de Adomnán, séc. VII), Ana Rita Martins (Morgan le Fay: The Inheritance of the Goddess) e Solange Pereira Oliveira (Valores e crenças no mundo pós-morte nos relatos de viagens imaginárias medievais). Finalmente, contamos também com a resenha de José Pereira da Silva, acerca da obra A Fraseologia Medieval Latina, de autoria de Álvaro Alfredo Bragança Júnior.
No texto de Kelly, o autor começou a esboçar a influência de Pierre Pithou sobre o passado medieval visigodo. A ideia do artigo é rever as bases do pensamento moderno sobre a Idade Média, no intuito de entender como o conhecimento desse recorte temporal foi forjado. Esse impacto pode ser sentido não só na historiografia da época, mas também nas leituras contemporâneas e no método empregado pelos historiadores atualmente.
No texto de Muceniecks é possível notar a utilização de uma “saga legendária” e das descrições de regiões míticas como pano de fundo para a constituição de espaços liminares e ritos de passagem no Leste europeu medieval. Albuquerque, no extremo oposto, usou o famoso Massacre do Dia de são Brício (1002) e a organização espacial nas ilhas como parâmetro de observação das relações entre saxões e escandinavos na Inglaterra.
Grzybowski, por sua vez, usou Bernardo de Clairvaux e Otto de Freising como pontos de vista sobre as discussões acerca das virtudes políticas e o exercício político ideal. A análise das epístolas, gênero específico, demonstrou como as condições da época e a experiência monacal ajudaram a moldar as conclusões sobre a política no século XII.
O artigo de Santos & Correa desnudou os conceitos de peregrinação e penitência à luz das concepções usadas durante a Early Christian Ireland. Os autores usaram o primeiro livro da Vita Columbae de Adomnán de Iona (séc. VII) para retomar as condições de peregrinação no contexto irlandês e, nestes termos, recobrar o sistema teológico construído pelo autor da Vida de Columbano.
No texto de Martins, nota-se a preocupação com personagens do mito arturiano e as associações ora benignas, ora malignas, conforme o gênero do personagem. Com o incremento do cristianismo na Matéria da Bretanha, a mágica e as mulheres foram ligadas e formaram um amálgama de teor negativo. Nestes termos, Morgana poderia estar conectada com uma deusa “céltica” ou com a demonização pura e simples de deuses pagãos, tidos como aliados de Satã.
Solange Pereira Oliveira ofereceu ainda um arguto olhar sobre as crenças post morteem nos relatos de viagens imaginárias da Idade Média, que serviam, entre outros fatores, como guias de ensinamentos religiosos e mecanismos evangelizadores dos homens da Igreja; Juan Antonio López Férez, por fim, partiu das Vidas de Plutarco para comentar as diferentes referências aos celtas neste texto, com amplas traduções para a língua espanhola.
Brindamos nossos leitores com essas referências e aguardamos um crescimento ainda maior das produções voltadas para o Setentrião europeu medieval, sobretudo das próximas gerações de pesquisadores.
Referências
BANDLE et alii. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol.1. Berlin: Walter de Gruyter, 2002.
KILBRIDE, William G. Why I feel cheated by the term ‘Christianisation’. Archaeological Review from Cambridge, v. 7, n. 2, pp. 1-17, 2000.
PLUSKOWSKI, Aleksander & PATRICK, Philippa. ‘How do you pray to God?’ Fragmentation and Variety in Early Medieval Christianity In: CARVER, Martin (Ed.). The Cross Goes North: Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300-1300. Woodbrigde: Boydell, 2002, pp. 29-57.
Vinicius Cesar Dreger de Araujo – Professor de História na Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). E-mail: [email protected]
Renan Marques Birro – Professor de História na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). E-mail: [email protected]
Elton O. S. Medeiros – Professor de História na Faculdade Sumaré (SP). E-mail: [email protected]
ARAUJO, Vinicius Cesar Dreger de; BIRRO, Renan Marques; MEDEIROS, Elton O. S. Editorial. Brathair, São Luís, v.15, n.1, 2015. Acessar publicação original [DR]
El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporâneas de la Guerra Civil – FERRANDIZ (RCA)
FERRANDIZ, Francisco. El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporâneas de la Guerra Civil. Barcelona: Editorial Anthropos, 2014. 331p. Resenha de: GONZALEZ-RUIBAL, Alfredo. Revista Chilena de Antropología, n.31, p.125-126, ene./jun., 2015.
Uno de los fenómenos sociales y políticos más importantes de las últimas décadas en España es el de las exhumaciones de víctimas de la represión política de la Guerra Civil y la dictadura de Franco (1936-1975). El fenómeno es similar a otros que están teniendo lugar en el mundo, dentro del marco de la justicia universal o transicional, desde Argentina a Timor Oriental. Al mismo tiempo, es único, porque afecta a un pasado ya no tan reciente: las exhumaciones científicas comenzaron 64 años después del inicio del conflicto. Desde entonces y hasta el año 2014 se han desenterrado los cuerpos de unos 6.700 individuos –un pequeño porcentaje de las 135.000 víctimas de la violencia derechista.
Francisco Ferrándiz es un antropólogo social del CSIC (España) con una larga experiencia en el estudio de la violencia social. El presente libro es el resultado de más de una década de investigación etnográfica sobre el fenómeno de la denominada “recuperación de la memoria histórica” en España.
Pese a que se trata de una recopilación de artículos, los trabajos han sido editados para el presente volumen y forman una unidad muy coherente. Es más, se podría decir que estaban pidiendo este tratamiento integral: leídos ahora en conjunto permiten al lector entender la evolución del fenómeno de las exhumaciones desde el año 2000.
El libro cuenta con una larga introducción, seis capítulos y un epílogo. La introducción ofrece una visión general del fenómeno en su contexto internacional y de la etnografía de las exhumaciones y presenta un par de conceptos de gran interés: subtierro y autopsia social. Ambos tienen que ver con la tensión entre la ocultación y el desvelamiento públicos, que ha guiado la vida social de los cadáveres desde 1936 a nuestros días y que en cierta manera articula el libro. En la introducción descubrimos ya la capacidad del autor tanto para proponer nuevos conceptos como para aplicar y desarrollar conceptos prestados: comunidades de muerte, vida social de los derechos, contrapúblicos transnacionales, desaprendizaje, vidas de ultratumba, fragilidad corpórea.
El capítulo I, “La memoria de los vencidos”, se centra en el fenómeno del desvelamiento al comienzo de la andadura de la memoria histórica: ¿cómo se ha producido la irrupción de los “fantasmas” que asoman “por las costuras de la democracia”? Ferrándiz pasa revista a las distintas formas, a veces contrapuestas, en que se ha posibilitado y gestionado la aparición de estos fantasmas por parte de asociaciones, instituciones públicas y medios de comunicación.
El capítulo II, “Exhumaciones y exilios”, se estructura a través de un caso paradigmático: la exhumación de la fosa de Valdediós (Asturias), que ocultaba sobre todo cadáveres de mujeres. El título del capítulo hace mención a las dislocaciones provocados tanto por los asesinatos como por la reaparición de las víctimas. La protagonista es la hija de uno de los asesinados, que las vicisitudes de la guerra lleva a un largo exilio. El subtierro, pues, produce un destierro. La exhumación (el desentierro) sirve a su vez de puente para unir los dos mundos separados por la violencia, así como para articular relatos del trauma.
El capítulo III, “Gritos y Susurros”, continúa la exploración de los relatos de la violencia exhumada. En este caso, el hilo conductor es la excavación de la fosa de Villamayor de los Montes (Burgos). El autor nos hace ver cómo, paradójicamente, la fosa común pasa de ser un espacio de terror silencioso a convertirse en una “zona de seguridad” que favorece la emergencia de relatos silenciados.
El capítulo IV, “Paisajes del terror”, es una descripción diacrónica del fenómeno de las exhumaciones, desde la inmediata posguerra hasta la actualidad. El fenómeno desencadenado desde el año 2000 ha relegado al olvido a sus numerosos precedentes: desde la propia “memoria histórica” franquista, en la que el aparato del nuevo Estado dictatorial se volcó en recuperar y honrar a sus víctimas (unas 50.000), hasta las exhumaciones de la transición democrática realizadas por familiares, sin apoyo de ningún tipo y sin asesoría técnica.
Finalmente, el último ciclo de exhumación, si bien ha sido de carácter científico, solo ha contado con ambiguo apoyo estatal durante un breve período. La desigual historia de las exhumaciones pone de manifiesto claramente la persistente injusticia cometida contra los derrotados.
De justicia trata, precisamente, el capítulo V, “De las fosas a los derechos humanos”, que enmarca el fenómeno español dentro del contexto general de la justicia universal. Especialmente interesante, en este caso, es la importación de categorías que estudia Ferrándiz desde otros contextos y muy particularmente la de “desaparecidos”, de origen argentino. La idea es insertar el proceso español dentro de la persecución de crímenes no prescriptibles de lesa humanidad.
El último capítulo hacer referencia a un tipo de exhumaciones bien distintas: las que permitieron crear el gran osario del Valle de los Caídos. Este monumento megalómano fue ideado en 1940 para honrar a los caídos del bando vencedor, así como mausoleo para Franco. Para el tiempo de la inauguración del monumento en 1959, la retórica había cambiado y se quiso dar una imagen de reconciliación trayendo algunos restos de soldados del otro bando. Ello llevó a realizar exhumaciones de fosas de represaliados republicanos sin ningún método y sin consentimiento de los familiares. En la actualidad, muchas familias quieren recuperar los restos de los suyos. Ferrándiz examina aquí esta y otras polémicas que rodean la persistencia discrónica de un monumento fascista en un Estado democrático. Lo hace, además, con el conocimiento de causa de haber sido miembro de una comisión encargada de evaluar y sugerir una solución para el Valle—y cuyos consejos no han tenido efecto real.
El libro, en suma, es del mayor interés para todos los interesados en la relación entre política, pasados conflictivos, antropología y arqueología.
Ferrándiz demuestra con esta obra que es la voz más autorizada y quizá la más original en el estudio etnográfico de las exhumaciones, un tema sobre el que contamos ya con un nutrido número de publicaciones. Los lectores de América Latina, en particular, encontraran muchos puntos del mayor interés, tanto por la contextualización internacional, que permite trazar paralelos entre España y los estados posdictatoriales americanos, como por el impresionante aparato conceptual, que sirve para repensar las memorias colectivas marcadas por la violencia política contemporánea.
Alfredo Gonzalez-Ruibal – Instituto de Ciencias del Patrimonio, CSIC, Espana, alfredo. E-mail: [email protected].
[IF]
A noção de propaganda e sua aplicação nos estudos clássicos. O caso dos imperadores romanos Septímio Severo e Caracal | Ana T. M. Gonçalves
Ana Teresa Marques Gonçalves é natural do Rio de Janeiro, cidade na qual nasceu em 1969. É graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em História Social e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, é professora associada de História Antiga e Medieval na Universidade Federal de Goiás (UFG) e uma das mais importantes historiadoras e pesquisadoras acerca do período Severiano (II e III d.C.).
O livro, publicado em 2013 e composto por três capítulos, além da apresentação da obra, do prefácio, escrito pelo Prof. Dr. Norberto Luiz Guarinello e das considerações finais, tem por título “A noção de propaganda e sua aplicação nos estudos clássicos. O caso dos imperadores romanos Septímio Severo e Caracala”, e resulta da tese de doutoramento, pela USP, em História Econômica da referida autora. Ela busca mostrar, aos interessados na área de História Antiga e aos que desejam se deleitar com uma leitura objetiva e explicativa no que tange à História da Roma dos séculos II e III d.C., mais especificamente, como se deu o processo de afirmação dos dois primeiros imperadores Severianos (Septímio e seu filho, Caracala). Leia Mais
O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime | José Damião Rodrigues
O livro deriva de um evento homônimo de 2010, ocorrido no Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, Portugal, organizado pelo Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), com apoio da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Boa parte das apresentações se converteu em artigos para a publicação de 2012, havendo o acréscimo de apenas um autor não relacionado na programação original do colóquio.
O organizador e autor de um dos artigos, José Damião Rodrigues – professor da Universidade dos Açores na oportunidade do evento, e atualmente docente na Universidade Nova de Lisboa -, desvela na Nota Introdutória mais detalhes acerca da justificativa e dos parâmetros deste O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime. Comentando a retomada de interesse do estudo acerca dos impérios, indissociável de um panorama onde designações como Atlantic history e global history parecem entrar cada vez mais em voga, o autor enaltece a fomentação de pesquisas revisitando as turbulências e transformações entre os centros políticos europeus e suas respectivas periferias – sobretudo os espaços de domínio ibérico – nos século XVIII e XIX.
Dessa forma,
esta acção (…)pretendeu analisar o período axial que vai de 1750 a 1822 e no qual registramos a ocorrência de um conjunto de eventos fundadores da contemporaneidade política, social e intelectual à escala regional, nacional e internacional, como foram as revoluções americana e francesa, a revolta e a independência do Haiti, a mudança da Corte portuguesa para o Brasil, o início do processo das independências na América espanhola, a primeira experiência liberal em Espanha e a independência do Brasil. Sob este ângulo, pretendeu-se revelar a importância do Atlântico como um espaço para a circulação das elites enquanto factor de difusão de novas ideias e de valores fundamentais das sociedades contemporâneas e de construção de redes de informação. De igual modo, foi destacado o papel das ilhas açorianas que se, por um lado, mantinham as características de uma periferia, por outro, pela sua centralidade geográfica no coração do sistema atlântico, funcionavam como ponto nodal e placa giratória de uma densa rede de fluxos e refluxos (…) (p. 15).
Não obstante ter situado a temática das transformações desse âmbito atlântico, Rodrigues expõe outro tema que encontra muito espaço no desenvolver da obra. Pois tanto o colóquio original quanto a publicação se baseiam na celebração da memória de um acontecimento ilustrativo das transformações do final do Antigo Regime em Portugal: a Setembrizada. O evento constituiu-se no exílio de dezenas de presos sem culpa formalizada, acusados pela regência do Reino de colaborar ou simpatizar com a nova invasão francesa de 1810, chefiada pelo marechal Massena. Os deportados chegaram em 26 de setembro do mesmo ano às ilhas açorianas e muitos deles voltaram a ter participação ativa na conjuntura revolucionária liberal de 1820. Portanto, o colóquio organizado pelo CHAM também busca homenagear esses personagens ligados a introdução da modernidade política em Portugal.
Sem dúvida, a coexistência dos dois temas é uma das características mais marcantes do livro: a diversidade entre os artigos que o compõe. E, de fato, a obra se faz notável por exibir uma rica gama de matizes e vieses possíveis, através dos quais aborda a questão da circulação atlântica de elites e de ideias, deixando clara a fecundidade do objeto. Ao perpassar o índice, o leitor confirma isso ao se deparar com a listagem dos vinte artigos, saltando aos olhos a existência de capítulos escritos tanto em português como em espanhol, cujos títulos elencam desde revoltas escravas na Bahia do século XIX, passando pela ilustração no Peru durante o século XVIII, até um estudo sobre a heráldica portuguesa de finais do Antigo Regime.
Por outro lado, ainda que a diversidade de objetos e temas escolhidos no interior do espaço Atlântico seja latente, existe uma metodologia dominante em O Atlântico revolucionário .Dos vinte autores, oito optaram por se concentrar em um personagem, refazendo e evidenciando, através de suas respectivas trajetórias e produções documentais, pontos concernentes e reveladores de diversas dimensões da realidade pertencentes a essa conjuntura de transformações, compreendida entre os anos de 1750 e 1822, no espaço atlântico. Ao considerar as menos de quinhentas páginas para os vinte textos, fica clara a impossibilidade da publicação de estudos mais extensivo e análises mais minuciosas, contemplando dados e corpos de fontes mais volumosos. Portanto, a opção mais frequente de desenvolver os artigos sobre um personagem se revela bem conveniente, além de resultar em capítulos bastante objetivos e claros em suas intenções, expondo, por meio de casos de grande relevância, ainda que deveras circunscritos, uma profusão de aspectos de um mesmo espaço em um mesmo período de tempo. No mínimo, ficamos diante de valorosas indicações de caminhos para futuras pesquisas, aguardando trabalhos de maior densidade em sua continuidade.
“O espaço público e a opinião política na monarquia portuguesa em finais do Antigo Regime: notas para uma revisão das revisões historiográficas”, de Nuno Gonçalo Monteiro, abre oportunamente o livro, situando o leitor num panorama de referências e subsídios teóricos úteis para a apreciação de muitos dos artigos subsequentes, proporcionando um balanço historiográfico centrado sobre os dois conceitos presentes no título do capítulo – basilares para a compreensão das transformações do século XIX.
Em meio aos debates e pontos de inflexões historiográficos abordados por Gonçalo, são relembrados tanto Fernando Novais, para quem “desde meados do século XVIII (…) existiria uma crise estrutural do sistema colonial”, quanto o posterior trabalho de Valentim Alexandre, que “contraria claramente a ideia de crise do império ou da monarquia antes de 1808” (p. 22). Esse debate, retomado por Monteiro exemplifica o préstimo desse balanço historiográfico e sua aproximação com outros artigos do livro. Um dos elos possíveis se dá com “Remanejamento de identidades em um contexto de crise: as Minas Gerais na segunda metade do século XVIII”, de Roberta Stumpf. Desde o próprio título – ao reafirmar a crise do Império Português no século XVIII articulada com a Inconfidência Mineira – é visível não apenas a influência do pensamento de Novais sobre a produção de Stumpf, mas a própria vigência do acima citado debate nas páginas deO Atlântico revolucionário ,reiterando a adequação do balanço historiográfico de Monteiro na condição de primeiro capítulo.
Ainda a propósito do trabalho de Stumpf, a autora indica, observando o cada vez maior descompasso de interesses entre os naturais de Minas e a Coroa portuguesa nos fins do século XVIII, que, pelo estudo do vocabulário político dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, torna-se latente a cisão identatária dos acusados para com as autoridades metropolitanas, ainda que os mesmos acusados ainda não tivessem uma nova identidade para o projeto no qual se empenharam.
Stumpf aplica, no recorte da Inconfidência Mineira, uma linha de trabalho anteriormente desenvolvida sobre a questão das transformações das identidades no interior da América portuguesa no período de crise, tema bastante pujante em uma historiografia que, nas das últimas duas décadas, inclui a própria autora. Nesse mote, são exemplos e referencias trabalhos como Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira) (István, Jancsó e João Paulo G. Pimenta, São Paulo, Editora Senac, 2000) e Filho das Minas, americanos e portugueses: identidades políticas coletivas na Capitania de Minas Gerais (1763-1792) (Roberta Stumpf, São Paulo, Hucitec, 2010).
Em “Wellington em defesa dos jacobinos? A setembrizada de 1810”, Fernando Dores Costas analisa a efeméride que serviu como ponto de partida para o colóquio, esmiuçando-a e delineando-a como ação arbitrária e desesperada da Regência portuguesa. O intuito desta seria angariar a confiança da população no momento de crise, em uma Lisboa abandonada pela família real e sob ameaça de uma nova invasão de tropas francesas, contra algumas figuras transformadas em bodes expiatórios, acusadas de colaboração com os franceses. Ao centrar-se na trajetória nos escritos de alguns dos exilados nas ilhas açorianas – como o baiano Vicente Cardoso da Costa; José Sebastião de Saldanha de Oliveira e Daun, elemento de primeira nobreza e o médico Antonio Almeida -, o autor demonstra disparidades de pensamentos e trajetórias desses chamados setembrizados, invalidando um pressuposto, decorrente da acusação, de que formariam um grupo coeso e agindo organizadamente em apoio ao exército invasor francês.
“Domenico Pellegrini (1769-1840), pintor cosmopolita entre Lisboa e Londres”, de Carlos Silvera, é uma contribuição de um historiador da arte que demonstra que tanto o artista como sua produção podem ser considerados bons exemplos de vetores de circulação de ideias. Porém, esse mesmo artigo também ilustra um caso de incompatibilização entre os dois temas do livro destacados na Nota Introdutória, a Setembrizada e o próprio espaço atlântico. Se por um lado, a temática do Império Português e da lembrança da Setembrizada – já que Pellegrini foi um dos presos exilados – se mantém em primeiro plano, o espaço atlântico, por outro, tem papel pequeno no artigo. Pois, a trajetória de Domenico compreende rotas entre Itália, Inglaterra, Portugal e um irrisório exílio nos Açores. Dessa maneira, o espaço atlântico não é aqui explorado em toda sua potencialidade de articulador e canal entre dois continentes contendo partes dos impérios ibéricos, tendo, então, sua presença minimizada. Logo, o tema principal do espaço atlântico é sobrepujado pela temática mais secundária da Setembrizada.
Já o artigo do organizador, José Damião Rodrigues, “Um europeu nos trópicos: sociedade e política no Rio joanino na correspondência de Pedro José Caupers”, de forma diferente, demonstra plena articulação e harmonização entre os temas ressaltados na Nota Introdutória . Ao se debruçar sobre a produção epistolar de um membro da Corte lusitana, que atravessou o oceano após a invasão napoleônica, o autor identifica uma rede de conexões, interlocutores e relações que ligam Portugal, Rio de Janeiro e ilhas açorianas, além de incluir um dos setembrizados. Não obstante, o capítulo mostra, sob a ótica de Caupers, e em sua latente inadaptação à condição de reinol perante a nova dinâmica da Corte no Rio de Janeiro, como “em períodos de aceleração da dinâmica histórica ou de mudança social, as divisões e as redefinições que se operam em torno das identidades colectivas adquirem uma importância fundamental, mas complexificam o cenário social e político” (p. 194).
Também lidando com um personagem ilustrativo está Lucia Maria Bastos Neves, com “Um baiano na setembrizada: Vicente José Cardoso da Costa (1765-1834)”. Condizente com seu já conhecido trabalho acerca do vocabulário político, utilizando uma abordagem apoiada em uma história dos conceitos – como no livro Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822) (Lúcia Maria Bastos P. das Neves, Rio de Janeiro, FAPERJ, 2003) -, a historiadora propõe analisar os escritos de Vicente da Costa produzidos contemporaneamente à Revolução Vintista, enfatizando os embates entre o Antigo Regime e o Liberalismo presentes na linguagem política utilizada pelo personagem.
Atentando-nos ao trabalho de Neves, confirmamos que a circunscrição da análise histórica a um personagem não necessariamente corresponde a uma circunscrição de resultados e nem a um extremo particularismo, havendo brechas de interlocução com outros artigos. Aqui, é possível até mesmo constatar o início de um possível debate no interior do livro. Pois, ao examinar o mesmo personagem, em seu já referido artigo, Fernando Dores Costas chega a um diagnóstico consideravelmente diferente do da historiadora sobre o setembrizado Vicente José Cardoso da Costa e seu pensamento acerca das novas formas políticas que, no século XIX fixavam-se nos impérios ibéricos. De acordo com Dores Costa, “Cardoso da Costa defendeu energicamente a tradição pombalina, absolutista. Afirmava a referida obrigação ilimitada de obediência aos governos. Os súbditos estavam impedidos de avaliar, estando obrigados a acatar as ordens tanto dos maus como aos bons governos” (p. 48). Por outro lado, é de maneira mais contemporizada que Neves, após sua análise, descreve o mesmo Cardoso da Costa como um homem imerso em uma conjuntura de crise e partilhando múltiplas linguagens políticas, oscilando entre tradição do Antigo Regime e as novas formas políticas em oposição ao despotismo.
Vicente José Cardoso da Costa ainda volta a ser objeto de estudo em “Experiencia y memoria de la revolución de 1808: Blanco White y Vicente José Cardoso da Costa”, de Antonio Prada. Nesse caso, as conclusões do autor, após análise dos escritos de Cardoso da Costa, são mais próximas às de Lúcia Maria Bastos Neves do que às de Dores Costa.
Ainda no campo da análise do espaço atlântico do Império Português, também situam-se “A heráldica municipal portuguesa entre o Antigo Regime e a monarquia constitucional: reflexos revolucionários”, de Miguel Metelo de Seixas; “Circulação de conhecimentos científicos no Atlântico. De Cabo Verde para Lisboa: memórias escritas, solos e minerais, plantas e animais. Os envios científicos de João da Silva Feijó”, de Maria Ferraz Torrão; “Rotas de comércio de livros para Portugal no final do Antigo Regime”, de Cláudio DeNipoti; “Em busca de honra, fama e glória na Índia oitocentista: circulação e ascensão da nobreza portuguesa no ultramar”; de Luis Dias Antunes, “A difusão da modernidade política. A ficcionalidade da Revolução de 1820”; de Beatriz Peralta García; “Revoltas escravas na Baía no início do século XIX”, de Maria Beatriz Nizza da Silva e “República de mazombos: sedição, maçonaria e libertinagem numa perspectiva atlântica”, de Junia Ferreira Furtado.
Podendo ser visto como uma ponte entre os artigos acerca do Império português e sua contraparte hispânica, temos o derradeiro “Las independencias latinoamericanas observadas desde España y Portugal”, de Juan Marchena. Mais detidos no universo espanhol estão “Entre reforma y revolución. La economía política, el libre comercio y los sistemas de gobierno em el mundo Altlántico”, de Jesús Bohórquez; “Política y politización en la España noratlántica: caminos y procesos (Galicia, 1766-1823)”, de Xosé Veiga e “A través del Atlántico. La correspondencia republicana entre Thomas Jefferson y Valentín de Foronda”, de Carmen de La Guardia Herrero.
Ainda no espaço hispânico, abordando as transformações do fim do Antigo Regime nas colônias, destacam-se “Azougueros portugueses en Aullagas a fines del siglo XVIII: Francisco Amaral”, de María Gavira Márquez e “La ilustración posible en la Lima setecentista: debate sobre el alcance de las luces en el mundo hispánico”, de Margarita Rodríguez García. O primeiro traz o curioso caso de um membro da elite colonial portuguesa exercendo atividade mineradora no atual território boliviano no fim do século XVIII, mesmo apesar do pleno desenrolar da guerra entre Portugal e Espanha, declarada no outro lado do Atlântico. O segundo, focado no periódico Mercurio Peruano, bebe na fonte dos trabalhos de François-Xavier Guerra, ao caracterizar as particularidades da formação de uma esfera pública no espaço colonial de uma monarquia absolutista, portanto, uma realidade não abarcada pelo modelo original de esfera pública desenvolvida por Habermas.
Enfim, O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime modela uma perspectiva desse espaço como um feixe de encontros, com participação fundamental em diversas realidades e processos históricos. Um canal de pleno trânsito de ideias e elites, passíveis das mais diversas nuances e abordagens historiográficas, em uma variação ampla de escala. Um lembrete de que, mesmo considerado em sua unidade de dimensão global, seu sentido nunca pode ser reduzido a um único.
Luis Otávio Vieira – Graduando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
RODRIGUES, José Damião (Org.). O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime. Ponta Delgada: Centro de História de Além-Mar (CHAM), 2012. Resenha de: VIEIRA, Luis Otávio. Os diferentes universos do espaço Atlântico. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 208-212, jan./abr., 2015.
O livro da hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas – MONTANDON (C)
MONTANDON, Alan. O livro da hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas. São Paulo: Senac de São Paulo, 2011. Resenha de: COMANDULLI, Sandra Patricia Eder. Conjectura, Caxias do Sul, v. 20, n. 1, p. 183-190, jan/abr, 2015.
O livro da hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas, no original Le livre l’hospitalité: accueil de l’étranger dans l’histoire et les cultures (2004) foi concebido por Alain Montandon, professor titular de filosofia e de literatura geral e comparada na Universidade Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand. No prefácio, Montandon afirma que “a hospitalidade é sinal de civilização e de humanidade”. É “uma maneira de viver em conjunto, por meio de regras, ritos e leis”. A proposta de Montandon é percorrer o tema da hospitalidade “de portas abertas ao leitor”, a quem ele denomina “nosso hóspede”. Para Luiz Octavio de Lima Camargo, doutor em Sciences de l’Education pela Universidade Sorbonne-Paris V e autor da apresentação da edição brasileira, é uma obra enciclopédica que “tem por objetivo trazer a noção da hospitalidade para dentro do terreno da reflexão filosófica e da observação empírica”.
Para Camargo “a justo título, pode ser considerada uma obra, se não fundadora, ao menos sistematizadora dos estudos de hospitalidade, já que define e expande consideravelmente os limites do tema”.
Cerca de oitenta colaboradores, entre eles, filósofos, antropólogos, psicólogos, comparatistas, historiadores, etnólogos, literatos, especialistas em comunicação e sociólogos, oriundos de diversos países e de formações distintas escreveram os textos. A edição brasileira, publicada pela editora Senac (2011), foi traduzida por Marcos Bagno e Lea Zylberlicht. A obra é apresentada em cinco grandes partes, cada uma dividida em seções que agrupam os artigos. No final, há um capítulo sobre os autores, um capítulo de bibliografias – geral, por artigo e indicação de títulos publicados em português – e o índice, dividido em temático, onomástico e de obras citadas.
Esta resenha focaliza os artigos da quinta parte sobre filosofia e política, fazendo-se menção ao assunto de cada um deles. O primeiro é Jacques Derrida – Um pensamento do incondicional, escrito por Ginette Michaud, professora titular do departamento de literaturas de língua francesa da Universidade de Montreal. Michaud divide o conceito de hospitalidade, segundo Derrida, em três momentos reflexivos: a hospitalidade como um princípio ético, incondicional e infinito; a hospitalidade concretizada em responsabilidade e traduzida em palavra e gesto; a língua como hospitalidade, concentrando num silogismo hostipitalidade (1995), o paradoxo de ser hospitaleiro e, ao mesmo tempo, de provocar a hostilidade ao impor a língua ao hóspede. A busca incansável de Derrida, conforme Michaud, é pela hospitalidade “onde nunca saberemos quem acolheu quem e se (condição sem condição) a acolhida encontrou realmente lugar, foi dada e recebida e tornada acontecimento ao chegar”.
Marie Gaille-Nikodimov, professora titular de filosofia, na Universidade de Paris X-Nanterre, é autora dos três textos descritos a seguir. A acolhida problemática da filosofia na cidade propõe uma reflexão sobre as seguintes questões: Onde praticar o ato de filosofar? Em que condições? Onde a filosofia é capaz de melhor se desenvolver? A escola é o lugar, por excelência, de descoberta da filosofia? Deve constituir uma disciplina específica ou, ao contrário, estar presente em todos os cursos oferecidos pela universidade? Para responder essas perguntas, a autora propõe uma reflexão que perpassa a história da filosofia, apoiada em Sócrates, Descartes, Spinoza, Kant e Derrida. O primeiro, diante da crise de valores que atinge Atenas, chama cada um à razão em detrimento das suas crenças e opiniões e, condenado à morte, dirige-se aos atenienses salientando que a sua linguagem não é a mesma que a deles. Descartes, em 1641, nas Meditações metafísicas, reafirma a linha de demarcação entre o domínio da fé e da razão. Spinoza introduz o Tratado teológicopolítico, publicado em 1670, afirmando que “[…] a liberdade de filosofar não apenas pode ser concedida sem prejuízo para a piedade e a paz da república, mas também que não pode ser suprimida sem se suprimir ao mesmo tempo a paz da república e a piedade”. (SPINOZA, 1999 apud GAILLE-NIKODIMOV, 2011, p. 1018). Kant, em O conflito das faculdades (1794), argumenta que a filosofia deve se submeter à lei da razão e não à lei dos governantes. Por último, a reflexão se volta para o discurso de Derrida, que coloca a questão da hospitalidade à filosofia de um ponto de vista cosmopolítico, ou seja, “em outro espaço diferente da cidade”, considerando-se por um lado “a multiplicidade dos modelos, dos estilos, as tradições ligadas às histórias nacionais ou linguísticas” e, por outro, “exceder constantemente o quadro desta ou daquela língua […] e circular de um espaço linguístico/de conceitualização a outro”.
Em Conflito do direito e das leis não escritas, o texto avança em busca da resposta para a questão: conceder ou não o direito de cidadania aos estrangeiros? Dentre as possibilidades, Nikodimov relaciona algumas, dentre elas: a questão econômica, ou seja, o benefício que o Estado pode ter com a concessão; o direito dos cidadãos de decidirem que tipo de comunidade querem criar e quem a ela pode pertencer; a ideia da existência de leis não escritas, que são o fundamento maior do direito dos refugiados; a hospitalidade como um ato jurídico e não filantrópico ao qual o Estado deve se conformar e, do primado do indivíduo sobre o Estado no qual a igualdade entre os homens fundamenta a obrigação de conceder o direito de cidadania.
O terceiro texto Sobre a ambiguidade dos direitos do homem está pautado na possibilidade de uma hospitalidade de Estado, em que o homem, cidadão privado é o sujeito de direito. A ideia de uma hospitalidade humanista repousaria, segundo Nikodimov, “sobre uma teoria que faz do homem, enquanto espécie, a origem e a finalidade dos direitos”. A partir dessa concepção, a hospitalidade assume um sentido jurídico-político fundamentada no direito cosmopolítico de Kant (1795).
Pretende, no entanto, ir além, ao classificar o homem como um sujeito de direito em relação a uma comunidade de direito internacional e não mais sob as condições de um estatuto jurídico exercido pelo Estado sobre o seu território. A hospitalidade humanista transporia uma fronteira do Estado-nação para a ideia de uma comunidade sem exclusão, ao pressupor a pessoa humana como único sujeito de direito e, assim, conferir a todos os indivíduos a mesma condição jurídica em virtude de seu pertencimento comum à humanidade.
O exílio é o tema que Sylvie Aprile, professora de história contemporânea da Universidade François-Rabelais, de Tours, aborda em Mutações e transferências. Inicialmente, ela cita a passagem da Bíblia no Êxodo, 22, 20 que diz: “Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás.
[…] Pois vós fostes estrangeiros no Egito.” A nostalgia está presente no tema do exílio e sua expressão mais comum, a queixa, é expressa pelo verso poético, o romance ou o anátema. O exílio é vivido como uma provação passageira que se configura na relação problemática da língua, na dificuldade do exilado de compreender os signos estranhos à sua volta, na ausência material das lembranças do passado, na falta de enraizamento ao solo estrangeiro, no olhar voltado para o passado e na hostilidade ao presente.Dois artigos falam da imigração, no continente europeu, com ênfase na França por ser um país com tradição em receber muitos imigrantes. França/Europa foi escrito por Rose Duroux, professora emérita da Universidade Blaise-Pascal, em Clermont-Ferrand e Discurso e contradições por Mireille Rosello, professora de literatura e cultura de expressão francesa na Universidade do Northwestern, Chicago. Duroux faz uma abordagem diacrônica a respeito da imigração na França, fazendo menções históricas e citações quantitativas. As questões propostas por ela relacionam-se com o fato de ser a França o país que é exemplo para o mundo na questão dos Direitos Humanos: como é possível vencer o desafio da hospitalidade, se a imigração é um fato recorrente e crescente? A imigração ocorre devido a motivações econômicas, pessoais e familiares, de um lado, e, de outro, por questões políticas, origens étnicas, religião ou nacionalidade. A hospitalidade está estruturada em três conceitos concomitantes: assimilação, inserção e integração. O grande desafio que se impõe neste século XXI e uma das alternativas, segundo Duroux, para fazer frente à questão da imigração clandestina, seria a supressão dos vistos, a regulamentação da permanência e a abertura das fronteiras aos trabalhadores. Indo além, ela propõe que a Constituição europeia, ainda em preparação, contemple a “utopia positiva”, ou seja, a hospitalidade como o princípio da integração. Mireille Rosello, no seu Discurso e contradições, relaciona a hospitalidade ao contexto em que ela é praticada. No século XVIII, a Revolução Francesa introduziu a ideia dos valores republicanos universais, segundo os quais os direitos de todo o ser humano, independentemente de sua origem, estariam garantidos.
Entretanto, o clima hospitaleiro logo cedeu espaço e deu lugar à insegurança em relação ao que vem de um país não amigável. Contemporaneamente, a França pode não ser mais considerada um modelo de acolhimento, pois se encontra dividida entre um ideal de hospitalidade, e uma razão que se opõe à entrada daqueles que carregam consigo a miséria. Segundo Rosello, a dificuldade na relação entre hospitalidade e imigração reside na questão: “como uma nação e um convidado (isto é, duas entidades a priori não comparáveis) podem estar ligados por um contrato de hospitalidade adaptado a uma situação contemporânea pós-colonial e transnacional?” Ela aponta as contribuições de Derrida e Baudrillard, segundo os quais a “hospitalidade e imigração às vezes não se entendem nada bem, principalmente, quando foi o próprio poder hospitaleiro da nação que contribuiu para colocar os estrangeiros em posição de solicitantes perpétuos”.
Magali Bessone, professora titular de filosofia na Universidade de Nice Sophia-Antipolis, escreveu os textos Excluído e marginalizado e A subversão heroica do público e do privado. No primeiro, ela afirma que a categoria de exclusão só adquire sentido em relação à de inclusão, de inserção e de integração. Os excluídos têm dificuldade “de definir sua própria situação, porque, com frequência, não têm acesso aos meios de expressão necessários para formular essa definição”. De outro modo, também a categoria dos incluídos encontra dificuldade de definição porque “sempre nos sentimos excluídos em relação a algum outro, sempre estamos excluídos de alguma coisa”. Bessone distingue formas de exclusão exercidas por aqueles que se julgam incluídos por deterem algum tipo de poder: na presença de uma ameaça à sociedade, é o estranho, o diferente que será objeto de exclusão; a “construção de um status de exceção”, como o ocorrido com os judeus na Alemanha nazista, e a criação de “espaços fechados no seio da comunidade, mas sem contato com ela: os guetos, os asilos ou as prisões”. Ela aponta a incoerência do coletivo que ignora as trajetórias particulares do indivíduo, colocando-o sob o domínio da inclusão. Por fim, conclui o texto, afirmando que “a exclusão demonstra a distância entre o que se supõe que os humanos sejam e o que eles são de fato”.
No segundo texto, Bessone enfoca o transcendentalismo, movimento nascido nos Estados Unidos (1836), cujo maior expoente foi Ralph Waldo Emerson, fundamentado na ideia de que “Deus deu aos homens os dons da perspicácia, da inspiração e da intuição” e que “é o instinto e não a razão, que nos conduzirá aos outros, ao mundo, e a nós mesmos, com uma atitude hospitaleira”. O termo transcendentalismo foi adotado em referência a Kant, que mostrou que havia uma “categoria de ideias muito importantes, de formas imperativas, que não provinham da experiência, mas graças à qual a experiência era tornada possível; que elas eram intuições do próprio espírito; e ele as chamou de as formas transcendentais”. (EMERSON, 1967 apud Bessone, 2011, p. 1120). A hospitalidade, do ponto de vista transcendentalista, “é um modo privilegiado de estar junto, em que a verdade de cada um deve ser pôr a descoberto; dessa forma, ela é eminentemente política e, ao mesmo tempo, moral e religiosa”. As leis da hospitalidade têm o caráter das leis divinas, e o herói é o homem “cuja alma é nobre, e que, obedecendo a Deus, dá provas de uma generosidade hospitaleira”. Deus é a unidade do homem com todos os homens e com a natureza e é, ao mesmo tempo, totalidade e individualidade, o elo entre tudo o que existe. A hospitalidade não é “uma obrigação legal, e sim uma obrigação moral (no sentido kantiano do termo), ou, mais geralmente, uma exigência ética”.
O sonho de universalidade, escrito por Pierre-Yves Beaurepaire, professor assistente de história moderna na Universidade de Orleans, tem como tema a franco-maçonaria, que iniciou na época do Iluminismo (século XVIII) com um projeto de “reerguer a Torre de Babel”, estabelecendo entre seus membros uma ligação baseada na hospitalidade que Beaurepaire chama de planetária. Ele destaca que essa característica sofreu reveses com o passar do tempo. Atualmente, os franco-maçons, para recuperarem a “utopia da aldeia planetária”, investem “nas novas redes de comunicação, para definir os contornos de um novo espaço de hospitalidade maçônica: as ciberlojas, que permitem aos irmãos dispersos pelos quatro cantos do mundo bater à porta de ‘seu’ templo”.
René Schérer, professor emérito em filosofia na Universidade Paris VIII, é o autor de Necessidade do absoluto e esperança do melhor. O propósito do texto é colocar frente a frente a hospitalidade e a utopia, formando uma aliança, segundo ele, “paradigmática”, de reencontro “entre o velho e o novo: a hospitalidade, esse fato imemorável das sociedades humanas, e a utopia, perspectiva em direção do possível, do futuro”. O pano de fundo do texto é a obra Utopia de Thomas More. Schérer pergunta: Deve-se hospitalidade aos irregulares, aos clandestinos, que estão em situação incerta e que não receberam uma decisão positiva por parte dos Estados hospedeiros? Qual é a forma dessa hospitalidade? Dar hospitalidade a todos não seria uma utopia? Ele conduz o exame das possíveis respostas, contrapondo os dois termos: a utopia que “suspende, em uma espécie de epoché reveladora, toda crença no mundo, no real dominante, para melhor compreendê-lo e avaliá-lo”; e a hospitalidade, “o valor que, eminentemente, resiste a essa suspensão, precisamente porque ela é de alguma forma, imanente a todo deslocamento, à viagem e à acolhida”. Contudo, mesmo concebida como “fechada e resistente”, a utopia já é “hospitaleira para o pensamento que a forma; hospitaleira desde a sua formação em um pensamento”.
Emmanuel Levinas – Rosto e epifania do outro, escrito pelo professor assistente de literatura e cinema latino-americano, na Universidade de Paris XII, Joachim Manzi, encerra a seção de Filosofia e política da obra.
Levinas nasceu em 1906, numa família judaica na Lituânia. Aos dezessete anos, estabeleceu-se na França, onde desenvolveu estudos de filosofia e, em 1995, faleceu. O princípio ético do filósofo, que perdeu seus familiares e foi feito prisioneiro durante o nazismo, está fundado no acolhimento incondicional do outro. Suas duas principais obras são Totalidade e infinito (1962) e Autrement qu’être ou au-dèla de l’essence (1974). Na primeira, Levinas propõe a hospitalidade como sendo “a verdadeira natureza incondicional da acolhida”. Esta acontece quando o outro acolhe antes mesmo que o eu concorde em ser acolhido. Acolher o outro é uma experiência que anula a resistência do eu e permite o início de uma consciência moral, que se manifestará no encontro “face a face com o rosto de outro”. A acolhida é uma relação intersubjetiva que contrasta com a ética racionalista e a dominação do discurso totalizante na sociedade ocidental. Conforme Manzi, o indivíduo, para Levinas, “torna-se cada vez mais heterônomo” ao não poder determinar as leis às quais obedece e a sua liberdade fica subordinada à exterioridade do outro e a de Deus, como ideia do infinito. Levinas “coloca no centro do face a face uma assimetria e uma renúncia de si que impedem qualquer retorno a si”. A subjetividade está sujeita à acolhida do outro e é ela que permite ao indivíduo vir a ser, como se na sujeição ao outro pela hospitalidade, o eu recebesse a si próprio. Se em Totalidade e Infinito a hospitalidade é assimétrica, em Autrement qu’être ou au-dèla de l’essence, Levinas revela “uma nova concepção do indivíduo”, que suprime qualquer pretensão de conquistar a totalidade do outro. A passividade prevalecerá sobre a atividade como uma exposição ao outro “anterior a qualquer proteção e a qualquer vontade”, como se o indivíduo passasse de autóctone para aquele que está fora do seu lugar. Manzi interpreta a dominação do eu pelo outro no pensamento de Levinas como o “traço de um indivíduo ferido, traumatizado, que, tendo sobrevivido ao Holocausto, deve testemunhar sobre ele apesar de tudo”. É a presença do rosto do outro que afirma a fidelidade absoluta do eu com o outro, ao mesmo tempo que desfaz “qualquer ideia de alteridade que o eu pôde ter”. Manzi lembra que Levinas inspirou-se na ideia cartesiana do infinito, enquanto ideia exterior ao pensamento e, segundo a qual, surge ao eu porque lhe foi dada por “Alguém outro, Deus”. É do infinito que vem a resistência do eu que deseja totalizar o outro, e que, ao mesmo tempo, convida o outro a vir ao seu encontro. O face a face com o rosto de outrem leva o discurso filosófico de Levinas “a contradições em aparência insolúveis e, no entanto, sem cessar abordadas corajosamente na sua escrita, porque se encontram precisamente na origem do sentido”. O eu poderia renunciar à resistência e usar sua liberdade para matar o outro e, então, diante do arbitrário e do injusto, o eu “que se lê nos olhos que me olham no momento da acolhida do rosto”, que Levinas associa ao termo epifania, tem a consciência da impossibilidade ética de matar. Em Totalidade e infinito, a epifania do rosto permite que nos olhos do outro esteja também “numa distância infinita” o olhar de todos os outros que interpelam e atraem o eu para o encontro com o outro. Em Autrement qu’être, a presença de um terceiro obriga o eu não apenas a responder pelo outro, mas representa uma exigência para com “todos os outros próximos, pela humanidade”. Para Derrida, a presença de um terceiro colocado entre a relação do eu com o outro é entendida como “o vínculo da ética com tudo que a ultrapassa e a trai, como a ontologia e a política, por exemplo”. (DERRIDA, 1997b, apud MANZI, 2011, p. 1.167). Manzi finaliza o texto, descrevendo a dimensão feminina que está presente no pensamento de Levinas, em que ele interpreta a fecundidade da mulher como uma inteira receptividade a outrem e um abandono sem retorno a si.
O enfoque da hospitalidade na perspectiva da Filosofia e política continua sendo um grande desafio na época contemporânea, em que os movimentos migratórios são crescentes, atingindo níveis que beiram o incontrolável e que as fronteiras parecem cada vez mais permeáveis. Nesse contexto político, como a hospitalidade pode ser praticada? E como fazer da ética um princípio norteador das políticas ligadas à imigração? São questões difíceis com respostas que, pode-se pensar, até impossíveis.
A proposta do estudo sobre a hospitalidade é tornar a acolhida um exercício que deve permear o pensamento e as ações humanas, em processos permanentes de hominização e de civilização.
Sandra Patricia Eder Comandulli – Mestranda em Filosofia na Universidade de Caxias do Sul. E-mail: [email protected]
O primeiro Duque de Palmela: político e diplomata. Lisboa: D. Quixote, 2015 / Maria de Fátima Bonifácio
Após a sua já consagrada Apologia da história política2 publicado pela Quetzal em Lisboa, Maria de Fátima Bonifácio3 publicara já uma série de estudos no âmbito de uma defesa da História Política e de suas perspectivas de análise. Com vista a críticas de uma história das estruturas, “invisível” e “profunda”, defende em sua apologia as formas e os métodos da História Política, ao mesmo tempo em que passa a oferecer ao público acadêmico estudos de biografia política de destacadas figuras portuguesas, desde os finais do século XVIII e todo o século XIX. Fora com esse ímpeto que em 2002 publica A segunda ascensão e Queda de Costa Cabral, 1847-1851 e em 2013, pela Editora D. Quixote, uma extensa análise em Um homem singular – biografia política de Rodrigo da Fonseca Magalhães, 1787-18584. O seu estudo já conhecido e reeditado várias vezes sobre D. Maria II5 também entra na lista de sua bibliografia sobre biografias de personalidades políticas, sejam elas envoltas nas tentativas de instituição de um liberalismo em Portugal ou mesmo nos períodos posteriores ao “radicalismo” vintista, setembrista e cabralista.
Em 2006, pela Quetzal, escreve um longo posfácio à edição portuguesa de Correspondência Madame de Staël e Dom Pedro de Souza6, organizada e comentada por Béatriz d’Andlau7. Neste posfácio levanta já alguns dos fatos que seriam retomados na edição das Memórias do Duque de Palmela8, transcritas e editadas por ela e que, num detalhado prefácio, analisa a trajetória do diplomata, tendo atuado em Londres, Madrid e no Congresso de Viena (1815). Esse prefácio, acrescido de mais um capítulo, fora reediado pela Editora D. Quixote e é agora publicado com o título O primeiro Duque de Palmela- político e diplomata em edição de junho de 2015, objeto desta resenha.
No texto, analisa a trajetória política e biográfica do primeiro Conde, primeiro Marquês e primeiro Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein. Nascido em Turim em 1781, descendia de membros da alta aristocracia portuguesa, da Casa Palmela,9 tendo desempenhado uma ascendente carreira diplomática10, desde Conselheiro de embaixada em Roma (1802-1805), Ministro em Cádiz (1810-1812), embaixador em Londres (1812), representante português no Congresso de Viena (1815), dentre diversos outros cargos de grande representação política e social, tendo sido Secretário de Negócios Estrangeiros e da Guerra por diversos períodos.
O texto divide-se em três partes: (I) Vocação e caráter de um conservador liberal, (II) Em luta pela liberdade portuguesa e (III) Em busca de um “partido moderado e médio”; esses foram resgatados do prefácio que a autora havia publicado em Memórias do Duque de Palmela11. Em “o capítulo que falta”, Maria de Fátima Bonifácio detalha aquele que, segundo sua análise, fora um dos principais desafios do ministro português: a abolição do fatídico Tratado de Amizade, Comércio e Navegação luso-britânico de 181012 e a aprovação de outro tratado que seria colocado em ratificação apenas em 1842. O livro encerra-se com uma detalhada cronologia da vida política e pessoal de D. Pedro, de 1781 à sua morte por pneumonia dupla, em 12 de outubro de 1850.
O ambiente internacional de formação de D. Pedro envolve um período de conturbações importantes de finais da era moderna. A conjuntura após a Revolução Francesa que se desdobra, dentre outras coisas, em movimentos de controle e de fortalecimento das Monarquias, temerosas de contestações de tal calibre, encontra terreno para movimentos reformistas e de algumas reorientações no campo político internacional. No caso português, que vivia na órbita de aproximação e conflito entre ingleses e franceses, a ascensão de Napoleão e a definição clara de sua linha de atuação na Europa, antibritânica, encurrala em perigosas negociações as tomadas de posição da Coroa Lusa. Os desdobramentos do Bloqueio Continental (1806) e do ultimatum de Napoleão ao Príncipe Regente D. João VI (julho de 1807) pelo cumprimento ou guerra com o exército francês, que culmina na transferência da família real ao Rio de Janeiro (novembro de 1807), serão eventos chave para os movimentos que se seguiram e que seriam colocados pelos representantes portugueses no Congresso de Viena (1814-1815)13.
A atuação de D. Pedro de Sousa no Congresso de Viena fora, para um jovem diplomata de 33 anos, o início de uma consagrada carreira nos orbes europeus. Chega a Viena em 27 de setembro, antes do “início”14 do Congresso e passa a apurar os estados das negociações. Os problemas que pareciam postergar as atividades congressuais apontavam, dentre outras coisas, ao direito de voto das potências, sendo que inicialmente Portugal estava fora deste seleto grupo15. Após longas conversas e ofícios enviados, D. Pedro consegue16 que Portugal fosse alçado ao pé de igualdade das demais grandes nações europeias: Rússia, Prússia, Suécia, Inglaterra, Espanha e Áustria.
O fantasma de Napoleão rondou o Congresso no seu andamento e somente após a chegada das notícias de Waterloo (18 de junho) que a tranquilidade se instalou nos ministros, depois da assinatura do “Ato Final”. Estes representavam quase todos os Estados e principados europeus, até os que não eram reconhecidos por alguns chefes, sendo que muitas destas questões foram colocadas em resolução. O ambiente era de total cosmopolitismo e de ostentações, festas e vaidades, com os mais importantes chefes das nações europeias17; D. Pedro circulava com total liberdade pelos principais salões de Viena, correspondendo-se com os mais importantes ministros acerca das pautas portuguesas, além de aumentar consideravelmente seu círculo de contatos, essencial para sua carreira ao retornar a Portugal.
As principais questões colocadas por D. Pedro de Sousa e os demais ministros, como o Caso da Guiana, não resultaram em grandes modificações do que já ficara acordado entre França e Inglaterra no tratado de Paris (1814); no entanto, os plenipotenciários portugueses além de D. Pedro, como Antonio Saldanha da Gama e Joaquim Lobo da Silveira, conseguiram que as definições fronteiriças entre a Guiana e a América portuguesa ficassem definidas na linha do Rio Oiapoque18. A questão da abolição da escravatura, colocada sobre forte pressão britânica19, e do tráfico de escravos ficara limitada ao norte da linha do Equador, o que provocara, na então ex-colônia e agora Reino Unido20, elevação aprovada em Carta de Lei de dezembro de 1815 no próprio Congresso, do preço médio dos escravos vindos da África, principalmente nas províncias do Norte do Brasil21. Em torno das indenizações que a França deveria pagar aos Estados lesados, Portugal não saíra com grandes quantias e, segundo Ana Faria22, a participação fora tão baixa quanto da Suíça e Dinamarca.
Uma das principais questões portuguesas no Congresso seria a restituição de Olivença pelos Espanhóis. Após o Tratado de Badajoz de 1801, que pôs fim a chamada Guerra das Laranjas e que deu ao espanhóis a soberania de Olivença desde o Rio Guadiana e suas possessões, que essa questão se arrastava pelos campos diplomáticos. Em 1808, já no Rio de Janeiro, D. João VI denunciara o tratado que seria, por D Pedro de Sousa, quando enviado a Cádiz (1810), retomado às negociações que, dentre outras coisas, determinava a devolução de Olivença aos portugueses; no entanto, este acordo não fora cumprido e não figurava no Tratado de Paris. Em Viena, dado o reconhecimento das demais nações da soberania portuguesa sobre Olivença, fora adicionado ao tratado um artigo que definia a devolução em favor de Portugal23. Por mais que a Espanha tenha reconhecido, à época, a soberania portuguesa, a devolução nunca veio a acontecer.
No entanto, a coroação da brilhante carreira de D. Pedro de Sousa aconteceria logo em seguida ao Congresso de Viena, com o seu envio como embaixador em Londres. Desde esse momento, o nome Palmela já era, mais que antes, conhecido e admirado na Europa24. A partir desse momento, mais particularmente após o movimento vintista e sua passagem pelo Brasil (1820), passa a ser uma importante figura de conciliaçao nacional.
Sempre a buscar um partido moderado e a simbiose dos diferentes interesses postos no jogo político, D. Pedro será figura-chave nas querelas pela coroa portuguesa após o Vintismo, sendo que suas raízes aristocráticas o farão25 ao mesmo tempo lutar pela soberania de D. Maria II e também ser alvo, em diversos momentos, da ira dos Miguelistas, mesmo depois de derrotados. A sua tentativa progressista de compor ministérios com ambas as partes, vistas como conciliatórias, foram rechaçadas e sua tomada de partido sempre colocada sobdúvida.
As ambiguidades do primeiro Duque de Palmela, sempre a ostentar “a gala da sua independência partidária”, acabaram por torná-lo mal visto até mesmo pela Rainha, acabando por isolá-lo do círculo palaciano. Conforme Maria de Fátima, no final de seu texto, apesar dos revezes de sua trajetória política, fora o único ministro português conhecido em todos os palácios europeus e sua casa uma das mais ricas e reconhecidas casas aristocráticas do Reino; de seu tempo, fora um dos mais representativos agentes da história portuguesa.
Notas
- Resenha submetida à avaliação em junho de 2015 e aprovado para publicação em novembro de 2015.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Apologia da história política: estudos sobre o século XIX português. Lisboa: Quetzal Editora, 1999.
- Com larga carreira em ensino e pesquisa, fora professora da Universidade Nova de Lisboa de 1980 a 2006, tendo sido doutorada com agregação pela mesma universidade; licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fora investigadora-coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da mesma universidade até 2012.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Um homem singular: biografia política de Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858). Lisboa: D. Quixote, 2013.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. D. Maria II: 1819-1853. Lisboa: Temas e Debates, 2007.
- D’ANDLAU, Béatriz (Org.). Correspondência de Madame de Staël e Dom Pedro de Souza. Lisboa: Quetzal, 2010.
- Ao estar com o pai em Roma, ainda com vinte e quatro anos, D. Pedro de Sousa conhece a famosa romancista francesa (1804), Mme de Stäel que viaja à Itália para recolher notas a um novo romance. A efusiva correspondência entre os dois demonstra um longo relacionamento, com cartas inflamadas e saudosas. Com o retorno do Duque a Portugal, a correspondência passa a cessar nomedamente depois dos planos de casamento de D. Pedro. Cf. CAMPOS, Claudia. A Baronesa de Estäel e o Duque de Palmella. Lisboa: Tavares Cardoso & Irmão, 1901.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Memórias do Duque de Palmela. Lisboa: D. Quixote, 2011.
- Cf. URBANO, Pedro. A casa Palmela. Lisboa: Livros Horizonte, 2008.
- Filho de D. Alexandre de Sousa Holstein, Conde de Sanfré, e de D. Isabel Juliana de Sousa Holstein; D. Alexandre já tinha desempenhado na diplomacia diversos cargos, Embaixador em Copenhaga (1785-1789), Berlim (1789-1790), Viena (1790) e Roma (1808-1803) para onde leva o filho. Desde então, D. Pedro adquire o gosto pelos mais requintadores salões da política europeia do período, tendo contato com as mais importantes famílias.
- BONIFÁCIO, Memórias…op. cit.
- BONIFÁCIO, Memórias…op. cit. p.83: “Não confundir com o Tratado de Aliança e Amizade também celebrado em 1810, destinado a regular as relações políticas entre Portugal e a Grã-Bretanha durante o domínio napoleônico na Europa, tendo sido abolido na sequência da Paz Geral oficializada pelo Congresso de Viena em 1815”.
- Cf. FARIA, Ana Leal de. Arquitectos da paz: a diplomacia portuguesa de 1640 a 1815. Lisboa: Tribuna, 2008. p.152-157.
- Segundo Maria Amália Vaz de Carvalho (1898, p.293, nota I), o Congresso nunca possuiu uma “abertura”, não havendo a constituição efetiva de um Congresso; na prática, apenas algumas comissões entre ministros plenipotenciários foram instaladas, com assinaturas de tratados unilaterais ou de interesses comuns que foram feitos. No final de todas essas negociações, em 19 de junho de 1815, há a assinaura de um Ato final do Congresso de Viena. Cf. CARVALHO, Maria Amália Vaz de (1898). Vida do Duque de Palmela D. Pedro de Sousa e Holstein. Lisboa: Imp. Nacional, 1898.
- O temor inicial das demais nações era que a presença de mais uma nação alinhada com os interesses ingleses pudesse representar um voto a mais para o Império Britânico, para além da já presença de uma nação Ibérica, a Espanha. Cf. CARVALHO, Maria Amália Vaz de (1898), p.292-294.
- BONIFÁCIO, O primeiro Duque…op. cit., p. 28.
- Cf. ZAMOYSKI, Adam. Ritos de paz: a queda de Napoleão e o Congresso de Viena. São Paulo: Record, 2012.
- Cf. ALÇADA, Isabel; FERNANDES, Paulo Jorge. MAGALHÃES, Ana Maria. As invasões francesas e a Corte no Brasil. Lisboa: Caminho, 2011. p.216-219.
- Cf. VICK, Brian E. The Congress of Vienna: power and politics after Napoleon. London: Havard University Press, 2014. p. 196-198.
- Segundo FARIA, op cit., p.157, fora a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal que permitiu as negociações que conseguiram consumar o casamento do Príncipe D. Pedro com D. Carlota Josefina Leopoldina de Habsburgo (maio de 1818).
- Cf. GALVES, Marcelo Cheche. The Congress of Vienna and the matter of slavery in the North of the Portuguese America. In: THE CONGRESS OF VIENNA AND ITS GLOBAL DIMENSION, 2014, Vienna. Book of abstracts… Viena: Universitat Wien, 2014. v. 1. p. 9.
- FARIA, op cit., p.156-157.
- Cf. MENDONÇA, Antonio Pedro Lopes de. Notícia histórica do Duque de Palmella. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859. p.36-39.
- BONIFÁCIO, O primeiro Duque…op. cit., p.30-32.
- Ibid., p. 57-59.
Romário Sampaio Basilio – Mestrando em História Moderna e dos Descobrimentos, Universidade Nova de Lisboa, FCSH, Lisboa, Portugal. E-mail: E-mail: [email protected].
BONIFÁCIO, Maria de Fátima. O primeiro Duque de Palmela: político e diplomata. Lisboa: D. Quixote, 2015. Resenha de: BASILIO, Romario Sampaio. A Diplomacia portuguesa no Congresso de Viena (1815): a trajetória do primeiro Dugue de Pamela, D. Pedro de Sousa Holstein. Outros Tempos, São Luís, v.12, n.20, p.288-292, 2015. Acessar publicação original. [IF].
Teaching History Creatively – COOPER (PR)
COOPER, H. (Ed.). Teaching History Creatively. Londres: Routledge, 2013. 185p. Resenha de: SOLA BELLAS, M. Gil de. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.133-137, 2015.
Teaching History Creatively es un libro orientado a los docentes cuya labor se desempeñaprincipalmente durante los primeros años de la educación escolar, más concretamente los últimosaños de Educación Infantil y toda la Educación Primaria, aunque también podría adaptarse a losniveles de enseñanza superiores. A través del mismo se pretende introducir a los docentes a laenseñanza de la historia de manera creativa a partir de la realización de investigaciones históricasaptas para el alumnado, de forma que se desarrolle su pensamiento histórico. Esto dotará alos alumnos de una serie de recursos esenciales para el adecuado aprendizaje de la historia, ypermitiendo que éstos realicen su propia representación del pasado yanalizar los hechos históricosdesde un punto de vista crítico.
Pensar históricamente implica, por lo tanto, poner en práctica una serie de procesos quesobrepasan lo meramente conceptual. Para lograr que los alumnos piensen históricamente se hade conseguir, entre otras cosas, el desarrollo de una conciencia histórica, fomentar la imaginacióny la creatividad que les permitirán elaborar hipótesis, y aprender a analizar e interpretar los hechoshistóricos. Todos estos factores son analizados y desarrollados en este libro mediante una seriede estudios de caso que permitirán no sólo comprobar cómo la enseñanza de la historia de formacreativa permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo para el alumnadosino que además proporcionan ideas variadas y concretas sobre cómo poner en práctica este tipode enseñanza.
El libro se divide en tres grandes bloques, precedidos por un prólogo de Teresa Cremin, laeditora de la serie Learning to teach in Primary School, a la que pertenece este libro, y una breveintroducción del libro por parte de Hilary Cooper, editora del mismo.
En el prólogo del libro, Cremin indica que el alto nivel de especificidad del currículo en elReino Unido durante los últimos veinte años ha supuesto un desafío para los docentes que, pesea verse más limitados respecto a los contenidos, han buscado el desarrollo de nuevas estrategiasque buscan enseñar creativamente y para la creatividad. Asegura que enseñar creativamente esimportante para trabajar el currículo de forma innovadora, pero que además es importante enseñarpara la creatividad, de manera que se busque el desarrollo de la competencia creativa del alumno.
Para ella, la creatividad en el proceso enseñanza-aprendizaje se asocia con innovación, originalidad,propiedad y control, y asegura que esta serie de libros, que muestran principios de enseñanzabasados en investigaciones y no exclusivamente en principios teóricos, busca ofrecer apoyo a losdocentes que busquen desarrollar la creatividad y la curiosidad de sus alumnos.
Cooper, en su prefacio, indica que la intención de este libro es la de ofrecer pruebas de quela historia es una asignatura que merece la pena trabajar de forma creativa. Muestra cómo este libro es un trabajo oportuno, tanto por el momento en el que se está llevando a cabo, cuandose pide a los alumnos que sean capaces de elaborar un pensamiento histórico que les permitaobtener conclusiones y realizar argumentaciones entre otros aspectos, como por la importanciade la promoción de la creatividad en el aula de historia, puesto que ambos conceptos estáninterrelacionados.
La primera parte del libro, que lleva por título The essential integration of history and creativity,está dividido en dos capítulos, ambos elaborados por la didacta británica. En ellos se explica deforma más extensa por qué la creatividad y la historia son interdependientes.
En el primer capítulo, Why must teaching and learning in history be creative?, Cooper afirmaque es posible aprender de manera creativa y trabajando el currículo de forma transversal mientrasque se desarrollan además las inteligencias múltiples, y todo ello a partir de una serie de conceptosbásicos. En primer lugar se deben identificar áreas de investigación, definir problemas y elaborarpreguntas. Para ello es necesario desarrollar lo que ella llama “possibility thinking” o pensamientode posibilidad, definido como la “habilidad de considerar una serie de posibles respuestas operspectivas diferentes para responder a una pregunta, problema o situación”. Esto permite quese trabajen la imaginación y la empatía de los alumnos, que serán capaces de crear nuevospensamientos basándose en el comportamiento y reacciones que otras personas podrían tener.
Además se permite al alumnado correr riesgos basándose en sus conocimientos o en su falta de losmismos como forma de favorecer la tolerancia a la incertidumbre, y mejorando su autoconfianza. Otroaspecto indispensable es la colaboración para favorecer el aprendizaje compartido y las habilidadescomunicativas del alumnado no sólo a la hora de responder preguntas sino para elaborar preguntasnuevas que lleven a nuevos pensamientos y posibilidades de investigación. Todo esto estaráenfocado a una meta: los alumnos deberán llegar a conclusiones propias que tendrán más valorpor haber sido alcanzadas de forma activa y creativa, y que podrán posteriormente investigar. Porúltimo, Cooper menciona las ideas de Ryle, quien indica que la creatividad supone “saber cómo”,es decir, comprender que toda disciplina está basada en investigaciones previas, y “saber que”, esdecir, el conocimiento conceptual. Posteriormente, relaciona todos estos conceptos básicos coninvestigaciones recientes en el campo de la psicología y la neurociencia, y para finalizar el capítuloexplora los diferentes aspectos que muestran la relación existente entre dichos conceptos y laforma en la que los historiadores investigan y elaboran la historia, es decir, la manera en que loshistoriadores piensan la historia.
En el segundo capítulo, Supporting creative learning in history, la propia Cooper demuestra,a partir de las teorías constructivistas de autores como Piaget, Bruner y Vygotsky, que es posibleque los alumnos lleven a cabo investigaciones históricas elaboradas de la manera explicada en elcapítulo anterior. A continuación indica la forma en la que los docentes pueden crear un ambienteadecuado para favorecer la enseñanza creativa y la enseñanza para la creatividad en el aula a partirde una serie de valores y estrategias a la hora de orientar la sesión, organizar el espacio del aula y,en general, crear una atmósfera propicia para el fomento del aprendizaje creativo de la historia porparte del alumnado.
La segunda parte del libro, titulada Creative approaches to aspects of historical enquiry,consta de siete capítulos elaborados por distintos autores. En ellos se muestra cómo las teoríasconstructivistas del aprendizaje junto con la creatividad y la historia pueden favorecer el desarrollodel pensamiento investigador del alumnado, todo ello a partir de investigaciones llevadas a cabo porlos autores de cada capítulo.
El primer capítulo se titula Investigating activities using sources. Elaborado por Harnetty Whitehouse, propone diferentes actividades a partir de las cuales se busca el desarrollo delpensamiento histórico y creativo del alumnado de Educación Infantil y Primaria a partir de pequeñasinvestigaciones relacionadas con la historia de su entorno más próximo y en colaboración con laUniversidad de West of England, que proporciona no sólo materiales sino diferentes formas deabordar los contenidos a trabajar con los alumnos. Se trata de un ejemplo de la necesidad de lacolaboración y la planificación a la hora de elaborar actividades creativas si se quiere alcanzar un resultado satisfactorio. Como conclusión del capítulo, se muestra cómo se ha estimulado elinterés del alumnado y cómo es posible llevar a cabo actividades abiertas y creativas basadas enun currículo cuyos contenidos son muy específicos.
El título del segundo capítulo es Using archives creatively. Su autora, Sue Temple, muestraen él cómo el acceso a fuentes primarias reales permite al alumnado comprender la forma en quetrabajan y desarrollan teorías los historiadores. Generalmente, estas fuentes primarias suelen seredificios o artefactos, pero Temple sugiere actividades basadas en la utilización de documentosprimarios que se encuentran en los archivos municipales, como censos, mapas, diarios, imágeneso documentos sobre cualquier elemento del entorno del alumnado. Estos documentos deben ser,según ella, ricos, fiables y relevantes para el alumnado, y enfoca las actividades indicando a losalumnos que son “detectives de la historia”y que, basándose en esos documentos, deberán descubrirqué ocurrió a una persona o un lugar determinado. Se trata de actividades que implican de formaactiva al alumnado, que estimulan su interés y sobre todo desarrollan habilidades de investigación,pensamiento histórico y conciencia social y de pertenencia a un entorno concreto.
Moore, Houghton y Angus son los autores de Using artefacts and written sources creatively,el tercer capítulo de este segundo bloque. Proponen actividades en las que los alumnos debenrecrear la historia mediante la decodificación de fuentes escritas y de pequeñas investigacionessobre artefactos. Tanto los documentos escritos como los objetos permiten a los alumnos hacersepreguntas sobre el período de la historia que se trabaje. En primer lugar, a partir del objeto, deberánelaborar su propia versión de la historia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación(TIC), y que luego se comparará con la realidad mediante una fuente escrita relativa a ese mismoperiodo. Esto permite a los alumnos no sólo desarrollar su capacidad creativa sino también sushabilidades de investigación, deduccion, análisis y comparación de información desde un punto devista crítico.
El cuarto capítulo es un estudio de caso denominado Creative approaches to time andchronology, y llevado a cabo por Moore, Angus, Brady, Bates y Murgatroyd para desarrollarel pensamiento cronológico del alumnado a partir de objetos, la vida de personas o momentosimportantes de la historia. Para los autores de este capítulo, ser capaces de pensar cronológicamenteno consiste únicamente en memorizar fechas y nombres, sino que implica la habilidad de secuenciareventos, relacionarlos y establecer comparaciones entre ellos, de manera que no sólo sean hechosaislados sino conceptos que se interrelacionan y que dependen unos de otros. Para ello, sugierenla elaboración de diferentes líneas del tiempo en las que se secuencien, por ejemplo, palabras devocabulario específico, imágenes, objetos, etc., además de otro tipo de actividades basadas en lainvestigación sobre un tema concreto y su desarrollo a través de la historia, como la escritura.
Jon Nichol es el autor de Creativity and historical investigation: pupils in role as historydetectives (proto-historians) and as historical agent, el siguiente capítulo de la segunda parte dellibro, y cuya investigación propone, como el título indica, el uso del rol de detective por parte de losalumnos para resolver una serie de misterios basados en determinados momentos de la historia.
El papel de detective-historiador, semejante al desarrollado por Temple en el segundo capítulo deeste mismo bloque, permite a los alumnos investigar la historia a partir de preguntas relevantespara obtener respuestas que les acerquen a la resolución del misterio propuesto por el docente.
Las actividades propuestas permiten abordar de forma creativa y activa conceptos opuestos peropertenecientes al mismo periodo de la historia, como son cristianismo e islam, jihad y cruzada,migración y asentamientos, etc.
El sexto estudio de caso, llevado a cabo por Dodwell y titulado Using creative drama approachesfor the teaching of history, utiliza el teatro y la narración de historias, mitos y leyendas propiasde su entorno más próximo para fomentar el pensamiento creativo y la curiosidad del alumnado.
Basándose en estas historias, se proponen diversas actividades de creación de obras de teatro,narración, improvisación, cambio de roles, danza y canto…, que los alumnos deberán realizar, y enlas que la investigación previa y el trabajo cooperativo son esenciales tanto para la motivación delalumnado por los relatos pertenecientes al folklore de lugares próximos y lejanos como para que la adquisición de contenidos históricos se produzca de forma adecuada. De esta manera se otorgavalor histórico a las narraciones propias de la cultura de cada lugar, teniendo presente que se hacreado o adaptado una obra ficticia que tiene como base en realidades históricas concretasEl último capítulo del segundo bloque se titula Creativity, connectivity and interpretation. Suautor, Jon Nichol, se centra en el desarrollo de la capacidad de interpretación de la historia por partedel alumnado como habilidad indispensable para comprender la historia y desarrollar el pensamientohistórico y creativo. Las actividades propuestas están basadas en pequeñas investigacioneshistóricas en las que los alumnos deben actuar como historiadores: analizar documentos oartefactos históricos, investigar acerca del periodo histórico en el que se encuentran, realizar unareconstrucción cronológica de los hechos que se extraen de dichos documentos o artefactos y apartir de la misma elaborar una interpretación de la historia relativa al material analizado. En este tipode actividades, la capacidad del docente para conectar de forma creativa los contenidos históricoscon la actividad es esencial, puesto que debe proporcionar a los alumnos el material necesario parala investigación y orientarlos en su trabajo, pero las conclusiones y las interpretaciones han de serrealizadas exclusivamente por el alumnado.
Finalmente, la tercera parte del libro ofrece, desde una perspectiva más amplia, la manerade introducir en el aula de Educación Primaria la enseñanza creativa de la historia. Este tercerúltimo bloque se titula A broader perspective of creativity and history, y se divide en tres capítulos.
En el primero, titulado Creative exploration of local, national and global link, Harnett y Whitehousedemuestran como puede trabajarse el contenido histórico desde lo local a lo global de maneracreativa a partir de experiencias significativas para el alumnado que puedan relacionarse con lahistoria de la localidad, así como del país y del continente en el que se encuentran, por ejemploa partir de la vida de un personaje local, de los alumnos y sus familias, de nombres de calles, deobjetos…, que se relacionarán con entornos cada vez más amplios tanto en el tiempo como en elespacio. Este tipo de actividades no sólo permite desarrollar el pensamiento histórico y espacial delalumnado de una manera motivadora, sino que además les insta a buscar relaciones y favorece eldesarrollo del pensamiento cronológico y analítico.
En el segundo capítulo, Creative approaches to whole school curriculum planning for history,Maginn describe como trabajar creativamente el currículo de historia de forma transversal a travésde la diversidad cultural del centro escolar. En los primeros años, la historia se trabaja de formamanipulativa, a través de artefactos que permitan al alumnado elaborar sus propias hipótesis sobreel pasado. Conforme avanzan en la etapa, las investiaciones serán más analíticas y concretas. Estopermite a los alumnos de los distintos niveles no sólo conocer las diferentes culturas que les rodean,sino además establecer relaciones, analizar las causas y efectos de la diversidad cultural en suentorno próximo, y adquirir conceptos que van más allá de lo puramente histórico.
El último capítulo de la tercera parte y, por lo tanto, del libro, se titula Awakening creativity. Enél, Cooper narra la historia de Sybill Marshall, profesora en un pueblo inglés en la década de 1950,y de cómo ésta desarrolló su propio pensamiento creativo y el de sus alumnos a través de la historialocal. Cooper asegura que fue esta historia la que le inspiró a trabajar en esta dirección y que, portanto, es una forma idónea para concluir este libro.
En definitiva, estamos ante una herramienta muy útil, cuyos estudios de caso pueden sermodificados, adaptados y puestos en práctica en cualquier etapa del sistema educativo español.
Las breves explicaciones teóricas permiten que los docentes menos familiarizados con el temase introduzcan en el mismo, obteniendo además nuevas fuentes en las que apoyarse en caso denecesitar más información. Las actividades propuestas son originales, creativas y breves, por loque pueden ser puestas en práctica en cualquier momento del curso escolar, aunque, como biendicen todos los autores que colaboran en el libro, la preparación por parte del docente es esencial ygeneralmente supone meses de trabajo previo, por lo que no contiene actividades que puedan serllevadas a cabo de forma improvisada en el aula. Desde nuestro punto de vista, ofrece situacionesmuy interesantes que, realizadas de forma adecuada, permiten explorar la historia de una maneradiferente y permitiendo que el alumnado sea una parte activa del proceso de enseñanza–aprendizaje. Estas mismas actividades pueden relacionarse unas con otras o trabajarse de forma aislada, peroel aprendizaje final será, en cualquier caso, más significativo que si se centra únicamente en elaspecto memorístico.
Marta Gil de Sola BellasUniversidad de MurciaAcessar publicação original
[IF]
O Guia árabe contemporâneo sobre o Islã político | Ibrahim Abu-Rabi
Lançado em 2011 este livro vem completar duas lacunas: A primeira – existente em todo mundo euro-americano – de obras sobre o Islã e mundo árabe escritas por seus próprios interlocutores. É bem conhecida a frase de Karl Marx usada como epígrafe no clássico livro de Edward Said “Eles não podem representar a si mesmos; devem ser representados”; a segunda – a da mesma linhagem de obras publicadas em português – embora o número de obras publicadas no Brasil sobre essa temática tenha crescido desde o fatídico 11 de setembro de 2001 e trabalhos acadêmicos especializados estejam numa crescente, estudos sobre Islã e mundo árabe feitos por árabes e muçulmanos ainda são raros. Basta lembrar que entre os autores mais publicados – no Brasil sobre esta temática temos Albert Hourani e Edward Said com ascendência árabe, mas com carreiras consolidadas no Reino Unido e EUA, respectivamente, e Karen Armstrong e Bernard Lewis, sem ascendência árabe e oriundos dos mesmos países. Leia Mais
“Zu wißen und kundt sey hiemit…”. Neue Erkenntnisse zur Osnabrücker Landes- und Stadtgeschichte aus studentischen Forschungen / Volker Arnke e Heinrich Schepers
André Gustavo de Melo Araújo – Universidade de Brasília – UnB.
ARNKE, Volker; SCHEPERS, Heinrich (orgs.). “Zu wißen und kundt sey hiemit…”. Neue Erkenntnisse zur Osnabrücker Landes- und Stadtgeschichte aus studentischen Forschungen. Osnabrück: Selbstverlag des Vereins, 2014. 328p. Resenha de: História histórias. Brasília, v.3, n.5, p.221-222, 2015. Acesso apenas pelo link original. [IF]
Os sonâmbulos: como eclodiu a Primeira Guerra Mundial
A Grande Guerra teve um impacto profundo sobre a sociedade contemporânea, marcando o final de todos os efeitos do “longo século XIX”. O conflito representou o crepúsculo da supremacia mundial da Europa e de uma civilização convencida de que fosse possível guiar a humanidade, através do conhecimento e da razão, em direção a um futuro de progresso e de pacífica convivência entre as grandes potências continentais. Isso não excluía a possibilidade de que a projeção colonial delas não comportasse conflitos ativos entre elas. O importante era impedir uma guerra que pudesse levar a uma desestabilização dos equilíbrios entre as potências, como ocorrera anteriormente, em 1870 – este era o objetivo da diplomacia da época. No final, a guerra, aliás, a “Grande Guerra”, que todos queriam evitar, mas que na realidade se preparavam para enfrentar, eclodiu, e, após cinquenta e três longos meses de devastação, mudou a sensibilidade dos contemporâneos, forçados a confrontar-se com uma realidade tanto nova quanto terrível, que deixou vestígios profundos em todos aqueles que foram envolvidos. Também por este motivo, a pesquisa das causas de tudo isso, como se pode entender, atraiu os historiadores desde o primeiro momento. Leia Mais
Recherche historique et enseignement secondaire (DH)
Recherche historique et enseignement secondaire. Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 70, n° 1, 2015, p. 141-214. Resenha de: BUGNARD, Pierre-Philippe. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.201, 2015.
Exceptionnellement, les Annales consacrent la deuxième partie de leur numéro de janvier-mars 2015 aux rapports qu’entretiennent la recherche historique et l’histoire enseignée en France, à partir du débat organisé par la revue aux Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 sur « Les Annales et l’enseignement ». Des rapports devenus sans doute plus aisés et plus consensuels à partir de la création des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), à la fin des années 1980, jusqu’aux réformes récentes de la formation des enseignants, avec en 2013 la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Un équilibre s’est ainsi établi entre les pôles que forment la science historique et sa pédagogie, conformément à une évolution signalée comme analogue en Europe et au-delà.
Une série d’articles stimulante, ouverte aux expériences concrètes conduites par des praticiens em collège et en lycée, entre en tension ou en harmonie avec la didactique, l’historiographie et l’épistémologie de l’histoire. Il est notamment souligné, en introduction, que l’intérêt pour la recherche manifesté dans les établissements pourrait permettre à l’histoire scolaire de « sortir de l’orniere » la confinant entre attentes politiques antinomiques et dédain des chercheurs: elle peut dans ces conditions « etre pensee autrement que comme une forme degradee d’histoire “savante” » (nous renvoyons ici à l’article de Laurence De Cock).
Le dossier des Annales est sans doute le plus important consacré à l’histoire enseignée depuis le numéro spécial « Difficile enseignement de l’histoire » de la revue Le Debat (vol. 175, no 3, 2013), mentionné dans l’introduction, ou la grande note de synthèse « La didactique de l’histoire » de Nicole Lautier et Nicole Allieu-Mary dans la Revue francaise de pedagogie (no 162, 2008, p. 95-131).
Table
Anheim Étienne, Girault Bénédicte, L’histoire, entre enseignement et recherche
Barbier Virginie, L’histoire-géographie en classe. La construction d’un savoir par l’apprentissage d’un savoir-faire
Berthon-Dumurgier Alexandre, Apprentissages historiques et métier d’historien. Un parcours de compétences
El Kaaouachi Hayat, La recherche en histoire dans la formation continue des enseignants
De Cock Laurence, L’histoire scolaire, une matière indisciplinée
Delacroix Christian, Un tournant pédagogique dans la formation des enseignants. Le cas du Capes d’histoire-géographie
Girault Bénédicte, De la didactique à l’épistémologie de l’histoire: une réflexivité partagée
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg.
[IF]
L’histoire, pour quoi faire? – GRUZINSKI (DH)
GRUZINSKI, Serge. L’histoire, pour quoi faire? Paris: Fayard, 2015, 300p. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.203-204, 2015.
Comment et avec quelles précautions enseigner l’histoire de la première mondialisation du xvie siècle? Cet ouvrage montre que, parmi les modes de représentation du passé, le recours à l’histoire est particulièrement adéquat pour élaborer une démarche critique, surtout lorsqu’il s’accompagne de l’utilisation de supports iconiques, tels le cinéma ou le jeu vidéo. Ces supports, en effet, facilitent en classe le travail de distanciation face aux conceptions spontanées.1 L’histoire, pour quoi faire? est l’aboutissement de vingt années de recherches menées par l’historien français Serge Gruzinski. Celui-ci y reprend ses thèmes favoris: la conquête de l’Amérique du Sud et du Mexique par les Portugais et les Espagnols au xvie siècle, le métissage et la rencontre des cultures qui s’ensuit, le rôle et la place de l’image en histoire.
L’auteur plaide pour une étude des regards que colonisateurs et colonisés se sont mutuellement jetés. Il nous entraîne à scruter de l’extérieur notre propre histoire, pour voir comment l’Europe s’est emparée du monde, non seulement avec les armes mais aussi avec ses représentations, ses cartes, sa géographie.
Dans les premiers chapitres, le livre nous invite à une analyse fine des modes de représentation du passé, des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques aux jeux vidéo, des feuilletons télévisuels aux superproductions des cinémas chinois ou américains, qui ont tous bien davantage d’audience que les historiens. L’auteur s’interroge sur le message véhiculé par ces superproductions qui mettent en scène des époques et des lieux différents. Or leurs reconstitutions stéréotypées n’apportent que rarement une réflexion critique. Il en est de même des jeux vidéo qui n’ont rien d’innocent.
Ils mettent trop souvent en scène des idéologies conservatrices exaltant le goût du pouvoir, l’opposition des barbares aux civilisés. Loin d’être des supports de cours idéaux, ils se prêtent néanmoins à une analyse critique.
Ainsi, l’ouvrage met en lumière les nombreux supports qui existent parallèlement aux récits des historiens. En le parcourant, le lecteur prend conscience du décentrement nécessaire à l’étude des sociétés, de l’importance de décloisonner, puis de reconnecter les différents domaines historiques.
L’auteur montre que c’est à partir du local, en l’occurrence de l’étude de l’Amazonie, que pourra s’étudier la globalisation. Cette dernière est au coeur du livre, où le présent se fait l’écho du passé: aujourd’hui au Brésil, par exemple, le trafic de DVD piratés a remplacé le trafic de produits tropicaux du xvie siècle.
En résumé, Serge Gruzinski met en relief la nécessité de poser d’autres questions, de chausser d’autres lunettes pour envisager le passé comme le futur. Selon lui, notre vision du monde est décalée par rapport aux questions actuelles, car les sociétés se mélangent: l’ailleurs est venu en Europe, tandis que celle-ci s’est étendue au monde. Ainsi, une culture de l’entre-deux, mélangée, fragile mais nécessaire, est apparue, celle des métis, passeurs de culture. Le livre en fait l’éloge tout en montrant sa fragilité.
Serge Gruzinski nous interpelle et nous bouscule par les rapprochements qu’il opère entre le xvie siècle et l’époque inquiète que nous vivons.
Son livre est une bonne introduction à ses recherches antérieures et à l’histoire des mentalités.
Il offre une réflexion enrichissante sur notre temps.
Son questionnement nourrit les réflexions de ses lecteurs en les invitant à se demander si nous ne construisons pas des passés afin de construire du sens, des repères pour affronter les « incertitudes du présent ».
Né en 1949, l’historien français Serge Gruzinski, directeur d’études à l’EHESS de Paris, enseigne l’histoire en France, aux États-Unis et au Brésil.
Il a notamment publié La pensee metisse, Paris: Fayard, 1999 ; Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris: La Martinière, 2004 ; L’aigle et le dragon, Paris: Fayard, 2012.
Michel Nicod
[IF]
Regards sur le monde. Apprendre avec et par l’image a l’ecole – DURISCH GAUTHIER et al (DH)
DURISCH GAUTHIER, Nicole; HERTIG, Philippe; MARCHAND, Reymond Sophie (éds.). Regards sur le monde. Apprendre avec et par l’image a l’ecole. Neuchâtel: Alphil-Presses universitaires suisses, 2015, 359p. Resenha de: FINK, Nadine. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.205-206, 2015.
Nous vivons dans un monde d’images, fixes et mobiles, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans la salle de classe. Nous sommes non seulement constamment exposés aux images, mais nous en sommes également devenus de fervents produc teurs et diffuseurs. Nous savons que chacune d’entre elles n’est qu’une représentation qui construit un point de vue et qui délivre un discours, un certain regard sur le monde. Pourtant, les images ont le plus souvent été – et sont encore majoritairement – utilisées de manière illustrative en guise d’accompagnement de textes et de discours. Une telle approche tend à prendre le visible pour le réel, le réel pour le vrai. Déconstruisant ce rapport illustratif, Regards sur le monde place l’image et son usage au coeur des apprentissages. Celle-ci devient alors bien plus qu’une simple illustration: elle est un support de connaissance que l’on peut utiliser au même titre qu’un texte, en apprenant à en identifier la nature et le statut, à en analyser le contexte de production et le contenu, à en décoder le message et les représentations véhiculées. L’objectif de ce bel ouvrage collectif – très richement illustré – est précisément d’offrir aux enseignants des exemples concrets d’utilisation de l’image à l’école, de manière à ce qu’ils puissent s’en inspirer pour leurs propres séquences d’enseignement.
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, chaque discipline porte un regard sur l’image qui lui est propre, l’analysant selon des questionnements qui relèvent de son champ scientifique. Certaines problématiques d’apprentissage relèvent toutefois d’une « grammaire commune », de caractéristiques génériques qui transcendent les disciplines spécifiques.
Elles font l’objet des quatre chapitres de la première partie de l’ouvrage, qui permettent de saisir les principaux enjeux et méthodes de l’usage et de l’analyse de l’image dans les sciences humaines et sociales: apprendre à décoder et à analyser les images (processus de dénotation/connotation), à les classer et à les catégoriser, à les exploiter em classe, à prendre conscience de l’imaginaire collectif construit par les images. La seconde partie de l’ouvrage donne successivement la voix au statut spécifique de l’image en géographie, en histoire, en éthique et culture religieuses. Tous ces chapitres se fondent sur des expériences réalisées en classe ou dans le cadre de la formation d’enseignants. Quatre d’entre eux sont consacrés à l’enseignement de l’histoire.
Ils mettent en évidence l’importance du rôle de l’image dans la construction du discours historique et décrivent des démarches originales et inspirantes pour travailler en classe à partir d’images fixes et mobiles, qu’il s’agisse d’affiches de propagande politiques et publicitaires, de caricatures et de dessins de presse, de films documentaires et de fiction, ou même de clips musicaux et de séries à succès. Il ressort ici – comme dans tout l’ouvrage d’ailleurs – que le travail d’analyse des images n’est pas une fin en soi, mais qu’il participe à la construction d’un savoir propre à chaque discipline scolaire. La troi sième partie propose trois regards extérieurs à l’école pour explorer les domaines de la photographie, du cinéma et de la bande dessinée. Une quatrième et dernière partie met en perspective l’ensemble des chapitres pour plaider en faveur d’un enseignement qui apprenne non seulement aux élèves à décoder les images et à affiner leurs regards d’observateurs, mais qui développe également leurs compétences et leurs savoirs dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Cet ouvrage permettra aux disciplines des sciences humaines et sociales – particulièrement grandes consommatrices d’images – de prendre en charge une forme d’éducation au regard. Un tel enseignement constitue un enjeu majeur en termes d’apprentissage pour donner des clés de lecture aux élèves: il s’agit de les outiller pour qu’ils puissent faire face aux nombreuses manipulations et représentations réductrices auxquelles les exposent les images.
Nadine Fink – Haute École pédagogique, Lausanne.
[IF]
Histoire globale. Un autre regard sur le monde. Paris: éditions Sciences humaines – TESTOT (DH)
TESTOT, Laurent (éd.). Histoire globale. Un autre regard sur le monde. Paris: éditions Sciences humaines, 2015 (2e éd. revue et aug.), 288 p. Resenha de: BUGNARD, Pierre-Philippe. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.206-208, 2015.
Histoire globale, dans sa deuxième édition, renoue avec les approches et les objets lancés par la deuxième génération des nouveaux historiens, celle de l’école française des Annales, à partir des années 1970. Les meilleurs géo-historiens actuels renouvellent ici le genre en y greffant, notamment, la transdisciplinarité de l’espace-temps. L’ouvrage, entre « microstoria » et « histoire connectée », rassemble une série de monographies impliquant chacune leur propre histoire-monde. Voilà de quoi donner aux programmes scolaires toutes les raisons de s’ouvrir à une nouvelle histoire globale enseignée.
Le livre se conclut sur un chapitre consacré à l’enseignement de l’histoire globale par Vincent Capdepuy, géo-historien à l’Académie de La Réunion, invité au cours 2015 du GDH « L’Histoire-Monde, une histoire connectée ! ». Deux autres conférenciers de ce cours contribuent à Histoire globale: Bouda Etemad (« Empires coloniaux: essai de bilan global ») et Christian Grataloup (« Des mondes au Monde: la géohistoire »).
Nous livrons ici in extenso la recension et la table du site des éditions Sciences humaines: http:// editions.scienceshumaines.com/histoire-globale_ fr-559.htm (consulté le 5 mai 2015).
Recension La mondialisation nous impose aujourd’hui d’envisager une histoire du Monde pris dans son ensemble. Il est devenu urgent de concevoir une histoire ouverte, qui s’enrichit de comparaisons entre différentes sociétés, étudie les connexions entre civilisations, tisse des liens entre les parcours individuels et les destins des empires, ose s’attaquer à de nouveaux objets en mobilisant la géographie, l’économie, l’anthropologie, les sciences politiques, la sociologie… L’approche globale en histoire revêt deux visages.
D’abord celui de l’histoire mondiale, un récit englobant le passé commun de l’humanité, de son apparition en Afrique il y a plusieurs millions d’années à la globalisation contemporaine. Le second visage est celui de l’histoire globale. Elle propose une méthode d’analyse, à la fois transdisciplinaire, au long terme, sur longue distance. L’historien doit savoir jouer de la mobilité de son regard, varier les échelles d’approche, penser autrement le passé – ce passé qui aurait pu être autre, qui est aussi perçu différemment ailleurs.
Produire des histoires à parts égales, où l’humanité se découvre des passés et un futur communs. Tel est le projet de l’histoire globale. Depuis longtemps reconnue dans les pays anglo-saxons, cette histoire globale est restée dans le monde francophone l’apanage de quelques pionniers, de trop rares livres… Le présent ouvrage constitue une première exploration d’ensemble de ce champ de recherche en pleine émergence.
Laurent Testot est journaliste à Sciences humaines, il a dirigé plusieurs dossiers consacrés à cette nouvelle discipline qu’est l’histoire globale, dont le hors-série Sciences humaines Histoire n° 3 « La nouvelle histoire du Monde » (décembre 2014-janvier 2015).
Coordinateur du présent ouvrage, il a également coordonné, aux Éditions Sciences humaines, La Guerre. Des origines a nos jours (avec Jean-Vincent Holeindre), 2012 ; Une histoire du monde global (avec Philippe Norel), 2012 ; La Religion. Unite et diversite (avec Jean-François Dortier), 2006. Il administre, avec Vincent Capdepuy, le blog « Histoire globale »: http://blogs.histoireglobale.com.
Avec les contributions de: Frédéric Barbier, Jérôme Baschet, Philippe Beaujard, Roy Bin Wong, Lucette Boulnois, Vincent Capdepuy, Dipesh Chakrabarty, Gérard Chaliand, David Cosandey, René-Éric Dagorn, Frédéric Denhez, Marcel Detienne, Caroline Douki, Bouda Etemad, Christian Grataloup, Olivier Grenouilleau, Catherine Halpern, Nicolas Journet, Jacques Lévy, Régis Meyran, Philippe Minard, Philippe Norel, Jean- Pierre Poussou, Benoît Richard, Pierre-François Souyri, Bernard Vincent.
Table
Préface
Introduction
L’histoire au défi du monde (L. Testot)
Les sources de l’histoire globale (R. Meyran)
I. Restituer des dynamiques
Commerce et conquêtes… sur les routes de la soie (L. Boulnois)
Les racines médiévales de l’expansion occidentale (J. Baschet)
Le monde à l’envers: un Moyen Âge japonais? (Rencontre avec P.-F. Souyri)
1492: année cruciale (Rencontre avec B. Vincent)
Empires coloniaux: essai de bilan global (B. Etemad)
L’onde de choc des révolutions (J.-P. Poussou)
La société-Monde, une histoire courte (J. Lévy)
II. De nouvelles perspectives
Un espace mondialisé: l’océan Indien (P. Beaujard)
Comment les peuples guerriers ont façonné le monde (Rencontre avec G. Chaliand)
La naissance de l’imprimerie et la globalisation (F. Barbier)
Les raisons du « miracle européen » (Rencontre avec D. Cosandey)
Jalons pour une histoire globale de l’esclavage (O. Grenouilleau)
La Chine face à l’Occident (R. Bin Wong) Les enjeux d’une histoire du climat (F. Denhez)
III. Les approches méthodologiques
Pour un changement d’échelle historiographique (C. Douki et P. Minard)
La dimension globale en histoire économique (P. Norel)
Big history et histoire environnementale (R.-É. Dagorn)
Des mondes au Monde: la géohistoire (C. Grataloup)
Des Grecs aux Iroquois, une démarche comparative (Rencontre avec M. Detienne)
Les postcolonial studies: retour d’empires (N. Journet)
Quelle histoire pour les dominés? (Rencontre avec D. Chakrabarty)
Conclusion
Enseigner l’histoire globale (V. Capdepuy)
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg
[IF]
Les Suisses – DIRLEWANGER (DH)
DIRLEWANGER, Dominique. Les Suisses. Paris: Ateliers Henry Dougier, 2014, 143p. Resenha de: MASUNGI, Nathalie. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.209, 2015.
Ce livre s’insère dans la collection « Lignes de vie d’un peuple », dont l’objectif est de présenter des populations en remettant en cause les stéréotypes (souvent tenaces) s’y attachant.
La dimension polymorphe de la Suisse et de ses habitants est mise en exergue par le biais de témoignages d’experts autour de thèmes politique, historique, économique et culturel. Chaque spécialiste propose, en plus de ses considérations scientifiques, son point de vue personnel quant à ce qui fonde l’identité des Suisses, hier et aujourd’hui. L’ouvrage intéressera les curieux avides de percer le secret d’un pays qui, lorsqu’il est évoqué de l’extérieur, est celui des clichés: la Suisse est décrite comme un paradis fiscal, comme une terre habitée par un peuple heureux, comme une nation située au « carrefour des cultures europeennes et avec quatre langues nationales […] ». Dominique Dirlewanger propose d’aller au-delà de ces images. Il montre ce qui fait ce pays, dont mythes et légendes jalonnent également la création de sa propre identité vis-àvis de l’étranger.
Ce livre permet aussi au lectorat suisse de trouver des réponses à une question récurrente qui hante le débat politique et l’espace public: celle de la définition d’une identité commune, matérialisée par un « qui sommes-nous? » qui n’appelle pas de réponse simple et définitive.
Les Suisses peut enfin être employé comme ressource réflexive à l’attention d’élèves du secondaire (14-18 ans), afin de mettre en perspective des thématiques abordées dans le cadre des cours d’histoire, de citoyenneté ou d’économie et droit.
Historien et enseignant, Dominique Dirlewanger est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Tell me. La Suisse racontee autrement (ISS-UNIL, 2010). Il collabore avec l’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne pour la création d’ateliers de vulgarisation scientifique en histoire. Il a fondé l’association memorado.ch afin de promouvoir l’histoire suisse.
Nathalie Masungi – Établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne et Haute École pédagogique, Lausanne.
[IF]
Paroles de témoins, paroles d’élèves. La mémoire et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’espace public au monde scolaire – NADINE (DH)
NADINE, Fink. Paroles de témoins, paroles d’élèves. La mémoire et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’espace public au monde scolaire. Berne: Peter Lang, 2014, 266p. Resenha de: BUGNARD, Pierre-Philippe. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.199-200, 2015.
Dans l’opération que tout un chacun tente irrémédiablement, au moins à partir de son école, pour comprendre son passé et celui des civilisations, les postures emblématiques de l’historien et du témoin sont tour à tour convoquées ou repoussées. Et c’est donc à une forme de tragédie cornélienne que l’on assiste dans ce livre: qui l’emportera du témoin qui a vu ou de l’historien qui a lu? Le drame s’incarne dans un scénario que l’on ne peut plus lâcher dès qu’on a commencé à en suivre la trame. L’auteure pris soin de l’attacher à un lieu, la Suisse, et à un temps, la Seconde Guerre mondiale. Cette période rend cruciale la question de savoir ce qui est le plus recommandable: le témoignage d’un contemporain ayant vécu les événements ou l’analyse d’un historien illustrant la même époque à partir d’archives? À propos, comment procédaient les créateurs de l’histoire dans l’Antiquité? C’est sur un rappel fondamental que le livre attire d’abord l’attention: la discipline est née comme une science sociale avec Hérodote, à partir d’un premier rapport d’enquête (historia, en grec) fondé sur des témoignages… Or c’est justement la démarche avec laquelle il semble que l’on ait renoué, dès lors que les technologies ont permis d’enregistrer les témoignages tardifs de ceux qui ont vécu une histoire ignorée de la dernière génération (non sans se targuer, parfois, d’être des dépositaires incontestables de cette histoire, dès lors qu’on dispose du récit des ultimes témoins vivants du passé !). Les historiens ont donc dû faire des concessions à leurs certitudes positivistes, forgées sur l’enclume des sources écrites qu’ils tiennent souvent, eux aussi, pour parole d’évangile, ou comme discours fabriqué dès le moment où la discipline se constitue en palliatif à la disparition des témoins directs: c’est par exemple la démarche adoptée par Michelet pour aborder la Révolution. Toute cette histoire de l’histoire, admirablement reconstituée, figure en exergue de l’ouvrage. Aucun professeur ne se lassera de la lire ou de la relire !.
À partir de là, on a hâte d’en savoir davantage sur les forces antagonistes du drame qui se joue, en Suisse, autour de la question pivot de tout le xxe siècle helvétique, question qui s’est posée aussi au monde dès 1945: pourquoi ce petit pays n’a-t-il pas été envahi par les puissances de l’Axe alors qu’il est au centre géographique des hostilités, au point de constituer un obstacle à renverser absolument? Imaginez une classe étudiant cette bataille entre témoins et historiens pour reconstituer la trame d’un tel passé… La thèse de Nadine Fink prend cette question comme départ de sa recherche. Elle n’a pas à la traiter dans sa dimension épistémologique, puisque la démarche de recherche relève de la didactique.
Elle l’aborde dans une langue limpide, en faisant l’inventaire des forces qui s’affrontent pour fabriquer la mémoire d’une période sensible. Cette histoire est porteuse d’une image déterminante pour les valeurs d’une nation improbable, donc particulièrement sensible au passé qui la justifie. Elle est tiraillée entre témoins et historiens, entre peuples des années de guerre, interviewés en fonction des critères de l’histoire orale du dispositif de L’histoire c’est moi (http://www.archimob.ch/), et historiens savants de la Commission Bergier, oeuvrant en fonction des canons de leur discipline.
Cette histoire duale de la fabrication de l’histoire est à elle seule déjà passionnante, pour le public comme pour les professeurs. Elle devient incontournable lorsqu’elle s’attelle, dans la partie centrale du travail, à étudier la contribution du témoignage oral à la constitution d’une pensée historienne scolaire.
Comment passe-t-on du témoignage brut à une telle pensée? Par des opérations de distanciation formulées d’abord sous forme d’hypothèses: il s’agit de limiter l’empathie, obstacle à la dissociation histoire/ mémoire, de privilégier l’hétérogénéité des témoignages, levier au doute sur leur véracité, et de les confronter aux contextes d’élaboration de la mémoire, ferment de distance critique.
Pour l’enquête, 73 classes des trois degrés se sont impliquées dans une exposition présentant 13 heures d’images. Cette dernière a été l’objet d’une analyse qualitative du rôle des témoignages oraux comme support didactique au développement d’une pensée historienne scolaire. Les témoignages proposés chamboulent les conceptions des élèves ; impossible de relayer ici la substance de tels bouleversements conceptuels, mais s’il faut résumer à gros traits, on peut dire que l’image de la Suisse est en partie débarrassée des illusions qui l’enjolivaient.
Les entretiens conduits avec 24 élèves montrent, parmi les trois idéaux types élaborés – croyants, rationalistes, scientistes –, que si chacun parvient à déterminer le caractère intrinsèque des récits, seul, en toute logique, le groupe des croyants accorde un statut de véracité aux témoignages.
À partir de l’expérience d’une telle recherche, imaginons pousser la mise en perspective et confronter les élèves aux sources de l’histoire orale simultanément aux sources historiennes. Par exemple celles des archives Guderian, montrant que, du point du vue allemand, les villes suisses auraient pu être prises « au plus tard dans le courant du deuxieme jour » d’une offensive. Ou encore celles du Conseil fédéral, révélant qu’en 1942 déjà, « un des elements d’interet susceptible d’assurer le respect par l’Allemagne de notre independance nationale est notre situation economique et monetaire ». Imaginons aussi, dans une comparaison entre sources orales et récits de manuels, la réaction d’élèves comparant le témoignage de l’historien et conseiller fédéral G.-A. Chevallaz – « nous n’aurions pas tenu trois jours » en cas d’attaque de l’Allemagne – avec sa propre version du manuel Payot – « Le “herisson helvetique”, barricade dans ses montagnes, restait isole et libre dans une Europe mise au pas » – ou avec le manuel Fragnière: « Le reduit alpin et la bonne preparation de l’armee a repousser une attaque ont joue un role suffisamment dissuasif. » La recherche de Nadine Fink illustre à quel point les témoignages oraux ne révèlent que l’écume de vagues aux reflets changeants. Pour saisir la profondeur de l’océan, il faut aussi le temps de collation de mille autres témoignages, de toutes natures, jusqu’à ce qu’ils parviennent aux historiens pour alimenter leurs rapports d’enquête. Et c’est au contexte d’élaboration de tels rapports qu’on peut dès lors initier nos élèves. Personne n’accepterait de déclarer responsable tel conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la route sur la base du premier témoignage oral, sans audition des autres témoins, sans l’examen des véhicules, de l’état des pneus et de la chaussée, sans l’analyse des taux d’alcoolémie, des permis de conduire, sans la prise en compte des codes routiers et des coutumes du pays de l’accident, de ses conditions d’assurance… Si les élèves considèrent que l’intelligibilité de leur propre histoire et de celle du monde réclame l’élaboration d’un tel contexte, alors la parole des témoins directs revêtira à leurs yeux toute sa signification.
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg.
[IF]
Penance in Medieval Europe 600-1200 – MEENS (Tempo)
MEENS, Rob.. Penance in Medieval Europe 600-1200. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Resenha de: FARRELL, Elaine Cristine dos Santos Pereira. As diferentes facetas da Penitência. Tempo v.21 no.37 Niterói jan./jun. 2015.
Penitência é um tópico popular atualmente entre os medievalistas. Isso não é surpresa, já que penitência tem sido um aspecto importante da religiosidade Cristã desde a Antiguidade tardia e um tema presente na maioria dos gêneros literários medievais. Ao contrário, o que deveria estarrecer é a falta de interesse no tema.
Felizmente, vários pesquisadores distintos têm devotado atenção a esse assunto nas últimas décadas. A penitência tem sido investigada sob diferentes perspectivas como a sua teologia, mas, talvez, ainda mais importante, a sua prática2. O recente interesse de acadêmicos na literatura penitencial está intrinsicamente relacionado a esse tema. Depois das publicações de John McNeill e Thomas Oakley nas décadas de 1920 e 1930, esse gênero foi relativamente negligenciado por algum tempo, até que nas décadas de 1970 e 1980, pesquisadores reavaliaram a importância dos penitenciais para os estudos históricos (McNeill, 1923; Oakley, 1923).
O reavivamento do interesse em arrependimento, confissão e penitência é concorrente com o crescimento da popularidade da história das mentalidades e história cultural, que trouxe para o seio dos debates históricos aspectos da vida que não eram frequentemente visitados por historiadores anteriormente (Meens, 1997, p.74; Vainfas, 1997, p.127-162). Ainda mais recente, o estudo da penitência tem sido reconectado ao campo da história do poder e ideias políticas, mas de uma forma diferenciada. A penitência tem sido investigada sob o ângulo da negociação de conflitos e disputas, um campo de estudo que tem ganhado atenção recentemente (Meens, 2014, p. 6, 10). A troca de ângulo e de perspectiva igualmente não deveria causar surpresa, visto que a maneira a qual os historiadores compreendem o poder e o estudam, também tem mudado.
Como Marcelo Cândido bem apresentou, “essa ‘Nova História Política’ não enxerga o poder apenas como uma forma de controle sobre homens ou sobre estruturas” (Silva, 2013, p. 101), mas esta também se ocupa das relações sociais e das relações entre pessoas e coisas, ou em outras palavras, como as pessoas se apropriam das coisas. A história do poder é hoje em dia feita em aproximação à história da cultura e da antropologia.
Penitência é um assunto que está relacionado a diversos aspectos da vida. Ela é relacionada à religião, e, portanto, à cultura, ao poder, pois está ligada a instituições e, algumas vezes, também à economia, pois, por exemplo, indivíduos são recomendados a cumprir penitência por roubo. Entretanto, foi no contexto dos estudos do conflito e com uma abordagem sociocultural que Rob Meens escreveu sobre penitência. Trabalhos anteriores, tais como The Penitential State da Mayke de Jong, já mesclaram história das religiões com política e demonstraram que penitência pode ser um instrumento útil na negociação de conflitos. A obra de Meens aborda principalmente esse aspecto da penitência, analisando a sua prática desde a Antiguidade tardia até o século XII, levando em consideração os distintos centros e contextos da produção penitencial.
A introdução do livro de Meens familiariza o leitor com os principais debates sobre a prática da penitência e argumenta pela centralidade da prática da confissão e penitência à natureza da religiosidade medieval (Meens, 2014, p. 1-11). O capítulo dois inicia na virada do século VI. Este evidencia que importantes escritores religiosos medievais contribuíram para gerar a ideia de que penitência é um instrumento essencial para a expiação de pecados. Indivíduos como João Cassiano, Tertuliano, Dionísio Exíguo e Sozomeno, dentre outros, foram agentes centrais nesse processo (Meens, 2014, p. 15-25). Meens também demonstra que a Gália no século VI não era uma terra infértil para penitência; ao contrário, pecado era considerado um problema grave e a importância da penitência enfrentada com seriedade nos concílios gauleses (Meens, 2014, p. 26-34).
A transição entre os capítulos dois e três levanta um dos argumentos centrais do livro: o fato de que não há diferenças essenciais entre os modos gaulês e irlandês de praticar penitência. Isso contribui para desconstruir um argumento que foi mantido por várias décadas, o de que o Cristianismo irlandês desenvolveu uma forma de penitência privada, que estaria oposta à penitência pública.
Todos os pesquisadores desenvolvendo a dita “nova história da penitência” como Meens, Jong e Sarah Hamilton, têm argumentado que o conceito de penitência secreta não existia na Alta Idade Média, e, que é, portanto, uma construção historiográfica (Hamilton, 2001, p. 3-25; Jong, 1997, p. 894-902). É um fato que o gênero de livros penitenciais é produto do mundo insular do século VI, mas as formas de expiar os pecados e praticar penitência descritas nestes são bastante próximas às praticadas na Gália do século VI ou pelos pais da Igreja (Meens, 2014, p. 38-69). Nesse capítulo, Meens apresentou o argumento de que os cânones penitenciais irlandeses indicam que os clérigos tiveram um papel importante na resolução de disputas, pois eles agiram como árbitros nos casos de “pecados sociais”, tais como infrações sexuais e casos de violência. Frequentemente, a penitência em si em adição de pagamento em espécie, contrato matrimonial e retribuição em trabalho funcionaram como formas de satisfação às partes ofendidas em conflitos. Adicionalmente, ele enfatiza que as hagiografias podem contribuir para lançar luz sobre como a penitência teria, talvez, sido praticada na vida real. A Vitae Columbae, por exemplo, fornece histórias sobre pecadores que buscaram uma vida de penitência debaixo da instrução do São Columba em Iona, uma ilha nas margens da Escócia, mas que, naquela época, era conectada ao mundo irlandês. Os pecados sendo extirpados nessas anedotas ilustram circunstâncias mencionadas nos cânones penitenciais, tais como incesto e assassinato, por exemplo (Meens, 2014, p. 64-69).
O capítulo quarto trata do impacto da literatura penitencial insular no reino Franco e na Inglaterra. Columbano, o peregrino irlandês, contribuiu para popularizar o gênero no continente e a vida escrita sobre Fursa, outro peregrino irlandês que também discute penitência e a purgação de pecados (Meens, 2014, p. 70-81). Nesse mesmo capítulo, a íntima relação entre penitenciais e a literatura canônica é demonstrada. No mundo gaulês, a Collectio Vetus Gallica, ao mesmo tempo, foi influenciada e influenciou os livros penitenciais (Meens, 2014, p. 71, 96), e, no mundo anglo-saxão, a compilação dos ensinamentos de Teodoro de Canterbury reflete a simbiose entre esses dois gêneros (Meens, 2014, p. 88-96).
O capítulo seguinte está fortemente ligado ao anterior, visto que este discute penitência dentro do mundo carolíngio no contexto das ditas reformas. Wilibrordo e Bonifácio tiveram um importante papel nas reformas religiosas e nas empreitadas evangelísticas em processo na borda norte do reino. Portanto, Meens mantém que Wilibrordo e Bonifácio talvez estivessem envolvidos na produção de textos penitenciais, tais como o Paenitentiale Oxoniense II e o Excarpsus Cummeani, respectivamente. Bonifácio tinha fortes conexões com Corbie, de onde a Collectio Vetus Gallica é proveniente (Meens, 2014, p. 102-111). Meens destaca, ainda, que este foi um período de intensa produção de novos livros penitenciais e cópia de anteriores (Meens, 2014, p. 102, 139). De fato, é graças aos esforços carolíngios que a literatura penitencial sobreviveu. Meens argumenta que os compiladores dos penitenciais carolíngios expandiram consideravelmente o número de cânones que lidam exclusivamente com ofensas laicas, ampliando, assim, o caráter pastoral desses textos (Meens, 2014, p. 104).
No capítulo sexto, há uma mudança de cenário. Livros penitenciais estavam sendo produzidos também fora do mundo insular e carolíngio, em lugares como Espanha e Itália, mas como Meens frisa, as circunstancias políticas sob as quais a literatura penitencial floresceu nesses lugares eram diferentes (Meens, 2014, p. 164).
Três dos penitenciais espanhóis têm, dentre outras fontes, textos carolíngios como base, tais como o Excarpsus Cummeani. Entretanto, os penitenciais espanhóis são encontrados em manuscritos ricamente iluminados, indicando que eles não foram redigidos com fins pastorais (Meens, 2014, p. 164-70). Esses textos e sua relevância não foram exaustivamente estudados e ainda há penitenciais espanhóis que não foram estudados (Meens, 2014, p. 171-172). Além de explorar as abordagens espanholas e italianas quanto à penitência, Meens discute nesse capítulo o impacto dos trabalhos de Regino de Prum e Burcardo de Worms, e examina a prática da penitência entre as aristocracias (Meens, 2014, p. 141-154). Essa é outra parte chave do livro na qual exemplos de penitência funcionando como forma de instrumento de reconciliação de conflitos políticos são exibidos. Um dos exemplos fornecidos é o caso de Henry VI, a quem o papa Gregório VII havia excomungado. Devido à situação política instável da Itália, Gregório sentiu-se ameaçado pelos oponentes de Henry e decidiu restaurá-lo como membro da comunidade cristã através do cumprimento de penitência (Meens, 2014, p. 182-185).
O último capítulo lida com o século XII. Neste, o impacto dos trabalhos de indivíduos como Pedro Abelardo e Bartolomeu de Exeter são considerados (Meens, 2014, p. 119-213). Meens justifica bem a decisão de limitar seu estudo ao século XII, baseado em dois argumentos: o primeiro é o fato de que, após o século XII, os livros de penitência deixaram de ser copiados; segundo, porque o surgimento das escolas catedráticas e das universidades propiciou avanços nas discussões sobre os melhores mecanismos para corrigir comportamentos considerados pecaminosos e, como consequência desse processo, estudiosos buscaram distinguir entre direito canônico e literatura pastoral (Meens, 2014, p. 191-192). Pessoas como Burcardo de Worms, por exemplo, não pensava nesse tipo de distinção, portanto, esta foi uma mudança produzida no século XII (Meens, 2014, p. 191).
Penance in Medieval Europe de Meens é uma esperada contribuição ao campo. A obra traz um olhar novo sobre a penitência na Idade Média, através da análise desta sob o ângulo dos estudos de conflito. Ao mesmo tempo, este é um livro didático que dialoga e resume o conhecimento produzido nas últimas décadas sobre penitência tanto por Meens quanto por outros pesquisadores.
Essa obra é, portanto, uma leitura indispensável tanto para os especialistas em penitência quanto para os iniciantes nesse campo de estudo. A obra não apenas discute penitência nos livros penitenciais, mas em uma rica variedade de gêneros literários, em diferentes séculos e em contextos diversos da Europa Ocidental. Desse modo, a obra evidencia a multiplicidade de maneiras possíveis para se extirpar pecados na Idade Média e a centralidade da penitência nos discursos cristãos. Esse belo trabalho é fruto de anos de pesquisa no campo e de muita erudição.
Referências
HAMILTON, Sarah. The Practice of Penance, 900−1050. London: The Boydell Press, 2001. [ Links ]
JONG, Mayke de. What was Public about Public Penance? Paenitentia Publica and Justice in the Caroligian World, Settimane, vol. 44, nº 2, p. 894-902, 1997. [ Links ]
MCNEILL, John T. The Celtic Penitentials and their Influence on Continental Christianity. Paris: Édourad Champion, 1923. [ Links ]
MEENS, Rob. Penance in Medieval Europe 600-1200. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. [ Links ]
MEENS, Rob. The Historiography of Early Medieval Penance, in Abigail Firey (ed.) A New History of Penance. Leiden and Boston: Bril, 2008. [ Links ]
OAKLEY, Thomas P. English Penitential Discipline and Anglo-Saxon Law and their Joint Influence. New York: Longmans, Green & Co., 1923. [ Links ]
SILVA, Marcelo Cândido da. A Idade Média e a Nova História Política, Signum, v. 14, nº 1, p.91-102, 2013. [ Links ]
VAINFAS, Ronaldo. História Das Mentalidades e História Cultural In: Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia, Ciro F. Cardoso and Ronaldo Vainfas (eds.), Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997. p.127-162. [ Links ]
Para uma revisão detalhada da historiografia, ver Meens, 2008.
Elaine Cristine dos Santos Pereira Farrell – Professora do Departamento de História da Universidade de Utrecht e University College Dublin – Utrecht- Holanda. E-mail: [email protected].
Barcelona 1714. Jacques Rigaud: crònica de tinta i pólvora – HERNÀNDEZ; RIART (I-DCSGH)
HERNÀNDEZ, F.X.; RIART, F. Barcelona 1714. Jacques Rigaud: crònica de tinta i pólvora. Barcelona: Librooks, 2014. Resenha de: H. PONGILUPP, Mar. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.78, oct., 2014.
El libro que presentamos se centra en los seis grabados que dibujó el artista provenzal Jacques Rigaud en 1732 para dar a conocer cómo se asediaba y asaltaba una ciudad según las técnicas y pautas militares determinadas por el célebre ingeniero francés Sébastien Le Prestre de Vauban. Rigaud se inspiró en uno de los episodios más cruentos de la Guerra de Sucesión española: el asedio de Barcelona, que era el último gran cerco que había conocido la Europa del xviii. Dado que la expugnación de la ciudad fue meticulosamente cartografiada por los ingenieros franceses, pudo disponer de unas fuentes fiables y precisas para desarrollar su proyecto.
Sin embargo, su objetivo no era mostrar el asalto concreto de Barcelona, sino exponer, de manera didáctica, qué pasos debían seguirse para expugnar y rendir una plaza. Este hecho explica por qué los grabados no son del todo fieles a la Barcelona de 1714, pues contienen errores en lo que respecta a su representación histórica. Rigaud dedicó su obra al joven marqués de Montmirail, que, a pesar de su juventud, ejercía como coronel de la guardia suiza del rey de Francia, y se esforzó en plasmar detalladamente la tecnología y los pormenores de los asedios con la intención de que Montmirail pudiera entender qué era lo que debía hacerse para atacar una ciudad fortificada.
Hernàndez y Riart retoman el espíritu pedagógico de Rigaud y nos ofrecen una relectura de los grabados que permite comprender la poliorcética -el arte de atacar y defender una plaza fuerte- del siglo xviii en clave educativa. Uno a uno, los seis grabados son diseccionados por los autores, que, a partir de recuadros y dibujos ampliados, describen qué es lo que está sucediendo, cuáles son los personajes y qué objetivos persiguen las diversas acciones militares. El resultado es un impresionante documento didáctico que, a través del análisis de una fuente casi primaria, nos aproxima a las aplicaciones bélicas de la ingeniería del siglo xviii. Así, Hernàndez y Riart se sirven de los dibujos de Rigaud para ilustrar las distintas fases y dinámicas del asedio: la excavación de las trincheras, los preparativos de los bombardeos, los contraataques, la apertura de las brechas, los problemas del asalto y las medidas de represión.
Pero Rigaud, un grabador extraordinario, también estaba interesado en reflejar los más pequeños detalles de la vida cotidiana alrededor del cerco, de modo que, en sus iconografías, las figuras humanas, que aparecen realizando las más diversas ocupaciones, cobran un especial protagonismo. En este sentido, los autores resaltan cómo Rigaud presenta a los soldados (los vivos y los muertos) y de qué manera evoca la miseria de los hospitales de campaña, la frialdad de los oficiales, el cansancio de los soldados o el terror de los civiles caídos. Como valor añadido cabe destacar que el conjunto de los grabados constituye una fuente de primer orden para documentar las fortificaciones y el asedio que sufrió Barcelona durante el periodo de 1713-1714. De modo que tanto los grabados como los comentarios conforman una herramienta pedagógica de gran utilidad para implementar múltiples actividades en el aula.
Mar H. Pongiluppi
[IF]eifar, semear: a correspondência de Van Gogh – GODOY (C)
GODOY, Luciana Bertini. Ceifar, semear: a correspondência de Van Gogh. 2. ed. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2009. Resenha de: AFIUNE, Pepita de Souza Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 3, p. 224-228, set/dez, 2014.
A autora Luciana Bertini Godoy é graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, Mestre em Psicologia Social e Doutora em Psicologia Social pela mesma universidade. Pesquisadora do Laboratório de Psicologia da Arte do Instituto de Psicologia da USP, recebeu apoio da agência financiadora de pesquisas Fapesp.
Atua na área de Psicologia da Arte, realizando vastas pesquisas e desenvolvendo muitos frutos sobre a biografia e obras de Van Gogh. Leia Mais
The Idea of Order: The Circular Archetype in Prehistoric Europe | Richard Bradley
Richard Bradley é professor de Arqueologia na Universidade de Reading, especializado em estudos da pré-história europeia, focando em paisagens pré-históricas, organização ritual e social e arte rupestre. Entre seus últimos livros publicados estão The Prehistory of Britain and Ireland (2007) e Image and Audience: Rethinking Prehistoric Art (2009). Sua maior contribuição à área é o livro The Significance of Monuments: On the Shaping of Human Experience in Neolithic and Bronze Age Europe (1998). Neste livro, é lançada a ideia de que a escolha e a predominância de um formato circular para a construção de monumentos na Europa Atlântica durante o Neolítico estaria ligada à cosmovisão comum das populações pré-históricas em contato.
A busca para compreender a escolha do que o autor denomina como “arquétipo circular” [1] é constante em suas publicações, e é ela que pauta todo o livro, afastando-se um pouco da noção de cosmovisão, e observando fatores mais práticos e do cotidiano, como, por exemplo, a influência do ambiente habitado e conhecido na construção de casas e monumentos. Como o próprio autor pontua: este não é um livro sobre um período ou um lugar; é sobre uma ideia (BRADLEY, 2012:3).
As ideias de um padrão circular, assim como seus questionamentos do início do livro, na verdade, costuram toda a obra, por entre seus dez capítulos: por que tantos povos na pré-história europeia construíram monumentos circulares? Por que escolher as casas redondas enquanto outras comunidades as rejeitavam? Por que havia pessoas que habitavam casas retangulares e frequentemente enterravam seus mortos em montículos circulares ou cultuavam seus deuses e ancestrais em templos circulares? (BRADLEY, 2012: 3).
Obviamente, o leitor que procura respostas acabará o livro sobrecarregado, devido à quantidade de detalhes e levemente frustrado: há mais questionamentos do que respostas. É uma recorrência ao longo do livro. As inquietações de Richard Bradley perpassam estudos etnográficos na América e África além de análises comparativas que vão desde o Neolítico à Irlanda Medieval, passando por sítios da Espanha, Portugal, França, Sardenha, Irlanda, Inglaterra e Escandinávia. Lembrando que seu foco de análise é a forma circular e o seu longo período de existência, não negligenciando o tipo de suporte material: seja na construção de casas e monumentos, ou na decoração de objetos (em cerâmica e metal).
Devido à complexidade do assunto em questão e até como uma forma de crítica às duas posições entendidas como antagônicas nos estudos de pré-história, o autor faz um julgamento claro em relação à divisão ainda existente na abordagem dos estudos na área. Os processualistas, que tendem sempre às generalizações e à construção de grandes modelos de análise; e os pós-processualistas, que enfatizam sempre estudos de caso e análises particulares, que acabam por demonstrar que o modelo generalizante se encontra equivocado. Assim, R. Bradley preferiu seguir uma sequência lógica, movendo-se sempre de um questionamento generalizante para os estudos de caso (o particular), não deixando nunca de levantar os pontos de interesse mais amplos e de esquematizar melhor suas exposições ao final dos capítulos da maneira mais didática possível.
O autor, ainda, demonstra sua preocupação com a autocrítica em relação à escolha dos seus métodos de análise, dedicando um espaço nos capítulos para questioná-los antes mesmo que o leitor o faça – como é o caso, por exemplo, do segundo capítulo, no qual ele questiona o uso de dados etnográficos. Este tipo de abordagem só faz com que a obra se torne irritantemente genial, pois mostra o trabalho massivo para a construção do livro, a preocupação com os dados e a erudição do autor, assim como incita o leitor a pensar – uma proliferação de questionamentos ao longo de todo o livro.
Tendo em vista a amplitude espaço-temporal da sua análise, Richard Bradley teve a preocupação de esquematizar, no seu primeiro capítulo, como funciona a organização do seu argumento, partindo da análise de casas circulares e sua distribuição pela Europa, utilizando dados etnográficos e observando artisticamente os estilos curvilíneo e linear, correlacionando-os com escolhas de moradia do mesmo período.
Na segunda parte do livro, é observada a relação entre as moradias (casas e assentamentos) e a construção de monumentos e, na terceira parte, foi analisada a relação e a concomitância das estruturas curvilíneas e retilíneas, não deixando de investigar as circunstâncias em que o modelo circular foi abandonado.
O autor inicia seu livro descrevendo e analisando um sítio na Irlanda, um local conhecido pela possível ocorrência do festival Céltico de Beltane, um lugar antigo para reuniões, associado ao culto Druídico do Fogo e ao trono dos Reis Irlandeses. Hill of Uisneach, um centro sagrado da Irlanda em tempos pagãos, de acordo com o folclore e evidências literárias. Esse sítio está situado em uma colina que domina a paisagem que a cerca, como o centro da mesma. De seu topo, pode-se observar os vários condados irlandeses. Possui mais de 20 monumentos antigos, entre tumbas megalíticas, montículos funerários, aterros e fortificações anelares, com datações que variam entre o Neolítico e a Idade do Bronze no caso das construções, e da Idade do Ferro ao Medievo no caso das (re)utilizações encontradas.
Recentemente, o sítio teve uma tradição inventada [2] : o Fire Festival (Festival do Fogo) que envolve a construção de uma série de prédios de madeira circulares (temporários), com algumas estruturas decoradas com desenhos curvilíneos – uma decisão deliberada dos criadores do evento para refletir a configuração dos monumentos do lugar, que, não por coincidência, é a configuração tradicional em toda Irlanda, desde as tumbas do Neolítico, passando pelos centros reais da Idade do Ferro até os monastérios mais antigos.
Ao adentrar pela análise da construção dos monumentos antigos, o autor expõe um problema: a sequência extensa desses monumentos. Eles possuem uma longa história, e como o autor explicita, não é fácil analisá-los quando muitos pré-historiadores são especialistas em períodos específicos. Torna-se clara sua crítica, talvez um pouco generalista e exagerada, aos pós-processualistas e ao seu alto grau de especialização. Ele entende que o problema deve ser sanado ao se olhar mais largamente, espacialmente e temporalmente – o que, a exemplo deste livro, é fruto de um trabalho árduo que poucos provavelmente têm interesse em fazer.
A partir da análise dos eixos de preferências entre os padrões retilíneos e curvilíneos, fica claro seu posicionamento. Para o autor, a construção da arquitetura curvilínea seria uma escolha; uma alternativa aos modelos lineares “tradicionais”. A noção de escolha deve ser entendida relacionada ao conceito de agência – que engloba outros diversos conceitos e enfoques, tais como ritual, monumentalização, práticas funerárias, apreensão do mundo via sentidos, cadeia operatória, noções de memória, ancestralidade e identidade.
Deve-se considerar no conceito de agência que o corpo é o principal locus físico da experiência e a cultura material é o meio pelo qual se estabelece a comunicação, cria e reproduz o simbólico. É, portanto, um meio para compreender as relações sociais e os mapas cognitivos e, quando aplicado ao coletivo, implica em força para a construção de noções partilhadas do social e do simbólico, por meio da monumentalização e da construção ritual (OWOC, 2005; CUMMINGS, 2003; BAHN & RENFREW, 2005). Deste modo, o autor entende que o contraste entre as formas era significativo, uma vez que elas indicam ideias particulares de ordem, não estando, necessariamente, ligadas somente à questão da funcionalidade, mas com forte carga simbólica.
Assim, as construções seriam a concretização da experiência humana e do pensamento simbólico na cultura material, refletindo os componentes do ambiente construído que cercava as populações. Se faz crucial, entretanto, atentar para o fato que as percepções variam, mesmo entre comunidades que habitam um mesmo espaço: a interpretação de um fenômeno, assim como do ambiente ao seu redor, varia. Seguindo esse raciocínio, a construção dos monumentos seria consequência direta de crenças compartilhadas para a construção e utilização de edificações domésticas: elas teriam influenciado as percepções de mundo das populações pré-históricas [3].
No terceiro capítulo, é analisado o contraste entre as formas curvilíneas e retilíneas na arte. Poderiam, por exemplo, estar ligadas a noções de sagrado e secular, público e privado. A observação vem a partir da reinterpretação da “arte Celta” [4 ]elaborada em metal, da Idade do Ferro. Os objetos desse período que contém temática curvilínea são provenientes de contexto religioso/ritual, mesma característica dos contextos de construção de monumentos circulares no Neolítico e Idade do Bronze.
- Bradley afirma sua posição exemplificando uma “continuidade” do padrão curvilíneo com a construção do Catolicismo na Irlanda Medieval e o padrão circular associado à na construção de igrejas e monastérios, assim como da criação da “Irish Cross”. Acredito, entretanto, que seja necessário considerar a possibilidade de ser somente uma continuidade de uma tradição para adaptação local e não, necessariamente, uma escolha deliberada baseada em um simbolismo milenar que tenha sobrevivido sem grandes alterações desde a pré-história.
Um questionamento interessante é feito no capítulo quatro: é necessário levar em consideração a audiência para a qual o monumento foi feito – entendendo que a maioria das pessoas só teria acesso à parte externa dos monumentos e a maioria dos estudos não leva isso em consideração; há uma crítica excessiva à muita atenção prestada ao interior dos monumentos e à pouca ênfase dada ao exterior – formato e direcionamento, que muitas vezes lembram moradias e ocupações domésticas. Neste ponto, se faz necessário abrir uma ressalva, pois a crítica do autor está inserida no contexto de estudos da arqueologia da paisagem e é consequência direta da forma como ele entende e analisa os monumentos. A arqueologia da paisagem é um campo da Arqueologia que estuda a forma como as pessoas do passado moldavam sua paisagem e nela viviam. Assim, ao ter como foco os monumentos e assentamentos que se integram aos traços geográficos e ambientais, é possível buscar entender o âmbito socioeconômico para, consequentemente, chegar-se ao cultural. A paisagem, desse modo, é entendida como uma construção sociocultural. Assim, analisa-se a inter-relação entre os sítios e os espaços físicos que os separam a partir da análise extra-sítio (ver Anshuetz et al 2001; INGOLD, 1993; TILLEY, 1994; BENDER, 1992).
Ao introduzir no capítulo cinco a análise dos monumentos em pedra, trabalhando com noção de intencionalidade e escolha do material [5], leva em consideração a sua durabilidade (ver PEARSON & RAMILSONINA, 1998) e os compara com os monumentos de madeira, deixando explícita a diferenciação do foco de cada tipo de monumento: os de madeira seriam feitos para reuniões entre os vivos, e os de pedra, teriam ligação com os mortos e ancestrais. Além disso, é introduzido o questionamento sobre a datação das marcações feitas em terrenos (trabalhos de terraplanagem e construção de fossos) reconhecidas como henges: alguns deles seriam posteriores aos monumentos (círculos de pedra e madeira) que estão atualmente relacionados (ou assim era entendido).
Dessa forma, a inserção dos henges no contexto dos círculos de pedra, por exemplo, demonstra uma provável mudança no foco ritual desses locais, provavelmente ligados aos ritos de passagem (ver GENNEP, 1909; TURNER, 1969) com inversão de convenções sociais, transformação do estado pessoal e manutenção de forças dentro do círculo. Indo além, alguns desses henges e trabalhos de terraplanagem teriam o intuito de barrar a visão do interior dos monumentos, revelando a necessidade de uma audiência fechada, caracterizando uma hierarquia social, onde muitos construíam, mas poucos tinham acesso direto (seja visual, seja físico) ao centro do ritual [6] – e, por que não, da paisagem ritualizada.
Um dos exemplos usados pelo autor é o caso de Stonehenge, provavelmente o círculo de pedra mais conhecido, localizado na Inglaterra. Sua fama vem do fato de ser uma construção massiva em monólitos, que chama a atenção como centro de um microcosmo do mundo e dominando a paisagem que o cerca. A comoção maior surgiu no século XVIII com os antiquários [7], como John Aubey e William Stukley, que interpretaram o monumento erroneamente e acabaram criando uma tradição na qual ele seria construção feita pela população celta, voltado para atividades rituais: um templo dos druidas, popularmente conhecidos como “sacerdotes celtas” [8].
Os antiquários foram percussores/fomentadores de um movimento conhecido como Celtomania, intrinsecamente ligada ao Celtismo, conhecido como a invenção de uma “tradição” celta a partir dos antiquários do século XVIII, que influenciou fortemente os movimentos nacionalistas na Europa e desencadeou o fenômeno da Celtomania, no século XIX. Ligada ao imaginário popular, ao mítico, ao fantástico, baseou-se no Celtismo e nas lendas medievais. Atualmente, existe uma cultura pop com distorções ainda maiores, com ampliação das imagens criadas e com uma forte idealização mítica. Como consequência, foi criada uma alegoria do que teria sido a sociedade celta, com implicações políticas e identitárias fortes e que até hoje influencia religiosidades neopagãs – que (re)interpretam e (re)utilizam monumentos pré-históricos como sendo representantes de uma crença milenar e ancestral.
Apesar de sua importância indiscutível ao longo de séculos, Richard Bradley oferece muito pouco espaço para analisar Stonehenge. Com monólitos massivos moldados e cuidadosamente conectados, como peças de carpintaria, fazendo a ocorrência incomum para o tipo de círculo de pedras, o autor traz uma nova ideia, de que Stonehenge teria sido concebido como uma cópia de um edifício de madeira doméstico, mas infelizmente deixa o leitor perdido, no meio do questionamento, sem desenvolver mais sua teoria e sem proporcionar maiores detalhes.
Na penúltima parte do livro, que engloba os capítulos sete, oito e nove, o autor trabalha com a análise da existência das construções em formas retilíneas e retangulares em concomitância com as circulares. Seja por justaposição ou interação dessas estruturas, examina o motivo de a construção circular ter sido afetada à medida que a construção retangular fica mais proeminente. Essa análise se dá pelo estudo de caso em diferentes espacialidades no mesmo recorte temporal: Idade do Ferro na Sicília e nas Ilhas Britânicas, além da cultura dos Castros na Península Ibérica; e por meio de estudos etnográficos utilizando exemplos africanos.
No último capítulo, o autor faz um apanhado geral das ideias expostas em seu trabalho, traçando um elo comum entre os casos analisados: a experiência de viver em casas redondas seria uma ideia particular nas comunidades da pré-história europeia e seu formato seria uma escolha importante, uma vez que os monumentos circulares não foram substituídos por monumentos retilíneos e, quando a forma circular foi suprimida das casas, teria provavelmente ocorrido por pressão política; e teria sido direcionada, então, para a construção de templos. Apesar de possuírem um layout mais prático, as casas retangulares não foram completamente adotadas por comunidades sedentárias.
A escolha do autor pelo estudo e ênfase nas moradias e construções domésticas, (as casas), pode não ficar muito clara para o leitor até o final do livro. Ele parte sempre das casas como unidade principal de análise, mesmo para casos comparativos. Isto se deve ao fato que, para ele, é possível enxergar nos monumentos uma tentativa de utilizar o “protótipo” doméstico em escala aumentada. Como já exposto, esse modelo original doméstico influenciaria toda a visão de mundo e as escolhas simbólicas e rituais das populações, fazendo com que fosse massivamente reinterpretado ao longo do tempo, por diversas comunidades.
Após esta afirmação, permanece o questionamento: não seria simplificar em demasia o motivo e o poder de escolha de uma população a partir única e exclusivamente da influência do padrão de construção que a moradia possuía? Como é mostrado no próprio livro, as escolhas dos tipos de moradia são influenciadas também pela relação do homem no ambiente e na paisagem que o cerca. Se levarmos em consideração os estudos de paisagem, é possível percebê-la como dinâmica: o ambiente influencia a ação humana, as casas influenciam os monumentos, os monumentos influenciam as casas … e vice-versa.
Sendo assim, não seria mais lógico considerar a paisagem, na qual as casas e os monumentos estão inseridos, como uma plataforma interativa para a experiência humana, constantemente recriada por meio de construções físicas, metafísicas e simbólicas que alterariam continuamente o relacionamento e a percepção daqueles que nela se engajavam, criando a percepção humana de estar no mundo (TILLEY, 1994; INGOLD, 1993) e, isso sim, influenciar no padrão de construção das casas e monumentos?
Essa exposição só vem demonstrar o uso diferenciado do espaço na Europa, que tem a ver com o ambiente, a paisagem, a economia e o assentamento das populações – o que levou a reiterar uma das poucas conclusões do livro: há um padrão para as construções e uma dualidade – já exposta por Cunliffe (2008) – entre dois eixos da Europa. A arquitetura curvilínea é mais comum nas áreas conectadas pelo mar: oeste do Mediterrâneo e a costa do Atlântico, com poucos exemplos na França. Essas áreas eram extremamente conectadas durante o Neolítico e a Idade do Bronze e depois por contatos transoceânicos na Idade do Ferro e no Período Romano (CUNLIFFE, 2001). Sua caracterização não concretiza um dado que as comunidades ali presentes possuíam, reconheciam e partilhavam de uma origem comum, mas evidencia as trocas de longas distância. Já a arquitetura retilínea é mais comum no eixo da Europa continental, central e norte, enfatizada pelos contatos por terra, exemplificando uma diferença na forma de conceber e lidar com o mundo: na terra, contatos em redes, caminhos e trilhas; enquanto no eixo marítimo a paisagem é mais aberta, com o contato diferenciado entre o indivíduo, o horizonte e o céu – o que, certamente, influenciou na forma de construir, idealizar e habitar das populações.
The Idea of Order: The Circular Archetype in Prehistoric Europe é uma obra extensa, extremamente detalhada e descritiva, exigindo atenção e dedicação total do leitor, de preferência, com uma leitura lenta, atentando sempre para as correlações e os questionamentos que seguem encadeados ao longo dos nove capítulos e que são amarrados no capítulo final do livro. Ao finalizá-lo, o leitor dificilmente irá concluir, devido à enxurrada de questionamentos explicitados ao longo do texto, se existiu (ou não) um padrão circular presente no inconsciente coletivo e partilhado pelas populações préhistóricas através de gerações ou ainda se a ideia particular de ordem que sintetizaria a concepção circular do espaço seria fruto de uma consciência comum às populações préhistóricas da faixa Atlântica. O máximo que se poderá concluir é, como o próprio autor expõe: que não é possível afirmar, mas é válido fazer a pergunta.
Notas
1. Vale à pena salientar que para R. Bradley, a noção de arquétipo ultrapassa o significado basilar ligado a: padrão, modelo ou até paradigma. No curso de suas obras, o autor vai indicando que sua escolha se aproxima mais do conceito Junguiano de arquétipo, que seria um modelo de construção circular presente no (in)consciente coletivo das populações pré-históricas da faixa atlântica.
2. Sobre tradição inventada ver HOBSBAWM & RANGER, 1992.
3. Para o estudo mais aprofundado sobre a vida doméstica e sua influência, ver BRADLEY, 2005.
4. Tradicionalmente conhecido como arte do período La Tène (ver CUNLIFFE, 1997). 5 Relacionamento entre sujeito e objeto ver HODDER, 1995.
6. Entende-se como ritual atos que não fazem parte de atividades cotidianas e, em alguns casos, não domésticas que se comunicam através de mídia distinta para criar uma noção de tempo diferenciada: a fusão do passado no presente, com intuito de manter a ordem social (BELL, 1992).
7. Antiquarismo: movimento do século XVIII/XIX, anterior à arqueologia, composto por estudiosos, curiosos e colecionadores que tinham interesse nas relíquias do passado (Cf Trigger, 2004).
8. Para maiores informações, ver CUNLIFFE, 2010.
Referências
BENDER, B. Theorizing Landscapes, and the Prehistoric Landscapes of Stonehenge. Man, 27, 1992, pp.735-755.
BRADLEY, R. Rock art and the Prehistory of Atlantic Europe. London: Routledge, 1997.
____________. The Significance of Monuments: On the shaping of Human Experience in Neolithic and Bronze Age Europe. London: Routledge, 1998.
____________. Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe. Abingdon: Routledge, 2005.
____________. Prehistoric Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
____________. Image and Audience – Rethinking prehistoric Art. Oxford: Oxford University Press, 2009.
CUMMINGS, V. Building from Memory, Remembering the past at Neolithic monuments. In WILLIANS, H. (ed.). Western Europe in Archaeologies of Remembrance: Death and Memory in Past Societies. New York: Plenum Publishes, 2003, pp.24-29.
CUNLIFFE, B. The Ancient Celts. Oxford: Oxford University Press, 1997.
CUNLIFFE, B. (ed.). The Oxford Illustrated Prehistory of Europe. Oxford: Oxford University Press, 2001.
__________. The Celts: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003.
__________. Europe Between the Oceans: themes and variations: 9000 BC to AD 1000. Yale: Yale University Press, 2008.
__________. The Druids: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010.
HOBSBAWM, E.; RANGER, T. (ed.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
HODDER, Ian. Theory and Practice in Archaeology (Material Cultures). London: Routledge, 1995.
INGOLD, T. The Temporality of the Landscape. World Archaeology, 25 (2), 1993, pp. 152-174.
LEERSSEN, Joep. Celticism. In: BROWN, T. (ed.) Celticism. Editions Rodopi: Amsterdam, 1996, pp. 3-19.
OWOC, Mary-Ann. From the Ground Up: Agency, Practice, and Community in the Southwestern British Bronze Age. Journal of Archeological Method and Theory, 12 (4), 2005, pp. 257-281.
PEARSON, P.; RAMILSONINA. Stonehenge for the ancestors. The Stones pass on the message. Antiquity, 72, 1998, pp.308–26.
TILLEY, C. A Phenomenology of Landscape – places, paths and monuments. Oxford: Oxford University Press, 2006.
RENFREW, A. C.; BAHN, P. Archaeology: The Key Concepts. London: Routledge, 2005.
TRIGGER, B. História do Pensamento Arqueológico, São Paulo: Odysseus, 2004.
Ana Carolina Moliterno Lopes de Oliveira – Mestranda em História Social na Universidade Federal Fluminense (UFF) NEREIDA/UFF. E-mail: [email protected]
BRADLEY, RICHARD. The Idea of Order: The Circular Archetype in Prehistoric Europe. Oxford. Oxford University Press, 2012. Versão e-book. Resenha de: OLIVEIRA, Ana Carolina Moliterno Lopes de. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.14, n.2, p. 129-138, 2014. Acessar publicação original [DR]
O comercio tardoantigo no Noroeste Peninsular: unha análise da Gallaecia Sueva e Visigoda a través do rexistro arqueolóxico | Adolfo Fernández Fernández
La Antigüedad Tardía es, a nivel general, una de las épocas menos estudiadas, sobre todo en lo que atañe a Hispania y especialmente a la zona del Noroeste. La obra que aquí reseñamos, titulada O comercio tardoantigo no Noroeste Peninsular: unha análise da Gallaecia Sueva e Visigoda a través do rexistro arqueolóxico [1] , viene a suplir, en cierta medida, un vacío que existía en uno de los campos menos estudiados y a los que menor atención se le había prestado, el comercio, focalizando su atención en una zona (la Gallaecia) y una época (siglos IV-VII) marcados por la irrupción en la Península Ibérica de diversos grupos bárbaros, destacando sobre todos ellos el grupo Suevo, que suplantó al Imperio Romano como dominador del Noroeste de Hispania desde comienzos del siglo V. Es por tanto una obra fundamental que permite contextualizar los pocos datos y la poca información que sobre la irrupción de este pueblo bárbaro tenemos y sobre las consecuencias intrínsecas que su instalación sobre el territorio hispano noroccidental supuso.
La obra, de Adolfo Fernández Fernández, surge como resultado de su tesis de doctorado, titulada El Comercio Tardoantiguo (ss. IV-VII) en el Noroeste peninsular a través del Registro Arqueológico de la Ría de Vigo, leída en el año 2011 en la Universidad de Vigo. Arqueólogo-ceramólogo especialista en economía y comercio de época romana, el propio autor indica en las páginas iniciales de su libro, escrito en gallego, de poco menos de 300, que este estudio surge de la ausencia de artículos y estudios científicos referidos al comercio en el Noroeste hispano desde la publicación de la obra de Naveiro López, El comercio antiguo en el NW peninsular, publicada en 1991. Debido al boom económico y urbanístico que vivió España (y en cierta medida también Portugal) las excavaciones arqueológicas, y por tanto nuevos materiales susceptibles de ser estudiados, han salido a la luz, y es por ello que el autor puso sus ojos en ofrecer a la comunidad científica este estudio tan interesante.
El libro se divide en cuatro apartados diferentes de desigual tamaño, más allá de una pequeña introducción donde nos deja entrever brevemente en el origen de sus investigaciones y su libro.
El primero de estos apartados se titula Os xacementos arqueolóxicos de Vigo: a base principal do estudo [2], en el cual Adolfo Fernández nos hace un recorrido por los diferentes yacimientos arqueológicos de los que provienen la mayor parte de los materiales que van a ser estudiados en el grueso de su obra. Todos ellos se encuentran en el núcleo urbano de Vigo (Pontevedra, España), excepto uno que está fuera, y aparecen englobados por el autor en tres categorías diferentes, basándose para ello en los diferentes grados de estudio de su material arqueológico: yacimientos con estratigrafía (Villa de Toralla, Unidad de Actuación Rosalía de Castro I, Marqués de Valladares y la Unidad de Actuación Rosalía de Castro II), yacimientos sin datos estratigráficos (Hospital nº 5, parcela 14, parcela 23, colector da rúa Colón y Areal 6-8) y yacimientos con materiales tardíos parcialmente estudiados (Parcela 13, túnel del Areal y Rosalía nº 5).
El segundo de estos apartados se titula Unha breve aproximación ás relación comerciais do Noroeste con anterioridade á Antigüidade Tardía. (Séc. V/VI a.C. – Séc. III d.C.) [3]. Al igual que el anterior, estamos ante un capítulo que podemos denominar introductorio, en tanto en cuanto su función no es otra que la de contextualizar los dos siguientes apartados, que conforman el grueso de la obra. Dado que, como bien indica el título, esta obra tiene como marco cronológico la Antigüedad Tardía, el autor consideró necesario este capítulo para establecer un marco de partida, de referencia, para poder entrever las rupturas o las continuidades de los sistemas mercantiles y comerciales en el Noroeste con la época anterior, de ser el caso.
Tras estos dos apartados, entramos de lleno en su estudio, con un tercer apartado de poco más de 120 páginas, el de mayor tamaño del libro con diferencia, titulado As relacións do noroeste e as rutas de comercio durante a Antigüidade Tardía. (Sécs. IV – VII.) [4] . Dado su volumen y su importancia, el autor lo ha dividido en cinco capítulos, abordando en cada uno de ellos las características del sistema comercial del Noroeste hispano a lo largo de diferentes periodos de tiempo, caracterizados cada uno de ellos por peculiaridades propias. Estas fases del sistema comercial del Noroeste abarcan desde el siglo IV hasta el VII, analizados siguiendo un orden cronológico.
Una de las claves más interesantes de este libro radica en el estudio de los sistemas comerciales en la época de llegada de los pueblos bárbaros a Hispania, y especialmente en la época del asentamiento de los Suevos en la zona estudiada, el Noroeste. Por tanto, las conclusiones que de este trabajo se extraigan serán indispensables para conocer mejor las relaciones de este nuevo poder bárbaro con los poderes locales galaicorromanos, y para desmentir o afirmar la tan manida cuestión de si este grupo bárbaro arrasó violenta y cruentamente estos lugares.
En las últimas décadas se ha venido aseverando por parte de historiadores y arqueólogos, a través de una actitud más crítica hacia las fuentes y de mayores estudios arqueológicos sobre esta época, la actitud más o menos pacífica, o por lo menos no destructiva, de los grupos bárbaros en su llegada y asentamiento en el Noroeste. Este estudio por tanto se convertirá en un argumento más para reafirmar este “pacifismo” de los grupos bárbaros, o al contrario, para mostrar cierto rupturismo consecuencia de su llegada.
Del mismo modo, este estudio cronológico, con sus rupturas o sus continuidades, nos ofrece importante información sobre épocas para las cuales no tenemos apenas información en en la Gallaecia, como por ejemplo el último tercio del siglo V, donde a partir del fin de la Crónica de Hidacio de Chaves no tenemos información alguna. Así pues, a través de este estudio podemos acercarnos mínimamente a esta época para comprobar si, en un sentido general, se producen continuidades con la época anterior o si por el contrario existe alguna ruptura importante que nos esté dando cuenta de algún suceso que motivó ese cambio, pero que no conocemos por ninguna fuente escrita.
Por otra parte, es también interesante el análisis del siglo VI, donde a través del estudio del autor se confirman cambios producidos por el nuevo panorama político del momento, como es el avance militar bizantino en Italia y el sur de Hispania, que provocan que los materiales provenientes del Mediterráneo oriental sean superiores a los productos tradicionales venidos del Norte de África. Asimismo, se constata una ruptura en esta época del comercio entre el Noroeste y las Islas Británicas, un hecho que a priori se desconocía y que el autor concluye producto de la peste de esta época.
Finalmente, como último capítulo de este apartado, el autor, en unas siete páginas finaliza el apartado haciendo referencia a la segunda mitad del siglo VII, en una especie de epílogo del mismo donde nos dice que, a pesar de no haber contextos arqueológicos para esta época en Vigo o en el Noroeste, se puede apreciar a nivel general en Occidente un repliegue sobre sí mismo debido al avance de los árabes por el Mediterráneo Oriental y Norteafricano, que puede suponer una verdadera ruptura en el sistema comercial heredado de época romana.
Llegamos así al último apartado del libro, titulado As mercadorías e os protagonistas do comercio [5] , en donde el autor pretende mostrar la información no desde una óptica cronológica como en el capítulo anterior, sino desde un punto de vista que podemos denominar como temático, estudiando así por ejemplo las mercancías por un lado, los protagonistas del comercio por otro, etc.
En general, este apartado es dividido por el autor en tres capítulos. El primero dedicado las mercancías exportadas e importadas en Vigo en particular y en el Noroeste en general, donde el autor contextualiza todos los materiales hallados en las excavaciones, afirmando que estos no serían el objeto principal del comercio, sino al contrario. La cerámica, el maíz, etc., serían mercancías de valor secundario que acompañarían a otras mercancías de lujo, más lucrativas, que serían el verdadero motor del comercio a larga distancia, mercancías que obviamente no se suelen encontrar en la mayoría de yacimientos arqueológicos, como serían joyas, textiles, perfumes, o incluso metales. En este sentido, el autor concluye que el verdadero motor que llevaría a los comerciantes a llegar hasta el Noroeste sería el alumbre. Por su parte, del Noroeste se llevarían probablemente metales como estaño o incluso plomo, y también probablemente madera.
El segundo capítulo de este cuarto y último apartado hace referencia a los protagonistas de los intercambios, es decir, aquellas personas que eran los promotores del comercio en el Noroeste. Adolfo Fernández hace un buen análisis incidiendo no sólo en los encargados del comercio de larga distancia, que estaría dominado por mercaderes extranjeros (griegos, judíos, sirios) sino también hace referencia a la importancia de los comerciantes locales de los emporios de distribución del Noroeste, dominados por galaicorromanos o suevos, encargándose estos de la captación de los productos orientados a la exportación y también de la redistribución de los productos mediterráneos hacia el resto del mundo atlántico.
Finalmente, termina este apartado, y también su obra, con un tercer capítulo titulado O porto de Vigo durante a Antigüidade Tardía: Un emporio atlántico [6], donde en unas nueve páginas concluye reafirmando la importancia del puerto de Vigo durante esta época, con un momento de especial esplendor durante el siglo VI y primera mitad del VII. Este puerto sería el último puerto en el que se detendrían los comerciantes de larga distancia, y funcionaría como lugar de redistribución de las mercancías para todo el Noroeste Peninsular.
La obra culmina con una extensa bibliografía sobre la temática del libro, que abarca poco menos de cuarenta hojas, lo que se puede considerar un gran acierto para quien esté interesado en indagar más aún sobre esta temática.
En definitiva, estamos delante de una obra de gran importancia que viene a llenar un hueco existente, una laguna en el conocimiento sobre la Antigüedad Tardía del Noroeste Peninsular y que no solo es importante desde el punto de vista de que se amplía el conocimiento de los sistemas comerciales en la Época Antigua, sino que es un argumento más para contextualizar un lugar y una época marcada, sin lugar a dudas, por cambios políticos en la zona de gran calado, como fue sobre todo la llegada del grupo bárbaro suevo a la Gallaecia.
O comercio tardoantigo no Noroeste Peninsular viene, en definitiva, a ser un argumento a favor de los nuevos planteamientos que sugieren que la llegada y el asentamiento de los Suevos en el Noroeste no fue en absoluto un momento de caos y destrucción por su parte sino que, al contrario, supusieron la continuidad de los sistemas económicos y comerciales heredados de la Antigüedad, con las obvias variaciones y fluctuaciones propias de un mundo en constante cambio, pero que no tienen que ver con una acción directa y premeditada por parte de los grupos bárbaros.
Notas
1. Dado que la obra está escrita en gallego, traduciremos al castellano, en notas a pié de página, los títulos, apartados y capítulos que en la obra vienen en este idioma, para que el lector los entienda sin dificultad. El título de la obra, en castellano, El comercio tardoantiguo en el Noroeste Peninsular: un análisis de la Gallaecia Sueva y Visigoda a través del registro arqueológico.
2. En castellano, Los yacimientos arqueológicos de Vigo: la base principal del estudio.
3. En castellano, Una breve aproximación a las relaciones comerciales del Noroeste con anterioridad a la Antigüedad Tardía. (Séc. V/VI a.C. – Séc. III d.C.).
4. En castellano, Las relaciones del Noroeste y las rutas de comercio durante la Antigüedad Tardía. (Sécs. IV – VII.).
5. En castellano, Las mercancías y los protagonistas del comercio.
6. En castellano, El puerto de Vigo durante la Antigüedad Tardía: Un emporio atlántico.
Benito Márquez Castro – Doctorando del Programa de Doctorado Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales de la Universidad de Vigo Diputación de Pontevedra. E-mail: [email protected]
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Adolfo. O comercio tardoantigo no Noroeste Peninsular: unha análise da Gallaecia Sueva e Visigoda a través do rexistro arqueolóxico. Noia: Toxosoutos, 2013. Resenha de: CASTRO, Benito Márquez. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.14, n.2, p. 129-138, 2014. Acessar publicação original [DR]
Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010. 209p. Resenha de: SOBRAL, Luís Felipe. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.68, jul./dez. 2014.
No momento em que o mundo encanta-se com os novos prodígios da comunicação, capazes de fazer crer que participamos de uma “sociedade da informação” absolutamente sem precedentes, o historiador cultural norte-americano Robert Darnton, especializado na chamada história dos livros e autor de um importante estudo sobre a publicação da Encyclopédie (Darnton, 1987), apresenta um caso desafiador que sublinha a importância da oralidade para a história da comunicação.
Em meados do século XVIII, a polícia parisiense prendeu o estudante de medicina François Bonis, acusado de redigir um poema contra Luís XV; no total, 14 pessoas foram encarceradas na Bastilha, conforme os investigadores seguiam o rastro de transmissão do poema. Ao longo desse percurso, o caso tornou-se complicado, pois surgiram outros cinco poemas sediciosos aos olhos policiais, cada um com seu próprio parâmetro de difusão: “eles eram copiados em pedaços de papel, trocados por pedaços similares, ditados a outros copistas, memorizados, declamados, impressos em folhetos clandestinos, adaptados em alguns casos a melodias populares e cantados” (p.11).1 A investigação não encontrou o autor do verso original provavelmente porque ele não existia: uma vez que os versos eram adicionados, subtraídos e transformados à medida que percorriam o circuito de comunicação, os poemas constituíam um caso de “criação coletiva” (p.11).
Registrada no dossiê policial como “L’Affaire des Quatorze”, a investigação produziu uma série de documentos (registros de interrogatórios, relatos de espiões, notas diversas) acessível na Bibliothèque de l’Arsenal, em Paris. Segundo Darnton, tal série “pode ser tomada como uma coleção de pistas para um mistério que chamamos ‘opinião pública'” (p.12);2 seu valor analítico repousa na capacidade de lançar luz sobre a importância da oralidade na história da comunicação, visto que o episódio indica a interpenetração entre oralidade e escrita em uma sociedade semiletrada.
Ao rejeitar definições apriorísticas de opinião pública (Michel Foucault e Jürgen Habermas), o autor envereda por 15 capítulos curtos que conferem a espessura histórica necessária para cada pista. O passo fundamental do livro é dado no momento em que se contrasta o teor político dos poemas à reação policial. Os 14 incluíam clérigos, burocratas e estudantes, isto é, pessoas oriundas dos estratos médios parisienses e provinciais, que “apreciavam trocar fofoca política em forma de rima” (p.22),3 uma atividade perigosa, porém distante de representar uma ameaça ideológica séria ao Antigo Regime; além disso, cantar músicas desrespeitosas e compor versos sarcásticos eram práticas comuns na Paris setecentista. A iniciativa da operação policial coube ao conde d’Argenson, “o homem mais poderoso do governo francês” (p.26),4 e foi realizada com muita competência: os suspeitos desapareciam das ruas da capital sem deixar rastros para não alertar o presumido autor do poema. Por que o Caso dos Quatorze provocou tamanha reação do aparato repressivo estatal? Tal questão não pode ser respondida pelos documentos produzidos pela Bastilha, pois o circuito de comunicação dos acusados carece de um vínculo tanto com a elite localizada acima da burguesia profissional como com os estratos populares alojados abaixo. Indícios presentes nos diários do marquês d’Argenson, irmão do conde, e de Charles Collé, poeta e dramaturgo da Opéra Comique, apontam a corte de Versalhes como fonte de alguns versos. Duas questões se apresentam: por que o conde tratou a investigação como um assunto da mais alta importância, e por que interessava a certos cortesãos que os versos fossem recitados pela população parisiense?
No final do livro, o leitor encontra seis apêndices: quatro fornecem detalhes sobre os poemas (letras, variações, popularidade), um transcreve um relatório policial, e o último, intitulado “Um cabaré eletrônico”, procura reconstruir, com a colaboração de músicos profissionais, 12 das inúmeras canções parisienses ouvidas em meados do Setecentos.5 Caracterizada pela transitoriedade, a prática musical impõe uma grande dificuldade ao historiador: o problema consiste na existência ou na ausência de uma ou mais fontes que ofereçam o repertório verbal e escrito do qual faziam parte as canções estudadas. Para reconstruir as canções, Darnton conta com cancioneiros, que fornecem as letras, e com outras fontes contemporâneas, que indicam a melodia, identificada pelas primeiras linhas ou títulos das canções. Se por um lado o esforço de reconstrução das canções implica levar a sério o desafio da história oral, por outro não se ilude com a falsa ideia de uma “réplica exata” (p.174).
Entre as canções do cabaré eletrônico distribuídas pelos 14, encontra-se “Qu’une bâtarde de catin”. Em uma de suas versões, ouve-se:
Qu’une bâtarde de catin
À la cour se voit avancée,
Que dans l’amour ou dans le vin
Louis cherche une gloire aisée,
Ah! le voilà, ah! le voici
Celui qui n’en a nul souci
Que uma puta bastarda
À corte se veja avançada,
Que no amor ou no vinho
Luís procure uma glória fácil,
Ah! lá está ele, ah! aqui está ele
Aquele que não tem nenhuma preocupação.6
Trata-se do poema mais simples e o que atingiu o público mais amplo entre os seis apreendidos pela polícia durante a investigação. Redigido para ser cantado ao som de uma melodia popular, identificada em algumas versões pelo refrão (“Ah! lá está ele, ah! aqui está ele”), esse poema apresenta a versificação mais comum das baladas francesas (ABABCC) e admitia inúmeras extensões, pois novos versos podiam ser facilmente incorporados. Cada um de seus versos atacava uma figura pública (a rainha, o delfim, o chanceler, os ministros), ao passo que o refrão denunciava os abusos do monarca, patético alvo do escárnio que se entregava aos prazeres mundanos enquanto o reino era ameaçado por vários problemas. Ao circular por Paris, a canção “tornou-se cada vez mais popular e cobriu um espectro cada vez mais amplo de questões contemporâneas conforme reunia versos” (p.68):7 as negociações de paz da Guerra da Sucessão Austríaca, a resistência ineficaz ao novo imposto denominado vingtième, as últimas disputas intelectuais de Voltaire. Em suma, observa-se a circulação de uma forma específica (as melodias) através das ruas e quais parisienses, processo pelo qual seu conteúdo (os poemas) é transformado pela população segundo os temas lançados em pauta pela conjuntura histórica: “Qu’une bâtarde de catin” tornou-se “um jornal cantado, cheio de comentários sobre os eventos contemporâneos e suficientemente cativante para um público amplo” (p.78).8
No exemplo transcrito, o alvo também era Madame de Pompadour, amante de Luís xv desde 1745. Compreende-se o ataque à Pompadour por sua origem plebeia; não apenas: na série de amantes reais, ela sucedeu às três filhas do marquês de Nesle, “o que era visto como adultério composto de incesto” (p.65).9 Do ponto de vista popular, tais escândalos ameaçavam o monarca e sua linhagem à ira divina; da perspectiva real, o ódio popular era uma manifestação da mão de Deus. Não se deve vislumbrar aí, explica o autor, uma possibilidade concreta de participação popular no mundo político, pois a França ainda está longe de 1789 assim como da Fronda, a revolta contra o governo do Cardeal Mazarino em meados do Seiscentos; no entanto, “uma população maior e mais alfabetizada exigia ser ouvida, e seus governantes a ouvia” (p.41).10 Luís xv era particularmente sensível ao que o povo dizia sobre ele, suas amantes e seus ministros, e monitorava a capital por meio da polícia e do ministro do Departamento de Paris, que detinha assim um imenso poder de manipular o rei. Há indícios de que o conde de Maurepas, hábil cortesão que ocupava tal cargo em 1749, distribuiu, encomendou ou escreveu versos satirizando Pompadour, aliada de seu rival, o conde d’Argenson; o objetivo era persuadir o rei da impopularidade de sua amante entre os súditos parisienses, porém seu plano não deu certo: Pompadour convenceu Luís xv a demitir Maurepas e d’Argenson tomou seu lugar.
A importância da circulação dos poemas, tendo eles origem na corte ou não, residia assim em sua capacidade de estabelecer uma rede de comunicação entre Versalhes e Paris: “um poema podia portanto funcionar simultaneamente como um elemento do jogo político cortesão e como uma expressão de outro tipo de poder: a autoridade indefinida mas inegavelmente influente conhecida como a ‘opinião pública'” (p.44).11 Tal argumento não apenas dispõe o autor contra o nominalismo que só permite falar em opinião pública após o primeiro uso documentado do termo, na segunda metade do século xix, como aponta uma conclusão mais abrangente. Ao argumentar, mediante o exame de um circuito de comunicação setecentista, que “a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p.130),12 Darnton descreve, seja na corte de Versalhes seja nas ruas de Paris, as relações de força particulares que constrangiam tal circuito; esse procedimento serve assim para pensar todas as redes de comunicação, inclusive a internet, que não seria a materialização virtual de uma democracia sem limites, mas um instrumento submetido aos interesses específicos de cada um de seus usuários, cujo acesso e emprego de tal ferramenta ainda é mediado pela posição social.13
Após esse percurso tortuoso, lê-se na conclusão:
A pesquisa histórica assemelha-se ao trabalho de detetive em muitos aspectos. De R. G. Collingwood a Carlo Ginzburg, os teóricos não consideram a comparação convincente porque ela apresenta-os em um papel atraente como detetives, mas porque ela está relacionada ao problema de estabelecer a verdade – verdade com v minúsculo. Longe de tentar ler a mente de um suspeito ou resolver crimes exercendo a intuição, os detetives procedem de forma empírica e hermenêutica. Eles interpretam pistas, seguem informações e constroem um caso até chegarem a uma condenação – sua própria e frequentemente a de um júri. A história, como eu a entendo, envolve um processo similar ao de construir um argumento a partir da evidência; e no Caso dos Quatorze o historiador pode seguir os passos da polícia. (p.142)14
Não se deve ver nessas linhas o fantasma do positivismo, pois os arquivos policiais, considerados como fonte privilegiada da rede de comunicação estudada por Darnton, não são autônomos: os indícios que eles apontam devem ser necessariamente relacionados a outras fontes. Ao contrário dos detetives, o historiador precisa ultrapassar a dimensão circunscrita de um caso para entender seu significado mais amplo: o Caso dos Quatorze não é senão o meio de acesso à rede de comunicação que operava na Paris setecentista. Apartado da vivência social que lhe interessa compreender, o historiador encontra-se sempre diante de fragmentos por meio dos quais aquela vivência será reconstruída. Quais os limites dessa tarefa? Se a verdade deve ser estabelecida – pois os eventos históricos ocorrem de uma maneira específica e não de outra –, a interpretação está sujeita à coleção de pistas reunidas, que impõem um jogo complicado entre conjecturas e refutações: nenhuma interpretação é definitiva, nem toda interpretação é válida.
Referências
DARNTON, Robert. A Police Inspector Sorts His Files: The Anatomy of the Republic of Letters. In: _______. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Vintage Books, 1985. p.145-189. [ Links ]
_______. The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encylopédie, 1775-1800. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. [ Links ]
_______. A World Digital Library Is Coming True! The New York Review of Books, v.LXI, n.9, p.8, 10-11, 2014. [ Links ]
Notas
1 “They were copied on scraps of paper, traded for similar scraps, dictated to more copyists, memorized, declaimed, printed in underground tracts, adapted in some cases to popular tunes, and sung”. Todas as traduções são minhas.
2 “The box in the archives … can be taken as a collection of clues to a mystery that we call ‘public opinion'”.
3 “The dossiers evoke a milieu of worldly abbés, law clerks, and students, who played at being beaux-esprits and enjoyed exchanging political gossip set to rhyme”.
4 “The initiative came from the most powerful man in the French government, the comte d’Argenson, and the police executed their assignment with great care and secrecy”.
5 Elas podem ser ouvidas e baixadas livremente em www.hup.harvard.edu/features/darpoe.
6 Bibliothèque historique de la ville de Paris, ms. 580, fólio 248-249, out. 1747 (p.153). Darnton modernizou o francês nas transcrições dos poemas (p.148).
7 “it [a canção] became increasingly popular and covered an ever-broader spectrum of contemporary issues as it gathered verses”.
8 “It had become a sung newspaper, full of commentary on current events and catchy enough to appeal to a broad public”.
9 “the king’s love affairs with the three daughters of the marquis de Nesle, which were viewed as adultery compounded by incest”.
10 “A larger, more literate population clamored to be heard, and its rulers listened”.
11 “A poem could therefore function simultaneously as an element in a power play by courtiers and as an expression of another kind of power: the undefined but undeniably influential authority known as the ‘public voice'”.
12 “The information society existed long before the Internet”.
13 Como se sabe, o próprio Darnton tem sido bastante ativo na defesa do livre acesso digital ao patrimônio intelectual constituído pela cultura escrita, ocupando atualmente uma posição na diretoria da Digital Public Library of America (www.dp.la); sobre essa questão, ver especialmente DARNTON, 2014, p.8, 10-11.
14 “Historical research resembles detective work in many respects. Theorists from R. G. Collingwood to Carlo Ginzburg find the comparison convincing not because it casts them in an attractive role as sleuths, but because it bears on the problem of establishing truth – truth with a lowercase t. Far from attempting to read a suspect’s mind or to solve crimes by exercising intuition, detectives operate empirically and hermeneutically. They interpret clues, follow leads, and build up a case until they arrive at a conviction – their own and frequently that of a jury. History, as I understand it, involves a similar process of constructing an argument from evidence; and in the Affair of the Fourteen, the historian can follow the lead of the police”. Darnton já discutiu as fontes policiais em outras ocasiões: cf., em particular, DARNTON, 1985.
Luís Felipe Sobral – Doutorando em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bolsista Fapesp. E-mail: [email protected].
[IF]A fascinação weberiana: As origens da obra de Max Weber – MATA (AN)
MATA, Sérgio da. A fascinação weberiana: As origens da obra de Max Weber. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. 236p. Resenha de: CUNHA, Marcelo Durão Rodrigues. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, p. 417-426, jul. 2014.
Na linha de estudos atuais no campo da história intelectual e das ideias, o professor Sérgio da Mata realiza em A fascinação weberiana: as origens da obra de Max Weber um trabalho que, dentre outros objetivos, busca elucidar as bases do encantamento intelectual, da sedução que a obra de Max Weber suscita na comunidade acadêmica em todo o mundo.
A “fascinação” – termo cunhado na década de 1950 por Nelson Werneck Sodré – denota, segundo o historiador mineiro, um tipo de tentação intelectual que, de forma ambivalente, poderia levar ao mesmo tempo à obliteração da autonomia da obra de um autor, bem como à sua consequente abnegação no campo das ideias.
Na contramão deste caminho entre fascinação e sacrifício do intelecto, Sérgio da Mata traz um instigante estudo acerca do legado weberiano, desde a dívida do intelectual para com a Escola Histórica Alemã até os caminhos e as fronteiras da recepção de sua obra em terras brasileiras.
Ancorados num extenso trabalho de pesquisa em arquivos e bibliotecas alemãs, os estudos reunidos pelo Weberforscher brasileiro baseiam-se em uma melhor compreensão dos chamados “anos de aprendizagem”, de formação histórico-jurídica do intelectual alemão, antes do seu tardio sociological turn, ao fim da primeira década do século vinte.
Com o princípio metodológico básico de analisar apenas o que antecede esse marco, preocupando-se com o “início” e o desenvolvimento progressivo da vida intelectual weberiana, o autor evita a tendência a panoramas retrospectivos ou a um tipo de teleologismo muito comum em abordagens sobre obra de Weber, ainda perceptível em trabalhos recentes, como os de Francisco Teixeira e Celso Frederico (TEIXEIRA; FREDERICO, 2011), ou no artigo de Gerhard Dilcher (DILCHER, 2012).
Tendo como pressuposto a elevação feita pelo próprio Weber da ciência histórica à categoria de Grundwissenschaft, o pesquisador enxerga na formação intelectual do autor de A ética protestante uma perspectiva que seria sempre e decididamente histórica. Essa ideia de um approach weberiano às ciências históricas – que há alguns anos causaria estranhamento a leitores desatentos – é a base do argumento de Mata em boa parte de sua obra.
Em um exercício de história contrafatual, o autor chega mesmo a sustentar que, caso a carreira de Weber tivesse se encerrado em 1909, este dificilmente estaria situado entre os fundadores da moderna sociologia alemã.
É em tal provocação que reside a tentativa por parte do historiador de reconstrução da trajetória de Weber dentro daquilo que denomina a “era de ouro do historicismo”. Discordando de interlocutores que tendem a observar na virada do oitocentos ao século vinte o germe de uma crise da ciência histórica, Mata vê, pelo contrário, na fundamentação epistemológica do historicismo – realizada por Dilthey, Schmoller, Bernheim, Windelband e Rickert no período – uma indissociável gênese da obra e da metodologia weberianas.
É justamente fugindo da sombra da sociologia de Max Weber que o autor inicia todo um capítulo acerca daqueles anos de aprendizagem em Heidelberg, Göttingen e Berlim – “três templos da ciência histórica oitocentista” (MATA, 2013, p. 35) –, quando o jovem “jurista” formar-se-ia em um ambiente intelectual amplamente influenciado pela Weltanschaung histórica.
Mata busca aqui identificar algumas das figuras que mar‑caram o início da trajetória intelectual do estudante oriundo de Erfurt para concluir que Weber foi, nem mais nem menos que qualquer contemporâneo seu, o resultado dos estilos de pensamento histórico
419.
Anos 90, Porto Alegre, eentão vigentes. Seus laços familiares com o eminente historiador Hermann Baumgarten, a simpatia inicial pelo trabalho de Heinrich von Treitschke, além do convívio do jovem Max com o círculo de Theodore Mommsen, são alguns dos muitos indícios que corroboram a tese do autor.
Desconstruindo a ideia de que Weber teria rejeitado, ou mesmo se oposto à ciência histórica de seu tempo, o historiador nos prova o contrário a partir de um olhar atento sobre a pouco estudada primeira fase da carreira do intelectual germânico. Considerando a perspectiva trazida por Mata nesse primeiro capítulo, torna-se fácil concordar com sua assertiva, segundo a qual “Max Weber começou a tornar-se o Max Weber que conhecemos no berço esplêndido do historicismo alemão” (MATA, 2013, p. 35).
Mas, longe de limitar a ascendência intelectual do jovem autor aos domínios da Ciência Histórica, Mata fornece-nos o panorama de toda uma constelação de ideias e relações intelectuais que teriam influenciado a formação do economista e historiador do direito Max Weber.
A partir da leitura sincrônica de alguns dos mais importantes estudos históricos e econômicos publicados pelo autor até 1905, Mata é capaz de identificar um padrão metódico comum na obra do então professor de Heidelberg. Ao tratar em especial da concepção plural das relações de causalidade e, ao mesmo tempo, da tendência de Weber a enfatizar determinadas macrodeterminações em função do problema específico elucidado, o pesquisador contesta aquelas leituras que tendem a exagerar a perspectiva “idealista” do autor alemão.
É este apurado exame dos primeiros trabalhos de Weber que permite ao historiador chegar a duas conclusões gerais: primeiro, que Weber (ao menos na primeira fase de sua carreira) não teria proposto nem se tornado refém de uma “teoria” histórico-social abrangente. Segundo, que somente o desconhecimento em relação à obra weberiana explicaria por que se chegou a ver no autor de Erfurt uma versão idealista de Marx. E são justamente as preocupações práticas que permitem ao historiador identificar uma “clavis weberiana” – especialmente nos vinte primeiros anos da trajetória intelectual do autor. Por trás da inteligência teórica, Weber falaria sempre em uma intenção prática.
Na trilha do que persegue nas digressões teóricas de um Weber prematuro, Mata procurará, entretanto, nas publicações tardias do intelectual turíngio, sinais de uma possível concepção filosófica da história. Principalmente no que tange à sua percepção do processo de racionalização ocidental e no caráter inexorável que atribui ao conceito de Rationalizierung, o autor brasileiro irá buscar no resultado das investigações empíricas weberianas possíveis ligações com a obra do historiador escocês Thomas Carlyle.
Por sua “extraordinária força ética” e pelo ideal de reforma social em harmonia com a recusa a toda alternativa que implicasse a subversão violenta da ordem, Carlyle tornara-se bastante sedutor aos olhos da intelectualidade alemã do fin-de-siècle. Do autor de Past and Present, Weber herdara, por exemplo, aquela ampla dimensão atribuída ao trabalho na modernidade e as idiossincrasias da noção de “heroís‑mo carismático” no cerne do processo de burocratização ocidental.
Exercício semelhante é feito pelo autor no que diz respeito à dívida weberiana ao pensamento do filósofo neokantiano Heinrich Rickert. Distanciando-se da apressada leitura de Ivan Domingues (DOMINGUES, 2004) e dos equívocos cometidos por Fritz Ringer (RINGER, 2004) na análise de tal relação, Mata insiste na necessidade de entendimento dos pressupostos rickertianos para melhor compreensão dos fundamentos do pensamento histórico de Weber. Do autor de Os limites da formação de conceitos nas ciências naturais, Weber extraíra a ideia de que as pré-condições à caracterização de um trabalho de história como científico seriam: objetividade, contextualização e imputação causal. Weber teria expressado bem esta preocupação de Rickert ao observar que o historiador que abre mão dessas pré-condições comporia “um romance histórico, não uma verificação científica”.
Além disso, do filósofo prussiano, teria sido importante para o economista político aquele abrangente conceito de cultura – segundo o qual o cultural seria qualquer realidade investida não apenas de sentido, mas de valor – e o seu ideal de “verdade” como um valor do qual a ciência jamais poderia abrir mão. Longe de expressar um relativismo, o perspectivismo histórico weberiano, como exposto por Mata, estaria muito mais próximo daquele modesto ideal de verdade defendido por Rickert. 420 Marcelo Durão Rodrigues da Cunha.
Abertas tais perspectivas críticas quanto à análise das origens do pensamento histórico weberiano, Sérgio da Mata amplia o debate no quarto capítulo, ao tratar da discussão em torno da “teoria” dos tipos ideais, desenvolvida por Weber. É realizando uma história do próprio conceito em tela que o autor relativiza a originalidade da tal aspecto do pensamento teórico-metodológico do intelectual alemão.
Expressando uma tentativa de fundamentar a perspectiva tipologizante nas ciências naturais, o autor alerta que a noção de “tipo” havia se tornado um jargão na Alemanha entre fins do século dezenove e início do vinte. Como reverberação da Methodenstreit entre economistas alemães e austríacos – envolvendo nomes como Gustav von Schmoller e Carl Menger (RINGER, 2000) – e do debate, igualmente intenso, que contrapôs historiadores políticos a historiadores culturais (ELIAS, 1997, p. 117), Mata verifica a percepção de alguns daqueles limites do historicismo que contribuíram para a reformulação epistemológica da disciplina histórica na Alemanha guilhermina. Nas discussões entre Eberhard Gothein, Dietrich Schäfer e Ernst Troeltsch, seria perceptível o embate acerca da utilidade de categorias tipológicas que visassem a extrapolar os limites do singular na representação de fenômenos históricos.
É também na ciência jurídica e na ligação de Weber com o jurista Georg Jellinek que Mata identifica como o autor do artigo sobre a “Objetividade”, de 1904, teria feito uso dos “tipos empíricos” de Jellinek, invertendo seus polos – os denominando “tipos ideais” – de modo a se distanciar de seu elemento propriamente normativo, – aproximando-os do que classificava como “ciências da realidade”.
A dívida de Weber para com a teologia – e aqui destacam-se as formulações de Ernst Troeltsch – é ressaltada como igualmente importante naquilo que se tornaria tão central em sua obra. Como uma espécie de conceito jurídico “desnormativizado”, o tipo ideal weberiano representaria uma forma de compromisso entre o abandono e a conservação da filosofia da história, sendo, nesse sentido, uma “forma resignada da filosofia da história”. Mais do que simples‑mente comprovar que não há originalidade na “teoria” weberiana dos tipos ideais, Mata é capaz de trazer novamente à tona uma série de debates entre eruditos que outrora padeciam em um longo período de esquecimento.
Ao tratar de outro controverso aspecto da obra de Weber, a “isenção de valor” ou “neutralidade axiológica” (Wertfreiheit) do conhecimento histórico social, o autor opta por reconstruir a evolução de tal sentido na obra de Weber, contrapondo a posição do intelectual às de alguns de seus contemporâneos. Em trabalhos como o ensaio sobre a “Objetividade” ou em A ética protestante, além do diálogo com as obras de Rickert e Schmoller, o historiador evidencia, em um primeiro momento, que há na obra de Weber uma preocupação com o “dever ser” (Sollen) do erudito que extrapola o campo propriamente epistemológico, estendendo-se também à ética da prática pedagógica.
Mata conclui que Weber sustenta a opinião segundo a qual o historiador, o jurista e o sociólogo podem e devem ter sua própria visão de mundo, sua ética e suas convicções políticas, mas não a ciência histórica, o direito e a sociologia enquanto tais. Weber afirmaria querer se afastar dos adeptos de uma neutralidade axiológica “radical”, para quem a historicidade dos postulados éticos deporia contra a importância histórica destes. Ao mesmo tempo, julgaria que não cabe à ciência empírica valorar positivamente uma ética só por ela ter dado forma a épocas e culturas inteiras. Nesse sentido, a neutralidade axiológica weberiana residiria, em última análise, numa transposição da ética da convicção para o campo gnosiológico.
Apontando o caráter estritamente formal da solução weberiana para o problema dos valores, além de sua posição pouco consequente do ponto de vista filosófico, Mata joga luz sobre o tão atual debate acerca das relações entre ciência e consciência moral.
Dando prosseguimento ao debate acerca da influência do pensamento weberiano na ciência histórica, o pesquisador ambiciona, no sexto capítulo, compreender os motivos do amplo desconhecimento a respeito da obra de Weber – tanto no Brasil quanto no exterior – e do seu legado para o ofício dos historiadores.
Dedicando-se ao entendimento de alguns importantes aspectos da visão de Weber sobre a ciência histórica, Mata analisa a opinião do intelectual frente aos escritos de três relevantes historiadores – Leopold von Ranke, Karl Lamprecht e Eduard Meyer – de modo a melhor aproximar-se de sua própria visão a respeito do tema.
Em tal exercício, o historiador conclui que tudo parece afastar as posições de Weber, sobretudo, do segundo desses autores. Os argumentos apresentados na polêmica com Meyer levam-no, toda‑via, a concluir que entre a história “positivista” de Lamprecht e a história compreendida como “ciência cultural” de Weber existiam evidentes afinidades eletivas. Mata percebe que ambos se reconheciam como representantes de uma história cultural que desafiava abertamente os rígidos cânones historiográficos vigentes.
A aproximação com o trabalho do Weber historiador no atual momento do que classifica como “crises de sentido intersubjetivas” seria, segundo Mata, profícua na medida em que – distanciando-se de uma perspectiva de exagero do ficcional – este versaria sobre uma ciência preocupada com os desdobramentos do real.
Nos capítulos seguintes, o autor reitera tal posição referente à relevância da Weberforschung no presente, ao analisar o uso do conceito de “despotismo oriental” e o debate acerca da existência de uma posição religiosa e de uma teologia política na obra de Max Weber.
No primeiro caso, em um pequeno excurso complementar, Mata empreende uma elucidativa avaliação dos escritos weberianos acerca da situação política na Rússia do início do século vinte. Em sua análise, o autor conclui que Weber surpreendentemente mantém sua opinião a respeito do suposto imobilismo russo – de forma coerente com o que era pensado pelos fundadores do materialismo histórico em sua noção de “despotismo oriental”.
No segundo, Mata reserva dois capítulos inteiros para debater a complexa relação do autor em tela com a teologia e a prática religiosa. A partir de uma perspectiva própria à história das ideias, o historiador enaltece a importância do homo religiosus Max Weber para o “estudioso da religião Max Weber”. Em uma minuciosa análise da trajetória dos estudos teológicos de sua família, além das relações do jovem jurista com seu primo Otto Baumgarten, o autor percebe que, longe do que era pregado por Friedrich Schleiermacher, Weber entendia que vida religiosa interior e ação transformadora no mundo não deveriam nem poderiam se contradizer.
Mais adiante, ao discutir a existência de uma teologia política por trás da Ética protestante, o autor traz – em recurso a elementos sociopolíticos, acadêmicos e biográficos do contexto de produção da obra – uma surpreendente interpretação do mais conhecido trabalho do intelectual alemão. Levando em consideração elementos biográficos, além da posição do autor diante da política de seu tempo, Mata é capaz de perceber no estudo de história cultural weberiano tanto a expressão tardia do Kulturkampf1 quanto um tratado de teologia política.
Tratando ainda do clássico estudo de Weber, o historiador irá desconstruir no capítulo seguinte o que considera a formulação do mito de A ética protestante e o espírito do capitalismo como obra de sociologia. Considerando a forma pela qual o autor emprega as categorias de “tipos ideais” – “uma construção mental destinada à medição e caracterização sistemática de conexões individuais, isto é, importantes devido à sua especificidade” (WEBER apud MATA, 2013, p. 180) –, Mata percebe em tal recurso heurístico a tentativa por parte do autor de facilitar a identificação e a análise de realidades percebidas como singulares, que seriam, em última instância, históricas. Além disso, declarações do próprio Max Weber e uma análise do contexto de produção historiográfica do período corroboram a tese do historiador mineiro, segundo a qual A ética protestante teria sido concebida, antes de tudo, como um estudo de história cultural.
Uma última e relevante preocupação de Mata em seu traba‑lho diz respeito à recepção da obra de Max Weber entre historiadores brasileiros desde o início da difusão de seus escritos em território nacional ao longo do último século. De uma favorável leitura de suas ideias durante as décadas de 1930 e 1940 – em interlocutores como Sérgio Buarque de Holanda e José Honório Rodrigues – à crítica e incompreensão de sua “interpretação espiritualista da História” Mata busca em nossa historiografia aquele “elo perdido” entre a obra weberiana e sua interpretação por interlocutores locais.
Neste caminho de reconstrução de itinerários e desmistificação de noções há muito atreladas à herança weberiana, o autor brasileiro erige novas perspectivas úteis à apreciação do “mito de Heidelberg” e de sua obra. Como alternativa a uma ótica demasiado contextualista, Mata opta por trabalhar com a noção de constelações intelectuais e suas delimitações (HEINRICH, 2005, p. 15-30) – ou “espaços de pensamento”. Tal esforço metodológico, conforme buscou-se demonstrar no curto espaço desta resenha, é coroado pelo sucesso da análise do autor em combinar contextos e insights biográficos, fornecendo-nos um panorama das principais conquistas da obra histórico-sociológica de Max Weber.
Se um dos objetivos de Sérgio da Mata – conforme exposto em suas últimas digressões – estava associado à compreensão de um autor dedicado à história como ciência da realidade, pode-se considerar que seu trabalho cumpre à risca a intenção de trazer à tona tal debate. De posse daquela “coragem diante do real” e diante da recente tendência à “ficcionalização de tudo”, Mata é capaz de perceber em seu estudo o quanto o legado de Max Weber se mostra cada vez mais relevante ao entendimento do real enquanto vocação e profissão também no mundo contemporâneo.
Notas
1 Política implementada pelo chanceler Otto von Bismarck entre 1871 e 1878 com o objetivo de secularizar o Estado alemão e eliminar a influência da Igreja Católica Romana sobre a cultura e a sociedade germânica do período.
Referências
DIEHL, Astor Antônio. Max Weber e a história. Passo Fundo: Ediupf, 2004.
DILCHER, Gerhard. As raízes jurídicas de Max Weber. Tempo social, v. 24, n. 1, p. 85-98, 2012.
DOMINGUES, Ivan. Epistemologia das ciências humanas. São Paulo: Loyola, 2004.
ELIAS, Norbert. “História da cultura” e “história política”. In:______. Os alemães: A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
HEINRICH, Dieter. Konstellationsforschung zur klassischen deutschen Philosophie. In: MUSLOW, Martin; STAMM, Marcelo (Hrsg.). Konstellationsforschung. Frankfurt am Main: C.H. Beck, 2005.
HÜBINGER, Gangolf. Max Weber e a história cultural da modernidade.
RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins alemães: a Comunidade Acadêmica Alemã, 1890-1933. São Paulo: Edusp, 2000.
______. A metodologia de Max Weber. São Paulo: Edusp, 2004.
TEIXEIRA, Francisco José Soares; FREDERICO, Celso. Marx, Weber e o marxismo weberiano. São Paulo: Cortez, 2011.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1968.
______. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Marcelo Durão Rodrigues da Cunha – Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista Fapes. E-mail: [email protected].
História da Inquisição portuguesa (1536-1821) – MARCOCCI.; PAIVA (Topoi)
MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José Pedro. História da Inquisição portuguesa (1536-1821). Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013. Resenha de: SOUZA, Evergton Sales. Uma história da Inquisição em Portugal e no seu império. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
A produção historiográfica sobre a Inquisição portuguesa, em particular aquela relativa a diferentes aspectos da ação inquisitorial, não tem parado de crescer nas últimas três décadas. Contudo, até o presente momento, nenhuma verdadeira tentativa de síntese da história dessa instituição havia sido tentada. Talvez a massa bibliográfica e documental a ser necessariamente manuseada numa tal empresa fosse um dos motivos que concorriam para que especialistas não encarassem esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, os estudos publicados nos últimos vinte anos sobre a estrutura e organização da Inquisição portuguesa também proporcionaram um melhor conhecimento de vários aspectos sem os quais seria temerária a realização do ambicioso projeto de escrever uma síntese de sua história. Dois importantes historiadores do mundo português moderno, José Pedro Paiva, professor da Universidade de Coimbra, e Giuseppe Marcocci, professor da Università degli Studi della Tuscia, em Viterbo, encararam o desafio e uniram seus esforços a fim de escrever uma primeira história da Inquisição portuguesa desde sua fundação, em 1536, ao ocaso, em 1821.
O livro contém dezoito capítulos que estão distribuídos em cinco partes, cada uma delas correspondendo a um período da história da Inquisição portuguesa. Assim, vislumbra-se uma proposta de periodização que principia em 1536, com a fundação definitiva do Tribunal, e vai até 1605, com a primeira grande crise enfrentada pela Inquisição. Crise que atinge seu clímax com a concessão do perdão geral aos cristãos-novos, dado pelo papa em breve de 23 de agosto de 1604 – o qual só viria a ser publicado em Goa no ano de 1705. A Inquisição sofreu grande derrota nesse episódio, tanto mais que o breve era fruto dos esforços de famílias cristãs-novas que denunciaram em Roma as arbitrariedades cometidas pelo Tribunal português e conseguiram convencer – a custo, inclusive, de promessas de vultosas somas – a coroa espanhola a apoiar suas demandas junto à cúria romana. O segundo período se estende de 1605 a 1681 e configura-se como época de apogeu do Tribunal que, recuperado da derrota de 1604, intensificaria e ampliaria seu raio de ação na sociedade portuguesa até novamente estalar uma grave crise que culminaria com a sua suspensão pelo papa, em 1674. O restabelecimento do Tribunal, em 1681, é a página final de um período e a abertura de outro que seria marcado pela “busca de um novo caminho”, no qual estão ainda patentes os traços distintivos que denotam o prestígio da instituição na sociedade portuguesa, bem como sua estratégia de se fazer admirar, respeitar e temer pelo teatro do poder e pelo espetáculo do castigo. Entretanto, ao avançar do século XVIII, alguns problemas irão mostrar os limites do novo caminho. A crise aberta pela querela do sigilismo, na década de 1740, deixaria marcas profundas na história das relações entre a Inquisição e o episcopado, solapando uma das bases do seu poder e legitimidade. Esta fase que os autores chamaram de “Inquisição barroca” se estendeu até 1755, quando após o terremoto e com Sebastião José de Carvalho e Melo a ganhar mais e mais poder no seio do governo, inaugura-se uma nova época na qual o arrefecimento à perseguição aos cristãos novos e o declínio do poder e prestígio do Tribunal vão se tornando uma realidade palpável. Do nosso ponto de vista, esta data se configura como a que coloca mais problemas nesse esforço de periodização empreendido por Marcocci e Paiva. Enquanto as outras datas marcam momentos críticos ligados à própria história da instituição, aqui se trata de um evento maior, o terremoto, mas que não tem ligação direta à instituição, a não ser, evidentemente, pelo fato de os Estaus terem vindo abaixo com o terremoto. Poderíamos indagar, por exemplo, por que não fazer terminar a fase barroca em 1750, ano da morte de d. Nuno da Cunha e fim do longo reinado de d. João V? Mas, deve-se convir que, no presente caso, avançar ou recuar cinco anos é um problema menor frente ao trabalho desenvolvido por esses autores. O certo é que a nova fase será marcada pelo signo de sua dominação pelo Estado. Com efeito, a instituição submeteu-se inteiramente, como nunca antes o fizera, aos objetivos do centro de poder político. Despojada de seus inimigos de sempre, os cristãos-novos, ela definha até sua extinção, em 1821. É verdade que os autores optaram por tratar do fim do Tribunal na quinta e última parte da obra. Fizeram-no, contudo, observando uma lógica particular à exposição do texto, estabelecendo uma ligação coerente entre a extinção da instituição, que àquela altura já não era mais do que um corpo moribundo, e a sua emergência como objeto de memória e história estudado e debatido desde então.
Ao conhecimento da bibliografia atinente ao tema os autores desta obra aliaram o das fontes documentais. Aqui repousa uma de suas características distintivas: trata-se de síntese que não abre mão da construção de um conhecimento histórico largamente fundamentado na documentação disponível. Isto faz com que o livro seja lido com muito proveito tanto pelo público não especialista quanto por aquele especializado, pois ao tempo em que condensa num único volume um conhecimento esparso em múltiplos livros e artigos, apresenta também novos problemas e novas conclusões retiradas de um conhecimento imediato das fontes. Daqui também se origina uma compreensão da história da Inquisição que consegue manter um distanciamento benéfico ao exame desse objeto tão complexo e que desperta, por vezes, discursos e análises eivados de passionalidades. Marcocci e Paiva levam ao pé da letra o ensinamento de Marc Bloch sobre o ofício do historiador e seu dever de compreensão – e não julgamento – dos fatos estudados. Não se trata de adotar uma atitude complacente em relação ao significado dessa instituição na história da humanidade, mas de procurar compreendê-la no seu devido contexto. Os autores explicitam isto ao afirmarem que:
a Inquisição é, sem dúvida, um símbolo dos excessos de desumanidade a que se pode chegar em nome da religião e do que se considerava a verdade. Ainda assim, representa também uma instituição filha do seu tempo que, para ser seriamente compreendida, precisa de ser estudada no seu contexto e nas suas consequências concretas. (p. 14)
Apresentar a Inquisição como “filha do seu tempo” pode, à primeira vista, parecer uma fórmula fácil, mas sua real profundidade revela-se na medida em que os autores vão desenvolvendo uma das ideias centrais do livro e que se encontra magistralmente exposta no capítulo 6, “O medo de uma sociedade impura”. Evidencia-se que uma lógica de intolerância e ideais de pureza de sangue estavam difusos na sociedade. Esses elementos explicam muito da origem e do desenvolvimento do Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Compreende-se, assim, que a instituição não foi imposta, mas desejada por amplos setores da sociedade tomados por uma obsessão antijudaica. Esses mesmos setores, com o passar do tempo, pressionaram a coroa a adotar políticas cada vez mais discriminatórias em relação aos cristãos-novos. Aqui se descortina mais uma linha de força deste livro que ao contar a história da Inquisição não o faz a partir de um olhar circunscrito à instituição, mas procurando observar sua inserção no – e sua interação com o – contexto social, cultural, político e econômico de seu tempo.
Para Paiva e Marcocci a Inquisição foi, sobretudo, um tribunal eclesiástico que tinha seu lugar junto a outras instâncias que formavam o complexo ordenamento jurídico português da época moderna, mas também foi um lugar de poder (p. 15). Ao longo da obra, nota-se como o tribunal português, cuja rápida ascensão se deveu ao apoio da coroa, mas também aos ventos da contrarreforma, adaptou-se aos jogos de poder na busca de construir e manter sua relativa independência vis-à-vis do poder monárquico e, embora subordinada ao papa, procurando não se dobrar inteiramente ao seu poder. Nesse sentido, a dinâmica das relações entre Inquisição, monarquia e Roma apontada na obra pode nos fazer pensar no dilema do clero galicano em sua vontade de autonomia em relação ao rei e ao papa. Contudo, a similitude fica restrita a este campo, pois do ponto de vista eclesiológico a Inquisição portuguesa jamais flertou com as ideias galicanas, demasiado episcopalistas e pouco favoráveis à instituição inquisitorial.
Esta História da Inquisição portuguesa exprime uma constante preocupação em descrever e analisar a ação inquisitorial numa escala geográfica que extrapola os limites do Portugal continental. Além da necessária atenção dada ao tribunal de Goa, é dispensado especial cuidado ao exame da ação do tribunal em todo o ultramar português, e particularmente no Brasil. O peso conferido ao império ultramarino ao longo do livro, com quatro capítulos inteiramente consagrados ao seu estudo, revela não só a visão abrangente que os autores têm do objeto estudado, mas também uma escolha que transcende as fronteiras de um campo historiográfico específico, refletindo uma tendência compartilhada por diversos historiadores, entre os quais me incluo. Nesse sentido, a obra é mais uma excelente prova de que o conhecimento histórico sobre o mundo português moderno tem muito a ganhar quando estendemos o campo de visão para além dos limites do Portugal continental ou de uma área específica de seu império.
Escrito em muito bom estilo, o livro deixa-se ler facilmente. Ao longo de suas 607 páginas identificamos poucas gralhas, todas facilmente corrigíveis e que não comprometem a qualidade do texto. A título de exemplo pode-se mencionar o caso do breve Inter luculenta, de 1737, que iliba d. Inácio de Santa Teresa das suspeitas de jansenismo que haviam sido lançadas contra si em Goa, grafado “Inter iuculenta” (p. 300). À página 296, em passagem sobre o cristão-novo Francisco de Sá, há erro no século apontado para o seu anterior encarceramento. Por fim, nota-se um problema no gancho do parágrafo final do capítulo 11 (p. 304) que remete o leitor não para o imediatamente seguinte, mas para o capítulo 13, que discorre sobre a Inquisição nos tempos de Pombal.
Também são bastante raras as imprecisões pontuais que notamos na obra. É o caso da menção feita a Bossuet (p. 235). Ali deveria ser dito que seria, em 1677, “futuro bispo” de Meaux, pois ele já havia sido bispo de Condom, entre 1670 e 1671, antes de renunciar àquela mitra a fim de se tornar preceptor do príncipe herdeiro francês. Menos marginal ao objeto da obra é a inexistência de uma advertência ao leitor quanto à composição étnica da Congregação do Oratório em Goa. Trata-se de um aspecto importante a salientar, ainda mais num passo em que são abordados problemas relativos às tensões locais e ao prestígio social conferido pela participação em atividades relacionadas com o Santo Ofício (p. 319). Por fim, há uma ou outra ausência a lamentar na bibliografia, como a do excelente Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil (Rio de Janeiro: Editora Bertrand do Brasil, 1993), de Luiz Mott, e a do recente Domingos Álvares, african healing, and the intellectual history of the Atlantic world (Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2011), de James H. Sweet.
Os poucos problemas assinalados aqui terminam por confirmar a solidez da obra em tela, sem nada ofuscar do seu brilho. Talvez a palavra que melhor a defina seja “equilíbrio”. Equilíbrio para não ceder ao mero discurso condenatório, nem à complacência em relação à instituição e à sociedade estudada; para dosar cuidadosamente o uso da bibliografia existente e a imprescindível consulta direta às fontes documentais; para construir um texto suficientemente fluido que agrade ao público em geral e rigoroso, inovador e instigante o bastante para tornar-se indispensável aos especialistas.
Por suas muitas qualidades, por seu equilíbrio, esta História da Inquisição Portuguesa, de José Pedro Paiva e Giuseppe Marcocci constitui um marco na historiografia sobre o tema. Uma obra verdadeiramente incontornável.
Evergton Sales Souza – Doutor em História Moderna e Contemporânea pela Université Paris-Sorbonne, PARIS 1, e professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, Brasil. E-mail: [email protected].
La Représentation Excessive: Descartes, Leibniz, Locke, Pascal – VINCIGUERRA(CE)
VINCIGUERRA, Lucien. La Représentation Excessive: Descartes, Leibniz, Locke, Pascal. Lille: Presses Universitaires du Septentrion, 2013. Resenha de: KONTIC, Sacha Zilber Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.31, jul./dez., 2014.
O estudo do estatuto da representação nos filósofos seiscentistas é um ponto recorrente em toda a fortuna crítica que aborda a filosofia da época e, deste ponto de vista, a obra de Lucien Vinciguerra retoma um tema clássico. Entretanto, ao invés de se colocar de partida no interior do discurso filosófico, o autor se propõe a analisar o problema da representação nos filósofos em questão a partir de operações e dispositivos que não são ele s mesmo s filosófico s. É o caso da s equações cartesianas das curvas e de seu regime de diferenças, de metáforas, como a do cego da dióptrica de Descartes, do sonho de Teodoro na Teodiceia de Leibniz, do espelho e da anamorfose como modelo das ideias confusas em Locke, da figura do hexagrama místico e da interpretação da bíblia em Pascal.
Por este procedimento, Vinciguerra visa estabelecer um debate direto com As palavras e as coisas de Foucault. Enquanto Foucault se propunha a fazer uma história filosófica das transformações da cultura na era clássica buscando o fundamental destas transformações no exterior da própria filosofia, ou seja, uma arqueologia do pensamento e não uma história da filosofia, Vinciguerra busca na arqueologia foucaltiana um ponto de partida para se voltar à história da filosofia.Ao romper as continuidades aparentes entre as filosofias clássicas e as modernas a partir de conhecimentos estrangeiros à própria filosofia, Foucault demonstra haver entre elas familiaridades enganosas, levantando problemas que a história da filosofia não possuía métodos para trazer à superfície. Ao mesmo tempo, a importância das diferenças entre as diversas filosofias são minimizadas em favor de um elemento que resta implicitamente comum a elas. A arqueologia do saber dissolve assim o trabalho do historiador da filosofia em favor de uma história mais ampla do pensamento.
A mudança do regime representativo dos signos, que é a marca da episteme clássica, leva Foucault a privilegiar a análise da linguagem no discurso filosófico e na produção do saber, mas, observa Vinciguerra, deixa de lado a relação deste regime dos signos com a matemática. É partindo da relação entre a matemática e a linguagem que o autor vai interrogar os filósofos em questão para tentar elaborar como, apesar das diferenças radicais em suas concepções representação, os quatro filósofos podem compartilhar de uma mesma episteme. Ela mostrará que o regime dos signos no saber clássico aponta – talvez contra a intenção dos pensadores em questão – para uma concepção de representação na qual o signo se anula enquanto signo e traz em si a presença mesma daquilo que é representado. Em outras palavras, a representação excede – se a si mesma.
Ordem de exposição escolhida por Vinciguerra já evidencia o tipo de história da filosofia que é proposto neste livro: não se trata de um estudo cronológico ou genético de um conceito, mas sim a tentativa de encontrar dispositivos que evidenciem um elemento comum na concepção de representação entre os quatro filósofos. O exame se inicia com a descrição do sonho de Teodoro, alegoria narrada por Leibniz nas últimas páginas da Teodiceia na qual, guiado por Palas, Teodoro é levado à pirâmide de infinitas salas, cada uma representando um mundo possível, e nas quais se encontram os livros, cujas páginas contém o destino de cada pessoa de cada mundo possível. Basta que ele passe as mãos sobre as letras deste s livros para que lhe seja representado visivelmente, como que em uma olhadela, o que é dito pelas palavras escritas, assim como o destino destas pessoas, tudo aquilo que elas fazem, percebem, pensam, suas posteridades. O mundo representado pelas letras de desdobra em um mundo visível, em uma presença ilimitada que é representada por aqueles caracteres presentes no livro.
O que interessa o autor nesta alegoria é menos a sua importância como parte da teoria leibniziana dos mundos possíveis ou de sua noção d e representação como expressão do que o caráter “exemplar” que o signo toma no seu interior. Ao ser lido, ele nos leva a uma presença que está além dele mesmo, uma presença que é em si ilimitada. É esse mote de um “signo excessivo” que guia a sua busca por uma episteme comum entre a filosofia da representação destes quatro filósofos. Mas aquilo que pode ser facilmente identificado em Leibniz como uma consequência de seu sistema filosófico, e principalmente de sua concepção de expressão, é visivelmente mais difícil encontrar nos demais, e principalmente no caso de Descartes.
Não é, portanto, por acaso que a análise da questão da representação em Descartes ocupe a maior parte do livro.
Ao mesmo tempo em que ela é fundamental para sua tese, considerando o papel evidentemente fundamental que Descartes possui na filosofia seiscentista, essa noção de uma representação excessiva não pode ser encontrada no local onde a questão da representação aparece de forma mais clara, a saber, na sua teoria da ideia. A ideia para Descartes é representativa justamente por ser como a coisa mesma no intelecto. Ela não é um signo, mas sim a realidade objetiva da coisa tal como se encontra em nossa mente.
Consciente desta limitação, Vinci guerra busca inicialmente na equação das curvas da Geometria e, em seguida, na descrição da linguagem e d a percepção sensível no Mundo, na Dióptrica e na regra XII das Regulae o mesmo princípio que regra a concepção de signo e de representação que encontra no sonho de Teodoro de Leibniz. Na equação da curva, a sua decomposição em curvas cada vez mais simples permite com que, no final da série, a curva mais complexa seja reencontrada e descrita de um modo claro e distinto. A série em sua totalidade de curvas mais simples representa a curva mais complexa sem, entretanto, contê – la em sua totalidade. É por este mesmo paradigma que o autor passa à interpretação do papel das diferenças nas impressões sensíveis tal como descritas por Descartes, para quem toda a representação sensível não é a representação de uma diversidade, mas que em si não possui relação com o objeto percebido.
É assim que na regra XII das Regulae as diversidades das cores podem ser comparadas às diversidades das figuras. O que percebemos é apenas a codificação desta diversidade, tal como ela se relaciona com nós, e não as coisas mesmas. O mesmo princípio é explorado pelo autor a partir da metáfora cartesiana do cego com sua bengala, presente no primeiro e quarto discurso da Dióptrica . O cego, ao tocar o solo com sua bengala, reconhece pela vibração transmitida pela bengala até a sua mão a diferença entre o solo duro, a terra e a areia. É de forma análoga, diz Descartes, que recebemos a diversidade de coisas que afetam nossos olhos, como simples vibrações que em nada de assemelham à coisa percebida. Para considerar as sensações na filosofia cartesiana como signos legíveis tais como as letras dos livros do sonho de Teodoro, Vinciguerra centra a sua análise na possibilidade de encontrar n essa diversidade a leitura de um signo que, decifrado, nos remeta à verdade das coisas, mesmo que confusamente. De fato, Descartes afirma que há uma instituição da natureza – que diz respeito sobretudo à vida prática – pela qual nos guiamos pelo mundo sensivelmente percebido. Face, nas palavras do autor, a essa “metalinguagem desconhecida”, cabe descobrir se há um espaço na filosofia cartesiana pelo qual possamos dizer que é possível reencontrar essa metalinguagem e descobrir na diversidade presente na impressão sensível uma transparência tal como no sonho de Teodoro. Segundo o autor, podemos afirmar isso partindo da descrição de Descartes, feita no início do Mundo, entre as sensações e as palavras, cuja relação com as coisas significadas se dá unicamente pela instituição humana. Por mais que não haja semelhança, ao ouvir uma frase ou ler um texto podemos compreender o seu sentido por mais que não haja semelhança alguma entre o discurso percebido sensivelmente (seja pelo som, seja pela vista) e o seu significado. É claro que no caso de Descartes não se pode falar de uma interpretação – dado que para ele o entendimento é sempre passivo – mas, sim, defende Vinciguerra, de um apagamento do signo que desaparece enquanto coisa ao nos representar seu objeto . Diversos comentadores já notaram o caráter contraditório desta comparação entre a linguagem e a sensação em relação ao restante da filosofia cartesiana, em geral explicado pelo caráter mais físico do que metafísico do tratado. Vinciguerra assume ser, ao lado de Pierre Guénancia, um dos únicos a atribuir uma relação estreita tão entre a linguagem e a sensação. Isto permite com que o autor considere tanto as diferenças entre as sensações da regra XII quanto a metáfora da bengala do cego ao mesmo nível da linguagem no interior da filosofia cartesiana. O seu método de história da filosofia parece desobrigá – lo de analisar a coerência desta tese com o restante da filosofia cartesiana, o que certamente o levaria a considerar obra de Descartes contraditória ou, ao menos, defender uma posição bastante heterodoxa sobre o problema do conhecimento sensível .
Essa omissão o permite passar facilmente da comparação da linguagem com o sensível no Mundo para a consideração da sensibilidade em toda a obra cartesiana como o decifrar de um signo, cujo conteúdo representativo reconduziria a coisa representada. É também no conhecimento confuso que o autor encontra esta noção de signo e de representação em Locke, mas agora na metáfora da anamorfose e do espelho contida no capítulo 29 do livro II do Ensaio sobre o entendimento humano . Nela, as figuras deformadas que dependem de um espelho especial para serem vistas correspondem às ideias que, ao serem relacionadas com uma linguagem inadequada a elas, são confusas até que essas palavras sejam corrigidas. Aqui Vinciguerra encontra novamente a figura da representação que excede o signo na imagem anamórfica que Locke compara à ideia confusa e a possibilidade de encontrar nela a imagem realmente representativa.
No caso de Pascal, apesar de não possuir propriamente um questionamento filosófico sobre a representação, é o mesmo dispositivo matemático da anamorfose que o autor encontra em jogo na análise das secções do cone, a saber, a geometria projetiva inspirada por Desargues. Ela permite com que Pascal postule uma identidade entre figuras diferentes (por exemplo, entre o círculo e a parábola) através das relações que se conservam a partir de sua produção como secção do mesmo cone. Assim, uma mesma figura pode conter representativamente, a partir das relações invariantes, uma infinidade de figuras relacionadas. É o mesmo regime de representação que, segundo o autor, se encontra na concepção de Pascal da exegese bíblica, pela qual o movimento interpretativo permite encontrar o sentido imanente no interior das escrituras. Ao se propor a pensar o problema da representação na filosofia seiscentista a partir de uma reflexão foucaultiana, Vinciguerra faz um louvável exercíc io de repensar o papel e os métodos da história da filosofia. Entretanto, suas análises, ao buscarem em cada um dos autores tratados apenas o suficiente para encontrar a episteme que propõe para a época, não fornecem um aprofundamento da questão, assim com o não pensam o seu papel no interior do pensamento de cada filósofo. Também, ao deixar de lado a influência que cada um dos filósofos teve sobre o demais, assim como as críticas aos seus antecessores, Vinciguerra perde a oportunidade de analisar as por vez es singelas continuidades e rupturas presentes nas teorias da representação em questão. Para as quais Leibniz, mais do que fornecedor de uma “fantasia exemplar”, seria pela natureza dialógica de sua filosofia um campo de análise privilegiado.
Referência
VINCIGUERRA, Lucien. La Représentation Excessive: Descartes, Leibniz, Locke, Pascal. Lille: Presses Universitaires du Septentrion, 2013. Resenha de: KONTIC, Sacha Zilber Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.31, Jul – dez 2014.
Sacha Zilber Kontic – Doutorando, Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
Egocentricidade e mística: um estudo antropológico – TUGENDHAT (C)
TUGENDHAT, Ernst. Egocentricidade e mística: um estudo antropológico. Trad. de Adriano Naves de Brito e Valerio Rohden. São Paulo: WMF M. Fontes, 2013. Resenha de: CESCO, Marcelo Lucas. Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 2, p. 204-208, maio/ago, 2014.
Ernest Tugendhat nasceu em 1930, em Brünn. Atualmente, vive em Tübingen. É professor emérito de Filosofia nas Universidades de Berlin e Tübingen. Sua obra, traduzida para o português, é composta por uma grande variedade de livros e artigos, entre eles se destacam Propedêutica lógico-semântica (1996), Lições introdutórias à filosofia da linguagem (2006) e Lições de ética (1997). Vem somar-se a estas obras traduzidas Egocentricidade e mística: um estudo antropológico, texto que será apresentado nesta resenha.
No referido texto, Tugendhat faz uma análise filosóficoantropológica, buscando, se não primeiramente responder, suscitar outras perspectivas de possíveis respostas para perguntas como: O que significa dizer “eu”? Por que os seres humanos buscam a paz de espírito? O que diferencia o homem dos outros animais? Como é que se dá a relação do homem com a vida e com a morte? Qual a diferença entre religião e mística? Este livro é dividido em duas grandes partes, a saber: na primeira, com o título de “Relacionar-se consigo mesmo”, o autor se foca mais em questões antropológicas, especificamente tentando responder o que ele entende por egocentricidade. Na segunda parte, sob o título “Tomar distância de si mesmo”, Tugendhat tem o foco voltado para as questões do que e como ele compreende a mística. Leia Mais
A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (sécs. XV-XVII) – MARCOCCI (VH)
MARCOCCI, Giuseppe. A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (sécs. XV-XVII). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012, 533 p. PANEGASSI, Rubens. Varia História. Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.
Giuseppe Marcocci é um historiador cujas publicações tem ganhado notoriedade junto aos investigadores dedicados ao estudo da formação do Império ultramarino português. Doutor em História pela Scuola Normale Superiore (2008), atualmente é professor da Università degli Studi della Tuscia e tem dedicado suas investigações ao mundo ibérico, com especial atenção ao caso Português e seus principais temas, tais como Inquisição, escravidão, missões extra-europeias e também a justiça no Antigo Regime. No Brasil, participou recentemente evento, além de ter publicado artigos em periódicos relevantes, tais como a Revista de História da Universidade de São Paulo e a revista Tempo da Universidade Federal Fluminense.
Sem perder de vista as contribuições de grandes nomes da historiografia, tais como Luís Filipe Thomaz, António Manuel Hespanha, Francisco Bethencourt e Laura de Mello e Souza, importa notar que o livro de Marcocci traz efetiva colaboração a um campo de estudos onde o número de pesquisas é relativamente escasso. Desse modo, ao preencher uma notória lacuna a respeito do âmago das conquistas lusas, o livro consolida seu trabalho como referência imprescindível aos intressados no debate a respeito da configuração dos impérios coloniais e suas doutrinas políticas nos primórdios da Época Moderna.
Assim, ainda que o autor nos assegure que a noção de império seja pouco comum nas fontes da época, A consciência de um império compreende Portugal como a primeira monarquia europeia a fundar um império de dimensões globais, bem como um necessário aparato ideológico que solucionasse os problemas de natureza jurídica e moral que se desdobravam da ingerência reclamada como direito frente a diversidade de grupos étnicos e suas variadas manifestações culturais e religiosas. Em vista disso, Giuseppe Marcocci parte das bases jurídicas daquilo que denomina como a “vocação imperial portuguesa”, para alcançar a especificidade da herança das elaborações políticas de um império moderno, mas que deitava suas raízes na escravidão, uma instituição atrelada fudamentalmente à antiguidade. Em síntese, é a figuração de Portugal como um agressivo império marítimo o legado que se definia no próprio momento em que a Europa ganhava os contornos de um mosaico de impérios em concorrência.
Trabalho de fôlego, o livro recupera a densidade e o vigor do expansionismo ao atar os laços existentes entre as esferas da economia e da política, aos esquemas culturais e religiosos que estruturaram a consciência do Império português. Diante disso, traz uma perspectiva inovadora ao se deter sobre os pressupostos conceituais característicos do ideário português nos primórdios da Época Moderna, sem perder de vista sua peculiaridade: o entrelaçamento entre Estado e Igreja.
Os doze capítulos que compõem o livro estão distribuídos ao longo de quatro partes bem definidas. Na primeira, A vocação imperial portuguesa, Marcocci debate a intervenção a posteriori do papado na fundação das premissas jurídicas do futuro Império, com ênfase no papel estruturante que a bula Dum diversas (1452) teve como instrumento legitimador de suas futuras ocupações. Partindo desta proposição, o autor esclarece os vínculos de obediência existentes entre os portugueses e o papado, bem como a reivindicação lusa pela ortodoxia católica. Pautada pela necessidade de justificar o tráfico de escravos negros na costa da Guiné, Roma tutelou o acesso exclusivo dos portugueses aos litorais da África atlântica. Em suma, é da incapacidade de legitimar suas conquistas num paradigma distinto das concessões papais que Portugal traçaria o percurso a ser seguido por outros grandes impérios europeus. Entretanto, no início do século XVI o país ibérico definiria um novo posicionamento em relação a Roma no intuito de garantir maior autonomia na gestão de seu império com a criação da Mesa da Consciência, órgão encarregado de se pronunciar sobre matérias tocantes à consciência do rei e que promoveu uma fusão sem precedentes entre as esferas política e religiosa no vértice do reino.
Em A Etiópia, prisma do império, ganha relevância os diferentes usos políticos do mito do Preste João em Portugal. Se num primeiro momento a figura do lendário soberano tornou-se emblemática referência do sucesso da expansão marítima em concomitância à figuração da Etiópia como aliada para a reunificação da Igreja, em um segundo momento são as implicações subversivas do cristianismo etíope que ganham notoriedade. Ou seja, a construção da legitimidade das conquistas a partir da celebração de cristão julgados como heréticos tornou-se um modelo a ser necessariamente abandonado. Tal mudança foi definida pelas rígidas posições frente ao cristianismo etíope adotadas por um atuante grupo de teólogos no interior da corte portuguesa. Doravante, o mítico aliado desapareceria do horizonte cultural português, e paralelamente, vozes dissonantes do movimento humanista seriam sufocadas. Desse modo, ao lado da Mesa da Consciênca, a Inquisição e a censura literária se tornariam as três principais instituições a concorrerem para a definição de um império católico no qual a Etiópia passaria da condição de reino aliado a terra de missões. Definitivamente, a consciência do Império português atrelava-se de modo cada vez mais significativo às formas de inclusão da diversidade na comunidade de crentes.
A terceira parte, Conquista, comércio, navegação: um senhorio disputado, é a mais extensa e se detém nas controvérsias a respeito do controle das especiarias e da supremacia sobre os mares. Aqui, o autor assinala que foi no calor das polêmicas levantadas pelas monarquias europeias contra as pretensões imperialistas das coroas ibéricas que a consciência de um “império marítimo” ganhou seus primeiros contornos no reino português. Sobretudo em face das críticas pela participação direta da coroa no tráfico comercial, que embora possuissem justificativas, encontravam também seus limites nas tradicionais doutrinas cristãs da Idade Média. Por sua vez, a negligência da veiculação da imagem de um príncipe amado e temido, sugerida por alguns ideólogos do Império também foi pautada por estas tradições, que presumiam um modelo político marcado pelos valores da ética cristã. Ou seja, no âmbito das ideias, a violência estaria diluída na perspectiva da conquista espiritual. Com efeito, todo este dabate não correria separado das primeiras reflexões a respeito do papel que o mar desempenharia no equilíbrio de um complexo sistema de domínio que se constituía para além dos limites da Europa. Objeto controverso na época, Marcocci sugere que os descobrimentos modificariam definitivamente a relação entre a terra e o mar, sendo que este passaria a ser compreendido nos quadros de um novo equilíbrio que se origina do pleno conhecimento da verdadeira forma geográfica, bem como das efetivas distâncias do mundo.
Conversões imperiais: para uma sociedade portuguesa nos trópicos? é a última parte do livro. Nela, Marcocci nos faz notar que a ascensão das ações missionárias deu-se no exato momento em que o Brasil tornava-se o centro do sistema colonial lusitano. Tendo em vista que as sociedades nascidas do Império português são caracterizadas pela presença de escravos em resposta às exigências de um sistema produtivo agrícola, o autor atribui relevância ao sacramento do batismo, uma vez que o domínio sobre homens privados de liberdade em nome da conversão era o fundamento jurídico do Império. Assim, na perspectiva do autor, a formação histórica do Brasil nos quadros do Império português está atrelada a um projeto missionário onde os jesuítas desempenharam papel fundamental, de modo que a relação entre batismo e escravidão logo se entrelaçou aos
debates sobre a humanidade dos índios. De todo modo, ao passo que este sacramento seria o instrumento capaz de mudar a posição jurídica e social dos conversos, o contraste entre a perspectiva libertadora da conversão e a dura realidade dos escravos é apresentado como o mais notório vínculo de todo o mundo português do início da Época Moderna.
Por fim, cabe observar que o livro nos conduz à percepção de que a interpenetração entre o Estado e a Igreja define as linhas gerais de inúmeros aspectos da História do Portugal Imperial. Mesmo a retomada do modelo do Império Romano, tida pelo autor como uma das características mais originais da cultura renascentista portuguesa foi sufocada no que tangia à admiração dos autores lusos pela religião romana, o que nos revela o atuante pressuposto de um enquadramento doutrinal que se mostrava indispensável diante do problema da inclusão civil dos novos súditos da coroa. Elemento imprescindível a uma construção política cujo primado, por sua importância e originalidade, seria amplamente valorizada pela cultura europeia, em uma conjuntura de franca mundialização.
Fundamentado em sólida e diversificada pesquisa documental, Marcocci faz uso tanto de cartas, tratados e crônicas impressas, quanto de processos inquisitoriais e outros códices manuscritos pertencentes a fundos diversos, investigados majoritariamente em arquivos portugueses e italianos. Com efeito, um dos fundos ao qual o autor reserva especial atenção é a Mesa da Consciência e Ordens, parcialmente conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Com escrita clara, o livro interessa não apenas aos especialistas, mas a todos que entendem a história como um recurso para a compreensão dos debates contemporâneos, cujos ecos do passado encontram reverberação em fenômenos como a globalização da economia, a homogeneização cultural, ou até mesmo o emprego maciço da força militar como garantia da manutenção da ordem mundial.
Rubens Panegassi – Departamento de História Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa (MG), Brasil, e-mail: [email protected].
Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France? LBRIAND (Lc)
LBRIAND, Dominique. Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ?, Canopé – CRDP Basse-Normandie, coll. « Ressources Formation », 2013, 234p. Resenha de: BESSON, Rémy. Dominique Briand, Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? Lectures, 25 fev. 2014.
Publié dans la collection « Ressources Formation » (Scérén-CRDP), Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? aborde des questions relatives aux usages sociaux des films en plaçant au centre de l’analyse les perceptions du passé partagées par les élèves. Pragmatique, Dominique Briand, professeur d’histoire à l’IUFM de Basse Normandie développe une analyse qui se situe à l’articulation entre une approche relevant du domaine de l’histoire par les films et une initiation à l’éducation aux images. Pour cela, il part du constat que les enfants et les adolescents évoluent quotidiennement dans un environnement médiatique diversifié (internet, télévision, cinéma, presse écrite, etc.). Il remarque que la place exercée par les films historiques est certainement supérieure pour eux, à celle de l’enseignement de l’histoire. Ainsi, le récit transmis à l’école est-il devenu second, depuis maintenant de nombreuses années. Selon l’auteur, il permet simplement d’amender, d’encadrer et de compléter une conception déjà établie par ailleurs. Des propositions méthodologiques afin de répondre aux défis posés aux enseignants par ce constat sont formulées tout au long du texte. En s’appuyant sur de nombreuses études de cas, portant principalement sur l’histoire des conflits du vingtième siècle (guerres mondiales et coloniales, entre autres), l’ouvrage cherche donc à déterminer comment le cinéma participe à la fixation de la mémoire collective/culturelle et en quoi il a conduit à une remise en cause du « roman national » transmis par les instituteurs de la Troisième République.
Si ce présupposé de départ est particulièrement intéressant, l’idée principale du livre – bien que reposant sur deux néologismes – est, elle, très classique. Selon l’auteur, la prise d’importance des représentations cinématographiques de l’histoire a conduit à des mésinterprétations du passé qui sont le ferment d’une confusion entre fait et fiction : la faction (pour reprendre le terme d’Antony Beevor, cité p. 36). À cela, il est possible d’opposer de manière presque positiviste une fréquentation encadrée de la fiction, c’est-à-dire réflexive et critique, la fréqtion (vocable proposé par l’auteur). Une telle conception du rôle de l’enseignant repose sur l’idée que les films véhiculent des représentations dangereuses, dont l’école doit préserver l’élève. La salle de classe est alors conçue comme un sanctuaire, un lieu de résistance, face à une prolifération incontrôlée de mésusages des images dans l’espace public (p. 38). Le professeur se trouve ainsi placé dans la position de l’évaluateur qui détermine si le film est assez « authentique » pour figurer dans le cadre d’un enseignement scolaire. Par exemple, Marie-Antoinette (Sofia Copolla, 2006) est retoqué, car il propose une vision du passé non fidèle à l’état des connaissances sur le sujet (p. 91).
Ces axes méthodologiques reposent sur une conception datée du rôle de l’historien face aux images. Pris dans cette perspective, celui-ci est avant tout un ardent rhéteur d’une récit « vrai », qui doit, à ce titre, s’opposer aux déformations induites par les choix visuels et scénaristiques des professionnels du cinéma. Le fait que l’histoire soit aussi une représentation du passé constitue une dimension qui n’est considérée qu’à la marge1. Cela s’explique, en partie, par le fait que la principale référence mobilisée dans la courte sous-partie introductive, « les historiens et l’histoire de France à l’écran » (p. 23-25), est Marc Ferro. Si cela conduit Briand à considérer les films comme des vecteurs de mémoire producteurs d’une contre-analyse de la société2, cela le mène aussi à manquer les développements méthodologiques postérieurs liés aux travaux de nombreux autres chercheurs (histoire culturelle du cinéma, réflexions sur les rapports entre récit historien et filmique, etc.3). Par exemple, l’auteur mobilise à plusieurs reprises4, l’idée selon laquelle un film porte autant sur la période contemporaine de sa réalisation, que sur celle qu’il représente, alors que ce point fait l’objet d’un consensus depuis le milieu des années 19705.
Cependant, critiquer cet ouvrage au seul regard d’un manque de prise en compte de l’historiographie contemporaine, revient à manquer son intérêt principal. En effet, dès qu’il abandonne une position de retrait et de surplomb, Briand propose de multiples clefs méthodologiques passionnantes pour les enseignants en histoire. Il teste alors ce qu’il identifie comme étant des potentiels didactiques du cinéma. Ainsi, si l’écriture de l’histoire par les chercheurs n’a pas été systématiquement mise en regard des modes de narration des films, cette comparaison est menée de manière particulière habile entre les films et les cours d’histoire. Les productions culturelles étudiées sont alors tour à tour considérées comme des documents permettant un accès au passé et comme des représentations complexes dont il s’agit d’avoir une approche sensible. Dans tous les cas, très attentif à la forme filmique donnée aux faits passés dans les films, l’auteur évite le piège qui consiste à critiquer les réalisateurs à l’aune de la méthodologie historienne. Il répète ainsi à plusieurs reprises que les cinéastes ne sont pas contraints par les normes en usage au sein de l’académie.
Passionné par les nombreuses productions qu’il analyse, il propose très rapidement de dépasser le seul face à face entre l’élève et le film. Il insiste sur la nécessite de prendre en compte l’amont (les conditions de production) et l’aval (leur réception) avec une égale rigueur. Il explique que pour comprendre comment un film a transformé la perception du passé d’une génération de Français, l’état de leurs connaissances sur le sujet abordé est à préciser. Ainsi, le film n’est pas seulement à considérer pour sa valeur artistique, mais aussi pour l’effet qu’il a pu avoir dans l’espace public. Prenant, l’exemple de La Marseillaise (Jean Renoir), il analyse finement les différences entre la réception du film en 1938 et la façon dont il est possible de le voir aujourd’hui (p. 88). De plus, dans l’un des chapitres les plus réussis du livre, Briand s’intéresse aux débats et polémiques provoqués par certains films. Il s’attarde alors particulièrement sur les aspects non consensuels de l’histoire de France et notamment sur la guerre d’Algérie (à travers le cas du film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, 2010). Il saisit parfaitement que le cinéma ne se limite pas à l’espace de la salle obscure et que son rôle social se joue tout autant dans ce qui en est dit a posteriori. Sans effectuer de remontée en généralité abusive, il s’attèle aussi à décrire en quoi l’étude des films permet d’initier les élèves à une histoire des représentations attentives aux différences et aux complémentarités entre histoire et mémoire. Il fait ainsi des films en général et de ceux de Bertrand Tavernier en particulier (Un dimanche à la campagne, La Princesse de Montpensier, Capitaine Conan et La Vie et rien d’autre, notamment), des objets exemplaires pour une réflexion sur la fabrique du passé.
Cet ouvrage est donc traversé par une tension entre une éducation aux images principalement développée sur un mode critique (parfois un peu caricatural) et une série d’analyses précises portant sur des films qui sont considérés comme utiles pour enseigner l’histoire. Cette distinction ne recoupe pas pour Briand l’opposition classique entre films d’art et d’essai (souvent survalorisés pour leurs qualités formelles) et films populaires (disqualifiés sur des critères purement esthétiques). Au contraire, en culturaliste accomplit, l’auteur choisit de faire porter ses analyses aussi bien sur des films désignés comme étant des « nanars », que sur des œuvres considérées comme appartenant au panthéon du 7ème art. Cette tension repose, en fait plus, sur le maintien d’une différence entre histoire par les images et histoire des images. Ce choix de l’auteur explique certaines des réserves exprimées précédemment. En effet, il s’avère que depuis une quinzaine d’années une histoire utilisant des sources visuelles comme documents ne peut plus se passer d’une étude précise des conditions de production et de diffusion de celles-ci. Les productions audiovisuelles ne sont plus actuellement considérées simplement comme des sources donnant un accès direct à quelque chose de l’ordre du passé, mais comme des formes polysémiques dont il est toujours nécessaire de mesurer la complexité6. Ce n’est qu’une fois ce travail fait sur les images comme objets, que dans un second temps, elles deviennent des documents pour une histoire portant sur autre chose. Il n’y a donc plus de distinction entre les deux approches. L’absence de prise en compte de cette réconciliation entre histoire des et par les images est peut-être ce qui empêche cet essai d’histoire avec le cinéma d’être pleinement concluant. Ces limites ayant été exprimées, il reste à inviter tous les passionnés d’histoire et de cinéma, les enseignants et les étudiants, à se précipiter sur les analyses et les tableaux de synthèse proposés dans cet ouvrage, car ils constituent des matériaux particulièrement riches pour tous ceux qui œuvrent à faire entrer le cinéma dans l’enseignement de l’histoire.
Notes
1 Cf. Antoine de Baecque et et Christian Delage (dir.), De l’histoire au cinéma, Paris et Bruxelles, Complexe, 1998.
2 Cf. Marc Ferro, « Le film, une contre-analyse de la société », Annales ESC, 1973, vol. 28, n°1, p. 109-124.
3 Cf. Pascal Dupuy, « Histoire et cinéma. Du cinéma à l’histoire », L’homme et la société, 2001/4, n°142, p. 91-107 ou Philippe Poirrier, « Le cinéma : de la source à l’objet culturel », dans Les enjeux de l’histoire culturelle, Seuil, 2004.
4 Notamment, p. 85 à travers l’exemple du film Danton (Andrzej Wajda, 1983) et des films de Gustage Kerven et Benoît Delépine (p. 142-143).
5 Pierre Sorlin, « Clio à l’écran, ou l’historien dans le noir », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1974, p. 252-278.
6 Cette manière de faire s’inscrit plus largement dans un tournant historiographique qui concerne l’ensemble des productions culturelles.
Rémy Besson
[IF]O Passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina – PINTO; MARTINHO (RBH)
PINTO, António Costa; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes (Org.). O Passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 336p. Resenha de: WASSERMAN, Claudia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34, n.67, jan./jun. 2014.
O passado ressurgirá mesmo quando existe um acordo inicial de esquecê-lo.
Alexandra Baharona de Brito e Mario Snajder
A historiografia sul-americana tem se dedicado ao tema das ditaduras de segurança nacional desde a sua implantação, em meados dos anos 1960, e o tema continua tendo desdobramentos importantes. A caracterização dos regimes – fascistas, burocrático-autoritários, civil-militares, ditatoriais, totalitários etc. –, a diferenciação com as ditaduras pregressas, o papel dos militares na política, os atores, o contexto nacional e internacional, a influência e participação dos Estados Unidos, o papel desempenhado pela Doutrina de Segurança Nacional (DSN), o esgotamento de um modelo de acumulação capitalista, o papel dos empresários nos golpes, o estudo sobre a resistência aos golpes, a guerrilha, as organizações de esquerda e as memórias de militantes foram objeto de pesquisa dos historiadores e mereceram atenção em livros e coletâneas. Nos primeiros anos do século XXI, o tema das ditaduras latino-americanas entrou definitivamente em outro campo referente ao debate sobre as políticas de memória instituídas ou não pelos governos pós-ditatoriais. Em 2014 o golpe de 1964 no Brasil completa 50 anos, data “redonda” consagrada para discussão e reflexão a respeito do legado autoritário, ou do quanto “restou” de resíduos na nossa sociedade brasileira do regime implantado a partir do golpe.
O livro organizado por Francisco Carlos Palomanes Martinho e António Costa Pinto, O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina, está dedicado justamente a essa temática. Composto de dez capítulos que discutem temas fundamentais do legado autoritário em vários países na Europa e da América do Sul, o livro trata do ressurgimento e interpretação do passado autoritário durante as transições democráticas na Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Brasil. Os casos são debatidos em um duplo sentido: as formas através das quais as elites políticas se apropriaram do acontecido e com ele lidaram, e a presença do passado no seio da sociedade.
O eixo que organiza a obra é a atitude perante o passado autoritário, notadamente as questões relacionadas à justiça de transição. Os capítulos estão embasados em forte teorização a respeito da transição democrática e de suas condicionalidades. O livro procura debater a hipótese de que a qualidade das democracias contemporâneas está fortemente influenciada pelo modo como as sociedades em transição lidaram com o seu passado autoritário. Punição das elites autoritárias, dissolução das instituições correspondentes, responsabilização dos indivíduos e do Estado pela violação dos direitos humanos são aspectos possíveis no cenário da justiça de transição ou do estabelecimento de uma “política do passado”.
Segundo a introdução de Costa Pinto, o volume está estruturado sobre três eixos, a saber: legados autoritários, justiça de transição e políticas do passado (p.19). No texto, um dos dois organizadores do volume procura esclarecer e estabelecer limites entre as definições de conceitos associados uns aos outros.
Por legado autoritário entendem-se “todos os padrões comportamentais, regras, relações, situações sociais e políticas, normas, procedimentos e instituições, quer introduzidos quer claramente reforçados pelo regime autoritário imediatamente anterior, que sobrevivem a mudança de regime…” (p.20). Os capítulos referem-se particularmente a dois legados: a permanência das elites políticas que apoiaram os regimes autoritários e a conservação de instituições repressivas.
Por justiça de transição entende-se toda “uma série de medidas tomadas durante o processo de democratização, as quais vão além da mera criminalização da elite autoritária e dos seus colaboradores e agentes repressivos e implicam igualmente uma grande diversidade de esforços extrajudiciais para erradicar o legado do anterior poder repressivo, tais como investigações históricas oficiais sobre a repressão dos regimes autoritários, saneamentos, reparações, dissolução de instituições, comissões da verdade e outras medidas que se tomam durante um processo de transição democrática” (apud Cesarini, p.22), ou “a justiça de transição é componente de um processo de mudança de regime, cujas diferentes facetas são uma parte integrante desse processo incerto e excepcional que tem lugar entre a dissolução do autoritarismo e a institucionalização da democracia” (p.23). Significa dizer que as decisões tomadas no âmbito da justiça de transição não são necessariamente punitivas. Podem ensejar a reconciliação ou combinar ambas as coisas. Ressaltam, pois, a forma como ocorrem as transições e a qualidade da democracia que está sendo proposta e instaurada.
Finalmente, por política do passado entende-se “um processo em desenvolvimento, no âmbito do qual as elites e a sociedade reveem, negociam e por vezes se desentendem em relação ao significado do passado autoritário e das injustiças passadas, em termos daquilo que esperam alcançar na qualidade presente e futura das suas democracias” (p.24). A política do passado envolve a forma como o passado é trazido à tona nos novos regimes democráticos, e a qualidade da democracia vai depender dessas atitudes, condenatórias ou sutilmente críticas. Ao longo dos capítulos do livro percebe-se que com respeito à política do passado, a ruptura foi menos frequente do que a convivência com os resíduos do autoritarismo, e que o tempo transcorrido entre a redemocratização e o estabelecimento de uma política do passado também deve ser considerado para comparar os diversos casos. A existência de múltiplos passados confrontados em sociedades recém-democratizadas conduz a uma diversidade de formas de lidar com o passado autoritário que vão desde a conciliação (transição pactuada ou negociada), com o estabelecimento de medidas de reconciliação em relação aos crimes cometidos pelo Estado, até a instauração de uma justiça de saneamento (transição por ruptura) com medidas punitivas.
Ao longo dos capítulos instauraram-se, portanto, as seguintes questões: nos casos estudados tratou-se de “esquecer ou reavivar o passado?”, “ocultar ou trazer à tona a memória do autoritarismo e/ou da resistência?”, “enfrentar ou não o passado autoritário?” e, finalmente, “é possível optar entre confrontar o passado ou esquecê-lo?”. Costa Pinto observa que mesmo diante da consolidação da democracia “as velhas clivagens da transição não desaparecem como por milagre: podem reemergir em conjunturas específicas” (p.29), e é isso que nos leva a compreender a frase que serviu de epígrafe à resenha: “O passado ressurgirá mesmo quando existe um acordo inicial de esquecê-lo” (p.300), aplicada aqui à realidade espanhola.
A instauração de uma política do passado depende de circunstâncias relacionadas com a força dos partidos políticos; os agentes que conduzem a transição; os traços singulares de cada ditadura (relativos à memória coletiva e ao terror instaurado no seio da sociedade); ao tempo de duração de cada ditadura; à qualidade da democracia anterior (cultura política); à autocrítica dos atores (políticos e intelectuais); o rompimento súbito ou prolongado com o regime autoritário; a capacidade dos atores políticos, intelectuais e midiáticos em incluir ou retirar os temas “política de memória, justiça de transição e avaliação do legado autoritário” da agenda a ser debatida pela sociedade como um todo, entre outros fatores mencionados ao longo dos capítulos.
No capítulo introdutório, Costa Pinto compara os casos de Itália, Espanha, Portugal e Grécia, sendo os três primeiros exemplos de ditaduras duradouras, com lideranças personalizadas e alto grau de inovação institucional, enquanto a Grécia assemelhou-se a um regime de exceção. As definições conceituais e a tentativa de comparação entre as quatro transições que aparecem no capítulo compensam a ausência de profundidade de cada um dos casos.
Marco Tarchi se debruça sobre “O passado fascista e a democracia na Itália”. Trata da queda do regime autoritário, do regresso da classe dirigente anterior ao fascismo, das diferenças entre o Sul e o Norte do país, dos matizes ideológicos de cada partido antifascista (dos mais moderados aos mais radicais) e, por consequência, das diferentes visões sobre a justiça de transição ou dos métodos para “desfascistizar o país” (p.51). Ainda se refere aos detalhes que envolveram o “ajuste de contas” – os ataques aos símbolos do regime, a dissolução das instituições do regime – e à política de saneamentos que vigorou na administração pública. No caso italiano, também se observa a pressão exercida pelos Aliados no sentido de garantir o julgamento dos que haviam colaborado com os alemães. A condenação pública do regime de Mussolini e atos de extrema violência verificados no processo transicional podem ser explicados também com base nessas pressões.
O capítulo sobre a justiça de transição em Portugal, escrito por Filipa Raimundo, trata da criminalização dos antigos membros da polícia política do Estado Novo. Aborda especialmente o papel dos partidos políticos no processo procurando elucidar como se constituiu o sistema partidário, quando a questão da justiça de transição entrou na agenda dos políticos e como os partidos se posicionaram a respeito das medidas punitivas. Através de quadros sintéticos, a autora verifica avanços e retrocessos nas medidas punitivas e, simultaneamente, aborda os reflexos na legislação que regulou o processo. Apresenta uma análise da imprensa diária e semanal, dos programas eleitorais e da imprensa partidária para avaliar a importância do tema.
Francisco Carlos Palomanes Martinho aborda “As elites políticas do Estado Novo e o 25 de abril”, através da memória construída em torno do último presidente do Conselho dos Ministros do Estado Novo, Marcello Caetano, em dois períodos: 1980, o ano de sua morte, e 2006, no ano do centenário de nascimento. Os dois períodos são contextualizados e ajudam a explicar a “batalha de memórias” (apud Pollak, p.128). O texto está apoiado em ampla bibliografia a respeito do político e verifica a ambivalência de sua trajetória, bem como questiona sobre o possível “encapsulamento” da memória no final do seu governo, o que reduziria, segundo Martinho, injustamente o papel dessa personagem. O capítulo não reabilita Caetano ou o Estado Novo, mas contribui para entender os objetivos do regime e as “artimanhas da memória” (p.155).
O caso da Espanha é abordado pelo capítulo de Carsten Humlebaek como um caso de transição negociada, em que a forte polarização da sociedade no período da ditadura resultou na necessidade de reconciliação na época da queda do franquismo. Segundo o autor: “A combinação da necessidade de reconciliar a nação com o medo de conflito traduziu-se numa procura obsessiva de consenso como um princípio indispensável para a mudança política depois de Franco, mas também fez os principais atores absterem-se de qualquer tipo de mudança abrupta que pudesse ser interpretada como revolucionária” (p.161). Humlebaek contextualiza o reaparecimento do tema na virada do século XXI, sobretudo na esfera pública, e descreve as organizações que surgiram em torno do tema.
Dimitri Sotiropoulos trata do caso grego e compara-o às transições na Espanha e em Portugal. O capítulo aborda o regime dos coronéis, a sua derrocada e a aplicação muito severa da justiça de transição que promoveu saneamento das instituições, inclusive das Forças Armadas. Revela igualmente, mediante pesquisa de opinião pública, que a sociedade grega não tem uma memória precisa de rejeição ao regime ditatorial. Segundo sua visão, o modelo grego de justiça de transição teve caráter “rápido e comedido” (p.212), o que ajuda a explicar o apagamento ou atenuação da memória a respeito do regime.
O capítulo dedicado ao Brasil, escrito por Daniel Aarão Reis Filho, debate a lei da anistia, aprovada no país em 1979, no que se refere aos “silêncios” que a legislação ajudou a produzir (p.217), quais sejam, dos torturados e torturadores, das propostas revolucionárias de esquerda e do apoio da sociedade à ditadura. Em seguida, o autor considera a possibilidade de revisão da Lei da Anistia e observa que a chegada de antigos militantes de esquerda ao poder impulsionou “questionamento aos silêncios pactados em 1979” (p.224). Finalmente, Reis Filho se pergunta se é positivo ou não para a sociedade brasileira discutir esses silêncios. Segundo sua visão, debater o passado é a “melhor forma de pensar o presente e preparar o futuro” (p.225).
Alexandra Barahona de Brito também aborda o caso brasileiro, considerando-o como uma das transições mais longas da América Latina, onde supostamente “a duração e o ritmo da transição se deram mais pela ação dos militares do que pela pressão da sociedade civil” (p.236). Ao descrever a forma como os militares tutelaram o processo e menosprezar a resistência e a pressão da sociedade no final dos anos 1970, Brito contribui para mais um silêncio, dos tantos referidos por Reis Filho. O capítulo, ao contrário dos demais, expressou opiniões sem a devida comprovação, bem como procedeu à caracterização de processos com utilização de adjetivos não muito esclarecedores, como aquele que qualifica a política de Lula e Fernando Henrique Cardoso em relação ao passado de “esquizofrênica” (p.244 e 246). Ainda assim, o capítulo mostra os avanços na direção do estabelecimento de uma política de memória. Finalmente, as explicações sobre os motivos que tornaram tão lento, no Brasil, o ritmo da “justiça de transição”, enunciadas na página 253, parecem mais uma vez fruto de opinião e não de um estudo de fontes históricas e da cultura política do país.
O capítulo 9, de Leonardo Morlino, propõe uma análise comparada dos “Legados autoritários, das políticas do passado e da qualidade da democracia na Europa do Sul”. Retoma conceitos e teorias formulados e apresentados ao longo de todo o volume e sugere uma relação entre “inovação dos regimes, duração e tipo de transição” (p.271). Seu texto apresenta dados de pesquisas de opinião pública nos países da Europa do Sul a respeito das atitudes da sociedade em relação ao passado autoritário e reflete sobre a qualidade da democracia em cada país.
Finalmente, no último capítulo Alexandra Baharona de Brito e Mario Sznajder refletem sobre a “Política do passado na América Latina e Europa do Sul em perspectiva comparada”. Completam assim um volume que pretendeu a cada passo comparar os casos e tirar experiências comuns e singulares para explicar as transições democráticas no final do século XX. Grécia, Portugal e Espanha, além de Argentina, Uruguai e Chile, são examinados no capítulo. A abordagem central é a respeito da transição e da instauração de mecanismos de acionamento do passado. Reflete igualmente sobre os legados da ditadura em cada país e como esse legado interfere na implementação da justiça de transição.
Diante de um “passado que não passa” e de resíduos autoritários que permanecem latentes em todas as sociedades estudadas, a leitura do livro nos faz pensar muito sobre as políticas de passado instauradas pelos Estados democráticos e sobre o papel do historiador de ofício nesse processo. Visto que as políticas de memória instauradas pelos Estados vão se modificando com o tempo porque respondem às preocupações do presente e são emolduradas pelo contexto histórico-social concreto, o livro nos induz a refletir sobre o ofício e a responsabilidade do historiador diante dessas políticas de memória instauradas pelos Estados e acerca dos processos traumáticos vividos pelas sociedades. As dimensões problemáticas do passado são a matéria-prima do historiador. Por isso, consolidada a democracia, cada nova geração de historiadores vai debruçar-se sobre o tema do autoritarismo e da ditadura e procurar incrementar o acervo de informações sobre o período. Com base nesse acervo de informações, caberá aos historiadores refletir a respeito das políticas de memória e estabelecer com a maior precisão possível a diferença entre o passado que emana dos interesses rememorativos dos Estados e os prováveis esquecimentos, omissões e artimanhas da memória que possam se contrapor às informações levantadas pelo historiador a partir das fontes e da pesquisa científica.
Claudia Wasserman – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadora do CNPq. E-mail: [email protected].
[IF]
Medicina no Contexto Luso-Afro-Brasileiro / História Ciências Saúde — Manguinhos / 2014
Em abril de 2012, teve lugar em Lisboa, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, o primeiro Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical, com o subtítulo: “A medicina tropical nos espaços nacionais, coloniais e pós-coloniais (séculos XIX-XX)”. O encontro integrou as comemorações do 110º aniversário de fundação da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, antecessora do atual Instituto de Higiene e Medicina Tropical, comemorando-se também, na mesma ocasião, o 60º aniversário do primeiro Congresso Nacional de Medicina Tropical, realizado na capital portuguesa em 1952.
Aquele primeiro encontro de investigadores brasileiros e portugueses dedicados ao estudo da história da medicina tropical, ou de temas correlatos, foi organizado com o decisivo apoio de Paulo Ferrinho e Zulmira Hartz, diretor e vice-diretora do instituto lisboeta, e a importante participação de Isabel Amaral, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Nova de Lisboa.
Nas diversas mesas apresentadas ao longo de quatro dias, foram abordados os temas a seguir. “Trópicos e medicina” debatia os significados atribuídos à medicina tropical como objeto de estudo; as representações construídas em diferentes contextos históricos e formações sociais a respeito da categoria “trópico”; e as reflexões ou controvérsias que a ideia de “tropicalidade” suscitara no pensamento sobre as sociedades e nações luso-afro-ásio-brasileiras. “Saberes e práticas médicas: histórias e tradições plurais” tinha em mira a reflexão sobre as formas como os conhecimentos e as técnicas da medicina tropical foram aplicados no combate a doenças em territórios nacionais e coloniais, em diferentes contextos históricos. Seriam aí também contempladas as relações de domínio, exclusão ou permeabilidade com medicinas nativas e saberes tradicionais, assim como as artes de curar e as estruturas de assistência implementadas no contexto luso-afro-ásio-brasileiro. O terceiro eixo de discussões do primeiro Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical foi “Tráfico de escravos, fluxos migratórios e circulação de doenças” entre Portugal, Brasil, África e Ásia nos séculos XIX e XX. “Atores, doenças e instituições” enfeixava comunicações sobre trajetórias e inter-relações de instituições e outros atores vinculados às áreas de medicina tropical, microbiologia e saúde pública nos contextos referidos acima. Nas mesas alinhadas a esse tema, foram incluídos trabalhos que diziam respeito a expedições científicas e programas de investigação no âmbito das ciências biológicas e biomédicas visando ao controle de doenças incidentes em suas diferentes zonas geográficas. Por último, o encontro debateu “Políticas internacionais de saúde”, histórias comparativas, trajetórias e inter-relações de instituições e outros atores vinculados a ações globais em medicina tropical, microbiologia e saúde pública nos países lusófonos.
Tais temas foram desigualmente cobertos pelos trabalhos apresentados, e menos da metade chegou efetivamente às páginas da atual edição de História, Ciências, Saúde – Manguinhos, sabendo-se que alguns foram veiculados em outras edições da revista, e que a presente edição traz trabalhos que não fizeram parte do encontro, tendo porém afinidade com a temática do dossiê “Medicina no contexto luso-afro-brasileiro”.
Antes de chegar a ele, os leitores encontrarão seis instigantes artigos submetidos de forma espontânea sobre temas variados: as representações sociais do mundo rural na Europa e em outras regiões; um panorama das antropologias médica, do sofrimento e do biopoder nos EUA e na Europa; relacionados à Argentina, dois trabalhos: modos de pensar o esporte destinado a deficientes físicos nos anos 1950 e 1960, e câncer como objeto científico e problema sanitário no começo do século XX; um artigo discute as extensões possíveis do darwinismo ao âmbito da cultura e outro, disponível no portal Scielo desde janeiro, traz à edição em papel o estudo sobre as redes sociotécnicas subjacentes à Liga de Acupuntura da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Esta edição de HCS-Manguinhos traz ainda a coligação de duas resenhas e uma entrevista que têm relação com Ernesto Laclau, teórico argentino recém-falecido que inovou os estudos sobre a teoria do discurso, tendo publicado A razão populista, um dos livros aqui resenhados. A entrevista é com Chantal Mouffe, companheira de Laclau e, como ele, autora de importantes contribuições ao uso da teoria do discurso nas democracias contemporâneas. O segundo livro resenhado é O lugar da diferença no currículo de educação em direitos humanos, de Aura Helena Ramos, educadora que faz uso desse referencial teórico em seu estudo sobre o lugar da diferença na educação em direitos humanos, e que participa da entrevista feita com Mouffe.
Termino esta carta com uma dupla homenagem: a Ruth Barbosa Martins, fundadora e por longo tempo editora desta revista, jornalista competentíssima, amiga do coração, que se aposenta deixando um rastro luminoso de realizações e amizades; e Isnar Francisco de Paula, que secretariou a revista desde as origens, com seu jeito suave e eficiente. Aposentadas, bem longe agora da “ralação” cotidiana, Isnar, Ruth e outra companheira querida, Ângela Pôrto, muito brejeiras, acenam para veteranos, como o autor destas linhas, com a tentadora promessa de gozarmos também do justo e merecido direito à preguiça.
Jaime L. Benchimol – Editor científico
BENCHIMOL, Jaime L. Carta do editor. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.21, n.2, abr. / jun., 2014. Acessar publicação original [DR]
Cultura escrita, educação e instrução no antigo regime português / História – Questões & Debates / 2014
Este número da Revista História: Questões & Debates traz o Dossiê “Cultura escrita, educação e instrução no Antigo Regime português”, organizado por integrantes do Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Portuguesa, que reúne pesquisadores de vários estados brasileiros e de Portugal. O Grupo vem atuando desde 2010, com o propósito de verticalizar discussões sobre a cultura escrita entre o século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, em diferentes vertentes que integram os interesses de pesquisa da equipe. Essas vertentes vêm se dedicando ao estudo (i) dos projetos educacionais no Império português, particularmente na América, (ii) das relações entre instrução e educação na formação dos quadros administrativos, nas atividades econômicas e na formação profissional, (iii) das relações entre Iluminismo e cultura escrita, e entre esta e práticas culturais e educativas como mediadoras de sociabilidades, e (iv) das instituições e de seus componentes num mundo supostamente Ilustrado. São temáticas fundamentais para documentar e discutir a passagem do domínio político ao império da língua, assim como para perceber a presença e a importância do elemento letrado, sua demografia, geografia, formação, formas e mecanismos de sociabilidade. Em vista deste programa de pesquisa, o Grupo entende que, para a compreensão dos fenômenos relacionados a este processo, é necessária uma visão que combine, ao mesmo tempo, a atenção às especificidades de cada uma das partes com o entendimento das dinâmicas mais gerais que estiveram em ação no momento em que o Estado português procurava soluções para os seus dilemas políticos, econômicos e culturais, e que as estruturas do Antigo Regime iam dando lugar a novas formas de organização e exercício do poder.
Estas preocupações também surgem por se considerar que a segunda metade do século XVIII foi uma época de profundas mudanças no reino de Portugal e em seus territórios ultramarinos. A área educacional foi particularmente atingida, verificando-se um desejo de transformação na mentalidade dos portugueses, principalmente dos jovens. A reforma dos Estudos Menores (1759 e 1772), a criação da Aula de Comércio (1759) e do Real Colégio dos Nobres (1761), além da reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra (1772), são as faces visíveis desse processo que, em certos aspectos, precedeu a diversos outros estados europeus, como a Prússia, Áustria e França, e mostrou uma sintonia entre reformas e o “espírito” daquele século.
Paralelamente às tentativas de impulsionar a educação, a vigilância sobre o que era publicado e lido ganhou novos contornos, com a criação da Real Mesa Censória, em 1768. Neste âmbito, o Tribunal da Inquisição também foi objeto da ação reformista empreendida no reinado de D. José I. Na área da cultura escrita, a própria atividade editorial foi, em muitos momentos, patrocinada pela própria Coroa, interessada em tornar seus jovens “bons cidadãos”, em consonância às ideias então propaladas em obras de intelectuais portugueses influenciados pela Ilustração. Diversos textos foram também publicados pela Imprensa Régia e, mais tarde, pela Imprensa da Universidade de Coimbra. Não menos importante, deve-se considerar que o comércio de livros produzidos fora de Portugal manteve-se muito ativo, como demonstram os inventários de diversas bibliotecas. Ainda nesta perspectiva, a relativa ampliação do ensino das primeiras letras e das gramáticas latina e portuguesa trazia outras populações para o mundo da escrita, com impactos culturais e sociais importantes, sobretudo na América. Estas atividades tiveram continuidade nos reinados de D. Maria e de D. João VI, matizando os efeitos da propalada “Viradeira”.
Assim, os textos apresentados neste Dossiê procuram discutir a importância da cultura escrita e suas relações com a educação e a instrução no Antigo Regime português. Os textos percorrem diferentes temas e investem em abordagens que recorrem a fontes e orientações teórico-metodológicas ainda pouco exploradas pela historiografia, verticalizando discussões sobre o contexto reformista que marcou o mundo luso-americano a partir da segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX. Esse movimento renovador também é tributário da interlocução mais frequente entre historiadores e pesquisadores de áreas limítrofes, como Estudos Literários, Sociologia e Educação. É nesta perspectiva que se vislumbra a contribuição destes estudos e sua articulação com um programa de pesquisa mais ampliado.
O primeiro texto, de autoria de Thais Nívia de Lima e Fonseca, a par de apresentar uma concisa discussão acerca dos caminhos da historiografia da educação voltada ao período colonial brasileiro, mostra os resultados do investimento em um novo veio documental, a correspondência trocada entre professores régios, governadores de capitania, bispos, funcionários da Junta da Diretoria Geral de Estudos e o Conselho Ultramarino, a partir da qual são discutidas as relações estabelecidas entre os professores régios e os responsáveis pelo controle administrativo do ensino régio na América portuguesa. A autora destaca, assim, os interesses e conflitos dos sujeitos envolvidos com a educação no contexto colonial, abordando também aspectos do funcionamento cotidiano das escolas régias instituídas, a partir de 1759, com as reformas pombalinas da educação.
A seguir, Antonio Cesar de Almeida Santos revisita o conjunto dos diplomas legais que instituíram as reformas pombalinas da educação, apontando para o tipo de estudante e, consequentemente, para o “profissional” desejado pelos propositores das tais reformas, considerando que elas estiveram orientadas pelo interesse em desenvolver uma mentalidade que se coadunasse à nova realidade que se queria construir. Assim, seu interesse maior é o de perceber os nexos entre as novas ideias que permeavam o ambiente intelectual europeu e os conhecimentos e as metodologias de ensino que foram propostos para a instrução dos jovens portugueses.
Por sua vez, Justino Pereira de Magalhães aborda a administração municipal pela ótica de sua ordenação por intermédio do uso da escrita administrativa, apontando para uma crescente formalização, profissionalização e especialização desse domínio. Enfocando a figura do escrivão, sujeito responsável pelo registro escrito dos atos municipais, mostra como ocorreram a adequação e a legitimação de uma escrita municipal, particularmente a colonial, ao longo do século XVIII, frente às instâncias decisórias do centro. Conforme o entendimento do autor, a escrita municipal é instituidora do próprio município, desvelando-se como texto, e é como tal que precisa ser interpretada.
Em um registro de longa duração, Ana Rita Bernardo Leitão aborda a instrução dos indígenas da América Portuguesa, especialmente no que concerne à introdução do idioma português entre estes sujeitos. Aqui, a atividade educacional, especialmente aquela promovida pela Companhia de Jesus, mistura-se à missionária, vislumbrando-se estratégias de incorporação das populações autóctones à fé católica e à cultura portuguesa. Apesar da relativa eficácia da ação de civilização das populações ameríndias, no que se refere especialmente ao domínio da língua portuguesa, não ficam ausentes os obstáculos enfrentados, em destaque aqueles que serão objeto de atenção do gabinete pombalino.
Ana Cristina Pereira Lage trabalha com dois conceitos essenciais para os estudos que o Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Portuguesa vem desenvolvendo: letramento e cultura escrita. Em seu artigo, a autora busca compreender, a partir destes conceitos, a produção e a utilização de livros devocionais pelas mulheres que seguiam a Regra de Santa Clara na América Portuguesa. Assim, a partir de uma análise que conjuga a interpretação da Regra, das práticas de leitura, da escrita e dos livros que orientam para o caminho da perfeição religiosa, aponta para o caminho que essas mulheres pretendiam seguir: a busca de uma vida exemplar. A partir da documentação, torna-se possível identificar o estilo literário predominante nos conventos que seguiam a Regra de Santa Clara, estabelecendo padrões para o letramento religioso conventual e que circulava entre Portugal e a América portuguesa, em meados do século XVIII.
Sílvia Maria Amâncio Rachi Vartuli discute os usos sociais que mulheres de Minas Gerais fizeram da escrita, no período de 1780 a 1822, considerando que as relações com a escrita ultrapassam em muito a capacidade de redigir de “próprio punho”. Aborda, assim, os fenômenos da alfabetização e do letramento nas sociedades do período colonial brasileiro, realizando também uma breve discussão acerca da cultura escrita, privilegiando a observação das elaborações discursivas empregadas por aquelas mulheres no momento de redação de seus testamentos. Trata-se, enfim, de um trabalho que destaca a autoria de textos, mesmo que redigidos por mãos alheias, mas que mostram a utilização da escrita no referido contexto.
Completando esta incursão sobre a cultura escrita e suas relações com a educação e a instrução no mundo luso-brasileiro das décadas finais do século XVIII e das décadas iniciais do século XIX, Lucia Maria Bastos Pereira das Neves enfoca os esforços da Coroa portuguesa em criar, no Rio de Janeiro, uma sociedade mais conforme aos hábitos de uma Europa culta e ilustrada. Assim, discutem-se certas ações do governo joanino que permitiram a criação de escolas e a edição de livros por intermédio da Impressão Régia, buscando difundir uma cultura escrita e propiciando a instrução dos jovens que acompanharam suas famílias na transferência da corte. A circulação de novas ideias permitiu, como aponta Lucia Bastos, o surgimento de novas formas de sociabilidade e de um espaço público que, mais tarde, sediou o questionamento de alguns valores tradicionais, como o governo absoluto e a expressão retórica.
Completando este sexagésimo número da Revista, temos os artigos de Moisés Antiqueira, que empreende um estudo sobre a leitura que Tito Lívio fez do julgamento de Cesão Quíncio, na Roma republicana; de Patrícia Falco Genovez e Flávia Rodrigues Pereira, que abordam políticas de saúde voltadas ao combate da hanseníase e as memórias que a doença provoca em uma comunidade da região leste de Minas Gerais, na década de 1980; e de Coral Cuadrada, que trata da transmissão de saberes medicinais entre mulheres na Catalunha, em um estudo de longa duração (sécs. XV a XX). Também é apresentado artigo de Ray Laurence, sobre a exploração turística das ruínas de Pompeia, em tradução de Pérola de Paula Sanfelice e Daphne de Paula Manzutti.
Desejamos uma boa leitura!
Thais Nívia de Lima e Fonseca
Antonio Cesar de Almeida Santos
FONSECA, Thais Nívia de Lima e; SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Apresentação. História – Questões & Debates. Curitiba, v.60, n.1, jan. / jun., 2014. Acessar publicação original [DR]
Fictions of Embassy: literature and diplomacy in early modern Europe – HAMPTON (Topoi)
HAMPTON, Timothy. Fictions of Embassy: literature and diplomacy in early modern Europe. Ithaca: Cornell University Press, 2012. Resenha de: DUARTE, João de Azevedo e Dias. Em busca de uma “poética diplomática”. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
A trama de um dos últimos romances publicados em vida de Henry James, Os embaixadores (1903), gira em torno de uma missão “diplomática” frustrada. Lambert Strether, um norte-americano de meia-idade, é incumbido por sua noiva, a autoritária e rica viúva de Woolet, Nova Inglaterra, mrs. Newsome, de viajar a Paris para resgatar seu futuro enteado, o herdeiro Chad, supostamente envolvido em uma relação indecorosa com uma aristocrata europeia. Previsivelmente, o tiro sai pela culatra e é o “embaixador” Strether quem acaba seduzido pelos encantos do velho mundo, numa reviravolta que põe em risco suas pretensões matrimoniais originais. Metaforicamente empregando aspectos da cultura política da diplomacia na construção do enredo de sua narrativa de ficção, Henry James, talvez inadvertidamente, dava continuidade a uma tradição de diálogo entre duas formas simbólicas iniciada na primeira modernidade, entre os séculos XV e XVII, na Europa.
A “interseção entre a história diplomática e a história da literatura” (p. 1), durante esse período, é precisamente o tema de Fictions of Embassy, terceiro livro de Timothy Hampton, professor de literatura francesa e comparada da Universidade de Califórnia, Berkeley. Imerso na disciplina do novo historicismo, Hampton dedicou-se, em ensaios e livros anteriores, a explorar as relações entre história, política e literatura no Renascimento europeu. Esse seu último livro – uma reedição do original publicado em 2009 – continua no mesmo caminho, examinando as implicações culturais da emergência de uma nova prática política, a diplomacia moderna.
Ainda que o termo “diplomacia” só tenha sido cunhado no século XVIII, a atividade diplomática precede em muito a primeira modernidade, remontando à Antiguidade. No entanto, “durante os séculos XV, XVI e XVII na Europa, a diplomacia sofreu uma série de transformações sem precedentes, tanto práticas quanto teóricas, que fizeram dela um poderoso e importante elemento na política de Estado (statecraft)” (p. 1). A moldura mais geral na qual se encerraram essas inovações – entre as quais se destacam a instituição do embaixador profissional, fixo ou “residente”, e da negociação contínua em lugar dos “favoritos” reais e das embaixadas ad hoc medievais – foi o longo processo de constituição do sistema europeu de Estados soberanos. Tendo como marco histórico a chamada Paz de Westfalia de 1648, acordo que deu fim aos conflitos civil-religiosos no continente europeu, a nova ordem estatal emergente tanto requereu para sua conformação como tornou necessária para sua manutenção subsequente inéditos esforços sistemáticos de diplomacia. Esses requisitos práticos, por sua vez, geraram uma série de problemas – relativos à extraterritorialidade, aos limites da imunidade, às dinâmicas de delegação, representação e ratificação de acordos etc. -, cujas soluções teóricas, extrapolando a cultura retórica e moral do humanismo renascentista, ajudaram a delimitar, nos séculos XVII e XVIII, o campo das “relações internacionais”, um espaço jurídico regido por negociações contingentes entre Estados soberanos que se reconhecem como inimigos potenciais.
Fictions of Embassy não é, contudo, uma “história da diplomacia”. Para as minúcias relativas à constituição da diplomacia moderna, Hampton apoia-se em uma vasta bibliografia, devidamente referida nas notas de rodapé. Como já afirmei, Fictions of Embassy ocupa-se antes da relação entre literatura e diplomacia – “meu foco é menos nos detalhes da história diplomática do que nos discursos que modelam a ação pública” (p. 7). Uma forma de compreender o objeto desse livro é visualizar a diplomacia “como um contexto para o estudo de uma série de grandes obras literárias” (p. 5). Desnecessário dizer que “contexto”, neste caso, não é um dado sólido e fixo (uma “infraestrutura” rígida) do qual se deduz o texto literário, mas sim, ele próprio, um “texto”, até certo ponto aberto, requerendo também uma leitura, da mesma forma que o seu análogo literário. À maneira novo-historicista, Hampton interessa-se pelos processos dinâmicos de conflito e negociação entre formas simbólicas que informam a cultura; o que faz dele, o analista e crítico literário, também uma espécie de diplomata, em busca do que ele mesmo define – ecoando a formulação de Stephen Greenblatt do new historicism como uma “poética da cultura” – como uma “poética diplomática”, i.e.: “tanto uma maneira de ler literatura que seja sensível (attuned) à sombra do Outro na fronteira da comunidade nacional, quanto uma maneira de ler a diplomacia que leve em consideração as suas dimensões fictícias e linguísticas” (p. 2-3).
Vista de uma tal perspectiva, a relação entre literatura e diplomacia na primeira modernidade aparece não como meramente temática ou unidirecional, mas sim como uma relação estrutural e de mão dupla. Mais do que simplesmente fornecer um repertório de materiais (cenas, personagens e tópicos) a escritores de peças, poemas e ensaios (o que não deixava de fazer), a diplomacia oferecia à literatura imaginativa um análogo discursivo, com consequências importantes para ambas. Há semelhanças entre a palavra do diplomata e a palavra do poeta, sugere Hampton, que insiste ser “a diplomacia […] o ato político simbólico por excelência” (p. 5 – ênfase no original), tanto por sua natureza semiótica (sua relação íntima com a produção e a interpretação de signos, gestos e palavras), como pelo fato de que é também uma prática escrita, conscientemente envolvida com questões de representação, narrativa, retórica e autoridade textual. Ademais, na medida em que depende da invenção de “ficções jurídicas” – tal como aquela que determina a “imunidade” do diplomata em missão, como se ele estivesse em seu próprio país -, a diplomacia implica ainda, à semelhança de textos literários, atos de “produção de ficção” (fiction making) – “por ‘produção de ficção’ eu entendo a criação de textos que definem para si mesmos um modo de representação que não pretende um acesso direto à verdade teológica ou epistemológica” (p. 10). Sendo, então, “uma forma de ação política […] profundamente estruturada pela dinâmica da significação”, conclui Hampton, “a diplomacia oferece uma analogia poderosa para com a prática de construção de sentido a que chamamos literatura” (p. 10).
Hampton não está dizendo que a diplomacia e a literatura sejam práticas de representação indistintas, mas sim que, nesse período crítico da modernidade europeia, elas se articulavam de maneiras variadas e complexas, modelando-se mutuamente. “A nova ferramenta política da diplomacia e a cultura emergente da literatura secular modelam-se uma a outra de maneiras importantes”: de um lado, “os textos literários fornecem um terreno único e privilegiado para estudar as linguagens da diplomacia”, dando voz a certas ansiedades e tensões não explícitas da política diplomática, do outro, “a cultura diplomática desempenha um papel dinâmico na história literária, na invenção de novas formas, convenções e gêneros literários” (p. 2). Uma das conclusões importantes do livro é que, exatamente por causa de sua proximidade, a diplomacia acabou por servir como um contramodelo para a literatura de ficção, ajudando-a, por oposição, a definir sua própria voz.
Os capítulos – cuja sucessão segue frouxamente a ordem cronológica, iniciando-se ao final do século XV e terminando ao final do século XVII, com uma coda sobre o século XIX – dividem-se em três seções, cada uma abordando questões em torno a algum tema ligado à atividade diplomática, respectivamente: negociação, mediação e representação. Com leituras de Guicciardini, Maquiavel, Thomas Morus, Rabelais, Tasso e Montaigne, os capítulos 1 e 2 examinam a relação entre a diplomacia e a cultura do humanismo renascentista, no âmbito da qual aquela recebe as suas primeiras formulações teóricas, explorando as tensões entre as expectativas éticas do humanismo e as contingências práticas, nem sempre “honoráveis”, das “úteis” negociações diplomáticas. Esses capítulos iniciais estabelecem também um padrão analítico para a interpretação da interseção entre teoria diplomática e literatura de ficção. De início, delimita-se um conjunto específico de problemas ligados à atividade diplomática (nesse caso, questões relativas ao caráter do embaixador e à extensão de sua liberdade no uso da linguagem no contexto da negociação diplomática) a partir de textos de teoria política e diplomática para, em seguida, discutir o modo como tais problemas são tratados em textos de caráter ficcional, com atenção para seus aspectos linguísticos e retóricos e para tensões ideológicas ocultas.
Já nos primeiros capítulos, Hampton chama a atenção para uma tensão crescente entre os mundos da política e da literatura de ficção; uma tensão que emerge, nos textos, por meio da representação de cenas de diplomacia frustrada, uma recorrência nas obras analisadas no livro. Na leitura de Hampton, a representação literária da diplomacia (e de seu fracasso) serve como um momento crítico, um momento privilegiado não apenas para a reflexão sobre ansiedades e conflitos político-sociais não explícitos, mas também para uma autorreflexão, da qual se origina um estranhamento em relação à política. Na medida em que “a negociação diplomática é vista como a sinédoque da retórica política pública”, argumenta Hampton, então, “é mostrando o colapso da diplomacia que as obras literárias podem reivindicar sua própria autoridade linguística e genérica” (p. 34). Esse movimento duplo de representação dos limites da diplomacia e de autoafirmação discursiva, envolvendo, com frequência, a invenção (ou reinvenção) de novas formas literárias, repete-se ao longo dos capítulos – “por meio do fracasso diplomático, a literatura cria o espaço de seu desdobramento” (p. 186).
Os capítulos 3 e 4 abordam a épica, um dos gêneros narrativos mais importantes do período, a partir de questões relativas ao espaço: deslocamento, extraterritorialidade e encontros entre europeus e não europeus. Por meio de leituras originais de Jerusalem libertada, de Torquato Tasso, e Os lusíadas, de Luís de Camões, Hampton explora a tensão entre as convenções diplomáticas e os ideais heroicos que informavam o gênero. Escrevendo no final do século XVI, num momento em que a cultura retórica e moral do humanismo encontrava-se sob a pressão da nova Igreja militante da Contrarreforma, ambos os autores empregaram a linguagem diplomática para repensar o gênero épico. Negociando uma identidade poética e epistemológica com as formas rivais da épica clássica, da historiografia e das narrativas romanescas, Jerusalém libertada e Os lusíadas tematizam a caducidade dos códigos cavalheirescos medievais e a emergência de um mundo pós-heroico – o mundo do direito internacional, do mercantilismo e das burocracias diplomáticas.
Finalmente, os três últimos capítulos dão conta de questões ligadas ao papel da nova ferramenta política da diplomacia no processo concomitante de constituição dos Estados nacionais e do estabelecimento de um sistema jurídico internacional, tais como: o reconhecimento político da soberania de novas entidades políticas por meio da recepção e do envio de embaixadas; a transição do antigo quadro teológico-moral do ius gentium (a lei das nações) para o novo quadro secular do direito codificado, ius inter gentes (a lei entre nações) nas relações internacionais; e a “domesticação” da aristocracia por meio de sua conversão em uma casta burocrática de diplomatas profissionais. A forma literária escolhida para a discussão dessas questões é o drama, a forma privilegiada nas cortes europeias do século XVII. As análises de Hampton de três grandes tragédias, Nicomède, de Pierre Corneille, Hamlet, de William Shakespeare, e Andromaque, de Jean Racine, mostram como a tragédia, mais do que qualquer outro gênero, tematizou a diplomacia de modo a expor o caráter instável e frágil da nova ordem política. Ao mesmo tempo que projeta uma modernidade pós-heroica – de paz e negociação civilizada entre nações em lugar do amor obsessivo e da violência privada pré-estatal -, a tragédia conjura essa imagem, trazendo ao palco o desejo e a vingança recalcados que põem em risco as próprias instituições que vislumbra.
Fictions of Embassy é, sem dúvida, um livro inovador e instigante, que enriquece e complexifica nosso entendimento de um período crítico da história ocidental, por meio de uma abordagem audaciosa que combina enorme erudição histórica e sensibilidade crítica para explorar o cânon literário da primeira modernidade. Trata-se de um livro denso que, a despeito de seu tamanho diminuto (230 páginas), é capaz de cobrir uma extensão impressionante de tópicos, oferecendo leituras originais de um conjunto não menos impressionante de obras. No entanto, é possível que, ao fim da leitura, o leitor se sinta um tanto ou quanto frustrado com o resultado final de um projeto que lhe parecia de início tão promissor e excitante. É que, em seu afã para persuadir o leitor do papel histórico da diplomacia como o agente decisivo de inovação na história literária, Hampton acaba por, em certos momentos, forçar demais seu material, gerando conclusões apressadas que produzem no leitor o efeito contrário ao esperado. Tenho dúvidas, por exemplo, se “a poética de Tasso e o autorretrato de Montaigne” são mesmo “os subprodutos de suas próprias tentativas de reinventar (reimagine) a ação política por meio de uma reflexão sobre a diplomacia” (p. 71), como Hampton sugere; ou se “a diplomacia é um elemento estruturante central no poema” de Camões (p. 101) ou no Hamlet, de Shakespeare (p. 144-162); ou ainda se “Corneille é o primeiro grande dramaturgo da geopolítica” (p. 122). Eis alguns casos nos quais menos entusiasmo e mais prudência seriam recomendáveis. Ademais, para alguém tão interessado na intersecção e mútua influência entre diplomacia e literatura, Hampton dá pouca atenção aos tratados diplomáticos, utilizando-os apenas de forma subsidiária à leitura das obras de ficção, e nem sequer aborda a carta diplomática, provavelmente o gênero mais importante para a prática da diplomacia na primeira modernidade. Faz falta também uma abordagem mais cuidadosa acerca das transformações ocorridas na diplomacia ao longo do tempo, em especial, na transição da Idade Média à primeira modernidade. Por fim, um diálogo com obras que trataram de usos mais metafóricos e menos literais da diplomacia na literatura, como o brilhante La diplomatie de l’esprit, de Marc Fumaroli, poderia ter sido interessante, sobretudo para a compreensão da influência da cultura diplomática sobre o gênero maior da modernidade, o romance. Em que pesem essas ressalvas, Fictions of Embassy é ainda um livro altamente recomendável a todos aqueles interessados na literatura ou história intelectual da primeira modernidade.
O livro é concluído com um breve posfácio, contendo um comentário sobre O vermelho e o negro, de Stendhal, com o intuito de apontar para a continuidade da história traçada até ali. Se a história narrada em Ficitons of Embassy foi “primordialmente uma história da cultura aristocrática”, a conclusão volta-se rapidamente para “uma consideração acerca de como os temas diplomáticos são transmutados quando apropriados pelo gênero dominante da modernidade burguesa – o romance” (p. 190). Numa leitura perspicaz, ainda que breve, Hampton argumenta que é na obra de Stendhal que a carreira literária moderna da diplomacia toma um rumo decisivo (é possível, porém, que uma leitura do livro supracitado de Marc Fumaroli o desmentisse, antecipando essa virada). O vermelho e o negro, sugere ele, marca o momento em que a diplomacia deixa de ser “a sinédoque da retórica política pública” – ao mesmo tempo o modelo dialógico rival e prenúncio da política burocrática moderna – que havia sido para a literatura imaginativa durante a primeira modernidade. Aliviada de seu peso político, apartada do mundo dos grandes dramas da negociação entre as nações, a diplomacia converte-se numa metáfora social para negociar as intrigas que dão forma aos pequenos (porém profundos) dramas cotidianos, dos costumes, da consciência moral, do refinamento estético e da felicidade (ou infelicidade) conjugal, nos quais estão envolvidos os Julien Sorel, Lambert Strether e as mrs. Newsome, de Woolet, Nova Inglaterra.
João de Azevedo e Dias Duarte – Doutor em história social da cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bolsista de pós-doutorado pelo PNPD Capes. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
Dimensões laico e religiosas no espaço Luso-Brasileiro nos séculos XIX e XX / Cadernos de História da Educação / 2014
O presente dossiê reúne cinco artigos, que resultam de investigações concluídas e, agora, apresentam os desdobramentos dos trabalhos expostos durante o IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, realizado na Universidade de Lisboa, em 2012. Na oportunidade os participantes da mesa coordenada, intitulada Dimensões Laico e Religiosas no Espaço Luso-Brasileiro nos Séculos XIX e XX, abordaram a questão da relação Estado e Igreja Católica, em Portugal e no Brasil, pela disputa da hegemonia sobre a escola, que vai do final do século XIX a meados do século XX. Este período pode ser apresentado como um processo histórico caracterizado por ciclos de hegemonia do Estado, sob a forma de Estado Liberal e Republicano, e por ciclos de convenção e procura de entendimento com a Igreja Católica.
Fruto dos debates promovidos à época e tendo em vista a perspectiva de estabelecer / constituir um espaço de reflexão sobre as relações entre Estado e Igreja nos dois “mundos”, europeu e americano, ou melhor, fazer aflorar informações e interpretações novas dos fenômenos históricos, em particular, daqueles relacionados às formas educativas, desenvolvidas nas suas inter-relações / implicações com o Estado, a sociedade e as instâncias religiosas.
Assim, o conjunto dos textos que compõem o dossiê promovem uma discussão sobre o panorama histórico-educativo das diferentes experiências educacionais vivenciadas no contexto luso-brasileiro, nos séculos XIX e XX, momento marcado por intensos embates entre a Igreja Católica e o Estado liberal que se consolidava na Europa e entrava no cenário político brasileiro, inspirador da educação moderna (pública, gratuita e laica) e pelos questionamentos da Igreja Católica sobre esses princípios. Em suma, busca-se a compreensão das aproximações / tensões entre essas duas instâncias na promoção da educação no interior da sociedade, bem como explicitar os interesses políticos, culturais, ideológicos, antropológicos e religiosos que permearam esses conflitos no campo educacional. Exatamente a relação entre Igreja, Estado e Educação no contexto Luso-Brasileiro que trata o presente dossiê, constituindo uma amostra variada das relações entre Igreja, Estado e Educação no referido contexto.
O artigo de José António Afonso, Simulação e Ofensiva – Movimentações Católicas e Reivindicação do Ensino da Religião no Curso Liceal (Portugal, década de 1890 ), abre o dossiê. Neste focaliza a Reforma do Ensino Secundário, de Jaime Moniz, em 1895, mas o centro da análise do artigo recai sobre os argumentos dos católicos em torno da necessidade de instituir a disciplina de Ensino Católico. Também abordando a realidade portuguesa, mas a partir da sua intersecção com a situação brasileira, Carlos Henrique de Carvalho e Luciana Beatriz de Oliveira Bar de Carvalho, no texto Intelectuais Católicos no Espaço Luso-Brasileiro: as Contribuições de Alceu de Amoroso Lima e António Durão (1930- 1950), examinam a participação desses intelectuais ligados ao pensamento católico, nos debates sobre a implantação das reformas educacionais promovidas pelo Estado no espaço Luso-Brasileiro, entre 1930 a 1950, tendo em conta os objetivos dos respectivos governos (português e brasileiro) para estabelece e consolidar um sistema nacional de ensino.
No caso do Brasil temos três trabalhos. O primeiro é de José Gonçalves Gondra e Maria de Lourdes da Silva, Educação da Inteligência, Educação da Vontade na Escrita da História da Educação Brasileira (1826-1929), que descreve os investimentos do polígrafo Afranio Peixoto, tendo em vista o papel doutrinário que ele concebe para a educação a qual, mesmo laica, se encontra eivada por uma espécie de liturgia científica. Aline de Morais Limeira em, Doutrina e Religião Christã: a Igreja Católica no Exercício do Magistério e na Seleção dos Mestres, procura analisar a ação e interferência da religião cristã e da Igreja Católica como força inscrita nas experiências do magistério, a partir dos processos de seleção, recrutamento e concessão de licença dos professores na Corte Imperial. Wenceslau Gonçalves Neto no artigo “Educação christã da mocidade”: Regulamentação da vida escolar em colégios católicos de Minas Gerais (1863-1911), aborda como se evidenciaram as preocupações disciplinares dos colégios católicos com a “educação christã da mocidade”, na segunda metade do século XIX e início do século XX, em Minas Gerais, envolvendo o atendimento tanto de órfãos pobres como de filhos de famílias abastadas, nos estatutos do Collegio de Macaúbas (Santa Luzia, 1863), do Episcopal Collegio do Bom Jesus (Congonhas do Campo, 1896), das Escolas Dom Bosco (Cachoeira do Campo, 1896) e do Colégio Marista Diocesano de Uberaba (1911).
Esse dossiê, intitulado Dimensões Laico e Religiosas no Espaço Luso-Brasileiro nos Séculos XIX e XX, traz um conjunto de artigos com importantes contribuições para o esclarecimento, com base em fundamentação histórica, dos problemas educacionais que ainda hoje estamos enfrentando no que tange às relações entre Igreja e Estado.
Carlos Henrique de Carvalho – Organizador
CARVALHO, Carlos Henrique de. Apresentação. Cadernos de História da Educação. Uberlândia, v. 13, n.1, jan. / jun., 2014. Acessar publicação original [DR]
O que é um autor? Revisão de uma genealogia / Roger Chartier
A obra Objeto gritante de Clarice Lispector foi pauta de debates na Comissão de Leitura do Instituto Nacional do Livro em 1972. A discussão colocava em xeque a qualidade do texto da autora e o peso da representação de sua autoria. Decisão complicada para os avaliadores envolvidos, mas ao que parece, Adonias Filho [3], principal parecerista, pendeu para o valor da autoria de Clarice e deixou em segundo plano os atributos “duvidosos” do livro [4]. Aqui e em outras situações, a tradição do nome e a noção de autoria foram evocadas, não só para legitimar a obra, como também para identificar os discursos. E é justamente a respeito da noção de autoria que este texto retoma e apresenta a obra de Roger Chartier publicada em 2012 pela EdUSFCar, intitulada O que é um autor? Revisão de uma genealogia [5].
No final da década de 1960, Michel Foucault proferiu a célebre conferência intitulada “O que é um autor?” [6] abordando a polêmica em torno do desaparecimento da figura autor. Ao contrário das principais teses em voga que reforçavam o ocultamento dessa personagem, dentre as quais se sobressaiam as de Roland Barthes, Foucault destaca as condições que possibilitaram o nascimento do sistema de autoria e traça as regras históricas e culturais de seu funcionamento na sociedade ocidental. Procurando refletir a respeito dos dispositivos através dos quais se tornou importante saber “quem fala”, Foucault ressalta os diferentes mecanismos no tempo e no espaço que legitimaram a atribuição de um nome próprio a certos textos. Além disso, destacou a filiação de certos discursos a um grupo específico, estabelecendo aos indivíduos a noção de autoria e ao conjunto de seus feitos, o conceito de obra.
Cerca de trinta anos depois da palestra de origem, o historiador Roger Chartier fora convidado a proferir, também para a Sociedade Francesa de Filosofia, uma palestra na qual revisita a famosa conferência de Foucault. Nesta fala, Chartier evidencia as limitações da análise do filósofo, tais como: a incorreção na genealogia cronológica da noção de autoria e a atribuição incorreta de características próprias das obras pertencentes às auctoritates a obras em linguagem vulgar. Nesse sentido e na tentativa de reforçar a relevância da questão apresentada por Foucault em 1969, Chartier propõe uma revisão da tese do filósofo.
No pequeno resumo da proposta da revisão, Roger Chartier afirma reavaliar a análise de Foucault através da associação da crítica textual dedicada a tratar da interpretação dos textos e das operações de historicidade dos discursos e da História Cultural que se ocupa da história dos objetos e das práticas sociais. A intenção do historiador é pensar não só na ordem dos discursos, mas também na própria ordem dos livros. Para tanto, retoma em Foucault a intenção de analisar a construção da “função autor”, isto é, considerar o autor como um agente dotado de uma função complexa e variável no discurso, e não apenas como uma evidência puramente individual. Daí decorre a tese fundamental de Foucault que consiste na constatação de que a “função autor” é característica do modo de existência de determinados discursos no interior de uma sociedade. Além disso, essa mesma função é marcadamente definida pelo nome próprio que, de início, possibilita o mecanismo de classificação dos discursos. Nesse sentido, a autoria é criadora da noção de obra e da existência de um estilo de escrita particular de determinados grupos.
O primeiro problema na análise de Foucault, destacado por Chartier, é o que se refere à distinção entre o “eu” empírico e a função discursiva, tal qual, apresentado por Borges, em 1960, na coleção El hacedor. O jogo narrativo proposto pelo argentino e retomado por Chartier tenciona entre aprisionamento do “Eu” pelo nome próprio e a invenção de uma escrita desvencilhada do autor. De acordo com Chartier, Foucault retoma essa utopia do discurso sem nome, no entanto, a considera apenas uma função discursiva e não um instrumento que oferece existência a uma ausência essencial. [7]
O segundo problema identificado na análise foucaultiana refere-se ao esboço de cronologia esquematizado na conferência de 1969. Esta cronologia compõe-se de três principais momentos que podem ser assim descritos: o primeiro aborda a questão da inscrição da “função autor” no sistema de propriedade característico das sociedades contemporâneas, compreendido por Foucault como uma relação que esteve diretamente ligada à própria concepção burguesa sobre o tema; o segundo se detém no fato de que essa mesma “função autor” esteve relacionada à censura dos textos e à punição dos escritores em decorrência de uma circulação de discursos considerados transgressores; e, por fim, a terceira e principal consideração de Foucault que trata do entrecruzamento dos enunciados científicos e as regras de identificação do texto literário datados entre o século XVII ou XVIII.
Sobre essa genealogia foucaultiana, Chartier tece algumas ponderações. A primeira delas é sobre o questionamento feito pelo filósofo a respeito da divisão entre literatura e ciência. Roger Chartier chama atenção para o fato de que a utilização de expressões imprecisas [8] é um indício da incerteza de Foucault na ocasião das genealogias que ele mesmo apontou. Um segundo aspecto inexplorado pelo filósofo é o que trata do momento de elaboração da “função autor”. Conforme indica o historiador, a construção dessa função reside na disseminação da noção de autoria entre os escritos de língua vulgar, algo que antes pertencia apenas aos escritores cristãos e aos da Antiguidade submetidos ao regime de auctoritates.
O terceiro ponto e o mais enfatizado por Chartier é a identificação da ausência da “função autor” para os textos ficcionais anteriores aos séculos XVII e XVIII, e o consequente desaparecimento dessa mesma função para os discursos científicos a partir desse período. Nas próximas páginas do livro e até o fim da conferência, Roger Chartier explora detalhadamente a história do copyright (direito sobre a obra) na Inglaterra em paralelo à cronologia imprecisa apresentada por Foucault.
A história do copyright foi profundamente modificada na Inglaterra do século XVIII. Em decisão tomada a partir de 1709, os autores ingleses passaram a ter o direito de registro sobre suas obras, ou seja, obtiveram desta data em diante o copyright por, pelo menos, 14 anos, mais 14 suplementares caso o autor estivesse vivo. Paralelamente, buscando a defesa do direito pessoal, os livreiros impressores londrinos inventaram a propriedade literária consistindo no princípio de posse sobre os textos, a partir daquela época, garantido por lei aos autores. E é embasado neste argumento que Chartier crítica a genealogia foucaultiana. De acordo com o historiador, é no interior desse processo judicial e com o propósito de resguardar o privilégio tradicional, que se “inventa” o autor proprietário de sua obra. A justificativa fundamental para a lei reside na teoria do direito natural que compreende o homem como sendo o proprietário intransferível de seu corpo e, consequentemente, dos produtos de seu trabalho. Além disso, fundamenta-se também na justificativa de ordem estética ancorada na categoria de originalidade, esta última em alta no século XVIII. É a partir desse ponto que Chartier repensa a cronologia proposta por Foucault ao defender que não fora em fins do século XVIII, mas sim em seus primórdios que emergiu a concepção do autor como proprietário de sua obra e a noção de propriedade literária. Além disso, esta emergência não pode ser considerada como fruto do direito burguês, mas advinda da perpetuação de um antigo sistema de privilégios.
Outro aspecto que recebe atenção do historiador é o referente à desmaterialização das obras, isto é, ao fato de que as consideramos apenas como o produto estético e intelectual dos autores, independentemente das suas formas materiais e das condições sociais de sua produção. A partir do século XVIII na Inglaterra se produz uma distinção entre os principais elementos do universo da produção e da circulação dos textos: a property e propriety. A primeira é a possibilidade de transformação de um escrito num bem negociável de mercado; e a segunda refere-se a um possível controle sobre os escritos, ou seja, a forma de preservação da moral, da honra e da reputação. No século XVIII, ambas as noções começaram a relacionar-se e culminaram no que conhecemos atualmente como propriedade literária: a interlocução entre o direito moral e o direito econômico dos autores sobre as obras.
O terceiro e último ponto da cronologia esboçada por Foucault é sobre a circulação dos enunciados científicos em regime de anonimato durante os séculos XVII-XVIII. Sobre este aspecto, Roger Chartier defende que, ao contrário do que propõe a análise foucaultiana, justamente nesse momento acontece uma reviravolta provocada pela revolução científica, tornando essencial a difusão do nome, ou seja, da autoridade competente para enunciar o que é verdadeiro numa sociedade cuja hierarquia define o jogo das posições sociais e a credibilidade da palavra. É no cerne dessas discussões que se molda a noção de autoria e, principalmente, a ideia do autor enquanto a autoridade do erudito, distante do universo comercial dos textos. Nesse sentido, o interesse tácito dos autores é a garantia de veracidade nos enunciados do saber que proferem [9].
Sobre a “função autor” e as apropriações penais destacadas por Foucault, Chartier também apresenta considerações. O historiador argumenta que os livros não só funcionavam como provas incriminatórias dos autores, mas a prospecção de todas as obras que esses mesmos autores condenados poderiam escrever e/ou publicar também servia como mecanismos de condenação. É inegável que o nome próprio funcionava como um meio de identificação, de criação e de transgressão, mas além dele, as obras publicadas em anonimato eram consideradas como suficientemente condenáveis, pois os livros deveriam trazer o nome de seu autor e de seu impressor. No entanto, apesar de estar diretamente ligada à censura, à repressão e à proibição, a “função autor” também esteve entrelaçada à própria passagem do manuscrito ao impresso, pois desde as primeiras versões, os livros contêm os mecanismos de identificação da “função autor”, dentre os quais podem ser citados a simbologia das impressões e até mesmo a disposição do retrato do autor.
Por todas essas nuances, a genealogia rediscutida por Chartier apresenta-se numa duração mais longa do que a sugerida por Foucault e coloca em questão não unicamente a ordem dos discursos, mas a dos livros. A proposta de Roger Chartier é a introdução de uma análise que considera as condições materiais de produção dos discursos e a noção de autoria, tal como a postulada por Donald MacKenzie em sua sociologia dos textos, promovendo, assim, o estudo dos escritos inscritos em sua materialidade. Para Chartier, a construção do autor é indissociável da materialidade e não é função exclusiva dos discursos conforme propunha Foucault.
Em 1972, a justificativa para a publicação da obra de Clarice Lispector não estava inscrita apenas na tradição de seu nome, mas nas próprias tramas intelectuais e editoriais que compunham o mercado editorial brasileiro e que definiam, acima de tudo, a materialidade dos textos e a construção da figura autor. Nesse sentido, para encerrar, é possível retomar as palavras de Herberto Sales, diretor do Instituto em 1974, ao afirmar que “uma coisa é escrever livros, e outra é entender deles, do seu comércio, de suas transas”. [10]
Notas
- Adonias Filho (1915-1990) foi jornalista, crítico literário, ensaísta e romancista. Mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro onde colaborou para os jornais Correio da Manhã (1944-45), Jornal das Letras (1955-1960) e do Diário de Notícias (1958-1960). Esteve à frente da direção da editora A Noite (1946-1950), diretor do Serviço Nacional de Teatro (1954) e da Biblioteca Nacional (1961-1971). Esteve na direção do INL entre os anos 1954-55 ingressando mais tarde nos quadro da direção da Biblioteca Nacional. Durante os anos 1970 e principalmente no período de coedições do INL pertenceu ao setor dos pareceristas da Instituição.
- Sobre esta produção de Clarice Lispector é necessária uma observação. Apesar dos pareceres favoráveis à publicação de Objeto gritante, esta obra nunca foi editada. Ela foi revisada, reduzida a metade e acabou sendo lançada anos mais tarde com outro título: Água viva. Para maiores detalhes ver: ANDRADE, Maria das Graças. Da escrita da si à escrita fora de si: uma leitura de Objeto gritante e Água viva de Clarice Lispector. 2007. 225 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, 2007.
- CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. Tradução de Luzmara Curcino; Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra. São Carlos: EdUFSCar, 2012.
- “Qu’est-ce qu’un auteur?” foi publicado inicialmente em 1969 no Bulletin de La Société Française de Philosophie e posteriormente alterado para ser lançado na revista Textual Strategies, sendo relançado em 1994 em Dits et écrits. Na versão traduzida para o português foi publicado com o título “O que é um autor?” em Ditos e Escritos, vol.III. Estética: literatura e pintura, música e cinema.
- CHARTIER, op cit., p. 35
- Chartier destaca como expressões imprecisas as seguintes frases: “textos que hoje chamaríamos de literários” e “textos que chamaríamos de científicos”.
- CHARTIER, op cit., p. 55
- Carta de Herberto Sales a Lygia Fagundes Telles. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1979.
Mariana Rodrigues Tavares – Mestranda em História Social pelo PPGH-UFF. Rio de Janeiro/Brasil. [email protected].
CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. Tradução de Luzmara Curcino; Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 90p. Resenha de: TAVARES, Mariana Rodrigues. Redes intelectuais e noção de autoria: breve análise sobre a revisão de Roger Chartier para a Genealogia de Foucault. Outros Tempos, São Luís, v.11, n18, p.312-314, 2014. Acessar publicação original. [IF].
Las Independencias Hispanoamericanas. Um objeto de Historia | Véronique Hébrard e Geneviève Verdo
O livro Las Independencias Hispanoamericanas, organizado por Verónique Hébrard e Geneviève Verdo (ambas professoras da Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), reúne trabalhos de historiadores europeus, latino-americanos e norte-americanos apresentados em um colóquio internacional ocorrido em junho de 2011, na Sorbonne. A obra, dividida em cinco partes e reunindo vinte artigos, abrange campos e temas que vêm sendo valorizados pela produção historiográfica concernente às revoluções de independência no mundo ibero-americano, dialogando com estudos referenciais sobre as sociedades coloniais e as transformações sociopolíticas do primeiro quartel do Oitocentos, bem como com novas interpretações historiográficas sobre a América ibérica. Os estudos que compõem o livro abordam questões como conceitos e linguagens políticos, interpretações e participação políticas dos setores subalternos das sociedades americanas, transformações institucionais e jurídicas ao longo dos processos de independência, formação dos Estados Nacionais e leituras transnacionais sobre as experiências revolucionárias. Com relação à cronologia apreendida pela obra, seus estudos iniciais abordam a segunda metade do século XVIII, ao passo que outros artigos abarcam até a primeira metade do XIX. Muitos dos artigos adotam recortes cronológicos curtos, valorizando as profundas e rápidas transformações vivenciadas em um período de revoluções.
A primeira seção da coletânea, intitulada “Relatos de los Orígenes,” é composta por três artigos. O primeiro, “El patriotismo americano en el siglo XVIII: ambigüedades de un discurso político hispánico,” de Gabriel Entim, discute a vigência de um discurso de identidade americana nas colônias hispano-americanas no século XVIII. Partindo da crítica ao conceito de “patriotismo criollo”, a discussão de Entim sublinha a operacionalidade da identidade americana dentro de um quadro que contemplava outras formas identitárias, sem que a americanidad necessariamente significasse uma crítica à Monarquia e à unidade entre os espanhóis. Alejandro E. Gómez, por sua vez, em seu artigo “La Caribeanidad Revolucionaria de la ‘Costa de Caracas.’ Una visión prospectiva (1793-1815),” contempla os movimentos de sublevação ocorridos na costa caribenha da Venezuela em fins do XVIII, assim como os primeiros anos do processo revolucionário de independência na região. Em sua análise, Gómez rejeita a ideia de continuidades entre esses dois momentos, como se as contestações políticas da década de 1790 fossem movimentos “precursores” das lutas dos anos de 1810. Além disso, o autor enfatiza as conexões da costa venezuelana com o mundo caribenho, viabilizando o que Gómez define como “interação supra-regional,” importante para compreender as lutas políticas (destacando-se a presença dos pardos nesses movimentos). Já Georges Lomné (“Aux Origines du Républicanisme Quiténién (1809-1812): La liberté des Romains”) analisa o ambiente cultural da Audiência de Quito na segunda metade do Setecentos, permeado pela valorização do neoclassicismo e do jansenismo, bem como pelo surgimento de novos espaços de sociabilidade, gestando os referenciais e os ambiente para críticas ao Absolutismo. Em seu texto, Lomné critica a construção historiográfica que aponta a continuidade intelectual entre ideais iluministas vigentes na Audiência do XVIII e as bases intelectuais dos movimentos dos anos de 1809-1812.
A segunda parte da coletânea (“Los Lenguajes Políticos”) apresenta como texto inicial o artigo de Marta Lorente Sariñema, “De las leyes fundamentales de la monarquía católica a las constituiciones hispánicas, también católicas.” A autora investiga os textos constitucionais que vieram à luz no mundo hispânico nos anos seguintes à crise de 1808, colocando no mesmo patamar de importância a Constituição de Cádiz e as concebidas no continente americano. Atentando para as ressignificações das leis fundamentais da Monarquia espanhola nas constituições pós-1808, Lorente destaca a presença da defesa do catolicismo como um elemento comum em todos os textos constitucionais hispânicos, bem como os mecanismos constitucionais voltados para o controle das autoridades públicas. Jordana Dym, no texto “Declarar la Independencia: proclamaciones, actos, decretos y tratados en el mundo iberoamericano (1804-1830),” estuda um corpo documental formado de textos declaratórios de independência, analisando os principais pontos de seus conteúdos e os contextos nos quais foram engendrados esses documentos fundamentais para redefinir o conceito de soberania em uma conjuntura de crise política da Monarquia. María Luisa Soux (autora do artigo “Legalidad, legitimidade y lealtad: apuntes sobre la compleja posición política en Charcas, 1808-1811”) enfatiza o papel da cultura jurídica na tomada de posições e decisões políticas na sociedade charqueña durante a crise monárquica. Como observa Soux, a defesa da legitimidade das proposições políticas dos grupos em luta passava por considerações de ordem jurídica, buscando-se definir as bases legais das novas noções de soberania. Por fim, Víctor Peralta Ruiz (“Sermones y pastorales frente a un nuevo linguaje político. La Iglesia y el liberalismo hispánico en el Perú, 1810-1814”) analisa os discursos políticos do clero no Vice-Reino do Peru. Tradicionalmente considerados anti-liberais e defensores do absolutismo, os membros do clero católico, segundo Peralta Ruiz, de fato, eram mais heterogêneos, sendo possível identificar por meio dos sermões a presença de religiosos (principalmente do baixo clero) favoráveis ao liberalismo, às Cortes de Cádiz e à Constituição de 1812.
A terceira parte do livro (“Actores y Prácticas”) traz quatro trabalhos. O primeiro (“Chaquetas, insurgentes y callejistas. Voces e imaginarios políticos en la independencia de México”), de Moisés Guzmán Pérez, enfoca o surgimento das nomenclaturas dos grupos políticos ao longo da crise da monarquia espanhola e dos conflitos militares ocorridos na Nova Espanha entre 1808-1821. As nomenclaturas que vieram à tona eram representativas dos imaginários, dos projetos e das ideias dos grupos políticos naquele momento. O trabalho seguinte, de Andréa Slemian (“La organización constitucional de las instituciones de justicia en los inicios del Imperio del Brasil: algunas consideraciones históricas y metodológicas”), enfoca os debates e as propostas de organização jurídica no Império do Brasil nas décadas de 1820-1830, marcados pela presença dos ideais liberais. Slemian enfatiza a dimensão institucional jurídica de construção do Estado Nacional, valorizando a compreensão dos conflitos em torno de expectativas e projetos de futuro formulados pelos sujeitos que vivenciavam os primeiros anos do Brasil independente. Já Gabriel Di Meglio (no artigo “Los ‘sans-culottes despiadados.’ El protagonismo político del bajo pueblo en la ciudad de Buenos Aires a partir de la Revolución”) destaca a participação popular (formada principalmente por negros, pardos e brancos pobres) na cena política bonaerense. A crescente presença dos segmentos populares nas reivindicações políticas, a politização das discussões no espaço público e as redes do clientelismo ligando lideranças políticas da elite e segmentos populares caracterizaram a vida política de Buenos Aires nas décadas 1810- 1830. Finalizando essa unidade, Aline Helg (“De Castas à Pardos. Pureté de sang et égalité constitutionnelle dans le processos indépendantiste de la Colombie caraïbe”) estuda o processo de independência e de construção do Estado a partir da cidade de Cartagena entre 1810-1828, enfatizando a participação política dos pardos, os alcances e limites de suas reivindicações políticas. Para tanto, Helg toma como fio condutor da análise a trajetória de dois pardos que se destacaram como lideranças políticas e militares, Pedro Romero e José Padilla, e as transformações sociais, econômicas e políticas vivenciadas pela população parda.
“Los Espacios de Soberanía”, a quarta unidade do livro, traz primeiramente o trabalho de Carole Leal Curiel. Intitulado “Entre la división y la confederación, la independencia absoluta: problemas para confederarse en Venezuela (1811-1812),” o texto discute a formulação de propostas de independência e confederação, sublinhando o entrelaçamento, nos intensos debates teórico-políticos, das ideias de reconfiguração da soberania e de novos pactos políticos para as províncias venezuelanas. No trabalho seguinte, Marta Irurozqui (“Las metamorfosis del Pueblo. Sujetos políticos y soberanías en Charcas a través de la acción social, 1808-1810”) dedica-se ao estudo das ações políticas populares (através de procissões religiosas a favor do monarca e de protestos dirigidos às autoridades locais). Nessas manifestações, destacava-se a presença dos referenciais políticos de fidelidade à Monarquia espanhola no momento de sua crise, bem como o exercício da soberania pelo povo charqueño. Juan Ortiz Escamilla (“De lo particular a lo universal. La guerra civil de 1810 en México”), por sua vez, enfatiza a guerra e a Constituição como as duas variáveis fundamentais para compreender as transformações dos atores, vocabulários e espaços políticos na Nova Espanha no início da década de 1810. No decorrer dos conflitos armados, insurgentes e realistas implementaram novas organizações políticas, ao passo que os ayuntamientos instituídos pelo texto constitucional gaditano criaram novas bases institucionais de exercício do poder. Finalizando essa unidade, Clément Thibaud (“Le trois républiques de la Terre Ferme”) analisa os conceitos de república vigentes na Venezuela e Nova Granada. Ao não entender o republicanismo como consequência direta das proclamações de independência, Thibaud põe ênfase nos sentidos diferentes, e por vezes contraditórios, de república, e como tais sentidos eram apropriados pelos atores políticos da região tendo em vista, também, os desafios práticos de administração daquele território.
A última unidade da obra (“Las Revoluciones y sus Reflejos”) reúne quatro textos. O primeiro, de autoria de Marcela Ternavasio (“La princesa negada. Debates y disputas en torno a la Regencia, 1808-1810), volta-se para o tema do carlotismo, analisando o projeto de regência da infanta Carlota Joaquina como uma alternativa de superação da crise política iniciada em 1808. Atentando para as rápidas mudanças conjunturais e as modificações nas estratégias de Carlota Joaquina e seus colaboradores, Ternavasio articula em sua análise as tramas, leituras e posicionamentos políticos que o carlotismo ativou na Península e na América. Anthony McFarlane, no artigo seguinte (“La crisis imperial en el Río de la Plata. Una perspectiva realista desde Montevideo, 1810-1811”), parte do conjunto de cartas do oficial espanhol José María Salazar para entender a política contra-revolucionária no Rio da Prata. A crítica à revolução de Buenos Aires, a denúncia das disputas internas em Montevidéu e as desconfianças com relação à presença de portugueses e britânicos são alguns dos temas das cartas de Salazar, e que merecem a análise de McFarlane a fim de compreender as interpretações e expectativas dos realistas. O terceiro trabalho da unidade, de Monica Henry (“Un champ d’observation pour les ÉtatsUnis. La révolution au Río de la Plata”), explora a missão norte-americana enviada pela administração do presidente James Monroe às Províncias Unidas do Rio da Prata no ano de 1817. Essa missão (sob a incumbência de coletar informações militares, políticas e econômicas) desempenhou um papel importante para a definição da agenda diplomática dos Estados Unidos com relação à América espanhola, tendo em vista os debates nos meios políticos e na opinião pública sobre as experiências revolucionárias no continente e o reconhecimento (ou não) dos novos Estados. Encerrando a unidade, o texto de Daniel Gutiérrez Ardila (“La République de Colombie face à la cause des Grecs”) aborda os esforços da diplomacia colombiana entre as potências internacionais para obter o reconhecimento internacional do novo país. Nesse empreendimento diplomático, o paradigma da independência grega (conquistada nos anos de 1820) é ressaltado pelos representantes diplomáticos da Colômbia, na medida em que a causa grega usufruía de prestígio nos altos círculos políticos e intelectuais europeus, enquanto que a independência da República da Colômbia (e a hispano-americana em geral) ainda carecia de apoio.
A obra é finalizada por um epílogo (intitulado “Las independencias y sus consecuencias. Problemas por resolver”) de Brian Hamnett. Recorrendo aos exemplos do Rio da Prata, México, Peru, Alto Peru, Colômbia, Venezuela e Brasil, Hamnett aponta algumas das questões que marcaram a trajetória dos novos Estados Nacionais nos anos imediatamente posteriores às suas independências. A distribuição dos poderes e as representações políticas regionais, a legitimidade do modelo constitucionalista frente às guerras civis, as restrições aos sufrágios e o fortalecimento do poder executivo, assim como a própria construção das identidades nacionais, constituíram desafios consideráveis para as sociedades ibero-americanas ao longo do século XIX.
A volumosa produção sobre as independências (em parte alimentada pelas comemorações de bicentenários que vêm ocorrendo desde a década passada) tem sido beneficiada pela heterogeneidade de aportes e interpretações, bem como pelo diálogo internacional. O livro organizado por Hébrard e Verdo é representativo desse ambiente historiográfico, e a qualidade e pertinência dos trabalhos reunidos nessa obra atestam a renovação e vitalidade de um tema fundamental para os dois lados do Atlântico.
Carlos Augusto de Castro Bastos – Professor no Departamento de História da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP – Macapá/Brasil). E-mail: [email protected]
HÉBRARD, Véronique; VERDO, Geneviève (Ed.). Las Independencias Hispanoamericanas. Um objeto de Historia. Madrid: Casa de Velázquez, 2013. Resenha de: BASTOS, Carlos Augusto de Castro. O mundo hispânico em revolução: abordagens sobre as independências na América. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 161-164, jan./jun., 2014.
Odin på kristent pergament: En teksthistorisk studie | aNNETTE lASSEN
O islandês Snorri Sturluson (c. 1178 – 1241), em sua obra Heimskringla – especificamente no primeiro capítulo, a Ynglinga Saga –, nos descreve que na Ásia, ao leste de Tanakvisl, havia uma região conhecida como Asaland ou Asaheim e cuja capital seria conhecida como Asgard. E lá se encontraria o senhor de tal reino, cercado por doze sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios realizados na cidade e em auxiliar seu soberano a executar a justiça. Este poderoso líder era um grande guerreiro que havia viajado por diversas terras, sido tão vitorioso e conquistado tantos reinos, que acreditavam ser impossível derrotá-lo. Era versado em magia, podia se comunicar com os mortos, entre outros feitos sobrenaturais. Segundo Sturluson, o nome desse líder era Odin, e dele descenderiam muitas linhagens de casas régias e heróis do norte europeu.1
Odin é personagem central de diversas fontes da Europa setentrional do período medieval. E sua imagem está intrinsecamente ligada à cultura e sociedade de origem nórdica até os dias de hoje, contando com produções artísticas e outros meios midiáticos onde a figura da antiga divindade é apropriada e remodelada, atendendo anseios de públicos diversos. Leia Mais
A geografia dos afectos pátrios. As reformas político-administrativas (sécs. XIX-XX) – CATROGA (LH)
CATROGA, Fernando. A geografia dos afectos pátrios. As reformas político-administrativas (sécs. XIX-XX). Coimbra: Almedina, 2013. 406 p. Resenha de: MARQUES, Tiago Pires. Ler História, v.66, p. 179-182, 2014.
1 É difícil fazer justiça, em poucas páginas, a um livro denso, de esmagadora erudição, que complica consideravelmente a história do Estado-nação português, ao mesmo tempo que oferece inovadoras linhas de intelecção dos seus processos. Com efeito, sob pretexto de uma análise histórica da organização administrativa do território do Portugal contemporâneo, o novo livro de Fernando Catroga mapeia os imaginários de modernidade em confronto, no seio das elites governantes e intelectuais intervenientes no espaço público, e observa os efeitos das sucessivas rearticulações territoriais na história política e sócio-cultural do país. Obra construída a partir de um conjunto de textos autónomos publicados desde 2004, tal como nos explica o autor em nota final, a sua novidade está, para além de alguns acrescentos inéditos, na forma como constrói uma perspectiva unitária da concretização de uma modernidade portuguesa. É que, abdicando do habitual dispositivo sequencial, este livro claramente não é uma soma de elementos, mas um conjunto de unidades que se vão encaixando umas nas outras no interior de uma circunferência comum. Concretizando, tal circunferência parece-nos definida por um tema, um problema e uma perspectiva: 1) pelo tema da institucionalização de um ordenamento político-administrativo e territorial adequado aos princípios da soberania nacional, da divisão de poderes e do carácter público de todas as funções administrativas (p. 31); 2) pelo problema da fraca base social para apoiar tal processo de institucionalização, que se corporizou socialmente em diversas formas de integração e de tensão entre centro e periferia; e 3) por uma perspectiva, a saber, de que no debate entre centralistas e descentralistas se jogou a questão da organização territorial e governo das populações, sendo esta indissociável de ideias de pátria, nação e cidadania (p. 12). Assim, esta obra constitui-se por uma operacionalização do conceito foucaultiano de governamentalidade que integra os imaginários de ordem político-social da modernidade portuguesa.
2 O livro compõe-se formalmente de quatro partes, cada uma delas percorrendo a totalidade do período analisado. Vamos assim avançando em espiral, desde a circunferência mais ampla do território (Parte I), à região ou província (Parte II), à organização dos micro-poderes locais (Parte III), e, enfim (Parte IV), à organização dos afectos patrióticos que, à maneira de eixo central, ligaria o imaginário nacional aos fogos familiares, «fisiológicos», do lugar. Na primeira parte, o autor ataca a questão ampla do território nacional, nomeadamente a sua ocupação pelo poder estatal na mira de governar a população. Trata aqui de seguir, no debate em torno dos modelos de divisão administrativa, dos alvores do Liberalismo ao Estado Novo, o olhar estratégico dos políticos e administradores sobre o alinhamento entre centro e periferias, ao tentarem fazer repercutir o sentido universal do contrato social fundador do poder central nos poderes regionais e locais. Catroga mostra como em torno do «município» se constituiu uma luta política e simbólica, opondo liberais e restauracionistas, e diferentes modos liberais de entender a «liberdade dos modernos» (p. 37). Para os liberais descentralistas, o município surgiu como resposta à dificuldade prática de operacionalizar o sistema representativo na governação do território nacional. Construindo-se sobre a noção anglo-saxónica de «self-government», para os descentralistas o município parecia assim «saído das mãos de Deus» (nas palavras citadas de Alexandre Herculano), já que dava um conteúdo palpável, uma factualidade institucionalizada, à noção «abstracta» e «artificial» de nação sobre o qual o também abstracto «pacto social» adquiria um conteúdo concreto: as «sociabilidades naturais» cristalizadas pela história. Para outros, porém, o município permitia mobilizar uma versão mitificada do passado com uma finalidade restauracionista (p. 38). Vingou a solução do «constitucionalismo histórico», a demarcação distrital do país ao serviço, segundo Catroga, de uma visão hierárquica do poder que subalternizava as periferias ao centro político do Estado-nação (p. 53 e sgs.). Esta malha saída do modelo triunfante de poder – finalmente, ao estilo jacobino – teria estruturado, na prática, as formas observadas pela sociologia histórica comparativa da modernização política portuguesa, nomeadamente o caciquismo, o clientelismo e o nepotismo. Formas de sociabilidade típicas das «capitalidades distritais», elas seriam o complemento funcional da figura, tão diabolizada, do «burocrata» (p. 86).
3 A segunda e terceira partes podem ler-se conjuntamente como uma genealogia do provincianismo e paroquialismo portugueses enquanto forma de organização do poder na base de uma certa «cultura», ancorada não só nos discursos dos políticos mas também na história social do país. A ausência histórica de ordens intermédias entre o centro político e as periferias locais gerou dinâmicas supletivas, apoiadas nos modelos do regionalismo francês e espanhol, que viriam a desembocar nos diversos movimentos federalistas da segunda metade do século XIX e da I República e, em sentido antiliberal, nos movimentos favoráveis à noção de «província», de ressonâncias imperialistas, visando casar regionalismo e patriotismo (p. 152). Este segundo modelo triunfou, como sabemos, como forma de organização territorial do Estado Novo. Tornam-se claros os elos entre as sociabilidades que floresceram no Portugal contemporâneo – grémios, casas regionais, associações, congressos, partidos políticos com lógicas clientelares, movimentos militantes (ex. a Cruzada Nun’Álvares) e político-intelectuais (ex. o Integralismo Lusitano) – e estas diferentes formas de estruturação territorial do poder. Neste sentido, é luminosa e convincente a análise de uma governamentalidade característica do caso português, cujas linhas de compreensão se devem buscar em combinatórias de escalas – nacional, regional e paroquial.
4 A quarta parte do livro é porventura a mais ousada e sugestiva. Articulando agora estas várias governamentalidades estruturantes da sociedade portuguesa, Fernando Catroga analisa os afectos que produziram e de que se alimentaram para a sua própria reprodução. Os processos históricos em causa revelam uma mesma tensão estrutural: como fazer surgir patriotismos locais e nacionais, isto é, à escala do lugar étnico e do lugar cívico – consoante o posicionamento ideológico –, que não só não fossem antagónicos, mas que se reforçassem mutuamente? Esta questão atravessou os três regimes observados, tendo obtido com o Estado Novo uma solução relativamente original que autor chama de «patriotismo de campanário». Neste, as pequenas pátrias de que se fazia a grande pátria – e que nas visões liberais coincidia com a pátria cívica e contratual – foi complementada com a ideia de uma protecção divina de legitimação católica (p. 383). Na linha do Integralismo Lusitano, o Estado Novo enfatizou a ideia de «sociabilidade natural» – que, no entanto, já encontramos em descentralistas como Herculano –, recorrendo agora a uma argumentação biológica e psicológica colhida na ciência, e sacralizou-a através de um providencialismo católico que abrangia, bem entendido, a «missão» político-espiritual do Império. Seria, assim, dialéctica e eminentemente ideológica a via portuguesa para o autoritarismo e corporativismo. Por um lado, o Estado Novo construiu-se num discurso que, contrariamente ao fascismo italiano, atribuía prioridade ôntica à nação, entidade simultaneamente histórica e fisiológica, e não ao Estado. Por outro, na prática, o regime traduzia a necessidade de ajustar a sociedade a uma suposta natureza histórica através de uma bem conduzida concepção pastoral da política. Neste sentido, o Estado Novo assumiu a função condutora na concretização histórica do que alegava ser, em nome dos «factos», a essência da nação. Por outras palavras, se no plano discursivo o Estado Novo assentava no mote «from nation to state», na prática, e porque se tratava de «colocar a nação no Estado», a sua acção foi no sentido «state to nation» (p. 380). O Estado Novo foi, nesta óptica, um jacobinismo erguido em nome do anti-jacobinismo (p. 385), construindo-se culturalmente como um «positivismo do espírito» (p. 389).
5 Como vemos, a estrutura concêntrica do livro é possibilitada pela observação de que o debate entre centralismo e descentralismo, com todas as suas gradações e efeitos de sociabilidade, atravessou a Monarquia Constitucional, a I República e o Estado Novo. Porém, o dispositivo interpretativo que possibilita ao autor conduzir com eficácia o seu empreendimento é a noção foucaultiana de governamentalidade, explicitada nas páginas iniciais. Contrariamente a algumas críticas feitas aos que em Foucault buscam utensílios de análise, a leitura da história pela perspectiva do poder não funciona como rolo compressor das singularidades históricas. Pelo contrário, Fernando Catroga singulariza uma diversidade de lógicas de governamentalidade, nelas vendo inter-relações específicas também no plano dos afectos políticos que produziram. Contudo, e embora o autor nunca o afirme, a obra sugere um determinismo último de configurações de poder, observadas a partir da aplicação de modelos. Esta perspectiva, ainda que meta-histórica, é certamente legítima. Ficam, no entanto, por explorar as formas de mobilização de indivíduos e colectivos e os processos da sua adesão a imaginários e instituições: se parece certo que os poderes produzem afectos, não é de descartar que estes se liguem a recursos simbólicos a imaginários com força criativa relativamente autónoma. Ora, esta acção criativa dos afectos parece-me mais eficazmente observável numa história de interacções sociais que, sem deixar de lado a problemática dos poderes, permita equacionar a relação entre assimetrias sociais concretas (urbano vs. rural, classe e status, diversos capitais simbólicos) e significados culturais.
Tiago Pires Marques – Centro de Estudos Sociais – Universidade de Coimbra. E-mail: [email protected].
The Birth of Neolithic Britain: An Interpretive Account – THOMAS (DP)
THOMAS, Julian. The Birth of Neolithic Britain: An Interpretive Account. Oxford: Oxford University Press, 2013. Resenha de: SRAKA, Marko. Documenta Praehistorica, n.21, 2014.
The Birth of Neolithic Britain is the fourth major work by the acclaimed Julian Thomas, one of the leading proponents of interpretive archaeology or archaeology informed by philosophy, anthropology and discussions in the arts and social sciences in general.
After exposing the assumption and prejudices of archaeologists’ narratives of the Neolithic and presenting innovative explanations of the shift from hunting-gathering to farming as well as other issues in Rethinking the Neolithic (1991; reworked and updated version Understanding the Neolithic in 1999), questioning Western conceptualisations of time, identity, materiality with the help of archaeological case studies in the ‘Heideggerian’ Time, Culture and Identity (1996) and further contextualised archaeology as part of a (post)modern worldview in Archaeology and Modernity (2004), this book seems to be a relevant continuation of Thomas’s work. This is probably the first significant work on Neolithisation since Graeme Barker’s global overview The Agricultural Revolution in Prehistory (2006, Oxford: Oxford University Press), this time with a focus on Europe and particularly Britain.
The book is divided into thirteen lengthy chapters organised and titled in a way which adds clarity to the structure of the text: (1) Introduction: The Problem, (2) The Neolithisation of Southern Europe, (3) The Neolithisation of Northern Europe, (4) The Neolithisation of Europe: Themes, (5) The Neolithic Transition in Britain: A Critical Historiography, (6) Mesolithic Prelude?, (7) Times and Places, (8) Contact, Interaction, and Seafaring, (9) Architecture: Halls and Houses, (10) Architecture: Timber Structures, Long Mounds, and Megaliths, (11) Portable Artefacts: Tradition and Transmission, (12) Plants and Animals: Diet and Social Capital, and (13) Conclusion: A Narrative for the Mesolithic-Neolithic Transition in Britain.
While not claiming to be a complete survey of Neolithic archaeology in Britain, much less Europe, the extent of the bibliography alone, comprising some 1400 references, is an indicator that this is a detailed study, dealing with a diverse variety of geographical regions, themes, approaches and explanations related to the Neolithisation process. Fundamentally, this book represents a critical overview of the diverse narratives and empirical data used to explain the complex process of transformations from predominantly hunting and gathering to predominantly farming lifeways in Britain and Europe.
Chapters 1–4, dealing with Neolithisation in different parts of Europe are, as the author suggests, intended to present the “progressive transformations” of the Neolithic through time, the diversity of Neolithic societies across Europe and provide “… comparative case studies against which the British evidence can be set” (p. 7). In the first three chapters, the author comments on a wide variety of empirical evidence and presents his own explanations of the data, starting with the Franchthi cave in Greece and progressing through the continent to the megalithic monuments of Brittany. In chapter 4, the author presents “… unifying themes that characterized the opening of the Neolithic in various parts of Europe” (p. 101) starting with an overview of how the Neolithic was and is defined and Neolithisation conceptualised, then focusing on the different perspectives of migrationism and genetic evidence, the transmission of knowledge and skills, Mesolithic lifeways, the ‘Neolithic frontier’, subsistence strategies and feasting, houses and ‘house societies’ etc. In chapter 5, the author focuses exclusively on Britain with a ‘critical historiography’ in which he reviews the history of research of the British Neolithic, beginning with Sir John Lubbock, and considers the work of major authorities on the subject: Childe, Piggott, Hawkes, Clark, Humphrey, Whittle, Dennell, Kinnes, Hodder and, reflectively, himself. He then comments extensively on the migrationist and diffusionist arguments of Cooney, Sheridan and Rowley- Conwy, whom he labels ‘revisionists’. Chapter 6 sets the stage for the rest of the book by presenting the evidence of Mesolithic lifeways. In the earlier part of chapter 7, the author dedicates a lot of attention to the results of the Bayesian modeling approach to 14C calendar chronologies (Whittle A., Healy F. & Bayliss A. 2011. Gathering time: dating the Early Neolithic enclosures of Southern Britain and Ireland, cited in the Bibliography) and reviews the dating evidence from early British Neolithic sites. The rest of the book, constituting roughly one third of the whole volume, comprises a detailed consideration of the empirical evidence and ideas about a range of themes, starting with contact, interaction and seafaring in chapter 8, followed by architecture (halls, houses, timber structures, long mounds and megaliths), portable artefacts (ceramics, stone tools), landscapes, plant and animal remains. Of special notice here is the hypothesis that “… livestock in general, and cattle in particular, may have been one of the principal factors that attracted hunters and gatherers to the Neolithic way of life” (p. 430).
“The formation of more bounded social groups accumulating discrete herds of cattle suggests an increasingly competitive social milieu”, which expressed itself in “feasting, gift-giving, strategic marriages, and the struggle for prestige”, but also in “inter-personal violence … linked to the emergence of endemic raiding, acquiring livestock and labour by foul means as well as fair” (p. 418). Cattle can thus be regarded as Neolithic ‘social capital’. Considering the emphasis on practices related to cattle herding, this book would benefit from more discussion of lipid analyses and dairying (e.g., the work of Richard P. Evershed, Mark S. Copley and Lucy J. E. Cramp).
Innovative ideas and novel explanations of the empirical evidence from Europe and Britain can be found in every chapter, and it would not be fair to isolate a one in particular here. Generally, the explanations can be characterised as coming predominantly from a well-argued, indigenist neolithisation perspective, although the author specifically denies his is an ‘indigenist’ (p. 419), and it is true that he presents a balanced and well-argued account in which the distinction between ‘indigenist’ and ‘migrationist’ perspectives cease to be valid. The overall picture this narrative presents is of a “mosaic” of different lifeways in which various social entities, such as the “LBK social network” (p. 47), or different identities are conceived as permeable and fluid concepts. We notice a very pragmatic use of socialtheory- informed archaeology, so that the text is not overburdened with philosophical discussions. Actually, there are almost no references to philosophical, sociological or anthropological works. Certain narrative elements bear a resemblance to an archaeological ‘school of thought’ which could be called ‘Symmetrical’ or ‘Relational’ archaeology: “… while Neolithic societies in Europe were extremely diverse, they were generally characterized by a new kind of relationship between humans and non-humans … Although post-glacial hunters had been deeply embedded in and attuned to their material world, there was a qualitative difference in the ways in which Neolithic people used material things to articulate social relationships, to extend human presence, and to frame and channel social interaction. We might say that while Mesolithic societies were principally composed of relationships amongst people, and that they operated in worlds of animals and things, Neolithic societies became heterogeneous meshworks in which people, things, and animals were mutually implicated to a greater degree” (p. 421–422). This passage perhaps best illustrates the way in which neolithisation is explained in the book.
Interestingly, books dealing with neolithisation, and this one is no exception, usually review only the earliest Neolithic evidence in individual regions, even if on an widening geographical scale, this means considering evidence separated by several millennia.
Neolithisation, or the transformation from hunter- gatherer to farmer’s lifeways, is therefore seen as a universal global phenomenon, which it certainly is, and is approached from a comparative perspective.
However, much could be gained also from a more ‘historical’ consideration of roughly contemporary evidence. In this book, for instance, there could be more consideration of the circular enclosures of the Lengyel, Stroked Pottery, Michelsberg, Chasséen, Funnel Beaker and other cultures, some of which are contemporary with the early British Neolithic and are sometimes seen as precursors to the early Neolithic enclosures in Britain. Furthermore, this book adheres to the conventional model of European neolithisation, at least in the structure of the first few chapters, beginning in Greece and ending in Britain. In his review of the book, Detlef Gronenborn (Antiquity 88(341) 2014: 989–990) notices the lack of consideration of recent archaeogenetic research, which he says, “… may demonstrate a hesitance within British Neolithic archaeology to accept the growing evidence which indicates that, for several millennia, some regions of Europe experienced major population changes”.
Rather than focusing on the still sketchy and interspersed archaeogenetic evidence, some of which is nevertheless presented in the book (p. 109–113), we would rather focus on a different issue, related perhaps to Gronenborn’s observation cited above. While we personally applaud the enthusiasm with which Thomas writes about the Gathering Time project of Alasdair Whittle and his colleagues and agree with its impact on the “post-Gathering Time era of Neolithic studies” (p. 3), we noticed a comparable lack of consideration of other, perhaps no less revolutioDocumenta Praehistorica XLI (2014) book review 307 nary approaches to Neolithic studies. For example, no mention is made of the recent work by Stephen Shennan and his team at University College London (http://www.ucl.ac.uk/euroevol) dealing with the Neolithic from a more demographic and cultural evolutionary perspective and pointing to links between population fluctuations and cultural change.
We could characterise Gathering Time as a bottomup approach and the EUROEVOL project as a topdown approach in the utilisation of 14C data and ultimately in Neolithic studies. However, both kinds of approach are needed, we think, if we are to understand the complex process of neolithisation from a multiscalar perspective. Furthermore, there is a lack in the book of at least a comment or a critique of the research on the impact of climate changes on the demographics and lifeways of Neolithic communities, mainly in continental Europe (Bernhard Weninger and others, also Detlef Gronenborn) but also Britain (e.g., Bonsall C. et al. 2002. Climate change and the adoption of agriculture in north-west Europe, cited in the Bibliography).
There is no question, however, that the Birth of Neolithic Britain is a big step forward in understanding the transformations from hunting/gathering to farming regionally, continentally and globally. It represents a holistic synthesis of the current understanding of the neolithisation process in Britain and should be on the bookshelf of every student and researcher interested not only in the British but the European Neolithic as well.
Marko Sraka – University of Ljubljana
[IF]
¿Qué fue de Los InteLectuaLes? | Enzo Traverso
Por medio de la editorial Siglo Veintiuno de Argentina, llega al público latinoamericano de habla hispana una de las últimas producciones del historiador italiano Enzo Traverso. Teniendo un pasado de militancia en el autonomismo marxista itálico, es investigador graduado en Historia Contemporánea por la Universidad de Génova y Doctor, bajo la dirección de Michael Löwy, en la prestigiosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS). Su trayectoria académica y de pesquisa la efectuó a lo largo de dos décadas en Francia, fundamentalmente en la Universidad de Picardía Julio Verne, y en la actualidad se encuentra trabajando en la Universidad de Cornell (Estados Unidos). También ha sido profesor invitado en casas de altos estudios de países de los continentes americano y europeo. Historiador especialista en la historia de la ideas, apropiadamente ha sabido converger las tradiciones historiográfi cas italianas y francesas. A través de la lente del mundo cultural e intelectual judío de Europa, Traverso trabajó sobre las relaciones entre diversas miradas y tradiciones intelectuales como el marxismo, la cultura judía de Mitteleuropa y la Escuela de Frankfurt, interpretadas en función de las catástrofes y genocidios del siglo XX. Entre sus libros publicados, en idioma español se encuentran: Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada) (1998); (La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales) (2001); (El Totalitarismo. Historia de un debate) (2001); (Los marxistas y la cuestión judía. Historia de un debate) (2003); (La violencia nazi. Una genealogía europea) (2003); (Cosmópolis. Figuras del exilio judeoalemán) (2004); (Los judíos y Alemania. Ensayos sobre la simbiosis “ judío-alemana”) (2005); (A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945)) (2009); (El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política) (2011); (La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX) (2012); y (El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador) (2014). En el ámbito académico de las ciencias sociales, sus producciones sobre historiografía contemporánea, conformación de identidades colectivas y memoria son una referencia permanente. Leia Mais
O Pacto das Fadas na Idade Média Ibérica | Aline Dias da Silveira
“O objetivo desta obra – diz a Autora, p.18 – é identificar a estrutura simbólica das narrativas feéricas, comparando-a com a estrutura ritualística e simbólica dos pactos vassálico e matrimonial”. Nesta frase concisa encontramos o núcleo fundamental do trabalho: como é que as narrativas medievais sobre fadas (e feiticeiras) revelam a estrutura do feudalismo – ou, mais exatamente: do casamento na sociedade feudal, mostrado através dos seus ritos e imagens. O estudo de Aline Silveira é um trabalho de análise e interpretação do Livro de Linhagens, escrito na década de 1340, por Dom Pedro, Conde de Barcelos (c.1285-1354). Filho bastardo do rei Dom Diniz (1279-1325), e de Glória Anes, (natural de Torres Vedras), D. Pedro viveu num reino que pela primeira vez estava livre de guerras com os sarracenos, e governado por um monarca educado, culto, e bom administrador: a D. Diniz se devem, entre outras obras que permanecem até hoje, a plantação do pinhal de Leiria (que forneceu madeira para caravelas e naus), a fundação da Universidade de Lisboa/Coimbra, e a criação das Festas do Divino Espírito Santo, além de ter sido compositor de peças de poesia e música na Corte.
Educado nesse meio por sua madrasta, a Rainha Santa Isabel, irmã do reio de Aragão, D. Pedro desenvolveu importante atividade literária, reunindo e compondo poesias trovadorescas, e também se lhe atribui, além do Livro de Linhagens, uma Crônica de Espanha (1344) – Espanha não designava então o país ainda inexistente, mas a Hispania, lembrança dos períodos romano e visigótico, quando a Península Ibérica estava unificada. D. Pedro, que se desentendeu com o pai e algum tempo viveu em Castela, interessava-se especialmente por questões de legitimidade feudal e genealógica, razão pela qual se colocou ao lado da Rainha Santa, como intermediário nas disputas entre seu meio-irmão Afonso (primogênito e herdeiro do reino) e o rei seu pai. Temos assim o esboço do porquê de alguns traços da personalidade daquele que, no Livro de Linhagens, faz remontar os laços de fidelidade e ascendência feudal aos arquétipos e às fontes da mitologia, e da religiosidade popular. O que Aline Silveira faz no seu livro é trazer à tona e desvendar essas ligações de certo modo ocultas pelas metáforas e lendas, particularmente as que mostram o poder feminino, que o patriarcalismo feudal e guerreiro parece minimizar, mas que a literatura apresenta disfarçadas de fadas e feiticeiras, tipificadas na Dama Pé de Cabra. Esta mulher, filha de um ser meio humano (de quem herdara os pés ungulados), vivia na Biscaia (Euzkadi, País Basco, ou Vasco) e casou com Diego Lopes de Haro, da mais importante família basca. Com ele teve filhos, e iniciou uma dinastia, que deste modo legitimou sua origem não só numa lenda, mas numa sucessão de ligações míticas que fazem remontar a família Haro a antepassados préhistóricos e, na interpretação da Autora, a concepções fundamentais da visão histórica e mítica do mundo.
Ampliando seu comentário pela comparação com outras narrativas lendárias medievais – a Melusina de João de Arras, e o romance de Froiam da Galiza com Marinha – a interpretação busca raízes na cultura celta, e procura ainda contatos com outras mitologias, particularmente a grega. No Livro de Linhagens há outra idéia norteadora, complementar à anterior – que O Pacto das Fadas explica e comenta: o reforço dos laços feudais de vassalagem pelo parentesco e o casamento; neste caso as “fadas“ são as esposas, aquelas que fazem a ligação entre duas casas nobres, ou reais. A esse propósito a Autora discute a opinião de historiadores portugueses que consideram o feudalismo em Portugal diferente do “modelo francês”.
Ora, na realidade, se observarmos bem a Europa medieval, o feudalismo francês (restrito ao norte da França), só foi modelo porque era mais central, mais influente na época, e porque os historiadores franceses do século XIX foram mais competentes para analisá-lo e propô-lo como modelo; mas de fato cada reino, e cada época, teve suas peculiaridades. Mesmo que, ao tempo de D. Diniz, o feudalismo em Portugal já fosse distinto da estrutura política do reino quando D. Afonso Henrique (1109-1185) liderou a independência, é preciso também ter em conta que o feudalismo, com seus laços de vassalagem e relações de poder, não é só uma estrutura social, política, econômica e guerreira, mas, como a Autora muito bem salienta, é uma maneira de pensar. E é esse pensar que Aline procura descobrir no Conde D. Pedro de Barcelos, o qual entendia que a sociedade se mantinha coesa não só pelas relações de poder, mas também pelas de amor e amizade. Talvez D. Pedro apelasse para esta questão porque estava presenciando mudanças perceptíveis, embora ainda não definitivas: pelos casamentos reais Portugal estava recebendo influências diretas de Castela (de onde era sua avó Beatriz), de Aragão (então a maior potência marítima do Mediterrâneo ocidental) e da França: seu avô. D. Afonso III (1210-1279), fora casado (1238) com Dona Matilde condessa de Bolonha, até assumir o trono de Portugal após a deposição ( 1247) de seu irmão Sancho II, que se desentendera com o clero e a nobreza; no reinado de Afonso III Portugal completou a sua formação territorial, pela conquista definitiva do Algarve (1249), e, ao contrário de seu irmão, o rei conseguiu conter em parte o poder da nobreza nas Cortes de Leiria, e pelas inquirições contra os abusos da nobreza e do clero; se lembrarmos que o pai de D. Pedro, além das realizações que anotamos acima, afrontou o poder da Igreja em diversas ocasiões, mas principalmente ao criar a Ordem de Aviz, na qual recebeu os monges templários condenados e expulsos pelo Papa e pelo rei de França, veremos os indícios de uma concentração do poder real, que se tornará forte na dinastia fundada (1385) por D. João I, Mestre de Aviz.
Finalmente Aline Silveira relaciona a fada (a Dama) com o nobre (o Conde), e o arquétipo mítico com o imaginário social, através de um pano de fundo constituído pelo mito das origens. É o mito, resultado narrativo das idéias presentes no imaginário fundamental e permanente da humanidade, mas realizado em cada cultura regional, que dá sentido à relação entre a fada e o nobre, e portanto à solidez da estrutura social da nobreza. Neste ponto a historiadora amplia e aprofunda o que já estava fazendo desde o início, ao reconhecer a insuficiência da História, como ciência humana narrativa e factual, para se explicar a si mesma, e portanto recorre a outras ciências, como Antropologia, Ciências da Religião, Crítica literária e Psicologia, para descobrir o que há de mais íntimo na humanidade, que faz da história humana regional e local um reflexo da existência humana como um todo. Esta combinação de ideias diversas a Autora realiza com detalhe, perfeição e competência. E nesse pano de fundo ela mostra que o imaginário vassálico era comum não só a toda a Europa, mas se estendia além Europa – ou de lá provinha. Resta perguntar aos jovens historiadores: essas representações sociais, esses arquétipos tipificados e concretizados na Ibéria, que prolongações tiveram na América Latina?
João Lupi – Professor Voluntário do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia – UFSC. E-mail: [email protected]
SILVEIRA, Aline Dias da. O Pacto das Fadas na Idade Média Ibérica. Apresentação de José Rivair Macedo. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: LUPI, João. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.14, n.1, p. 146-149, 2014. Acessar publicação original [DR]
O que o dinheiro não compra – SANDEL (C)
SANDEL, Michael. O que o dinheiro não compra. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. Resenha de: BERTONCELLO, Leandro da Silva Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 1, p. 191-194, jan/abr, 2014.
Michael Sandel é uma das mais renomadas autoridades da filosofia no contexto atual. Ele é mais conhecido em função do curso Justice, ministrado na Universidade de Harvard, disponível na internet no site <http://www.justiceharvard.org/>. Para um auditório lotado, Sandel lança a polêmica sobre questões, como: A tortura é justificável? ou Você furtaria um remédio de que seu filho necessita para sobreviver? ou, ainda: Às vezes é errado dizer a verdade? No seu mais recente livro, O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado (traduzido para o português por Clóvis Marques e publicado em 2012 pela Civilização Brasileira), Sandel analisa e critica a crescente mercantilização da vida moral. Demonstra, por exemplo, que, em algumas unidades carcerárias nos EUA, os presos podem pagar para desfrutar de acomodações melhores; casais estadunidenses podem pagar por uma barriga de aluguel na Índia, onde tal prática é permitida; na União Europeia, uma empresa pode pagar 13 euros pelo direito de lançar uma tonelada métrica de gás carbônico na atmosfera.
O autor reflete que, após o fim da Guerra Fria, quase tudo passou a poder ser comprado e vendido, e que os mercados passaram a governar nossa vida como nunca. Dois motivos são apontados para a preocupação com a invasão pelo mercado: a desigualdade, pois os pobres ficam cada vez mais afastados da influência política, de um bom atendimento médico, de uma casa em um bairro seguro e de escolas de qualidade (a distribuição de renda adquire importância maior); e a corrupção, pois os mercados corrompem ao estabelecer preços para coisas da vida, com o descarte de valores não vinculados à compra e venda. Leia Mais
Trabalho imaterial: formas de vida e produção de subjetividade – LAZZARATO; NEGRI (C)
LAZZARATO, Maurizio; NEGRI, Antonio. Trabalho imaterial: formas de vida e produção de subjetividade. Tradução de Monica de Jesus Cesar. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2013. Resenha de: SILVESTRIN, Darlan. Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 1, p. 186-190, jan/abr, 2014.
Antonio Negri é um filósofo italiano, contemporâneo, estudioso do pós-operaísmo, com uma ampla pesquisa sobre a nova configuração mundial realizada pela força do capital e suas consequências, de modo particular no mundo do trabalho. Tem diversas obras traduzidas para a língua portuguesa, dentre as quais Império (2004) e Multidão: guerra e democracia na era do Império (2005), ambas pela Editora Record. E Maurizio Lazzarato é um sociólogo italiano.
Esta obra trata de uma coletânea de ensaios que apresentam as transformações ocorridas no mundo do trabalho. Primeiramente, foram publicados na revista francesa Futur Antérieur, do próprio Negri. Foram publicados pela primeira vez no ano de 2000, e, felizmente, a Editora Lamparina apresenta ao público, em 2013, a 2ª edição dessa importante obra para a compreensão do pensamento de Antonio Negri e das transformações no mundo do trabalho.
O modelo fordista de produção tornou-se obsoleto, mas, obviamente, tem sua importância celebrada na evolução dos parâmetros da produção industrial, consequentemente, nos desenvolvimentos econômico e social como um todo. Com o passar do tempo, e inclusive por força da luta dos operários pelo reconhecimento de seus direitos, o trabalhador passou a ser visto como alguém que também existe como ser social, dotado de sensibilidade, de sabedoria, que pode colaborar e ser pró-ativo em seu ambiente de trabalho muito além do mero desempenho mecânico de suas funções. Nessa visão, o trabalho passou a ser visto com certa imaterialidade, repleto de subjetividade, modificando temporal e espacialmente a posição que o trabalhador deve ocupar.
Com a evolução do tema trabalho ao longo das últimas décadas, veio à tona um fato inegável, não é a quantidade de trabalho, nem mesmo o tempo que se trabalha, o grande propulsor do desenvolvimento. Passou-se a entender que, a partir do momento em que o trabalhador se torna um agente social, que interage com todas as dinâmicas ao seu redor, passa a produzir mais e melhor. A presença da subjetividade torna-se visível e compreensível, permitindo uma gama de evoluções, de percepções, que mudam a maneira como se trabalha, para que e quem se trabalha; nesse sentido, se encaixa com perfeição o termo cooperar.
Esse visa exatamente ao desenvolver engajado com todos os setores da sociedade, porque se entende que tudo faz parte de uma mesma engrenagem, e que somente pela união é possível crescer qualitativamente, alcançando por natural consequência uma ascendente quantitativa.
Essa concepção de trabalho imaterial se deve muito aos movimentos sociais no período que remonta a 1968, especialmente àqueles motivados por estudantes, que, até mesmo por não fazerem parte da classe operária, conseguiam observar aspectos por esses não vistos. Toda a luta, movida por ideais socialistas, mas fundamentalmente pelo reconhecimento da dignidade humana no ambiente de trabalho, foi observada por pensadores de todos os lugares. Desde tal época, os mesmos já afirmavam a importância da subjetividade do trabalhador, no florescer de seu intelecto, que pudessem ser alguém que superasse os moldes de uma linha de produção, podendo evoluir e movimentar criticamente todos os processos que fazem parte de seu cotidiano.
Existe um claro antagonismo entre a visão fordista de trabalho e a visão pós-fordista. A primeira evidenciada pelo trabalhador que apenas fazia parte de uma linha de produção, cuja subjetividade era desprezada por completo. Com o tempo, a luta anticapitalista trouxe a figura característica do trabalhador que não é apenas um operário na acepção do termo, mas um ser social, que tem suas opiniões bem-definidas, com capacidade para perquirir seus direitos e transformar o mundo. Por mais que o tempo passe, e com ele aconteçam inúmeras transformações, não podemos esquecer de que, se hoje vivemos numa sociedade mais justa, com garantias ao trabalhador, é devido à existência dessas duas visões antagônicas, até porque ambas são necessárias. A questão é encontrar o ponto de equilíbrio entre elas, podendo, por meio dessa mediação, chegar ao padrão ideal do que se entende por trabalho imaterial.
A hodierna conceituação de trabalho imaterial trouxe não apenas um novo modelo de trabalho, mas também indicou a existência de novas formas de poder, abarcadas por novos processos de subjetivação. Quando o trabalhador reconhece a própria importância, passa naturalmente a avocar direitos sobre o seu labor, provando que é imprescindível para o desenvolvimento das instituições e, por isso, detém certo poder mediante as demais esferas, inclusive, e de modo substancial, na política.
Essa nova visão do trabalho modificou aspectos interiores no que tange à produção, bem como aspectos exteriores que afetam, portanto, o mercado de consumo. Na época do modelo fordista, a industrialização baseava-se na produção de modelos de mercadoria padronizados, sem grandes distinções ou variedades: por sua vez, o consumidor daquela época também era pouco exigente. Com o passar dos tempos, isso se modificou completamente. Atualmente os meios de produção precisam acompanhar esse movimento frenético no qual a sociedade vive e se relaciona, primando por investimentos em qualificação, informação, inovação e todas as ferramentas necessárias para acompanhar a maneira instantânea como as dialéticas sucedem em nível global. Nesse mesmo sentido, obviamente, também segue o setor de serviços. É justamente no interior dessa relação de produção e consumo que habita o trabalho imaterial, ele é o grande mentor de todas as mudanças, do ritmo que movimenta os ramos sociais em suas atividades e objetivos.
A partir da década de 90 (séc. XX), mais especificamente, com a “Era Berlusconi”, surge a figura do “empreendedor político”, caracterizada pelo indivíduo que, além de manipular a opinião popular por meio da mídia, conhece e domina com maestria o novo modelo de produção, conhecendo todos os detalhes que movem essa estrutura de produção e consumo. Tais mudanças atingiram também o tradicional modelo de empresário, não sendo mais aquele que se atém à administração clássica de sua empresa; a questão em pauta é socializar a empresa, para isso um dos mecanismos utilizados são as chamadas redes de comercialização, exemplificadas pelo método franchising. Dessa forma, a empresa vem se tornando imaterial de modo que possa atingir o mundo todo, tornando-se globalizada. Percebe-se, assim, o quanto a imaterialidade do trabalho atingiu sem precedentes todos os âmbitos sociais.
Outro viés fundamental para a realização dessa imaterialidade que atinge o consumo de modo geral é a publicidade, entendida aqui como fator interativo com o consumidor, captando seus desejos (hoje não mais reconhecidos pela padronização, mas pela diversidade de produtos), e reproduzindo via imagens, conceitos, a criação e recriação do desejo de consumo, como forma de necessidade, ou, de maneira fugaz, até mesmo de status. Os setores de marketing, justamente por essa interação direta com o consumidor, são encarados como sendo os principais departamentos de uma empresa. Nesse diapasão, a figura de políticos e empresários acaba por se fundir, é a combinação do visionário economista com o estrategista político, transformando-se na característica única daquele que faz uso da subjetividade dos indivíduos, a favor do sucesso de sua atividade-fim.
Dentre as novidades pós-fordistas, podemos ainda destacar a do trabalho autônomo, que, embora gere uma maior responsabilidade em seu desempenho, pelo fato de o salário confundir-se com a própria renda, traz em seu bojo o traço fundamental da libertação, ou seja, a liberdade do operário (que antes estava retido em uma linha industrial) de poder escolher e construir seu próprio caminho, segundo seus objetivos e possibilidades.
Diferentes filósofos, pensadores, críticos, enfim, estudiosos das áreas sociais e humanas, desde há muito tempo, vêm acompanhando o dinamismo que envolve o trabalho e suas relações tanto intrínsecas quanto extrínsecas. Todos os conceitos e teorias hoje pertinentes ao tema provieram de debates sociais, das muitas lutas pela conquista dos direitos trabalhistas, pelos cenários políticos e, é claro, pelas diferentes conjecturas econômicas que moveram e movem a sociedade. Desse modo, cada fato sucedido deve ser considerado salutar para a estruturação do conceito hoje conhecido como trabalho imaterial, pois propõe uma visão humanizada do trabalho, mais ampla, capaz de contemplar aspectos sociais e humanos em prol do desenvolvimento da sociedade como um todo. Pode-se afirmar, apesar de infelizes exceções, que o trabalhador, hoje, é encarado como um cidadão, efetivamente portador de direitos e deveres, capaz de alterar substancialmente o meio onde atua e vive, mantendo, principalmente, sua subjetividade diante dos mais variados contrastes e sendo levada em consideração e essencialmente respeitada.
Essa obra parece ser a grande contribuição de Negri, juntamente com Lazzarato, para a compreensão da socialização do trabalho, na qual Negri, de modo particular, busca a fundamentação para o conceito de trabalho imaterial no pensamento de Marx, quando trata da questão do trabalho vivo ou trabalho social na obra pouco conhecida Grundrisse, com tradução recente para a língua portuguesa e publicada pela Boitempo Editorial. Negri faz uma leitura política dessa obra de Marx e encontra no conceito de intelecto de massa, ou general intellect, ou no conhecimento que está no cérebro das pessoas e no trabalho social, a constituição de novas subjetividades e novas formas de vida, marcadas pela cooperação entre as pessoas no processo produtivo.
Darlan Silvestrin – Mestrando pelo PPGFil da UCS, Caxias do Sul, RS. E-mail: [email protected]
Isabel de Palencia. Diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República – EIROA SAN FRANCISCO (C-HHT)
EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. Isabel de Palencia. Diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República. Málaga: Publicaciones de la Universidad de Málaga, Colección Atenea Málaga, 2014. 310p. Resenha de: BRANCIFOTE, Laura. Clío – History and History Teaching, Zaragoza, n.40, 2014.
Isabel Oyarzabal Smith, más conocida como Isabel de Palencia, “en agosto de 1939, casi recién desembarcada del Sinaia, pronunció una conferencia en el Palacio de Bellas Artes titulada: “España, Suecia y México: la odisea de una mujer española” (p. 277). Las palabras que componen el título de esta conferencia sintetizan el recorrido vital de Isabel de Palencia que llegaba al puerto de Veracruz, tras este periplo entre España y los países nórdicos, para luego trasladarse a la capital del distrito federal junto con la masiva oleada de los exiliados y refugiados españoles que procedían desde el otro lado del Atlántico.
En este libro la historiadora Matilde Eiroa reconstruye la vida de Isabel Oyarzábal a través de una exhaustiva biografía que ha sido galardonada con el XXIII Premio de Investigación Victoria Kent en 2013, aportando una extensísima y muy variada documentación de archivos nacionales e internacionales. De entrada, hay que destacar que pese a que la vida de De Palencia, por su intensa trayectoria política y laboral, ha sido objeto de investigación por parte de acreditados estudios anteriores, la bibliografía producida ha sido podríamos decir “sectorial”, vinculada, pues, a los distintos y múltiples aspectos de la vida de Isabel de Oyarzabal. Me refiero, por ejemplo, retomando las menciones encontradas a lo largo del libro, a los estudios de Giuliana di Febo, Olga Paz Torres, Mª Concepción Ciria Bados, Antonina Rodrigo, R. García Ballesteros, Juan Martínez entre otros. El hecho de que la producción de Oyarzabal se articule alrededor del periodismo, de la literatura, del teatro y que, además, aborde materias distintas como moda, teatro, infancia, maternidad, el tema de esclavitud, así como la preocupación constante por la enseñanza, explica en parte, la “fragmentación” de las aportaciones de los textos dedicados a De Palencia y el hecho que como recalca la misma Eiroa, “su identidad haya quedado en un plano secundario frente a otras figuras coetáneas con una única adscripción profesional […] o con una adscripción política muy destacada” (p. 24).
Antes de centrarnos en las novedosas aportaciones de este libro, que son numerosas ─en primer lugar un libro que abarca en su totalidadla vida de Oyarzabal─, no estaría demás preguntarse ¿por qué biografiar a Isabel de Palencia? Isabel de Palencia vivió la feliz coyuntura del aperturismo de la Belle Époque, cuando, las españolas comenzaban a integrarse en la vida laboral “remunerada” y cuando accedían a las enseñanzas medias y a la Universidad, y cuando se fueron articulando los feminismos de principios del siglo XX en España. Será pues Oyarzabal, una de las modernas que protagonizará el asociacionismo inicio secular, afiliada a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, presidenta del Consejo feminista de España, socia del Ateneo de Madrid y del Lyceum Club, enviada al VII Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio dela Mujeres en Ginebra, presidenta de la Liga feminista Española por la Paz y la libertad y por último miembro de la “Cívica” de María de Lejárraga. En resumidas cuentas feminista y pacifista según las mejores directrices del feminismo internacional. Republicana, activista en el antifascismo femenino europeo, formó parte del Comité de la Agrupación de Mujeres Antifascistas, defensora de la República en patria (formó parte de la Comisión de Auxilio Femenino desde 1936) y fuera de ella, como ministra plenipotenciaria de 2 ª clase. Protagonista de la cultura política socialista (afiliada antes a la UGT y luego al PSOE aunque, no logrará, conseguir nunca una escaño como diputada) y finalmente antifranquista desde el destierro a México. Todas éstas serían, de por sí, junto con otras no mencionadas, razones suficientes para contestar a la pregunta del porqué hacer una biografía de Isabel de Palencia. Sin embargo lo más importante no es si es o no “un sujeto portador de biografía” (1) en el transcurso de los siglos se ha ido atenuando la distancia entre los individuos que según los códigos de la época son o no dignos de esta función. Lo más relevante es cómo se ha llevado a cabo la narración biográfica para que tenga validez.
¿Cómo relata pues la vivencia de Isabel de Palencia, Matilde Eiroa? ¿cómo describe a través de una biografía los complejos y bruscos cambios históricos de los cuales es sujeto activo? Una de las limitaciones de las biografías es la de caer fácilmente en los extremos de sus posibilidades narrativas: por un lado acaece la eventualidad de “utilizar” un caso ejemplar para ilustrar un determinado contexto, por el otro puede verificarse la situación contraria, es decir, la de asumir los actos individuales como atípicos y peculiares de la personalidad, y por lo tanto, como hechos desencadenados con respecto al contexto. Podemos afirmar que, pese al elevado riesgo de que la autora incurra en estos límites y que la vida de Isabel De Palencia se “diluya” en la historia o, viceversa, que la historia desaparezca frente a un sujeto “importante”, y eso no ocurre. Matilde Eiroa no carga “su biografiada” de un “papel heurístico absoluto” con respecto a los contextos, sino que deja margen a la comprensión del sujeto en su individualidad.
Lo que resulta atractivo del libro es que, además, cada ámbito de la vida profesional y asociativa de Isabel de Palencia está introducido por una contextualización que tiene una exhaustiva bibliografía de soporte y una explicación de la presencia y de los antecedentes femeninos en estos ámbitos. Es el caso, por ejemplo, de la descripción de la legislación para la oposición de inspectores provinciales de trabajo, dado que Oyarzabal fue la primera mujer a ejercer como Inspectora Provincial de Trabajo en 1931, o el ámbito de los organismos internacionales, o finalmente de la carrera diplomática. Este libro se convierte así, también, en una fuente para conocer a las protagonistas y lo contextos de la historia de la emancipación femenina.
La biografía de Isabel de Oyarzabal tiene, de hecho, una característica que es común a sus coetáneas, la pertenecía a un “género” peculiar que denominaría como “mujeres polifacéticas”, del cual formaron parte, entre otras,Eva y Margarita Nelken, María de la O Lejárraga, Carmen De Burgos. Todas ellas fueron individualidades política y culturalmente fuertes e incisivas en la sociedad española y profesionalmente muy versátiles. Es, pues, en este pluriactivismo político y profesional que podemos situar la reconstrucción hecha por Matilde Eiroa de uno de los perfiles más interesantes de estas décadas, y de la cual, sin embargo, la autora no ha querido trazar una trayectoria femenina excepcional o prodigiosa como ella misma subraya a menudo. Ha situado su vida en la contingencia en la que emprendió y lidió con cambios muy relevantes en un recorrido común y en común con otras mujeres, describiendo de forma coral una historia femenina y feminista. Como señala en el prólogo del libro Josefina Cuesta “no estamos ante una de las grandes feministas de nuestra historia, y eso es acaso la más original”, expresión de un “feminismo de pequeños pasos” y de “justificaciones tradicionales” (p .13).
No toca a una reseña desglosar detalladamente el contenido del libro pero sí me gustaría subrayar la precisión y el dominio con el cual Eiroa describe la formidable producción artístico-literaria y periodística de Oyarzabal, no fácilmente abarcable en su totalidad, así como el hecho que no descuide la amplísima producción tanto teatral como literaria. Destaca la gran pericia con la cual Eiroa trata la faceta de Isabel Oyarzabal o, mejor dicho, de Beatriz Galindo, su seudónimo como periodista. En la descripción de la amplia labor de Galindo como periodista se denota que la autora, se apoya, además de, en su formación como historiadora, en un amplio conocimiento de la prensa de la época. En ello, quizás, se pueda reconocer la vinculación académica y docente de Eiroa con la carrera de periodismo. Desglosa con detalle la tipología de prensa, emplea métodos de análisis de contenidos de los periódicos y describe la recepción femenina de las revistas, que describe como de un “público [femenino] en auge”. Se destaca que escribió tanto en el mundo informativo en La Dama, el Sol, Blanco y negro así como en los órganos de expresión de las asociaciones, los “medios feministas”, como Mundo femenino, Cultura Integral y femenina intentando “ganarse un espacio que tradicionalmente no era el suyo” y mostrar valores alternativos a los estándar (p. 57).No descuida Eiroa su papel como corresponsal en Madrid del Standard y del Daily Herald.
Respecto a este último encargo como corresponsal es fundamental resaltar la importancia del dominio del inglés de Isabel de Palencia, es este uno de los aspectos sobre los que, quizás, no se insista demasiado. Si es verdad que Eiroa hace referencia a ello: “para Oyarzabal […] de madre escocesa, el “bilingüismo y los viajes” serán fundamentales”, hubiese sido interesante una mayor profundización en este aspecto para entender mejor de qué manera realmente eso le permitió y le facilitó adquirir un rol central en foros internacionales de gran relieve en calidad de delegada en las asambleas de la Sociedad de Naciones y en la Organización Internacional del Trabajo o, como, “única mujer de la Comisión Permanente de la Esclavitud” de la ONU. Quizás el análisis del “origen mixto” malagueño y escoses influyó en más aspectos de la vida profesional e personal de Isabel de Palencia. El origen “plurinacional” afectó positivamente a otras mujeres de la época que asumieron gran importancia social y política, como, por ejemplo, las hermanas Nelken, María Lejárraga, Louise Grapple de Muriedas, Lilly Rose de Cabrera Schenrich y Victoria Kent, entre otras, todas hijas de matrimonios mixtos.
Concluiré con unas reflexiones sobre la parte del libro a mi juicio más innovadora y original y también atractiva, me refiero al momento en el que Azaña la acreditó como “ministro de España en Suecia” el 23 de octubre de 1936, embajadora en la legación de Estocolmo. Esta parte de la investigación es doblemente interesante en primer lugar por la excepcionalidad e importancia de la asignación de tal cargo a una mujer, en un momento tan difícil para España y, en segundo lugar, por la escasez de estudios relacionados al encuentro entre la historia de la diplomacia y la historia de las mujeres, y, en general, entre el ámbito historiográfico de las relaciones internacionales y la historia de las mujeres, aunque ahora un poco más explorados.
Se desprende en la descripción de la vida de Isabel de Palencia la dificultad de este oficio para las mujeres y en especial modo la peculiar situación de ser embajadora en un país, como en todos los países nórdicos, donde tuvo que lidiar con la supuesta neutralidad de las socialdemocracias nórdicas vinculadas al pacto de no Intervención, bajo el indirecto control franco-nazi y al adelanto y luego victoria de la diplomacia franquista, donde como nos recuerda Eiroa, retomando los datos desde Ángel Viñas, “se calcula que hubo un 90 % de defección de los diplomáticos” (p. 206). Las dificultades de defender su formación y su conciencia y militancia feminista en un contexto masculino hostil, está muy bien explicado y llega a involucrar unos matices más personales e íntimos, que se aprecian y se justifican por las dificultades de las decisiones que tuvo que tomar. Un ambiente en el que lo más afortunado fue su encuentro con Alexandra Kollontai “una de las que mayor impacto le causó” (p. 41) y de la cual escribió una biografía.
Lo que no se escapa a la autora, además, es el apoyo de la solidaridad de Suecia (y Noruega) en lo que con expresión acertada define como “principio de compensación” de la política oficial, uno de cuyos ejemplos fue el Hospital Sueco- Noruego de Alcoy en el abril de 1937.
Finalmente podríamos concluir volviendo a empezar desde México con algo relevante: este libro es en primer lugar un acto de memoria, una contribución a la historia de las mujeres y a su aportación en el asentamiento y difusión de los valores políticos, sociales y culturales de la II República española, luego, trasplantados allí donde en 1974 morirá sin volver como millones de desterrados a tocar suelo español. Come dice Giuliana Di Febo “la recuperación de la memoria se ha impuesto como hecho importante para captar la complejidad de la relación de las mujeres con la política y la guerra” (2) .
Notas
1 LOTMAN JURIJ, Mikhailovich, “Il diritto alla biografia” en La semisfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, Saggi Marsilio, Venezia, 1985, pp. 181-199.
2 Di Febo G. “Republicanas en la guerra civil española. Protagonismo, vivencias, género” en Casanova Julián (comp.) Las Guerras Civiles en el siglo XX, Fundación Pablo Iglesias, p. 67.
Laura Branciforte – Universidad Carlos III de Madrid
[IF]Guerras santas: como quatro patriarcas, três rainhas e dois imperadores decidiram em que os cristãos acreditariam pelos próximos mil e quinhentos anos – JENKINS (S-RH)
JENKINS, Philip. Guerras santas: como quatro patriarcas, três rainhas e dois imperadores decidiram em que os cristãos acreditariam pelos próximos mil e quinhentos anos. Tradução de Carlos Szlak. Rio de Janeiro: LeYa, 2013, 352 p. Resenha de: CRUZ, Alfredo Bronzato da Costa. Cinzas que queimam. sÆculum – Revista de História, João Pessoa, v.30, jan./jun. 2014.
Philip Jenkins nasceu no País de Gales em 1952 e estudou no Clare College da Universidade de Cambridge, onde se formou como historiador especialista em estudos anglo-saxões, nórdicos e célticos. Ele realizou seu doutorado nesta mesma instituição, sob a orientação de John Plumb, pesquisador da história social das elites políticas inglesas do fim do século XVII e início do século XVIII. No período de 1977 a 1980, Jenkins trabalhou como auxiliar de pesquisa de Leon Radzionowicz, que foi o pioneiro dos estudos de Criminologia em Cambridge. Em 1980, foi admitido como Professor Assistente de Direito Penal na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos EUA, e durante algum tempo dedicou-se aos estudos da história sociopolítica deste país. No avançar da década de 1980, contudo, seus interesses de investigação inclinaram-se cada vez mais para os estudos sobre a trajetória histórica do cristianismo. Jenkins tornou-se Professor (1993) e Catedrático (1997) de História e Estudos da Religião na mesma Universidade Estadual da Pensilvânia, e começou a produzir uma série de trabalhos nesta área.
Em 2002, Jenkins envolveu-se pessoalmente no campo da controvérsia religiosa quando anunciou sua conversão à Igreja Episcopal desde o catolicismo, e proferiu uma crítica aberta ao celibato normativo do clero católico romano.
Em 2007, ele tornou-se Livre Docente do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Pensilvânia, e recebeu em 2011 a Emerência desta mesma instituição. Atualmente Jenkins é Professor do Departamento de História e Codiretor do Programa de Estudos Históricos da Religião do Instituto para Estudos da Religião da Universidade de Baylor – uma instituição confessional de ensino e pesquisa vinculada à Igreja Batista, que, estabelecida em 1845, foi a primeira universidade norte-americana fundada a oeste do Rio Mississipi e a mais antiga em funcionamento contínuo no Estado do Texas. Também é um dos editores do The American Conservative, escreve uma coluna mensal para o The Christian Century e artigos regulares para pelo menos outros três periódicos de grande público nos EUA.
Em 2013, a Editora LeYa publicou, sob o título de Guerras Santas, a tradução de Carlos Szlak para o Jesus Wars, dado a público por Jenkins três anos antes.
A transcrição de um comentário feito em Christianity Today sobre o Jesus Wars na orelha da capa frontal da edição brasileira pode ser bastante instrutiva para esclarecer a questão de porque uma empresa com tal perfil e público alvo investiu na publicação deste volume: “[…] Você gosta de contos incríveis de intrigas religiosas, cheios de conspirações, casos bizantinos, assassinatos e confusão? Ou prefere um relato acurado, sólido e informativo sobre o surgimento do cristianismo ortodoxo? Se a sua resposta foi ‘sim’ para ambas as perguntas, este livro é para você”. De um ponto de vista do mercado editorial, portanto, parece que o Guerras santas foi recebido como uma espécie de Código da Vinci baseado em fatos reais, ou como um guia politicamente incorreto da antiguidade cristã. O texto de Jenkins de fato, se presta parcialmente a isto: o modelo narrativo de sua prosa empolgante parece ter sido o irônico Declínio e queda do Império Romano de Edward Gibbon, citado já na introdução do volume, autor que, com Voltaire e Hume, é um dos pais de toda discussão politicamente incorreta travada no mundo contemporâneo a respeito dos primeiros séculos de existência do movimento cristão. Tal apropriação, contudo, tende a diminuir, ou mesmo ofuscar, a relevância deste volume para uma área tão carente de bons trabalhos entre nós como é a dos estudos sobre o cristianismo de tradição não ocidental.
De um modo geral, Jesus War é um desenvolvimento lógico do interesse de Jenkins pelas mudanças que marcaram o mundo cristão no século XX. Em trabalhos anteriores, este autor tratou da emergência de um cristianismo latinoamericano, asiático e africano que contrasta tanto com as formas majoritárias de cristianismo existentes há um século atrás que é como se estivéssemos lidando com uma religião completamente nova. Jenkins argumenta, entretanto, que o cristianismo que floresce nestas regiões que são periferias do sistema sociopolítico e econômico global não só não é uma adesão ingênua a uma ideologia imperialista, imposta de cima para baixo, mas está bastante próximo do horizonte mental do mundo bíblico e das antigas igrejas cristãs que outrora prosperaram (com exceção da América Latina) nestas mesmas regiões. O cristianismo não é um enxerto exótico na África e na Ásia, como parecem assumir tanto o senso comum ocidental quanto o islamismo militante, mas, no século XX, com a expansão missionária, começou a fazer um certo caminho de volta para casa.
Em termos culturais e demográficos, a compreensão de que a Europa é desde sempre e por excelência a terra dos cristãos é um equívoco politicamente orientado, já que mesmo no auge da civilização cristã medieval possivelmente havia mais fiéis cristãos no continente asiático do que no mundo europeu, e ainda subsistiam comunidades cristãs populosas no continente africano, grupos que foram simplesmente esquecidos pelos analistas ocidentais. Tal equívoco ocasiona tanto uma miopia na descrição da trajetória histórica do cristianismo quanto uma exasperação indevida nas análises de sua atual conjuntura. O avanço simultâneo do islamismo e do secularismo anticristão na Europa ocidental não significa um recuo geral do movimento cristão; não apenas porque ele continua em processo de expansão e reinvenção em outras regiões do globo, mas porque ele nunca foi exatamente coextensivo ao mundo europeu, mas sempre algo maior e diverso dele.
De fato, não parece adequada a ênfase na suposta natureza euroamericana do cristianismo quanto se procura ver este movimento no contexto mais amplo de sua de sua história bimilenar. A forma particular de cristianismo com que o ocidente se acostumou no último meio milênio, e que a maior parte dos interessados ocidentais e ocidentalizados, cristãos ou anticristãos, passou a considerar como o estado natural deste movimento religioso é um desenvolvimento relativamente acidental.
Durante a maior parte de sua história, o cristianismo foi uma religião tricontinental, com forte presença na Ásia, na África e na Europa – e isso foi válido para o tempo dos Carolíngios tanto quanto para as vésperas da expansão ibérica. “[…] Feitas as contas”, escreveu Jenkins, “na época da Magna Carta ou das Cruzadas, se quisermos imaginar um cristão típico, ainda deveremos pensar não num artesão francês, mas num camponês sírio ou num morador urbano da Mesopotâmia”2.
O cristianismo tornou-se predominantemente europeu nos quinhentos e poucos anos mais recentes de nossa história, não por causa de alguma afinidade óbvia entre este continente e a fé, mas pelo fato de que as igrejas europeias conseguiram escapar da pressão do Islã militante de uma forma que não foi possível às antigas igrejas apostólicas asiáticas e africanas, outrora culturalmente dinâmicas e muito numerosas. Foi pouco depois de o cristianismo africano e asiático passar a enfrentar novos e mortíferos desafios políticos, dos quais não viria a se recuperar, e de o movimento cristão entrar em colapso na China (décadas de 1360-1370) e na Núbia (década de 1450), que, “por volta de 1500, podemos ter o primeiro vislumbre doo padrão de expansão cristã que ficou conhecido nos estereótipos populares, ou seja, uma religião transportada por navios de guerra e mosquetes europeus para os nativos vulneráveis da África ou da América do Sul”3.
Fundamentando tanto a vulnerabilidade de tão vastas comunidades cristãs ao avanço de um poder político religiosamente diverso, quanto o afastamento e o esquecimento destas pelos ocidentais, encontra-se uma querela teológica que eclodiu com especial violência em meados do século V. Neste período, o mundo cristão se partiu em três blocos que definiam de diferentes formas a natureza de Jesus Cristo, selando com a divergência religiosa as poderosas forças centrífugas da disputa política e da diferença cultural. Os cristianismos asiático, africano e europeu enveredaram por trajetórias históricas gradativamente mais distintas e distantes umas das outras, enquanto aquilo que era o centro político do ecúmeno cristão – o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla – oscilava entre uma e outra posição teológica. O que acabou por fim consagrado como a ortodoxia cristã, cunhada por oposição aos monofisitas africanos e aos nestorianos asiáticos – classificações que não são apenas nomes, mas rótulos prenhes de juízos de valor negativo, cunhados por seus inimigos no complicado combate publicitário que marcou o tabuleiro político-teológico do Mediterrâneo oriental do primeiro milênio de nossa era – foi o resultado de um processo gradativo, lento e, não raro, sangrento.
Na origem destas categorias e atuando como seu lastro, encontram-se lutas, golpes e guerras abertas ao longo dos séculos, confrontos cujo resultado, de forma alguma já estava dado a priori. Isto bem considerado se pode imaginar um desenvolvimento histórico alternativo, no qual os agora chamados ortodoxos tivessem sido desdenhados como heréticos; um universo contrafatual em que o cisma entre Roma e o Oriente ocorreu no século V, e não no século XI, nunca se recuperando o papado da sujeição a sucessivas ondas de ocupantes bárbaros, e em que um Império Romano Monofisita, fundado num âmbito oriental unido fielmente, que se estendia do Egito ao Cáucaso, da Síria aos Balcãs, teria lutado com unhas e dentes contra os recém-chegados muçulmanos e, de modo concebível, mantido as fronteiras do tempo de Justiniano. Nesta realidade paralela, os estudiosos posteriores do cristianismo se dedicariam a estudar preferencialmente o grego, o copta e o siríaco, e apenas os pesquisadores mais ousados, dispostos a investigar uma língua marginal de alfabeto enigmático, se lembrariam de figuras como Agostinho de Hipona, Patrício da Irlanda e Leão de Roma4.
Jenkins argumenta que o fato de que outros caminhos, de incomensuráveis consequências, poderiam ter sido facilmente tomados pelo cristianismo dá boas razões para que se eleja o meado do século V como o período mais formativo de toda a história do movimento cristão. Outros autores têm enfatizado o período imediatamente circunvizinho ao Concílio de Niceia como este ponto de cristalização, de mudança fundamental entre as definições e práticas do cristianismo primitivo e medieval, mas eles não têm considerado de forma adequada como a luta para definir as crenças básicas do movimento cristão se arrastou para além dos primeiros séculos de sua existência e assumiu formas institucionalizadas bastante coerentes.
Alguns ainda têm retratado a história da Igreja como um movimento firme rumo a uma clarificação crescente da fé em sentido ortodoxo, seja para elogiá-lo (o desenvolvimento do dogma faz a Igreja ser mais consciente e mais fiel ao que já acreditava desde o princípio) ou para criticá-lo (o movimento espiritualmente igualitário de Jesus atrofiou-se até dar origem à estrutura burocrática e repressiva do cristianismo bizantino e medieval). Dada a evidente origem teológica destas posições, elas devem ser postas entre parênteses pelo historiador, que tem o dever de chamar a atenção para o quanto, em diversos momentos, a própria definição do que é a fé cristã poderia ter sido radicalmente modificada. As lutas do século V a respeito do significado da ortodoxia cristã deram-se no quadro de uma guerra de domínio entre as Sés de Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma, e essa disputa teve como claras vencedoras as duas últimos, enquanto as duas primeiras tiveram de se haver com os crescentes problemas políticos associados à perda global de prestígio no âmbito do cristianismo mediterrânico. O fato destas se encontrarem desde cedo em território muçulmano, e hoje manterem minorias cristãs fisicamente ameaçadas de extinção em meio a populações majoritariamente islâmicas em número e tradição, é significativo para apreendermos o quanto todas as cartas foram postas na mesa no conflito do século V, e quais foram as consequências deste para o cristianismo ter vindo a adquirir o seu desenho atual.
Tudo isto posto, o objetivo de Guerras Santas é reconstituir a disputa política e teológica entre as diversas facções cristãs do século V, extraindo-lhe as consequências históricas e os aportes que este enredo pode ter para se compreender a atual conjuntura do cristianismo como religião mundial. Na introdução do volume (Quem vocês dizem que Eu Sou?), Jenkins levanta a questão básica, de origem bíblica, que levou às disputas cristológicas do primeiro milênio, ressaltando que as Escrituras Sagradas dos cristãos não são nada claras a respeito de um assunto tão hermético quanto a discussão sobre a natureza de Jesus Cristo, e que pelos padrões rigorosos dos primeiros concílios eclesiásticos, a maioria dos não especialistas modernos – incluindo numerosos clérigos – não saberiam explicar a fé que professam, ou seriam condenados como professando algum tipo de heresia. A compreensão da maioria das igrejas atualmente subsistentes sobre a identidade de Cristo é que ele é simultaneamente Deus e homem, sem divisão e sem separação, compreensão fundada nas posições tornadas canônicas pelo Concílio de Calcedônia (451). A resposta dada por esta assembleia de eclesiásticos a tal questão, contudo, não era a única solução possível – nem a solução obvia, ou, talvez, a mais lógica. As disputas que acompanharam esta definição e a tentativa dos imperadores ortodoxos de impô-la às antigas e recalcitrantes igrejas africanas e asiáticas enfraqueceram e dividiram a Igreja e o Império, e, no longo prazo, levaram diretamente ao colapso do poder romano no Mediterrâneo oriental, à ascensão política do islamismo e ao eclipse do cristianismo no mundo não europeu. Para Jenkins, de fato, o conflito a respeito de qual seria a definição hegemônica a respeito da natureza de Jesus Cristo resolveu-se por uma questão objetiva: as igrejas que aceitaram a definição calcedônica livraram-se da pressão islâmica por um milênio pelo acaso geográfico e sucesso militar, e tornaram-se certas basicamente porque sobreviveram mais viçosas e tiveram a oportunidade de contar a história cristã a seu próprio modo.
No primeiro capítulo (O xis da questão), Jenkins parte do violento caso do assassinato do Patriarca Flaviano de Constantinopla para cartografar algumas das semelhanças e diferenças existentes entre o universo sociocultural do mundo dos primeiros concílios que definiram a fé cristã e o nosso. Se ainda na década de 1980 a imagem de um Jesus casado e com uma família presente no filme A última tentação de Cristo incitou clamores mundiais de blasfêmia, a questão sobre quem era Jesus Cristo suscitava ainda maiores paixões nos séculos IV a VI. De um modo geral, as diversas respostas a esta questão se dispunham no espectro de duas tendências conflitantes. De um lado, havia aquelas “forças muito poderosas que atraíam Cristo na direção de Deus e do céu”, imaginando-o como “um juiz celestial temível ou um soberano cósmico, o pantokrator (…) que lançava um olhar furioso da cúpula de uma basílica imensa, e cujo status humano era difícil de aceitar”. Do outro, aqueles que “lutaram para preservar a face humana de Jesus, estabelecendo-o firmemente em solo terreno e na sociedade”, “uma figura que compartilha nossa experiência e pode ouvir nossas preces”, “que sofreu agonia física, que conheceu a dúvida e a tentação, que foi o irmão e o modelo dos homens em sofrimento”5.
Durante a história bimilenar do movimento cristão, estas tendências estiveram em interação, na maior parte das vezes conflituosa, mas em nenhum momento o debate foi tão aceso e visceral do que durante o século V. Então, por algumas décadas, pareceu que o consenso dos fiéis abandonaria a crença na natureza humana de Cristo, passando em definitivo a descrevê-lo apenas como um ser divino – o que, afinal, oficialmente não ocorreu. Subjacentes a estes intrincados debates teológicos agitavam-se as rivalidades profundas entre os grandes núcleos eclesiásticos do cristianismo do primeiro milênio: Antioquia enfatizava a natureza humana de Cristo; Alexandria combatia de forma veemente toda fórmula teológica que separasse o elemento humano do divino em Jesus Cristo; e Constantinopla, sede do Império Romano Cristão, servia como campo de batalha para as facções destes elementos poderosos, do Primeiro Concílio de Éfeso ao Concílio de Calcedônia (ou seja, de 431-451), cristalizou-se o ensinamento de que nenhuma declaração a respeito de Jesus Cristo poderia omitir os aspectos divino ou humano de sua pessoa. Esta posição, que encontrou oposição ferrenha em três quartos dos antigos centros da fé cristã, estabelecendo-se firmemente nas igrejas reunidas em torno das sés de Constantinopla e de Roma, veio a ser a base da teologia cristã ocidental, hoje hegemônica.
Jenkins observa que a batalha a respeito das naturezas de Jesus Cristo colocou em choque visões de mundo muito diferentes, surgidas de ênfases interpretativas diversas aplicadas a um mesmo substrato bíblico. Estavam em jogo noções acerca do significado do nascimento e da morte de Cristo, do papel de sua mãe, da bondade ou maldade relativa da materialidade e da visualidade, do papel do ser humano na redenção do mundo, e da atuação política das comunidades cristãs. O autor ressalta que, neste debate, punham-se de forma dramática os recorrentes – na verdade, estruturais – dilemas do conflito e da cooperação interdenominacional, dilemas que remontam, literalmente, à fundação do movimento cristão, e que o seu desenrolar revela muito acerca de como o cristianismo se desenvolveu ao longo do tempo, de como “a Igreja engendra sua própria mente humana”6. Ele pondera que, se, para o público moderno, “acostumado a séculos de diversidade e tolerância religiosa”, o investimento de criar e manter a todo custo um consenso teológico parece desnecessário para quaisquer indivíduos mentalmente saudáveis – pois “parece óbvio que, quando lados opostos estão completamente apartados, devem concordar com uma separação amigável” – para os diversos partidos cristãos da Antiguidade Tardia, contudo, “essa opção não estava disponível, e não porque os cristãos de então eram, em algum sentido moralmente inferiores em relação aos seus descendentes”. O caso é que o pensamento cristão – fosse católico, monofisita ou nestoriano – não podia então prescindir do conceito da Igreja como corpo unificado de Cristo concretizado em uma unidade institucional. “Se o corpo não era unido, então era deformado, mutilado e imperfeito, e esses termos, sem dúvida, não podiam ser aplicados ao corpo de Cristo”7. A necessidade psicológica, pastoral e – a partir do século IV – política de estabelecer uma unidade institucional marcada pela conformidade teológica diante uma grande diversidade de formas de se compreender, celebrar e viver a fé cristã, somada ao fato de que nenhum indivíduo ou grupo tinha real autoridade para impor sua versão do cristianismo aos demais de maneira simples e direta, de que os debates teológicos tornaram-se rapidamente questões de Estado para as autoridades romanas, e de que havia a convicção de que os conflitos deveriam ser solucionados por declarações gerais de todo o corpo eclesial na forma de concílios, fez abrir uma verdadeira Caixa de Pandora.
“Ao estudar os concílios eclesiásticos daquela era”, registra Jenkins, “certos temas vêm à mente, incluindo a caridade cristã, a contenção, a decência humana comum, a disposição de perdoar ofensas antigas, de dar a outra face. Nenhum deles se apresentou em qualquer um dos debates principais. Em vez disso, os concílios foram marcados por xingamentos e traições (tanto figurativas quanto literais), por conspirações implacáveis e intrigas secretas, e por ameaças generalizadas de intimidação”. Para este autor, de fato, os concílios, palcos de ardentes embates intelectuais, atravessados por rivalidades e redes de influência que ligavam as diferentes sedes eclesiásticas não apenas à sala do trono dos herdeiros dos Césares, mas também aos aposentos das imperatrizes e princesas, aos quartéis das legiões e aos covis das torcidas do grande hipódromo constantinopolitano, raramente se assemelhavam a reuniões de santos empenhados em definir a fé. O debate teológico era atravessado por questões que hoje consideraríamos como absolutamente extrínsecas ao campo religioso, mas se deve ter em mente que a forma específica assumida pela disputa política era, então, de ordem teológica. Daí o fato de todas as grandes controvérsias cristológicas terem implicado em sérias consequências políticas; tratava-se tanto de batalhas a respeito do futuro do Império, como um todo e em cada uma de suas partes, quanto de tentativas de estabelecer definições inequívocas da verdade eterna8.
Deve-se considerar, mais ainda que, enquanto os bispos debatiam questões teológicas em meio a ícones dourados e nuvens de incenso, as decisões tomadas nestas assembleias tinham um real impacto real nas vidas das pessoas comuns, convencidas como estas estavam de que o núcleo essencial da crença cristã estava em risco. Jenkins faz uma análise bastante sensível de como as sutilezas teológicas angustiavam as pessoas dos campos, vilas e cidades, até o ponto de elas se disporem a espancar, torturar ou assassinar seus vizinhos por uma palavra ou expressão proferida de maneira reconhecida como incorreta. Em primeiro lugar, o autor destaca que não faz sentido distinguir as motivações religiosas das não religiosas em tais explosões de violência popular. Isso seria violentar a sua especificidade histórica com um anacronismo inoportuno, atribuindo-lhe um fanatismo ou cinismo que só são possíveis a partir de uma situação em que se pode distinguir, de forma mais ou menos clara, uma esfera temporal de uma esfera espiritual; e tal distinção é um fenômeno relativamente recente e, em larga medida, restrita ao ocidente moderno. Em segundo, a maioria das pessoas da Antiguidade Tardia, ignorantes e letradas, parece ter acreditado firmemente em visões de mundo providencialistas, dentro das quais as práticas religiosas e as formulações teológicas possuem implicações sociais e cosmológicas – a dissidência e a heresia enraiveceriam a Deus, maculando a realidade, propiciando males como distúrbios civis, perda das colheitas, terremotos, invasões de bárbaros, golpes de estado, peste, infertilidade na família imperial, sinais nos céus, entre muitos outros.
Era o senso comum que “[…] A menos que os malfeitores ou crentes equivocados fossem suprimidos, a sociedade poderia perecer por completo”9. Em terceiro, a violência pôde ocorrer porque o Estado não tinha nem a vontade, nem a capacidade de reprimir o uso da força por grupos privados muito motivados; menos porque as instituições públicas estavam em situação de fraqueza extrema ou à beira de um colapso, e mais porque as autoridades constituídas decidiram favorecer e se aliar a alguns destes grupos contra outros, que consideravam danosos. Em quarto, entrava em jogo o fundamental conceito de honra, o grande “elemento subestimado do conflito religioso, e não só no cristianismo”; honra que clérigos, monges e simples fiéis transferiram de seus círculos familiares e das relações de clientelismo tão características das sociedades mediterrânicas para suas circunscrições e facções eclesiásticas, e que, em certas circunstâncias, precisava ser defendida pela força; honra que deveria ser protegida a todo custo de desafios reais e imaginários, além de reforçada pela consequente humilhação dos rivais. Para Jenkins, tudo isto precisa ser levado em consideração, pois, de fato, “[…] Quase não conseguimos compreender a malignidade espantosa que marcou a longa batalha entre as grandes Igrejas de Antioquia e Alexandria, a menos se entendermos que estamos lidando nesse caso com uma disputa sanguinária literal, que se estendeu por um século ou mais”10.
Findo o primeiro capítulo do livro, que é dos seus mais interessantes, começa a primeira parte do volume (Deus e César), onde Jenkins monta o cenário e apresenta os atores do drama que se dispôs a contar. No segundo capítulo (A guerra das duas naturezas), explora os elementos propriamente teológicos do grande conflito que precede e segue o Concílio de Calcedônia, apresentando as grandes correntes da interpretação cristológica da antiguidade cristã e demonstrando de que forma as ênfases da teologia antioquena e da teologia alexandrina tornaram-se cada vez mais divergentes. Também reconstitui como as lacunas existentes entre a alta especulação teológica e as compreensões populares do cristianismo não impediram que o debate se alastrasse pelos espaços públicos e assumisse em certos momentos a intensidade explosiva de um confronto civil, incendiado pela oratória sacra de clérigos carismáticos, pelas lealdades regionais dos contentores e por um sistema de classificação e atribuição de culpa por associação que se assemelhava a um autômato publicitário.
No terceiro capítulo (Quatro cavaleiros: os patriarcas da Igreja), descreve as trincheiras, alianças, traições, compromissos e ressentimentos que regiam as relações mútuas das mais altas instâncias de prestígio eclesiástico da antiguidade cristã – os patriarcados de Alexandria e Antioquia, de Constantinopla e de Roma (e também os ambiciosos, mas menos poderosos, bispados de Éfeso e de Jerusalém) – e como a disputa por prestígio e elementos que hoje consideraríamos ainda mais mundanos influíram, ou, melhor, foram partes constitutivas das batalhas para definir que era a ortodoxia e que era a heresia nos primeiros séculos do movimento cristão. Esses patriarcados foram governados por verdadeiras linhagens de prelados, unidos não por laços de parentesco, mas por relações de mestre e discípulo muito firmes, e eles eram ciosos daquilo que os tornava diversos de seus concorrentes eclesiásticos, “não apenas devido à sucessão apostólica, mas também à busca de autoridade real”11. Uma posição que nos parece particularmente curiosa é a do Patriarcado de Roma, pois, embora saibamos, em retrospecto, que ele seria o grande sobrevivente das guerras teológicas do primeiro milênio, a ponto de sua história – e as histórias dele derivadas – serem constituídos no teleos de toda a história do movimento cristão pela maior parte dos historiadores eclesiásticos, então, tratava-se ele de uma a natureza de Jesus, vulnerável por razões que eram a um só tempo políticas, culturais e linguísticas.
No quarto capítulo (Rainhas, generais e imperadores), expõe-se até que ponto, nos grandes debates teológicos da Antiguidade Tardia, as autoridades do império cristão, investidos de um poder que não era de forma alguma puramente secular, atuaram “como uma força no interior da Igreja, mais intensa do que a de um honesto inspetor tentando impor o jogo limpo entre as partes contentoras”12. No processo de constituição da ortodoxia cristã, intervieram não apenas o cálculo político de membros das famílias imperiais, mas suas devoções, expectativas, simpatias e ressentimentos particulares, sua abertura ou rejeição de determinado lobby eclesiástico, suas próprias ideias teológicas. Deste jogo, que não estava de forma alguma restrito às igrejas e à sala do trono, participava também um dinâmico e complexo, bizantino, universo formado pela corte, pela burocracia, pelos administradores regionais, pelos mosteiros constantinopolitanos, pelos generais e pelos senhores da guerra quase independentes que, nominalmente empenhados na defesa das fronteiras do império, naturalmente, mantinham uma agenda de interesses próprios. Aos olhos de um espectador moderno, causa algum escândalo o fato de, de forma tão ampla, as igrejas pensarem e atuarem como império e o império pensar e atuar como uma igreja, mas Jenkins recorda-nos que essas eram as regras que então eram normativas dos processos político-teológicos do ecúmeno cristão. Em função disto, da mesma forma que as intrigas cortesãs ajudaram a dar sua forma específica ao debate teológico, esse foi alçado ao nível de problema de interesse e de segurança pública. Uma nova, radical intolerância religiosa voltouse contra as minorias religiosas na medida em que penosamente se definia uma ortodoxia de Estado. Tratou-se de uma crucial mudança nas disputas dogmáticas, “em escalada rumo ao centro da questão, no sentido de que a força total do governo e da lei se voltaria contra o lado perdedor. A discussão teológica tornou-se um jogo de soma zero, com implicações de longo alcance no mundo material”13.
Na segunda parte do volume (Concílios do Caos), Jenkins narra o drama que é o cerne de seu livro, abrangendo aquele período do século V e do início do século VI no qual o conflito entre Alexandria e Antioquia chegou a um clímax especialmente violento e no qual as ideias teológicas longamente cultivadas nestas regiões cristãs assumiram formas tais que foram consideradas heréticas pelo eixo formado por Constantinopla e por Roma, ensejando uma fissura cataclísmica no seio do império romano cristão. No quinto capítulo (Não é a mãe de Deus?), trata-se da figura de Nestório, que ficou associada a episódios impressionantes da história cristã e que, ainda hoje, é lembrado por alguns fiéis como um arqui-herege e por outros como um brilhante pensador e um líder santo que sofreu uma injustiça da parte dos imperadores bizantinos. Jenkins busca apresentar uma imagem equilibrada deste personagem, reinserindo-o no contexto onde se desdobrou o drama passional de que fez parte, reiterando que, neste, ele “marcou presença como um líder ora maior e ora menor do que a lenda proclama”14. Além de Nestório, traça-se um perfil de dois de seus principais opositores – a princesa Pulquéria e o patriarca Cirilo de Alexandria – e investiga-se a importância e o funcionamento das redes de influência alexandrina e antioquena na capital imperial, dos ressentimentos eclesiásticos, das facções monásticas e da devoção popular à Virgem Maria, incidental, mas crucialmente engolfada no debate sobre a natureza de seu filho.
Findo o drama de Nestório, o capítulo sexto (A morte de Deus) trata da tragédia de Flaviano de Constantinopla, ferido de morte no Segundo Concílio de Éfeso (449), que foi um dos cumes da influência do Patriarcado de Alexandria, rejeitado pela Igreja de Roma e, posteriormente, pela de Constantinopla, como um Sínodo dos Ladrões, um Concílio que Nunca Houve, ou, mais popularmente, como o Latrocínio de Éfeso. No sinuoso caminho para esta controversa assembleia, encontram-se a ruína do limes imperial diante do assédio germânico e persa; o desaparecimento formal do Império Romano do Ocidente; a ameaça dos hunos; as ideias teológicas e os dotes de orador do monge Eutiques de Constantinopla; a influência de seu apadrinhado, o eunuco Crisáfio, que veio a se tornar uma figura importante na corte bizantina; as formulações dos teólogos de Alexandria, Antioquia e Edessa; a violenta ofensiva dos partidários da Natureza Única de Jesus Cristo contra aqueles que defendiam que Ele subsistia em Duas Naturezas; e o intolerante e intolerável zelo de Dióscoro de Alexandria. A definição de ortodoxia cristã então respaldada pela autoridade imperial, encabeçada por Teodósio II, inclinou-se para uma fórmula mais favorável à teologia egípcia; enquanto Roma, sujeita às falhas estruturais que marcavam já de mais de um século os elos de comunicação subsistentes entre os cristãos de língua grega e os de língua latina, colocava-se ainda mais à margem da principal disputa teológica do momento ao condenar abertamente as ideias de Eutiques e assumir os altos riscos de afirmar que Jesus Cristo era a um só tempo Um e Dois, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Retrospectivamente, sabemos que esta viria a ser a definição cristológica majoritária no cristianismo europeu, latino e bizantino, mas, então, tal possibilidade sequer parecia se assomar no horizonte de expectativas.
O seguimento do Segundo Concílio de Éfeso foi marcado por uma ofensiva ainda maior dos partidários da Natureza Única contra seus rivais, na Síria, na Palestina e em Edessa; por uma série de intervenções imperiais nos bispados do Mediterrâneo oriental; pela fuga de teólogos de formação antioquena rumo aos domínios do Xá da Pérsia, para além do braço daquilo que consideravam um governo herético; pela emergência de um furor inquisitorial e de um espírito de caça às bruxas, no escopo do qual todos os defeitos morais imagináveis, incluindo o conluio consciente com o Diabo, passaram a ser atribuídos aos que se considerava hereges, aos seus alunos, discípulos ou mesmo simpatizantes. Para um analista que vivesse este momento histórico, não era absurdo imaginar Roma como o último refúgio de uma minoria herética em um mundo cristão em que os monofisitas se tornaram a maioria e a ortodoxia cristã. Nesta conjuntura, o centro de poder no interior da Igreja teria se deslocado em definitivo para Alexandria, e pouco poderia ser feito para deter o estabelecimento de uma hierarquia fiel à Natureza Única nas refratárias regiões da Itália ou da Síria enquanto o imperador comandasse o território e esta facção predominasse em sua corte15.
Então, contudo, interveio o acaso, o hálito do inferno ou a providência divina: em 28 de julho de 450, Teodósio II morreu em consequência de uma queda de cavalo e, com isso, o cenário político-teológico se modificou bruscamente. No sétimo capítulo (Calcedônia), Jenkins relata como esta mudança aturdiu o mundo cristão e possibilitou que a formulação do verdadeiro Deus e verdadeiro homem suplantasse a da Natureza Única e se tornasse de modo duradouro – e, no último meio milênio de nossa história, decisivamente hegemônico – a definição cristológica formal daquilo que se reconhece a ortodoxia cristã institucionalizada. A pressão dos hunos sobre as fronteiras imperiais faz parecer incrível que, ao invés de organizar algum tipo de iniciativa militar mais consistente, o imperador Marciano, sucessor de Teodósio II, estivesse disposto a dedicar tanto tempo a uma tal reorientação da política religiosa bizantina, “mas, de fato, essa era sua prioridade”. Prioridade em parte prática, já que cidades indóceis e tumultuosas em função de querelas teológicas generalizadas “eram muito mais difíceis de defender e impossíveis de se mobilizar em termos de homens e impostos”; mas que se devia mais à “sensação de que o império só sobreviveria com a ajuda divina, por ser o reino cristão ortodoxo, e que as recentes derrotas e desastres demonstraram, fora de qualquer dúvida, que a relação divina estava sob grave estresse” e que “[…] Somente a restauração da ortodoxia poderia salvar o mundo cristão”16. Foi por essa porta estreita que a corte imperial voltou-se para as concepções cristológicas da Sé Romana, condensadas no Tomo de Leão I, e do falecido patriarca Flaviano, cujos restos mortais, antes execrados como se os de um herege, foram levados para Constantinopla e sepultados com honras de mártir – isso ao mesmo tempo em que Crisáfio encontrou uma morte violenta e Eutiques seguiu Nestório no exílio. Embora não houvesse espaço para dúvidas quanto à nova coloração religiosa da ortodoxia, a lógica e o costume demandava uma declaração oficial de crença atestada por um novo concílio. Este, inicialmente convocado para Niceia, local prenhe de simbolismo por ter sediado o primeiro dos concílios ecumênicos, foi deslocado para Calcedônia, próxima aos subúrbios de Constantinopla, devido ao temor de um ataque bárbaro ou da irrupção de hordas de monges contrários à política religiosa de Marciano – eventos que possivelmente teriam um desenrolar igualmente violento.
O Concílio teve como seus objetivos revogar as decisões do Segundo Concílio de Éfeso, revertendo seus efeitos na política eclesiástica, e rejeitar de modo decisivo as versões menos transigentes da doutrina da Natureza Única (pregada por Eutiques) e das Duas Naturezas (atribuída a Nestório). Dióscoro de Alexandria foi considerado o grande culpado pelas violências intestinas que atingiram as igrejas do Mediterrâneo oriental na década anterior, e a grande Sé egípcia foi decisivamente desprestigiada. Alguns de seus seguidores conseguiram se adequar no devido tempo à nova ordem – como o bispo Juvenal de Jerusalém que, depois de vinte anos conspirando com os alexandrinos, decidiu que não mais mantinha a teologia que havia reconhecido antes como ortodoxa e conseguiu manter o estatuto patriarcal de sua Sé. O concílio também elevou o status e os privilégios de Constantinopla, que, por ser a capital subsistente do Império Romano, foi alçada à paridade com a velha – e então materialmente arruinada – Roma. A Sé constantinopolitana foi declarada como o segundo dos patriarcados em autoridade – de jurisdição superior às igrejas mais antigas de Alexandria e Antioquia –, tribunal de recurso dos sínodos provinciais do Oriente e superiora imediata das metrópoles eclesiásticas do Ponto, da Ásia, da Trácia e daquelas dioceses que estavam entre os bárbaros – expressão ambígua, mas que anunciava glórias vindouras naquele momento em que havia um notável incremento do esforço missionário na Europa oriental e na Ásia ocidental.
Evidentemente, o Patriarcado de Roma não se dispôs a aceitar de bom grado esta diminuição relativa de sua autoridade, e uma nova linha de trincheiras, vertical, não mais horizontal, começou a ser escavada no centro do Mediterrâneo cristão.
Depois de Calcedônia, Marciano foi saudado como sendo o segundo Constantino, mas, naquele momento, a assembleia não pareceu o fim, mas um estágio de um processo. A corte imperial ainda estava dividida em suas lealdades e regiões cruciais do império estavam firmemente comprometidas com opiniões consideradas heréticas pelos padres conciliares reunidos em Calcedônia.
Protestos furiosos e verdadeiras insurreições se alastraram por todo o crescente de territórios que vai do Alto Egito à Mesopotâmia, passando por Jerusalém e pelo sul da Anatólia. Os crentes da Natureza Única ficaram muito decepcionados, pois pouquíssimo tempo antes da reunião convocada por Marciano, “tiveram todos os motivos para acreditar que dominavam absolutamente a Igreja e o império”17.
Muitos consideravam o Concílio de Calcedônia tão repugnante quanto os romanos e bizantinos passaram a considerar o Segundo Concílio de Éfeso, e no Egito e em boa parte do Oriente Próximo os termos calcedônico e nestoriano começaram a ser utilizados como sinônimos. Jenkins observa que “[…] O grau de reação pode parecer estranho quando consideramos o quão expressivamente o concílio se inspirou no pensamento de Cirilo, mas aquele era um mundo mental em que mesmo a menor concessão ao erro em questões tão essenciais era uma traição contra a substância total da verdade cristã” 18. Nesta senda, Alexandria mergulhou na desordem política e religiosa, e a história de seu patriarcado foi durante uma centena de anos uma conturbada história de deposições e insurgências, exílios e restaurações. Os habitantes de mosteiros e eremitérios comprometidos com a posição teológica da Natureza Única constituíram-se em centros de formidável resistência à autoridade bizantina, seus carismáticos pregadores, aos quais se atribuíam costumeiramente dons taumatúrgicos, encabeçando verdadeiros levantes populares contra os representantes do governo constantinopolitano. O prolongado desgaste associado a este atrito haveria de cobrar seu preço em não muito tempo.
Na terceira parte do volume (Um mundo a perder), Jenkins faz um balanço do impacto global do Concílio de Calcedônia na história do movimento cristão.
No oitavo capítulo (Como a Igreja perdeu metade do mundo), ele narra como a condução da crise teológica catalisada por Calcedônia teve um encaminhamento dramático. Dois séculos depois do fim deste Concílio as facções beligerantes de de Constantinopla buscavam de forma cada vez mais desesperada algum tipo de entendimento que reconciliasse os partidários de Calcedônia com os diversos matizes de defensores da Natureza Única e das Duas Naturezas. Na década de 630, essa necessidade era tão premente que ensejou de forma serena a violência imperial contra o Patriarcado de Roma, que não se dispunha a aceitar de maneira dócil a definição, então apoiada por Constantinopla, de que importava em Jesus Cristo menos o fato de ele possuir uma natureza ou duas do que o de Ele atuar com uma vontade única19. De meados do século V ao final do século VII, houve períodos em que a ortodoxia calcedônia reinou na corte bizantina, períodos em que os regimes toleravam os partidários da Natureza Única, e períodos em que os imperadores simpatizavam com eles e buscavam uma conciliação de maneira ativa. Mesmo depois do credo calcedônico alcançar uma vitória política formal, as mesmas questões voltavam à pauta, irrompendo em novas formas. Os cismas entre jurisdições eclesiásticas importantes tornaram-se corriqueiros, mesmo entre Roma e Constantinopla, e partes rivais chegaram a estabelecer igrejas paralelas alternativas nas mesmas regiões. As deposições e os expurgos foram incorporados à vida eclesiástica corrente, enquanto tumultos dividiam cidades e províncias por divergências teológicas20.
Ainda que as autoridades imperiais nunca admitissem a divergência formal da ortodoxia que sustentavam, no começo do século VI, o mundo cristão estava, de fato, cindido em diversas igrejas transnacionais, cada uma com suas reivindicações de verdade absoluta e, progressivamente, mais e mais afastadas em suas formas de espiritualidade, disciplina eclesiástica, teologia e liturgia. O exemplo do estabelecimento de hierarquias pró-bizantinas (melquitas) no Delta do Nilo e no Oriente Próximo, estrutura que gradativamente constituiu uma espécie de enxerto de experiências eclesiais similares àquelas diretamente dependentes de Constantinopla nessas regiões mais antigas do cristianismo, promovendo uma releitura do patrimônio religioso da antiguidade cristã à luz da ortodoxia calcedônica, é o mais conhecido no ocidente, mas não o único. Uma importante facção da Igreja do Oriente manteve sua lealdade a Nestório e a partir primeiro de Edessa, uma região fronteiriça entre os domínios romanos e os persas, e depois de Nisibis, já em território governado pelo Xá, promoveu a expansão da teologia das Duas Naturezas desde as franjas orientais do território bizantino até o sul da Península Arábica, a Ásia Central, o Tibete, a China, a Índia e o Sri Lanka. Por sua vez os partidários da Natureza Única, associados de modo indelével à experiência do cristianismo egípcio, afirmaram-se como a ortodoxia cristã na Etiópia e na Núbia e estabeleceram uma presença permanente na Palestina, na Síria, em Edessa, na Mesopotâmia e na Índia, mantendo simultaneamente focos de atividades na Anatólia e na própria Constantinopla. No Egito, a rejeição de um patriarca de Alexandria nomeado pelo imperador bizantino em 516, e a crescente identificação deste governante, supostamente herético, com as forças infernais equivaleu a uma declaração aberta de independência da Igreja local.
De acordo com Jenkins, grosso modo, o credo calcedônico sobreviveu porque desenvolveu raízes profundas em centros fundamentais e organizados do cristianismo que ascenderam em prestígio e poder político ativo na segunda metade do primeiro milênio de nossa era: a Ásia Menor e os Balcãs, territórios cada vez mais centrais do Império Romano do Oriente, e em Constantinopla, sua capital. Roma permaneceu como um sólido bastião de apoio, mas manteve-se à margem das principais ondas de confronto teológico que abalavam e cindiam o mundo cristão, a não ser naqueles períodos, relativamente curtos, nos quais esteve diretamente sob o domínio político do imperador de Constantinopla. A manutenção da ortodoxia calcedônica, entretanto, fez-se ao custo de um prolongado e profundo desgaste do domínio sobre as áreas mais orientais do império. As divisões religiosas em grande escala, concentradas em áreas fronteiriças especialmente importantes do ponto de vista da geoestratégia e da sua produção de recursos materiais e humanos, abriram enormes fissuras no tecido imperial romano. Por primeiro, vieram os persas, que então baseavam suas reivindicações de expansão na fé zoroastrista, religião oficial do império dos Xás. Seu avanço significou o brusco direcionamento da Palestina e da Síria para o oriente, o virtual colapso de largas áreas da economia bizantina, o despovoamento de cidades e campos e o decisivo afastamento de muitas igrejas desta área da cristologia calcedônica – afinal, supunha-se que Deus não permitiria que tal derrota fosse infringida a um governo que estivesse praticando sua religião da forma correta. Em seguida, vieram os árabes muçulmanos. Enquanto o Egito e o oriente bizantino se afundavam em feudos religiosos, e o conflito com os persas chegava a um fim de jogo caracterizado pela exaustão mútua, novas forças religiosas se agitavam na Península Arábica. A história da ascensão do Islã é bem conhecida, mas, de fato, é difícil de compreender se não se leva em conta o estado das divisões cristãs posteriores ao Concílio de Calcedônia. Não por acaso, o colapso das posições bizantinas diante do avanço islâmico deu-se por primeiro naquelas regiões onde o sentimento popular se inclinava mais fortemente em direção das igrejas monofisita e nestoriana. Autores destas tradições chegaram a saudar os conquistadores árabes como libertadores da opressão causada por um regime herético e, ao menos nas primeiras décadas, de domínio islâmico, eles não viram maiores razões para mudarem de opinião; de fato, os muçulmanos pouco se importavam com as divisões dos cristãos, desde que todos eles respeitassem sua autoridade, pagassem seus impostos no prazo e, de um modo geral, estivessem dispostos a colaborar com os governantes adventícios.
No entanto, observa Jenkins, o livramento dos calcedônicos veio a um preço exorbitante. Por séculos, os cristãos monofisitas e nestorianos sobreviveram e até prosperaram nas sociedades dominadas por muçulmanos, mas, protegida pela autoridade constituída de uma civilização florescente, a parcela da população que professava a fé de Maomé cresceu mais e mais. Naquelas terras nas quais o cristianismo havia se estabelecido por primeiro, as comunidades cristãs gradativamente se tornaram minorias cada vez menores, sujeitas a leis mais duras, a medidas discriminatórias e, eventualmente, a campanhas de conversão forçada. “A Alexandria cristã virou progressivamente a Alexandria muçulmana, até que o Cairo, completamente muçulmano, se apropriou da maior parte de sua glória e riqueza”21. A partir do século XIII, uma série de desastres políticos e militares combinados com mudanças econômicas e climáticas decisivas criaram um ambiente intolerável para as minorias, algumas das quais foram totalmente eliminadas. De acordo com Jenkins, portanto, foi basicamente por falta de outra opção que o futuro do cristianismo esteve, primeiro, naquelas regiões minguantes ainda sujeitas ao Império Romano, que não tinham mais necessidade de conciliar as opiniões do Egito ou da Síria, e, depois, naquelas partes da Europa ocidental que nunca desafiaram o credo calcedônico22.
O nono e último capítulo do volume (O que foi salvo), é de morfologia e, pareceme, de intenção bastante diversa dos demais. Jenkins assinala sua crença de que “o processo de estabelecer a ortodoxia [cristã] envolveu muito mais do que podemos chamar de acidente político”; lembra que “[…] A experiência cristã inclui uma grande variedade de tendências diferentes, interpretações diferentes, e a maioria acha ao menos alguma justificativa nas Escrituras Sagradas ou na tradição”; e destaca que, afinal, “não é evidente por que uma corrente triunfou sobre a outra”23.
Daí a conveniência dos cristãos serem tolerantes “a respeito da diversidade das expressões não essenciais da fé”: “[…] Visto historicamente, sabemos que outras versões poderiam ter tido sucesso, e podem conseguir isso em tempos vindouros”24.
Após esta asserção, o autor passa a considerar alguns exemplos que mostram que, depois das batalhas de Éfeso e Calcedônia, seus temas continuaram a agitar cristãos de diferentes latitudes, que sabiam pouco ou nada a respeito desses acontecimentos originais. Para ele, é algo típico da história cristã que ideias e crenças continuem a ressurgir muito tempo depois que supostamente foram derrotadas ou exterminadas – seja porque sobreviveram enquanto tradições subterrâneas, clandestinas e contra hegemônicas; porque foram redescobertas mediante a pesquisa erudita e a leitura de textos antigos; ou porque constituem respostas mais ou menos necessárias a certas variáveis encadeadas pela combinação de determinadas ênfases ao se ler a Bíblia com uma constelação particular de estímulos e de sentimentos religiosos vinculados ao cristianismo.
Mais do que apenas constatar que “[…] A história da crença cristã é a história de ressurreições sem fim” de uma série vasta, mas não infinita, de temas e dramas teológicos, Jenkins conclui seu volume argumentando que as ideias alternativas que foram vencidas eram e são partes tão estruturais da fé tanto quanto a ortodoxia ainda subsistente, de modo que sempre precisam ser envolvidas, compreendidas e confrontadas pelos cristãos. “Num mundo ideal, livre das disputas de poder da Antiguidade”, destaca o autor, “esse diálogo pode em si ser uma coisa positiva, uma maneira pela qual o pensamento cristão desenvolve sua própria compreensão.
Uma religião que não está constantemente gerando alternativas e heresias parou de pensar e alcançou apenas a paz dos cemitérios”25.
Tal leitura humanista das guerras santas da Antiguidade Tardia, que é um corretivo necessário ao novo triunfalismo cristão que tem assumido, entre nós, a perigosa faceta de um movimento intolerante e potencialmente violento, é apenas um dos méritos do livro de Jenkins. Gostaria de apontar mais três deles.
O primeiro é sua escrita ao mesmo tempo fluida e segura, que torna acessível a qualquer leitor culto um tema tão complexo, normalmente reservado de um modo hermético apenas aos mais intrépidos teólogos e especialistas em história da religião. Por infeliz acaso, o encanto do texto é prejudicado na edição brasileira por uma tradução de qualidade muito desigual e por uma revisão especialmente mal realizada. São numerosos os anglicismos, os erros de pontuação e de concordância e até as confusões nominais, que tornam o entendimento do escrito muito mais difícil do que aquilo que o tema naturalmente já exige. Tais falhas se acumulam página a página – em certa parte, Tertuliano é confundido com Mani; em outra, Pôncio Pilatos é promovido de governador a imperador; e assim por diante –, causando sobressaltos e sinuosidades inexistentes na publicação original e bastante prejudiciais ao leitor. O simples concurso de um especialista no tema poderia ter melhorado muitíssimo a publicação e espera-se que, em uma possível segunda edição do volume, ao menos os erros mais gritantes sejam suprimidos. (Por exemplo, aquele, risível, que se verifica na p. 141, onde o esquema da árvore genealógica da dinastia de Teodósio é substituído pela observação “Entra figura da árvore”). Não obstante este sério problema, o estilo de Jenkins, que denuncia, sob seu professo cristianismo tolerante e conciliador, escandalizado com a violência das disputas religiosas do primeiro milênio, o impacto da verve irônica de Edward Gibbon, é por si só um atrativo do volume. Outro mérito é o fato de o pantanoso e espinhento terreno dos debates cristológicos ser destrinchado com a ajuda de imagens extraídas da atualidade, da cultura contemporânea, analogias que, sem cair em anacronismo simplista, ajudam o leitor a estabelecer parâmetros de comparação e a desnaturalizar as concepções mais difusas da história cristã. A paleta de referências mobilizadas nesta tarefa é notável: a Família Soprano, o Gangues de Nova Iorque de Scorcese, as batalhas de hooligans, o ativismo xiita, Osama bin Laden, as convenções anuais do Partido Republicano, o macarthismo e os esquetes de Monty Python são todos referidos para que o leitor seja introduzido no debate acerca de como os conflitos que precederam, marcaram e seguiram as assembleias eclesiásticas de Éfeso e Calcedônia reinventaram o cristianismo, de como “um mundo [foi] moldado pelo resultado daquelas lutas quase esquecidas do século V, que aconteceram num mundo de impérios e Estados que acabaram todos na ruína”26.
O terceiro e talvez maior dos méritos do livro de Jenkins, especialmente no mercado editorial brasileiro, é o fato de ele basear seu trabalho não apenas nos textos tradicionalmente utilizados pelos historiadores ocidentais do cristianismo, mas investir na consideração das fontes que consideram a própria versão do cristianismo que veio a se tornar a hegemônica no mundo ocidental como herética. O autor não se guiou apenas pelos manuais, nem mesmo pela bibliografia específica, mas foi ler e apresentar aquilo que foi registrado nas eventualmente confusas atas conciliares e nos historiadores eclesiásticos dissidentes bizantinos, siríacos e coptas; ao lado dos conhecidos volumes de Sozômeno, Evágrio. Sócrates e Procópio de Cesareia, Jenkins arrola a crônica do Pseudo-Dioniso de Tell-Mahre, a História dos Patriarcas de Alexandria, as hagiografias de Pedro Ibérico e de Severo de Antioquia, a crônica de João, bispo de Nikiu, as cartas de Filoxeno de Mabbôgh, entre outros escritos.
Ele faz especial referência ao Bazar de Heráclides, longa e interessante memória escrita pelo deposto e condenado Nestório durante seu exílio, que teve uma edição siríaca redescoberta por estudiosos europeus em um mosteiro no Curdistão no começo do século XX. Para o desconhecimento destas fontes, cujas consequências são a aceitação de certas valorações teológicas (como ortodoxo) como se simples descrições históricas e a acentuação da parcialidade que sua exclusão implica, contribuem – é bom que se tenha claro – não apenas dificuldades de ordem linguística ou o fragilíssimo estado da pesquisa em língua portuguesa neste campo de investigação, mas também preconceitos residuais de ordem especificamente religiosa. Utilizando um leque mais amplo de versões acerca dos acontecimentos eclesiásticos do século V e de seus desdobramentos, Jenkins consegue devolvê-los à sua historicidade particular e desnaturalizar as narrativas oficiais mais difundidas no ocidente sobre a história do cristianismo. Graças a este redirecionamento, todo um novo campo se abre à investigação histórica e teológica sobre a constituição da ortodoxia cristã conforme agora nós a conhecemos.
Notas
2 JENKINS, Philip. A próxima cristandade: a chegada do cristianismo global. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 44.
3 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 48.
4 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 43-44.
5 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 27-28.
6 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 45.
7 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 46.
10 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 55.
11 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 109.
12 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 128.
13 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 149.
14 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 159.
15 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 223.
16 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 226.
17 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 244.
18 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 244.
19 Rejeitada não apenas por Roma, mas também pelos egípcios e pelos sírios – as partes contentoras que pretendia contemplar – e abandonada posteriormente pela Igreja Bizantina, esta fórmula de fé continua a subsistir como a cristologia oficial da Igreja Apostólica Armênia. Cf. DALE, Irvin T. & SUNQUIST, Scott W. História do movimento cristão mundial – Vol . 1: do cristianismo primitivo a 1453. Tradução de José Raimundo Vidigal. São Paulo: Paulus, 2004, p. 262-263.
20 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 259 21 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 295.
22 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 295.
23 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 297-298.
24 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 298.
25 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 308.
26 JENKINS, A próxima cristandade…, p. 60.
Alfredo Bronzato da Costa Cruz – Mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bacharel e Licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E-Mail: bccruz.alfredo@ gmail.com.
[MLPDB]Isabel de Palencia. Diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República – EIROA SAN FRANCISCO (C-HHT)
EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. Isabel de Palencia. Diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República. Málaga: Atenea. Estudios sobre la Mujer – Universidad de Málaga, 2014, 310 pp. Resenha de: SECO, Mónica Moreno. Clío – History and History Teaching, Zaragoza, n.40, 2014.
La biografía que nos ofrece Matilde Eiroa permite seguir profundizando en el siempre interesante mundo de las “modernas” de Madrid, cosmopolitas y cultas, que en los años veinte y treinta, en palabras de Mary Nash, “ocu paron las tribunas públicas, mostraron la capacidad y creatividad femenina en la construcción de la ciudadanía y asumieron el liderazgo político” 1. Esta obra completa la detallada investigación de Olga Paz Torres2, otros trabajos sobre aspectos parciales del multifacético itinerario vital de Isabel Oyarzábal y sus propias me – morias, ya traducidas3. Una de las apor taciones fundamentales del libro que nos ocupa es el amplio uso de fuentes, en ocasiones no muy utilizadas hasta ahora, dispersas en diversos archivos, como el del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Ateneo de Madrid. Eiroa también rescata algunas publicaciones poco conocidas de Oyarzábal y maneja las abundantes colaboraciones en prensa nacional y británica de esta intelectual que fue pionera en muy diversos terrenos, co – mo conferenciante con una notable proyección internacional, inspectora de Trabajo, representante española en la OIT y la Sociedad de Naciones, y embajadora.
La trayectoria fragmentada y polifacética de Isabel Oyarzábal, atravesada de múltiples actividades e intereses, plantea un reto para la narración historiográfica, que se solventa con acierto en el libro al profundizar la autora en cada uno de estos aspectos, conjugándolos de manera apropiada con las etapas más destacadas de su vida. Sin descuidar ninguna de estas facetas, Eiroa no se centra en los aspectos ya más conocidos, como su participación en las principales organizaciones feministas del momento, su experiencia durante la República o el largo exilio en México hasta su fallecimiento en 1974, donde continuó con sus actividades periodísticas, políticas y asociativas.
Por el contrario, en esta biografía se presta especial atención a dimensiones menos tratados en obras anteriores, como el interés regeneracionista de Oyarzábal por el folklore, que di – fundió más allá de nuestras fronteras, o sus numerosos escritos de ficción y ensayo en los que se aprecia su evolución ideológica, desde posiciones conservadoras y convencionales a la militancia en el feminismo, el socialismo y en la defensa de la República, en consonancia con un creciente interés social, que reflejó en su novela En mi hambre mando yo.
Cabe reseñar, en el mismo sentido, el interés que la autora presta a la la – bor diplomática de Isabel Oyarzábal como embajadora en Suecia durante la Guerra Civil, donde compartió con Alexandra Kollontai dificultades en un mundo masculino y donde tuvo que lidiar con graves problemas por la falta de medios, la acción de elementos profranquistas y el apoyo del gobierno sueco a la No Intervención, pero donde también participó de las numerosas iniciativas que la población civil de los países nórdicos emprendió en solidaridad con la República.
Como subraya Eiroa, más que apor taciones intelectuales o políticas novedosas, la tarea más destacada de Oyarzábal fue su gran capacidad de difusión de valores progresistas y fe – ministas dentro y fuera del país. Co – nocida por sus dotes como oradora, subió a la tribuna en incontables ocasiones a lo largo y ancho del territorio nacional e impartió numerosas conferencias en el extranjero, que le llevaron a ser elegida por el gobierno para una gira propagandística por EEUU y Canadá en octubre de 1936, convirtiéndose ante la opinión pública norteamericana en referente de la República en guerra. Como periodista, publicó en periódicos de tirada na – cional muy influyentes como El Sol o en revistas feministas como Mundo Femenino, y fue corresponsal de diversos medios internacionales.
Isabel Oyarzábal compartió espacios, debates e inquietudes con mu – chas de las políticas e intelectuales más conocidas de la época, como vicepresidenta del Lyceum Club o presidenta del Consejo Feminista de España. Su bilingüismo y su compromiso social y feminista le acercan a las trayectorias de Margarita Nelken, Lidia Falcón o Constancia de la Mora, con quienes coincidió en asociaciones como la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Como muchas de ellas, participó en debates en el seno de foros internacionales feministas y pacifistas, estableciendo lazos con mu – jeres y hombres progresistas de otros lugares, no solo de Europa sino también de América.
La autora, lejos de la hagiografía, valora con rigor académico la figura que estudia, recalcando sus contradicciones y límites, como el uso de su apellido de casada en su época de mi – litante socialista y feminista. De he – cho, a lo largo de la biografía se recurre a los tres nombres que esta intelectual utilizó: el seudónimo periodístico Beatriz Galindo, Isabel de Pa – len cia, denominación por la cual era conocida en los años veinte y treinta, e Isabel Oyarzábal, su nombre real.
La misma honradez historiográfica se aprecia cuando se señalan aspectos que no se han podido desarrollar, por falta de fondos documentales en los que sustentarlos, como sus relaciones con personajes de la política y el fe – minismo del momento, su participación en el PSOE o su opinión ante las decisiones del gobierno republicano y la marcha de la guerra.
En suma, nos encontramos ante un sólido trabajo que se inserta en la ya abundante bibliografía sobre el te – ma, que Eiroa maneja con soltura, para presentar la biografía de una destacada intelectual que, como tantas otras, en el primer tercio del siglo pa – sado creyó posible que la cultura, la tolerancia y la justicia podían mejorar la vida de mujeres y hombres en España.
Nota
1. NASH, Mary, “Introducción” a NASH, Mary (coord.), Ciudadanas y protagonistas históricas. Mujeres republicanas en la II Re – pública y la Guerra Civil, Madrid, Con – greso de los Diputados, 2009, p. 16.
2. PAZ TORRES, Olga Paz Torres, Isabel Oyar – zábal Smith (1878-1974), una intelectual en la Segunda República española. Del reto del discurso a los surcos del exilio, Sevilla, Consejo Económico y Social de Andalu – cía, 2010.
3. OYARZÁBAL SMITH, Isabel, He de tener libertad, Madrid, Horas y Horas, 2010 y Res – coldos de libertad, Málaga, Alfama, 2008.
Mónica Moreno Seco – Universidad de Alicante
[IF]
A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola / Rafael H. Quinsani
Uma das grandes marcas do Século XX é a sua relação com a guerra. Não há como o historiador entender o Século XX –independentemente de sua posição social ou geográfica no mundo –se fechar os olhos para esse fenômeno sempre revestido de violência e de crueldade, pois a guerra é capaz de despertar o lado mais sombrio do ser humano. O maior historiador do (e sobre o) Século XX, Eric Hobsbawm, assim sinaliza a importância da guerra para esse século:
Não há como compreender o Breve Século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe devem começar com a da guerra mundial de 31 anos [1].
Além da guerra, o Século XX é também o século por excelência do Cinema. É nesse século que ele se desenvolve tanto em suas técnicas quanto em suas temáticas. Inclusive, é nesse século que é utilizado também como elemento de propaganda, tanto de regimes políticos quanto de modos de vida.
O encontro entre a Guerra e o Cinema no Século XX, então, era só uma questão de tempo:
Assim, a guerra frequentou o cinema intensamente, desde suas origens, ora sob a forma de cinejornal –poucas vezes diferenciado da propaganda política de cunho nacionalista –ora como ficção, celebrando o heroísmo nacional e a tragédia grandiosa da guerra. Algumas vezes, o cinema assumiu, de modo claro, um papel fortemente pacifista, de combate e denúncia contra a guerra, pensada enquanto irrazão [2].
Quando Hobsbawm se reporta a uma guerra mundial de 31 anos, ele quer evidenciar que há um processo de continuidade entre 1914 e 1945. Imediatamente, podemos pensar que ele se refere à Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Mas podemos depreender que ele possa estar, também, se referindo a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) dentro desse processo de continuidade. Afinal, não são poucos os historiadores que percebem o conflito da Espanha como um prelúdio da Segunda Guerra Mundial.
Um historiador que assim percebeu a Guerra Civil Espanhola, ressaltando seu caráter de “microcosmo global, pois sintetizava o radicalismo e a polarização de uma era” é Rafael Hansen Quinsani, emseu livro A Revolução em Película. [3] Logo na introdução, é realizada uma síntese eficiente do conflito entre republicanos e nacionalistas, capaz de permitir que mesmo o leitor não especialista na temática tenha uma boa noção do que representavam os dois projetos em disputa na Guerra Civil.
O autor examina, com uma riqueza de detalhes ímpar, a partir de seu método de análise histórico-cinematográficotrês filmes realizados na década de 1990: duas produções espanholas (!Ay, Carmela!, de Carlos Saura e Libertárias, de Vicente Aranda) e uma produção britânica (Terra e Liberdade, de Ken Loach). Muito mais que um historiador que comenta filmes, Quinsani, a partir de sua metodologia de trabalho, obtém uma nova forma de escrita da História, realizada a partir de três eixos articulados entre si: o cinema nahistória, a história nocinema e a história docinema. Para tanto, o autor examina alguns vestígios:
A anotação dos diálogos permitiu a análise do conteúdo histórico de cada fala e de cada personagem. Os diálogos mais irônicos de Libertárias e! Ay, Carmela! ocorrem pela formação dos cineastas espanhóis e pela maior incidência do caráter tragicômico na cultura espanhola como um todo. A anotação dos ângulos de câmera, os planos utilizados, os movimentos empregados e os recursos fotográficos presentes, permitiram o uso do plano geral para enquadrar ambientes naturais e coletividades humanas, como manifestações, reuniões e desfiles presentes nos três filmes. A alternância de planos médios e planos americanos é o que mais ocorre nos filmes. O uso do primeiro plano, o close-up, é empregado para destacar algum objeto (a carteira do Partido Comunista rasgada por David) ou alguma expressão facial (os olhos de Durruti). […] Libertárias, dentre os três, é o que mais apresenta movimentos de câmera, travellingse panorâmicas, ressaltando o caráter dinâmico da narrativa. !Ay, Carmela! também utiliza bastante movimento de câmera, mas concentrado em espaços fechados. Esta é a película que utiliza mais recursos de iluminação direcionados na composição dos personagens. O uso do claro-escuro é empregado em diversos momentos e diferencia-se do tom mais cru utilizado nos outros dois filmes. O emprego do som é utilizado de forma sincrônica à linguagem visual, sendo que algumas vezes ocorre uma transposição para o emprego ilustrativo. Somente Terra e Liberdadeutiliza narração em off, do próprio protagonista, destacando duas instâncias temporais e operando sobre o espectador uma dupla imersão: no passado representado, e no presente em que assiste a esta representação [4].
Assim como duas são também as críticas a serem realizadas perante todo e qualquer vestígio do passado: a crítica interna, capaz de avaliar o significado da fonte histórica; e a crítica externa, na qual se busca a melhor orientação acerca das condições de produção da fonte que “necessariamente está divulgando uma ‘mensagem’, uma interpretação da realidade, uma visão de mundo que pertence ao seu autor. Este é, por sua vez, o resultado de múltiplas e incontáveis relações sociais que remetem para a sociedade onde foi realizada a produção cinematográfica” [5].
Assim, é importante lembrarmos, que os três filmes são realizados na década de 1990, um período no qual a democracia voltou à Espanha após mais de 35 anos de ditadura franquista. [6] Em 1978, três anos após a morte de Francisco Franco, foi estabelecida a Monarquia Parlamentar. Quatro anos após, portanto em 1982, o Partido Socialista Operário Espanhol assumiu o poder político na Espanha. Desse período para cá, muito se debateu acerca da Guerra Civil Espanhola e do Franquismo naquela sociedade, e a produção dos filmes analisados certamente contribuiu para essas discussões. E isso não escapa ao autor, que é capaz de perceber todo o componente político que subjaz a época na qual as pessoas foram aos cinemas assistir !Ay, Carmela!, Terra e Liberdade e Libertárias:
A transição foi baseada numa anistia progressiva, onde o Franquismo se transformou e se adaptou à persistência das elites. A lei da Anistia deixou impunes os autores dos crimes de lesa humanidade, pois buscou silenciar o passado embasado numa hipótese de culpa coletiva [7].
A teoria dos dois demônios é muito propagada na sociedade: está fundamentada na noção –difundida pelos que deram o golpe –de que eventuais “excessos” cometidos pelas forças estatais se justificam em razão de evitar um “mal maior”, quase sempre associado com o comunismo. Não se menciona, no entanto, que houve o aparelhamento do Estado por longos anos de ditadura censurando obras da cultura e mesmo a imprensa, prendendo adversários que muitas vezes sequer desenvolviam atividades que poderiam ser consideradas “subversivas”, obtendo confissões à base de torturas, desaparecendo para sempre com pessoas que contestavam a força dos quartéis.
Que conste que o país em questão ainda é a Espanha. Por mais que eu esteja escrevendo essa resenha em março de 2014. E por mais que você, no Brasil, conheça bem de perto essa História!
Notas
- HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos–O breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 30.
- TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos. Guerras e Cinema: um encontro no tempo presente. In: Tempo. Revista do Departamento de História da UFF. Niterói: 7 Letras, Vol. 8, nº 16, 2004, p. 95.
- QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhas: Estronho, 2014, p. 13.
- QUINSANI, op.cit., pp. 154-5. Interpolações minhas.
- GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. Prefácio –História e Cinema, Noves Fora? In: GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos (org.). A Prova dos 9: a História Contemporânea no Cinema. Porto Alegre: EST, 2009, p. 11.
- Para entender as bases de sustentação de uma ditadura tão longa, o trabalho de Francisco Calero é bastante oportuno. CALERO, Francisco Sevillano. A “cultura da guerra” do “novo Estado” espanhol como princípio de legitimação política. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A Construção Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, Vol. 1, pp. 257-282.
- QUINSANI, op. cit., p. 160.
Charles Sidarta Machado Domingos – Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL) – Campus Charqueadas
QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhais: Estronho, 2014. 224p. Resenha de: DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. História histórias. Brasília, v.2, n.3, p.191-194, 2014. Acessar publicação original. [IF]
A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII – RAMINELLI (S-RH)
RAMINELLI, Ronald. A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, 180 p. Resenha de: CHAVES JUNIOR, José Inaldo. Uma era revisitada: a América Espnahola em Tempos de conquistas. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [30] jan./jun. 2014.
É eclética e volumosa a produção de saberes sobre a América desde a chegada dos europeus nos estertores do século XV, com notícias sobre as suas potencialidades, suas gentes, matas, rios, minérios e, principalmente, os caminhos para acessálos.
Em tempos de expansão marítima, uma cartografia do lugar foi desde cedo valorizada pela Monarquia católica e recompensados com mercês e honras foram aqueles que se dispuseram a produzi-la. Doravante, uma controvertida literatura de viagem, produzida por religiosos, conquistadores e aventureiros das mais variadas origens geográficas e sociais, dedicou-se à narrativa da conquista ibérica sobre o Novo Mundo. Plenamente inseridos no contexto de consolidação das monarquias europeias, estes relatos demonstraram a intrínseca relação mantida entre homens e mulheres de cá e d’além-mar, desde quando os primeiros pés castelhanos pisaram o chão do Eldorado. Desde o século XVI, o Novo Mundo jamais conseguiu ser tão distante e ausente como alguns relatos faziam crer, e, a despeito da imensidão oceânica e das intempéries das rotas marítimas, suas histórias entrecruzaram-se com as do velho continente, integrando-se aos cenários renascentista e de formação dos estados modernos.
O contato inicial entre ameríndios e europeus foi copiosamente narrado e ilustrado, asseverado em descrições barrocas acerca da violência étnica, da guerra e da consequente ruína demográfica indígena, resultados últimos da desapropriação de seus bens e das doenças trazidas pelo homem branco. Um discurso de vitimização das populações indígenas da América hispânica caracterizou parte significativa dos relatos da conquista, assinalando, por outro lado, a crueldade colonizadora e sua sanha pelo sangue autóctone, pelo ouro e por suas terras. Em larga medida, este imaginário da violência, produzido, em sua maioria, pelos opositores da hegemonia ibérica sobre o Atlântico ou por religiosos protestantes e católicos que questionavam os propósitos da conquista, contagiou uma cultura histórica subsequente.
A era das conquistas, de Ronald Raminelli, dedica-se generosamente a este e outros temas, passando por frutíferas searas, como o governo imperial de Carlos V e Felipe II, as elites coloniais e o acirrado relacionamento entre a Coroa, os conquistadores e as populações indígenas entre os séculos XVI e XVII. Realizando um importante balanço historiográfico e problematizando tradicionais jargões de uma vasta e qualificada historiografia sobre a América espanhola, esse livro integra o arrojado editorial da coleção de bolso da Editora FGV, que já lançou outros títulos de igual relevância, defendendo a proposta de livros de síntese escritos pelos melhores especialistas, mas prezando por uma linguagem acessível ao grande público, e não apenas aos iniciados2.
Neste sentido, é ocioso acrescentar que o tema do livro resenhado não constitui novidade para Raminelli, experiente professor de História da América na Universidade Federal Fluminense. Não somente suas aulas, mas sua produção acadêmica tem se voltado para o campo da História da América há algum tempo, o que faz do autor uma reconhecida referência. Seguindo a trilha inaugurada por Sergio Buarque de Holanda, sobretudo no seu Visão do Paraíso (1959), o autor localiza muitos de seus livros e artigos na intersecção entre as histórias das Américas portuguesa e hispânica, buscando, a partir de sólidas e refinadas investigações sobre as elites coloniais, as hierarquias sociais e a produção de saberes no Novo Mundo, um caminho comparativo autêntico e rigoroso, não afeito aos modismos, sem com isso descuidar do diálogo com os pares, como atesta este novo livro3.
Em sua introdução, A era das conquistas destaca as Grands Voyages, do impressor e gravador calvinista Theodore de Bry, obra publicada em 1590 e que marcou significativamente as representações do Novo Mundo produzidas a partir de então, uma vez que abriu espaço às coleções de narrativas em vernáculos, acompanhadas por iconografias que somente alcançaram o grande público depois do referido título. Os treze volumes reunindo relatos das primeiras viagens à América popularizaram-se, sobretudo, por conter centenas de xilogravuras que impunham uma visão aterradora do Novo Mundo e de seus habitantes aos europeus em sua maioria iletrados. No entanto, os gravuristas e cronistas que passaram pela América ou dela ouviram falar registraram suas impressões do outro, do novo, a partir de um conjunto rico de lembranças e memórias próprio das culturas europeias.
Neste sentido, o esforço de absorção do estranho, desse exótico Novo Mundo, se deu graças ao uso de códigos e padrões estéticos forjados em associações e experiências anteriores, aproximações (como na fórmula de Merleau-Ponty, “perceber é recordar”)4 que integraram o americano ao imaginário europeu enquanto selvagem, bárbaro, canibal e satânico. Como nos lembra Lucien Febvre, os homens de Quinhentos, tanto os frequentadores dos círculos letrados quanto o humilde camponês analfabeto, enxergavam um universo povoado de e imagéticos que eles registraram seu contato com a América e os povos que por cá viviam.
Esta percepção do outro enquanto “reconhecimento” e “projeção de lembranças” valeu inclusive para fundamentar as críticas produzidas contra a própria ação conquistadora, como ilustrou Theodore de Bry, nascido em Liège em 1528. De Bry era filho de uma abastada família, mas perdera tudo ao converter-se ao calvinismo durante a perseguição religiosa promovida pelos espanhóis católicos nos Países Baixos. Refugiando-se em Estrasburgo, cidade de relativa liberdade religiosa e política e com um florescente mercado editorial, aprimorou sua arte e pôs em gravuras a conquista da América, tendo como referencial político as guerras de religião e a aversão à idolatria e ao papismo dos espanhóis6. Numa Europa dividida pelas guerras religiosas e apavorada pela expectativa da Parúsia, as visões escatológicas do Novo Mundo oscilaram entre a descrição do Paraíso – um ponto originário e redentor onde os homens viviam despidos do pecado – e o lugar da depravação moral, prenunciadora do fim dos tempos7. Nas suas imagens, a crueldade dos espanhóis na conquista era vista como emblema de uma monarquia decadente e perniciosa, sendo sua destruição anunciada pelo desvio do propósito evangelizador.
Dentre os relatos utilizados por De Bry estava o do frei Bartolomé De Las Casas, em sua Brevíssima relación de la destrucción de las Indias, de 1552. O cronista e religioso católico era um conhecido crítico da conquista espanhola e registrou particularmente “as guerras, a exploração dos nativos, e os desvios do projeto de conversão e salvação das almas americanas”8. Ronald Raminelli relata que a ilustração de De Bry, de 1598, “agravou ainda mais as denúncias de Las Casas” e endossou a leyenda negra – uma história em que uns poucos espanhóis armados a cavalo conseguiram ardilosamente roubar a vida, as terras e as riquezas de milhares de ameríndios9.
Entretanto, como nos mostra Raminelli, as imagens de Theodore de Bry, fundadas em cronistas como Las Casas, fizeram muito mais que difundir os horrores da conquista espanhola, descreveram também a inércia americana, sua incapacidade frente ao avanço europeu, estando, pois, na gênese de uma arraigada interpretação vitimizadora do lado indígena que, ao fim e ao cabo, tornou-se contraproducente na compreensão das estratégias de resistência, acomodação e sobrevivência não apenas física, mas política dos povos indígenas em situação colonial. Por sua vez, uma visão linear, determinista e excessivamente sectária (conquistadores versus ameríndios) obliterou as disputas existentes dentro dos próprios flancos espanhóis e as imprescindíveis alianças entre chefias indígenas e conquistadores que tiveram como propósito inicial a destruição de inimigos comuns. As próprias lógicas culturais da guerra ameríndia operaram alianças deste tipo desde muito antes da chegada dos europeus, de modo que a vitória hispânica sobre os impérios mexica e inca dependeu largamente da contribuição de povos indígenas insatisfeitos com o jugo anterior.
Não por menos, o autor trata de conquistas, buscando apresentar um panorama multifacetado de atores, empresas e diferentes estratégias que compuseram a construção do mundo colonial hispânico entre os séculos XVI e XVII, revendo, portanto, “uma visão simplista e imparcial da conquista da América”10. O percurso analítico escolhido faz a opção por integrar plenamente a conjuntura do assalto espanhol ao Novo Mundo aos processos estruturais de formação das monarquias ibéricas, sendo as guerras empreendidas em solo americano parte primordial da estratégia de fortalecimento da autoridade régia. Segundo o autor, Com a prata americana, os reis expandiram a burocracia, remuneraram aliados e armaram tropas. De fato, os ameríndios não foram os únicos a se submeter às leis monárquicas. Colombo, Cortés, Pizarro e os mais afamados conquistadores se enquadraram ou foram aniquilados pelos representantes de Sua Majestade.11 Neste novo trabalho, o historiador fluminense explora a afirmação do poder real diante do ímpeto de conquistadores que pretendiam afirmar-se como verdadeiros senhores feudais na América. Destarte, homens como Cortés e Pizarro “não dispunham dos mesmos trunfos empregados pela nobreza castelhana no momento da negociação de seus direitos”12 e, por conseguinte, a autoridade central terminou por controlar melhor as localidades distantes que os próprios reinos e ducados da Península, repletos de facções e partidos que dividiam as nobrezas e fragilizavam o poder régio13. Na verdade, reiterando a tese do renomado historiador inglês John Elliott, Raminelli acrescenta que, sob algum aspecto, “a administração hispânica da América era mais moderna que o próprio governo da Espanha e das monarquias da Europa quinhentista”14.
Isto ocorria porque a América estava menos sujeita às chantagens dos poderes locais e aos impasses da manutenção de uma ampla rede de aliados, problemas diuturnamente enfrentados pela Monarquia de Carlos V, espremida entre a cruz e a espada, entre a satisfação da expansão imperial sobre territórios político e culturalmente variados e o atendimento dos anseios da nobreza castelhana, ressentida com seu rei absenteísta e desinteressado15.
A era das conquistas divide-se em cinco capítulos, nos quais o autor testa, com habilidade, seu argumento de que diferentes frentes de conquista subsidiaram a produção dos territórios coloniais da Monarquia católica, da Espanha à América.
O artífice central (embora não exclusivo) das empresas de conquista foi a própria Coroa dos Habsburgo que, sob duras penas, afirmou seu poder em um processo de construção de centralidades com marchas e contramarchas na Europa e nas possessões ultramarinas. No primeiro capítulo, Raminelli narra as dificuldades da Monarquia em controlar a insatisfação dos nobres castelhanos, levantados em armas na Revolta dos Comuneros (1520-1522). Conservadores, os nobres saudavam a antiga Castela, anterior a união dos reinos de Isabel e Fernando de Aragão (1469); defendiam seus antigos privilégios, esquecidos desde então; e questionavam o peso tributário lançado pela Coroa e a sagração de Carlos V como imperador do Sacro Império. Um rei ausente e mais preocupado com as suas batalhas travadas no norte da Europa, contra a Inglaterra e o avanço protestante, desprestigiara a nobreza castelhana, embora precisasse mais que nunca de seus préstimos para manter sua política imperial belicosa. Todavia, para os nobres castelhanos, mais importava a Espanha que o Império.
Como a história nos conta, a revolta da fidalguia de Castela foi debelada por Carlos V ao levar-se ao limite a sua política de alianças, feito um “gigante inerte”, dependente do apoio financeiro e militar das nobrezas castelhana e estrangeira de seu vasto Império, e igualmente frágil diante da concessão de seu poder interventor sobre as localidades – um preço alto a ser pago na tentativa de conter os focos de resistência aristocrática. Este interessante capítulo segue com o debate acerca do Estado moderno, seu limites, conflitos de jurisdição bem como as principais interpretações historiográficas acerca de sua emergência. O pano de fundo continua sendo a Monarquia católica e seu complexo acerto imperial. A missão de governar na época moderna era partilhada e o rei dividia, ao menos, com a Igreja, a nobreza e as municipalidades as atribuições do governo dos povos – um governo indireto e polissinodal, caracterizado pela difusão dos centros de decisão política. Todavia, nestes primeiros tempos da modernidade, ainda que a instituição “Estado”, tal como nos é acessível hoje em dia, fosse desconhecida dos coevos, o autor relata que as monarquias reuniram as condições de sua posterior emergência a partir da ampliação da esfera jurisdicional, do crescimento do oficialato régio e da sistematização de leis e a territorialização do poder régio16.
A disseminação da autoridade do rei em cenários nos quais os poderes locais possuíam fortíssima proeminência, tanto na Europa quanto na América, proliferou os conflitos de jurisdição, motivados, na maioria das vezes, pela própria inserção dos oficiais da Coroa (vice-reis, magistrados, bispos dentre outros) nos jogos políticos locais. Embora a decisão final das querelas sempre dependesse do Conselho das Índias, criado entre 1523 e 1524, ou, em último caso, do rei, “a distância e a fugidia presença régia promoviam forças centrífugas e levavam, por vezes, para longe de Madri o governo do Novo Mundo”17. Diante da dispersão das decisões políticas, a venalidade dos altos oficiais de Sua Majestade, em especial dos vice-reis, tornouse um primoroso mecanismo político através da construção de lealdades que nem sempre significaram o incremento do poder real. Coube a Monarquia cercear estes desvios de autoridade, uma missão quase sempre realizada parcamente, mas para a qual dedicou-se conspícua atenção dos órgãos centrais.
Entretanto, se, por um lado, os conflitos de jurisdição e as venalidades foram fenômenos típicos dos modos de governar na época moderna, tanto na Europa quanto no ultramar, segundo Ronald Raminelli, as disputas entre poderes locais e poder central no Novo Mundo não tiveram as mesmas proporções daqueles desencadeadas na metrópole, isto porque por aqui “o governo sentia menos as interferências do legado feudal, dos senhorios, das jurisdições múltiplas, enfim do forte poder local, ainda determinante na Espanha”18. Além disso, como nos conta o autor:
Em princípio, na América colonial, os impedimentos contrários ao bom cumprimento das ordens régias eram atenuados, pois os poderes locais nativos foram dizimados nas guerras, nas epidemias e nas negociações empreendidas entre monarcas, conquistadores e chefes indígenas.19 Neste sentido, uma das principais contribuições trazidas por Ronald Raminelli é apontar que, se as guerras contra os indígenas e a crueldade colonial foram dimensões inegáveis da conquista, como apontaram os cronistas, não foram elas, contudo, monopolizadoras de um processo muito mais intricado. As conquistas do Novo Mundo implicaram, inclusive, no enquadramento dos interesses dos primeiros conquistadores e das chefias indígenas aliadas, segmentos sociais ambiciosos pelas benesses régias, os prêmios e honras da empresa colonial. Este é o assunto do 2º capítulo de A era das conquistas. Após um período de concessões e salvaguarda das vassalagens a partir de uma eficiente economia das mercês, a contínua redução da capacidade remuneratória da Coroa fez parte de uma “política de sufocamento” do poder dos conquistadores antigos, que contou ainda com a extinção da transmissão hereditária das encomiendas (Leis Novas) e com a supressão do controle do trabalho indígena por parte dos encomienderos (1549), que passaram a dispor legalmente apenas dos tributos pagos pelos nativos. Por sua vez, o incentivo régio à colonização produziu mais concorrência por terra e trabalho, ao passo que garantiu a formação de uma segunda geração de conquistadores fiel à Sua Majestade, sem os tradicionais vícios da leva que trouxe Colombo, Pizarro e Cortés ao Novo Mundo.
Cabe-nos destacar, na esteira da reflexão encetada por Raminelli, que, ao inviabilizar a concentração de poder, tanto entre os conquistadores quanto entre vice-reis, ouvidores governadores e bispos, a Coroa hispânica elevou o fenômeno dos conflitos de jurisdição ao patamar de estratégia primaz do exercício de sua autoridade na América, pois, ao jogar com as parcialidades e promover uma contínua redistribuição dos poderes, conseguia neutralizar a autonomia de seus agentes e garantir a vigilância contínua diante de possíveis focos de contestação (system of checks and balance). Aquilo que aparentemente representava irracionalidade administrativa e erosão política transformou-se num poderoso mecanismo de controle sobre as municipalidades coloniais, ainda que houvesse sensíveis limites a plena ação do poder real, dadas as sempre precárias condições da governabilidade no ultramar.
Aliás, o 3º capítulo dedica-se à discussão de conceitos-chave da recente historiografia política da época moderna, em especial das conquistas coloniais, a exemplo da aplicação da categoria elites nas investigações sobre segmentos sociais privilegiados no Novo Mundo. Neste sentido, o autor apresenta uma caracterização do cabildo enquanto locus do poder local na América hispânica, considerando as formas de enriquecimento e ascensão, as práticas sociais, como o descaminho e a ilicitude, os perfis regionais, as condições de ingresso e as tentativas da Coroa de limitar os seus poderes na localidade, inclusive através dos conflitos de jurisdição com órgãos como as audiências.
De acordo com Raminelli, para resistir às investidas da Coroa e de seus agentes, sobretudo dos governadores e das Audiências, as elites locais encasteladas nos cabildos tradicionalmente recorreram à máxima da administração castelhana, “obedezo pero no cumplo”, repetindo no ultramar os valores de uma cultura política própria do Antigo Regime, ainda que desta mantivesse sensíveis distanciamentos.
Seja como for e dadas as contumazes interferências régias, o fato é que os cabildos do Novo Mundo perderam gradativamente sua capacidade de representar os interesses locais e negociar com a Coroa e, pelos idos de 1650, “entraram em franca decadência”, recobrando alguma proeminência apenas no século XVIII, em meio às decorrências das reformas bourbônicas20.
Doutra feita, uma relevante problematização de conceitos como “sociedade estamental” e “Estado absolutista” é realizada pelo autor, que afirma que os novos estudos acerca das hierarquias e da mobilidade social no Antigo Regime ibérico questionaram abertamente a suposta rigidez das classificações sociais na Europa moderna e, mais ainda, no Novo Mundo, haja vista a permissividade de sociedades onde a norma e a prática não possuíam limites claros, nem mesmo para os representantes do poder constituído. Considerando o caso espanhol, Raminelli resgata a tese do historiador Enrique Soria, para quem “a ascensão social era o importante motor do poder régio, ou seja, que em busca de honra e enriquecimento os vassalos prestavam serviços e demonstravam lealdade ao soberano. Portanto, aos poucos, as ordens (nobreza, clero, povo) tiveram suas fronteiras enfraquecidas”21.
Por conseguinte, mais do que preocupar-se em encontrar as razões de um suposto Estado absoluto e onipresente, o problema historiográfico atual tem se voltado para a compreensão dos corpos políticos periféricos e de seu primordial papel na afirmação da centralidade régia ao longo da época moderna – uma verdadeira inversão analítica, das macroestruturas aos micro-poderes –, tendo em consideração que “o poder local nem sempre se situava no plano da lei e do direito oficial, mas à margem dessa lei e desse direito”22.
Os capítulos que encerram esta contribuição historiográfica de Ronald Raminelli dirigem a análise a um outro palco desta era de conquista no plural pois, se, em sua primeira parte, o autor concentrou-se em discorrer sobre as tentativas e efetividade do controle régio sobre as forças colonizadoras – conquistadores e oficiais da Coroa –, integrando a colonização da América ao contexto de afirmação da Monarquia católica; neste último momento, seu interesse se voltará para os colonizados. A questão central dos capítulos 4º e 5º é, pois, a superação, nos estudos coloniais, de uma interpretação que considerou a conquista do Novo Mundo enquanto aculturação. Segundo o autor, o conceito aculturação ganhou relevo nos anos 1980 e seu uso visou investigar “as transformações culturais provocadas pela conquista, pelo confronto entre a tradição ibérica e as várias etnias encontradas na América”, porém, compreendendo-as como perdas das tradições indígenas originárias23.
Resgatando clássicos estudos que utilizaram o conceito, o autor cita, por exemplo, as tipologias propostas por Wachtel. Algumas delas foram as categorias de “processo de integração” e “processo de assimilação” para dar conta das modificações nos padrões culturais e socioeconômicos das sociedades indígenas em situação colonial. De acordo com Raminelli, por “processo de integração” Wachtel definia a “incorporação de valores e costumes estranhos, mas que adquiriam novo sentido entre os autóctones”; já “processo de assimilação” era caracterizado pela “transformação cultural imposta pelos colonizadores”24. Outro renomado autor, Todorov, também recebeu a atenção de Raminelli, justamente por, tal como Wachtel, dedicar-se à análise dos mecanismos de dominação espanhola tendo como premissa o conceito de aculturação. Na perspectiva de Todorov, a grande artimanha de colonizadores como Cortés foi justamente aprender a manipular os valores e símbolos ameríndios, revertendo em seu favor às estruturas de poder e dominação de uma época pré-hispânica. Além disso, para Todorov, uma superioridade técnica (armas e mobilidade) teriam completado a equação que garantiu uma vitória inexorável aos espanhóis.
Atualmente, perspectivas interpretativas como as Wecthel e Todorov encontramse em desuso e uma leva de estudos tem proposto uma nova abordagem da conquista, resgatando a agency indígena e contestando uma participação meramente figurativa ou pálida. Como vimos no início deste breve comentário à obra de Raminelli, desde os cronistas coloniais, as populações indígenas foram tradicionalmente condenadas ao desaparecimento pela violência devastadora da conquista, não lhes restando mais que a morte ou a assimilação. A irredutibilidade do trágico devir indígena, tantas vezes narrado nas tristes cenas das crônicas coloniais, contagiou boa parte da historiografia e estudos sociais dedicados à conquista da América. Destarte, uma New Indian History e as aproximações entre história e antropologia, sobretudo a partir de um redimensionamento da noção de grupo étnico, não mais visto como portador de uma essência cultural atemporal, promoveu uma mudança qualitativa nas análises sobre as interações sociais da época da conquista, não mais entendidas necessariamente como “perdas culturais”, mas retratadas a partir de conceitos como “etnogênese” e “mestiçagem”25.
As investigações acerca da importância da participação indígena nas empresas de conquista, bem como o papel dos cacicazgos na mediação do contato com o mundo colonial, tem relevado relações sociais que sobreviveram “sem as dicotomias cristalizadas pela história tradicional, sem a oposição rígida entre os interesses espanhóis e indígenas, sem a superioridade inconteste dos exércitos espanhóis, sem a debilidade inerente às sociedades indígenas”26. Num situação colonial, quase sempre tangenciada pela violência, os indígenas traçaram suas próprias estratégias de adaptação (resistência adaptativa), que poderiam representar também objetivos pragmáticos de redução de perdas27. Destarte, as chefias indígenas que apropriaram-se dos códigos aristocráticos da cultura ibérica, recebendo da Coroa ofícios e honras militares, tornaram-se mediadoras fundamentais na execução da administração colonial, que não pôde abrir mão das heranças pré-hispânicas de governo e teve que fazer concessões para tornar a conquista efetiva. Não se trata, pois, de negar a agressividade da ordem colonial, mas de explorar interpretações que destaquem as possibilidades de reação indígena, não restrita à tradicional dicotomia “morrer ou aculturar-se”28. Tal como conclui o autor da obra resenhada, Em sua suma, os povos não estavam submersos na tradição imemorial, congelados no tempo e incapazes de reagir. Por vezes a conquista e a colonização promoviam identidades novas, transformações socioculturais para sobreviver em meios adversos. O conflito e a violência eram promotores de novos arranjos políticos, culturais e sociais. A mestiçagem e a etnogênese são conceitos fartamente empregados para analisar a reação das comunidades indígenas frente aos conquistadores.29 Se é a reflexão historiográfica e o diálogo com os pares uma reconhecida dimensão de nosso ofício, em A era das conquistas Ronald Raminelli realiza com maestria um exercício próprio dos grandes historiadores, unindo erudição e originalidade em um caminho crítico que apresenta riquíssima e larga literatura especializada, sem, contudo, ceder à exposição enfadonha e despropositada. Ao final da obra, sua tese de uma conquista multifacetada – conquista no plural – que atuou não somente sobre indígenas, mas também sobre conquistadores e encomienderos, compondo, deste modo, a conjuntura de afirmação da autoridade régia na Europa e no Novo Mundo, é fartamente defendida. Contudo, o autor não deixa de considerar que os custos de manutenção da Monarquia católica, entre os séculos XVI e XVII, eram enormes. Um acerto imperial que reunia díspares interesses e possuía a guerra como seu principal mote, não tardou até demonstrar sinais de esgotamento. Doutra feita, julgamos excessivo o papel atribuído à capacidade interventiva da Coroa espanhola sobre os territórios coloniais, de modo que nos parece mais prudente pensar que a construção da centralidade régia processou-se, diacronicamente, a partir de uma forte dependência das forças políticas e sociais periféricas, como propôs Xavier Gil Punjol30. Seja como for, este é um tema em aberto e A era das conquistas lança-se como uma importante contribuição.
Notas
2 Da série História, destacamos, em especial, MALERBA, Jurandir. A história na América Latina:
ensaio de crítica historiográfica Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. FRAGOSO, João; GUEDES, Roberto & KRAUSE, Thiago. A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna: monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
3 Cf. notavelmente: RAMINELLLI, Ronald. “A monarquia católica e os poderes locais no Novo Mundo”. In: AZEVEDO, Cecília & RAMINELLI, Ronald (orgs.). História das Américas: novas perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011; RAMINELLI, Ronald. “Nobreza e riqueza no Antigo Regime Ibérico setecentista”. Revista de Historia (USP), vol. 169, p. 83-110, 2013. RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do Índio de Caminha a Vieira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
4 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
5 FEBVRE, Lucien. Problema da incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
6 BAUMANN, Thereza B. “Notícia de uma coleção: as ‘Grandes Viagens’ da família De Bry”. Paper avulso. Rio de Janeiro: IFCS-UFRJ, s.d. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/humanas/0036.htm>.
7 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. Tradução de Maria Lúcia Machado; tradução de notas de Heloísa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. A esse respeito, cf. também: KOSELLECK, Reinhart. Futuro Pasado: para una semântica de los tempos históricos. Barcelona: Paidós, 1993, sobretudo a primeira parte.
8 RAMINELLI, Ronald. A era das conquistas: América espanhola, séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2013, p. 09.
9 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 10.
10 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 11.
11 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 12.
12 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 12.
13 Vale ressaltar que a ideia de uma inversão administrativa colonial das monarquias ibéricas esteve presente na obra de Sergio Buarque de Holanda, que já em Raízes do Brasil aventou a tese de que uma administração colonial mais centralizada e dominadora foi levada a cabo justamente pela Monarquia hispânica, habituada com a contumaz descentralização de seus territórios continentais, acentuadamente divididos política e culturalmente e, nalguns casos, rebeldes, como era a Catalunha. Em Portugal, entretanto, onde a centralização régia havia sido operada muito antes, já nos estertores do medievo, o desleixo e o desinteresse ditaram a tom do governo ultramarino, sobrelevando, a esse respeito, a própria precariedade das formas urbanas do Brasil colonial, assimétricas, desordenadas e feitas ao acaso, quase sem contradizer a natureza, quando comparadas com a regularidade arquitetônica da América hispânica. A esse respeito, ver: HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 110. Para uma crítica ao primado da irracionalidade do urbanismo colonial português, ver: MOURA FILHA, Maria Berthilde de Barros Lima e. De Filipéia à Paraíba: uma cidade na estratégia de colonização do Brasil (séculos XVI-XVIII).Tese (Doutorado em História da Arte). Universidade do Porto. Porto, 2004 (introdução).
14 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 12.
15 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 13.
16 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 21.
17 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 43.
18 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 47.
19 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 47.
20 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 105.
21 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 73.
22 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 72.
23 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 108.
24 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 110.
25 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 115. Para uma síntese das recentes contribuições à história indígena, cf. a importante reflexão presente em: BOCCARA, Guillaume. “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos – Débats [On Line], 08 fev. 2005. Disponível em: <http://nuevomundo.revues.org/426>. Acesso em: 15 jan. 2014. Segundo o autor, uma tendência recente da historiografia indígena (New Western History e New Indian History) considerou a “re-inscripción de las realidades indígenas en su contexto histórico por un lado y el nuevo interés por las estratégias y los discursos elaborados por los nativos por el outro, han conducido a romper con un conjunto de dicotomías discutibles (mito/ historia, naturaliza/ cultura, pureza originaria/ contaminación cultural, sociedades frías/ sociedades cálidas) para buscar en las narrativas y en los rituales indígenas así como también en las reconfiguraciones étnicas y en las reformulaciones identitarias, los elementos que permitan dar cuenta tanto de las conceptualizaciones nativas relativas al tremendo choque que representaron la conquista y colonización de América como de las capacidades de adaptación y reformulación de las ‘tradiciones’ que desembocaron en la formación de Mundos Nuevos en el Nuevo Mundo”. BOCCARA, “Mundos nuevos en las fronteras…”, p. 03.
26 RAMINELLI, A era das conquistas…, p. 118.
27 ALMEIDA, Os índios na História do Brasil…, p. 23.
28 Neste sentido, cabe-nos ressaltar a importância da categoria de “índio colonial”, proposta por Karel Spalding e magistralmente discuta por John Monteiro. MONTEIRO, John Manuel. Tupis, Tapuias e Historiadores: estudos de História Indígena e do Indigenismo. Tese (Livre Docência). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2009.
29 MONTEIRO, Tupis, Tapuias e Historiadores…, p. 115.
30 PUNJOL, Xavier Gil. “Centralismo e localismo? Sobre as relações políticas e culturais entre capital e territórios nas monarquias europeias dos séculos XVI e XVII”. Penélope – Fazer e desfazer a história, n. 6, Lisboa, 1991, p. 129-130.
José Inaldo Chaves Júnior – Doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em História pela mesma instituição, Graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba. Professor Assistente de História do Brasil na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Integra o Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Cultural da UFF (NUPEHC/UFF). Bolsista de Doutorado do CNPq. E-Mail: <[email protected]>.
[MLPDB]Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? – CANGUILHEM (AN)
CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? Tradução de Fábio Ferreira de Almeida. Goiânia: Edições Ricochete, 2012. (Coleção Inominável). Thiago Fernando Sant’Anna. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 443-448, dez. 2013.
Precisas as palavras de Georges Canguilhem sobre Michel Foucault no texto “Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito?”, publicado no número 242 da Revista Critique, em julho de 1967, as quais argumentaram que “[…] o êxito de Foucault pode ser justamente entendido como recompensa pela lucidez que permitiu a ele enxergar este ponto para o qual, diferentemente dele, outros foram cegos” (CANGUILHEM, 2012, p.9). Canguilhem tece, no texto, com palavras afiadas, uma defesa do pensamento edificado por Foucault em seu projeto arqueológico de explorar a rede epistêmica a partir da qual emergiram “certas formas de organização do discurso” (CANGUILHEM, 2012, p.22-23), subvertendo a devoção ao curso progressista da história e interditando “toda ambição de reconsti tuição do passado ultrapassado” (CANGUILHEM, 2012, p. 15). Irônicas, suas palavras desafiavam aos detratores de Foucault: “Humanistas de todos os partidos, uni-vos” (CANGUILHEM, 2012, p. 09)? Profundas teriam sido as relações entre Canguilhem e Foucault.
Nos anos 1960, Canguilhem, no relatório escrito para a avaliação da tese “Loucura e Insânia”, durante o doutoramento de Foucault, declarou ter sentido “um verdadeiro choque” (ERIBON, 1990, p. 130) diante de suas ideias que se inscreviam, indubitavelmente, no espaço da vanguarda acadêmica. Difícil também seria dimensionar a amplitude da inspiração que foi Canguilhem para Foucault quando nos deparamos com as palavras usadas por Eribon (1990, p. 131) para se referir ao reconhecimento do primeiro pelo segundo em seus trabalhos arqueológicos, como lugar onde estaria “gravada a sua marca”.
Conhecido por não publicar “grandes volumes, mas contribuições delimitadas” (ERIBON, 1990, p. 130), Georges Canguilhem, nascido em 1904, no sudoeste da França, e sucessor de Bachelard, na Sorbonne, em 1955, publicou, em 1967, o que Eribon (1990, p. 131) considerou como um “artigo muito vigoroso e muito notado”: um comentário sobre As palavras e as coisas. Canguilhem estaria “irritado com as críticas dos sartrianos contra Foucault” (ERIBON, 1990, p. 131), já que As palavras e as coisas “[…] foi recebida com hostilidade nos meios de esquerda”, acusada pelos comunistas como “um manifesto reacionário” que negava a história, a historicidade e servia aos “interesses da burguesia” (ERIBON, 1996, p. 101).
Esse referido texto, responsável por “[…] tirar Georges Canguilhem da sua tradicional reserva” (ERIBON, 1996, p. 104), é “[…] quase inteiramente consagrado a rebater as críticas que foram feitas a Foucault a propósito da história”, já que o arqueólogo propõe uma analítica que se diferencia das análises dos historiadores da biologia, principalmente no que diz respeito às “relações de continuidade e descontinuidade entre Buffon, Cuvier e Darwin.” (ERIBON, 1996, p. 105). Ao longo do breve e denso texto, objeto desta resenha, dividido em cinco partes, Canguilhem destacou a importância e o alcance da abordagem de Foucault, ao operar ferramentas, ancoradas numa incontornável experiência histórica, que possibilitaram à sua arqueologia perceber “indícios de uma rede epistêmica”, em resumo, descrever uma “episteme” (CANGUILHEM, 2012, p. 19).
Daí, ser inegável, aqui, reconhecer a importância das refl exões realizadas em As palavras e as coisas, onde Foucault entrecruza filosofia e historicidade. Machado (2005, p. 100) destacou bem as palavras de Canguilhem, para quem esse texto, aqui resenhado, significava a “[…] impugnação do fundamento que certos filósofos creem encontrar na essência ou na existência do homem”. Impugnação essa denunciadora da falência da filosofia moderna em “[…] manter a distinção entre o empírico e o transcendental, ao tomar o homem das ciências empíricas, o homem que nasceu com a vida, o trabalho e a linguagem, como o modo de ser do homem da modernidade” (MACHADO, 2005, p. 100). O próprio Canguilhem já havia reconhecido quando de sua relatoria sobre a tese de Foucault, que este “[…] leu e explorou pela primeira vez uma quantidade considerável de arquivos”; que “[…] um historiador profissional não deixaria de ser simpático ao esforço feito pelo jovem filósofo” ao analisar docu mentos em primeira mão; e que “[…] nenhum filósofo poderá censurar a M. Foucault ter alienado a autonomia do juízo filosófico pela submissão às fontes da informação histórica” (ERIBON, 1990, p. 133). Como poderíamos compreender esse fenômeno – Foucault – à luz de suas críticas às perspectivas tradicionais a partir das quais se escreve história e na direção de sinalizar para inversões outrora tão distantes de serem compreendidas por aqueles que o atacavam? Tais afirmações conduzem-nos a reconhecer que emoldurar em um quadro o contexto dos anos 1960/1970, e ali inscrever o pensamento de Michel Foucault, sinalizar-nos-ia equívocos. Impreciso também seria se, nesse enquadramento, optássemos por anunciar a fixação de alguma teoria foucaultiana à propalada crise dos paradigmas, quando, no plano geral, os modelos explicativos, orientados por conceitos de “ordem”, “evolução”, “linearidade”, “racionalidade”, “progresso” e “verdade inquestionável” não respondiam satisfatoriamente às questões colocadas às Ciências Humanas; a mesma coisa se deu em um plano específico, quando se emergiu uma revisão e desestabilização das certezas no interior da disciplina da História, confrontada com a suspeita quanto ao seu estatuto de inteligibilidade diante da ampliação de seu campo temático, de suas abordagens e de seus objetos, enfim, de ruptura com as metanarrativas.
Não seria menos insuficiente dizer que aqueles anos fundaram o pensamento de Foucault em um contexto de dissolução da sociedade burguesa, de crescente uniformização da cultura de massas e de questionamento da posição de “centro” por parte daqueles movimentos sociais como os movimentos feministas, negro, gay etc.
Inegável, por outro lado, seria reconhecer que a transgressão do paradigma iluminista, moderno, racionalista, cartesiano foi possível com as histórias das pessoas inomináveis de Michel Foucault e a contestação da construção discursiva da História na qual os acontecimentos ganhavam sentidos, desconstruindo a ideia de “verdade” impressa nos documentos. Atualmente, o pensamento de Foucault imprimiu, no campo de estudos da História, uma subversão incontornável, o que tornaria qualquer desprezo a essa incursão uma ingenuidade, na mesma direção que seria percebida se tentássemos rotular suas problematizações em qualquer outro tipo de enquadramento. O pensamento de Michel Foucault, ou melhor, o seu estilo de pensamento não é um bloco monolítico a ser apreendido, domesticado dentro dos limites de uma teoria, ou sequer enquadrado em qualquer contexto social, econômico ou cultural a priori.
A esquiva destes aprisionamentos discursivos que contextualizam e tipologizam masmorras do pensamento pode ser percebida na leitura do texto de Georges Canguilhem sobre o livro As palavras e as coisas.
O que Michel Foucault quis dizer com o conceito de episteme quando o escreveu, ao longo do livro, As palavras e as coisas? Trata- -se de problemática que permeia as refl exões de Georges Canguilhem em “Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito?”, traduzido agora para a língua portuguesa pelas Edições Ricochete, inaugurando a Coleção Inominável, coordenada por Marlon Salomon.
Canguilhem assinalou o texto de Foucault com pistas que fizessem surgir “um ponto” de abertura de uma “avenida” (CANGUILHEM, 2012, p. 09), que indicasse uma analítica sobre a constituição do “homem” como objeto de investigação das ciências humanas, distante de uma história social de uma ciência, e próxima, por outro lado, de uma rede de enunciados. O texto decifra os contornos de uma chave, usada e elaborada simultaneamente pelo filósofo francês para abrir sentidos em textos, diga-se de passagem, originais, empoeirados e desprezados por estudiosos. Chave essa da qual o leitor de Foucault pode lançar mão para encontrar não o seu proprietário ou inventor, não para revelar algo ou fenômeno escondido, à espera da iluminação. Mas uma chave a ser forjada no movimento de seu uso, a ser decriptada na direção de sinalizar para “a sucessão descontínua e autônoma das redes de enunciados fundamentais”, sucessão essa que “[…] interdita toda ambição de reconstituição do passado ultrapassado” (CANGUILHEM, 2012, p. 15).
A essa altura, podemos afirmar, conforme o texto de Canguilhem, que já não é mais possível recusar a incontornável presença da historicidade na constituição da cultura, em recusa a qualquer isolamento de Foucault a um tipo de pensamento que sonhasse naturalizar a cultura ou que aspirasse a superar, progressivamente, uma contradição (CANGUILHEM, 2012, p. 11). A analítica deste arqueólogo exuma descontinuidades radicais – fronteiras entre pensamentos possíveis de serem pensados e pensamentos que não podem mais ser pensados – sem receios em retomar pontos já abordados ou suspender o tráfego por questões não apropriadas naquele momento em que tecia As palavras e as coisas. Como a lâmina de uma katana de samurai, Foucault, que “[…] não tinha medo da morte […]” (VEYNE, 2009, p. 149), exercita a perigosa prática de pensar, “[…] correndo o risco de espantar-se e até de aterrorizar- -se consigo mesmo […]” (CANGUILHEM, 2012, p. 29), corta as palavras, decepa evidências, desentranha “condições práticas de possibilidades” (CANGUILHEM, 2012, p. 30) que constituíram o homem como objeto do saber e denuncia, com isso, o “sono antropológico” daqueles que tomavam o homem como um objeto dado para, daí em diante, fazer progredir, uma ciência.
Canguilhem, por sua vez, afia ainda mais a lâmina de Foucault em sua obra traduzida por Fábio Almeida. José Ternes e Marlon Salomon afinam-se, respectivamente, no prefácio e na gestão da coleção inaugurada pela Edições Ricochete. Os cinco estudiosos aqui citados nos permitem abdicar do recurso do contexto como explicador de um fenômeno. Longe disso, possibilitam uma transgressão do pensamento ao percorrer a rede de enunciados proposta pela episteme de Foucault, de forma a recusar as raízes, a origem ou a iden tidade fixa do objeto. Os referidos estudiosos elucidam a percepção de um “ponto”, um caminho, uma “avenida”, para além das estruturas engessadas, para além dos personalismos, mas na direção das descontinuidades, das rupturas, dos entrecruzamentos nos processos que o constituem. Foucault não se inscreve, portanto, em um quadro, mas o analisa no mesmo movimento em que o constitui, através 447 Thiago Fernando Sant’Anna. da sua “técnica de incursão reversível” (CANGUILHEM, 2012, p.19). Ele não lê um mundo previamente dado como um texto, mas o observa como quem observa o quadro inscrito, simultaneamente, em seu processo de pintar. Canguilhem afia o estilo de pensamento de Foucault, enfatizando, como um argumento em contra-ataque, o “sono antropológico” – termo de Michel Foucault – que definia “[…] a segurança tranqüila com a qual os promotores atuais das ciências humanas tomam como objeto dado aí antecipadamente para seus estudos progressivos o que, de início, era apenas seu projeto de constituição” (CANGUILHEM, 2012, p. 29). Em seu artigo, Canguilhem destaca a importância do conceito de episteme no livro As palavras e as coisas, em que o filósofo analisa, constitui, elabora uma “técnica laboriosa e lenta” (CANGUILHEM, 2012, p. 16), que percorre por Borges, Velásquez, passando por Cervantes, na reconstituição de uma rede de saberes que faz emergir as Ciências Humanas e o homem como sujeito e objeto deste saber, anunciando a morte do homem e o esgotamento do Cogito, em um mesmo ataque.
Referências
CANGUILHEM, Georges. Michel Foucault: morte do homem ou esgotamento do Cogito? Tradução de Fábio Ferreira de Almeida. Goiânia: Edições Ricochete, 2012. (Coleção Inominável)
ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus contemporâneos. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
______. Michel Foucault (1926-1984). Lisboa: Livros do Brasil, 1990. (Coleção Vida e Cultura) MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. 3 ed. Rio de Janerio: Zahar, 2005.
VEYNE, Paul. Foucault. O pensamento, a pessoa. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.
Thiago Fernando Sant’Anna – Doutor em História pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Arte e Cultura Visual, pela Universidade Federal de Goiás. Professor do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiás/ Faculdade de Artes Visuais. Docente do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Goiás/ Campus Cidade de Goiás. E-mail: [email protected].
Guerra Santa: Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente – FLORI (AN)
FLORI, Jean. Guerra Santa: Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente. 1ª ed. Tradução de Ivone Benedetti. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. Resenha de: ALMEIDA, Néri de Barros. Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 449-453, dez. 2013.
As cruzadas foram um acontecimento em seu próprio tempo. Seus testemunhos contam-se entre os mais vastos e diversificados do período. O interesse que despertaram ainda em plena Idade Média, o envolvimento dos grandes personagens de então entre os quais se contam imperadores, papas e príncipes regionais aliados ao reconhecimento pelos historiadores modernos de sua importância na dinâmica histórica lhe garantiram um lugar de destaque na memória coletiva. A esse conjunto provavelmente deve-se o fato de mais de novecentos anos após seu aparecimento, as cruzadas ainda integrarem dimensões da experiência como representação.
As cruzadas inspiraram as artes plásticas, a música e a literatura e atualmente continuam inspirando o cinema, a teledramaturgia, revistas de vulgarização científica, romances gráficos e formas diversas de entretenimento em que se contam simulações lúdicas e jogos virtuais. Ao lado das heresias e da inquisição, elas também constituem um dos pilares em que se apoia a autocrítica ocidental quando observa seu passado medieval. A palavra cruzada tem um lugar importante em nosso vocabulário ora aplicando-se à violência do fanatismo religioso, ora à firme reunião de forças benéficas em torno de uma causa nobre, geralmente ligada a um ideário de salvação.
Podemos assim falar em cruzada pela infância ou cruzada contra a fome. A ambivalência que a ideia de cruzada ainda comporta em suas evocações cotidianas expressa a própria complexidade do fenômeno. Mesmo os historiadores não se sentem capazes de produzir um juízo único e definitivo a respeito do que foram as cruzadas. Discutem se estas se definem por seu caráter de expedição militar ou de peregrinação, se os benefícios espirituais devem ser tomados entre seus dados fundamentais, se as expectativas escatológicas se contam entre suas motivações decisivas, se o componente popular foi significativo e qual a importância de Jerusalém em sua deflagração.
Não há conceito capaz de se impor isoladamente como verdadeiro. Nem mesmo os movimentos que devem ser identificados pelo termo cruzada são reconhecidos de forma unívoca. Estariam as expedições para o oriente no mesmo plano que as lutas contra os muçulmanos na Espanha durante a Reconquista ou aquelas contra os pagãos da Europa Oriental, os hereges albigenses e os imperadores rebeldes ao papado? Afinal, o que constitui o cerne comum das expedições ocorridas entre fins do século XI e fins do século XIII que a partir de meados do século XII vieram a ser conhecidas como cruzadas? Em Guerra Santa. Formação da ideia de cruzada no Ocidente cristão (Campinas: Editora da Unicamp, 2013), temos a oportunidade de acompanhar o percurso de Jean Flori em defesa de um conceito de cruzada. A pergunta da qual parte seu estudo é: como a comunidade cristã, em sua origem pacifista, desenvolveu um pensamento e uma prática em relação à violência bélica que lhe permitiu aderir de forma justificada e legítima a diversas empresas guerreiras a ponto de a Igreja vir a se tornar a deflagradora direta de um conflito com a extensão e repercussão das cruzadas? O propósito da obra consiste em demonstrar que essa mudança não foi repentina.
A tese que guia a obra é aquela de que a cruzada foi o desdobramento de uma ideia cristã antiga, surgida no longínquo século IV – momento em que são dados os passos decisivos para a institucionalização da Igreja – que advogava que certos conflitos militares deveriam ser entendidos como desejados por Deus e, portanto, realizados em seu nome e com sua aprovação. Tratar-se-ia de guerras que, em função de suas motivações e seus fins específicos, seriam sacralizadas, ou santas. Dessa forma, Flori entende a cruzada como uma modalidade de guerra santa. Aqui, é necessário um esclarecimento, uma vez que o autor não identifica a guerra santa ao jihad, esforçando-se por mostrar, ao tratar das relações complexas entre a cristandade e o islã medievais, as diferenças entre os dois tipos de combates sacralizados.
Parte dos estudos dedicados às cruzadas procuraram compreendê-las a partir da observação do evento já em curso ou de seus resultados. Basta lembrarmos das vertentes que viram nelas a resposta à crise de um feudalismo incapaz de reproduzir-se sem a conquista de novos territórios ou um primeiro movimento da mundialização que mais tarde seria completado pelas Grandes Navegações, responsável pela imposição do sistema de valores cristãos fora das fronteiras tradicionais da cristandade. Nesses dois casos, a compreensão do que foram as cruzadas se desloca e o fenômeno que propriamente constituem permanece incompreendido. Jean Flori procura apresentar cada um dos elementos que, de seu ponto de vista, integram a trama que tornou as cruzadas possíveis. Dessa forma, seu livro se estende do século IV a 1096, quando da pregação de Urbano II, feita durante o concílio de Clermont (1095), surge a primeira cruzada. Flori produz sua reconstituição atento tanto a ideias quanto a processos demorados e eventos pontuais. Da trama rica e densa proposta pelo autor, que envolvem considerações a respeito da evolução das relações entre cristãos e muçulmanos, o aparecimento e a consolidação de um forte movimento penitencial e peregrinatório a partir do século XI e a intensificação de expectativas de ordem escatológica no mesmo período, podemos destacar três questões que nos parecem maiores. Em primeiro lugar, a aproximação entre a Igreja e o Império que ainda na Antiguidade Tardia transformou a autoridade pública secular em protetora militar da comunidade de cristãos seja contra inimigos externos seja contra as próprias dissensões internas que ameaçavam sua ordem hierárquica e a paz social. Em segundo lugar, na Idade Média, o prosseguimento dessa política de busca de apoio nas lideranças laicas em ambientes em que a autoridade real ou imperial não se faziam presentes ou não se mostravam particularmente sensíveis a essa ordem de problema, momento em que podemos destacar a situação vulnerável da Sé romana e suas ações para atrair apoio que lhe garantisse proteção armada tanto contra potentados locais quanto contra invasores. Em terceiro lugar, a reforma da Igreja que, entre os séculos XI e XII, alterou de forma significativa o sistema de autoridade eclesiástico perpetrando uma separação mais nítida, inclusive no domínio material, entre o que era ou não consagrado, entre o que estava sob a autoridade eclesiástica e o que estava submetido ao arbítrio laico. Um dos resultados dessa reforma foi a reivindicação papal da liderança direta de Cristo sobre os conflitos de ordem militar de seu interesse. Como lembra o autor, com as cruzadas, o papa, investido da proteção já não apenas do patrimônio de São Pedro mas da própria herança de Cristo “[…] falava como comandante de todos os cristãos, em nome de Cristo”.
Os dez capítulos que constituem a obra conduzem o leitor pelo processo em que se integram ao longo dos séculos medievais até o ano de 1096 os diversos elementos que compõem a cruzada.
Assim, depois de um estudo introdutório a respeito da forma como o tema foi problematizado pela historiografia (Capítulo 1) o autor discute a herança que a tradição imperial de Constantino a Carlos Magno legou das relações entre violência guerreira e sagrado (Capítulo 2). Em seguida, um bloco importante de textos ocupa-se do período capital transcorrido entre os séculos X e XI. O autor trata aí de um problema importante: a Paz de Deus conduziu à cruzada como defendeu a tese lançada por Georges Duby? A resposta negativa dá ensejo a um interessante panorama do que foi a Paz de Deus e da tradição em evidência em sua discussão mobilizada em favor da construção da especificidade da cruzada. Isso se dá sem que seja negado um papel à Paz de Deus, sobretudo por meio da concessão de benefícios espirituais aos defensores de igrejas nela envolvidos (Capítulo 3). Em seguida é analisada a relação entre santidade e violência (Capítulo 4), sobretudo por meio dos santos guerreiros e a sua contribuição no processo de sacralização da violência (Capítulo 5).
Deslocando de forma mais incisiva seu olhar em direção à Santa Sé, Flori mostra a associação de signos militares à autoridade de São Pedro (Capítulo 6) e a forma como a violência militar integrava a ideia que Gregório IX fazia da defesa da liberdade da Igreja (Capítulo 7). O bloco seguinte trata da relação com o “outro”, o elemento externo à cristandade que, embora sempre presente no pensamento bélico cristão, se reveste de profunda materialidade com os destinos orientais (Capítulo 8) e ocidentais (Capítulo 9) da expansão muçulmana. Para encerrar, o autor reafirma seu pressuposto de que as cruzadas têm fundamentos de diferentes ordens (espirituais, teológicos, bélicos, políticos) e temporalidades (do século IV a 1096), mas que o campo fundamental em que a vemos se conformar é aquele do enriquecimento da ideia de guerra santa. É em relação a este conceito diante de suas alterações em 1095 que o autor tece sua definição de cruzada (Capítulo 10).
As opções do autor e seu resultado no campo conceitual, como é de se esperar de todo grande trabalho, certamente resultarão em perplexidade de alguns e em discordância frontal de outros. No entanto, a riqueza de seu percurso, sua coragem num campo antigo e proeminente em que ainda não se atingiu nenhuma unanimidade e, em particular, o fato de chamar nossa atenção para a importância da ideia de guerra santa na tradição política e teológica cristã, resultam em uma aventura pela erudição e pelo pensamento de grande valor para o estudioso de qualquer dos temas e sub temas abordados.
* Este texto faz parte, em sua quase integralidade, da “Apresentação” feita à resenhada.
Néri de Barros Almeida – Livre-docente. Professora junto ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/ UNICAMP). É coordenadora do núcleo UNICAMP do Laboratório de Estudos Medievais (LEME). E-mail:[email protected].
Palavras viajeiras: circulação do conhecimento pedagógico em manuais escolares (Brasil / Portugal, de meados do século XIX a meados do século XX) / Revista Brasileira de História da Educação / 2013
Os textos aqui reunidos nasceram de múltiplos encontros que tematizam, particularizam e formalizam processos de circulação de ideias educacionais. Seus autores participam do Projeto de Pesquisa “História da Escola Primária no Brasil: investigação em perspectiva comparada em âmbito nacional (1930-1961)”, que fomentou a confluência de análises, o compartilhamento de fontes documentais e o intercâmbio de pessoas e experiências acadêmicas entre o Brasil e Portugal. Num desses encontros, o IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação: Rituais, Espaços & Patrimónios Escolares, realizado em Lisboa em julho de 2012, foram apresentados estudos que atestaram a coerência metodológica e as múltiplas possibilidades interpretativas com um mesmo conjunto de fontes. Daí resultou a presente publicação, cujo intento é apresentar análises de um conjunto de manuais escolares que circularam na Escola Normal brasileira e portuguesa entre meados do século XIX e meados do século XX, a partir de diferentes olhares, reeditando em outra chave o processo original de circulação de ideias entre Brasil e Portugal no qual esses materiais se inserem.
O trabalho foi iniciado por meio do levantamento de estudos (devidamente referenciados nos artigos) que investigaram manuais didáticos publicados nos dois países, cuja listagem serviu de guia para a busca nos seguintes acervos: Biblioteca do Livro Didático da Faculdade de Educação da USP / São Paulo; Biblioteca Nacional / Rio de Janeiro; Biblioteca da Universidade do Estado de Santa Catarina, Biblioteca Nacional / Lisboa; Biblioteca da Escola Superior de Educação / Lisboa e Biblioteca da Casa Pia / Lisboa. Por meio desses procedimentos, foram localizados cerca de dez manuais que, comprovadamente, circularam nos dois países, e foram selecionados aqueles cujo conteúdo abordava a formação profissional docente em maior amplitude (função social da escola primária, métodos e conteúdos de ensino, processos avaliativos, provimento material da escola); excluíram-se, por exemplo, aqueles voltados especificamente para questões próprias da Psicologia. As discussões metodológicas preliminares buscaram estabelecer um corpus empírico que possibilitasse o diálogo entre os diferentes enfoques e evidenciasse a fertilidade das fontes, e, por meio desses procedimentos, foi definido o seguinte conjunto de manuais didáticos: Elementos de Pedagogia, de Affreixo e Freire (1870); Curso Prático de Pedagogia Destinado aos Alunos-Mestres das Escolas Normaes Primarias e aos Instituidores em Exercício, de Daligault (1874); Lições de Pedagogia Geral e de História da Educação, de Pimentel Filho (1875); Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental, de Faria de Vasconcelos (1910); Lições de Metodologia, de Fonseca Lage (1920); A arte da leitura, de Mário Gonçalves Viana (1949); e Lições de Pedagogia, de Aquiles Archêro Junior (1955).
Os pesquisadores utilizam diferentes lentes para tecer suas análises, e cada um, segundo sua especialidade de pesquisa, aprofunda aspectos que, juntos, compõem um painel interpretativo sobre o processo de escolarização e seus espaços; a normatização do trabalho docente; os princípios que nortearam a seleção cultural para a escola primária; a constituição de modos e métodos de ensino para realizar os objetivos educacionais; e especificidade que assumem os materiais e o ensino da leitura e da escrita. Todas as análises reiteram a importância dos impressos na consolidação da escola primária portuguesa e brasileira, notadamente no que se refere às prescrições feitas nos manuais escolares que, em trânsito, configuramse como palavras viajeiras.
Nessa perspectiva, o artigo “A função social da escola e a constituição da forma escolar (Brasil e Portugal, 1870-1932)”, de Vera Teresa Valdemarin, contribui para a compreensão da consolidação da forma escolar entre os séculos XIX e XX, pois, nas proposições conceituais e teóricas presentes nos diferentes manuais, não são percebidas alterações na função que a instituição adquiriu nas sociedades modernas. No entanto, houve profundas transformações nos procedimentos pedagógicos, tributários de mudanças científicas, sociais e econômicas ocorridas entre a publicação dos textos. Essa transformações refletem a complexidade da cultura composta por acréscimos, desusos, empréstimos e embates que sofreram alterações mediante o enraizamento em continuidades práticas nas quais o processo de escolarização se ampara.
Vera Lucia Gaspar da Silva, no artigo “Objetos em viagem: discursos pedagógicos acerca do provimento material da escola primária (Brasil e Portugal, 1870 – 1920)”, localiza e analisa nos manuais um conjunto de prescrições indicadoras do provimento material da escola, que levam à identificação de um desenho material para a escola primária brasileira e portuguesa, num importante período de sua expansão: finais do século XX e anos iniciais do século XX. No retrato construído a partir dos discursos dos diferentes pedagogos destacam-se elaborações sobre o espaço físico, sobre os materiais para o ensino e sobre o aparato burocrático. Nesses elementos, observa-se a suavização do caráter prescritivo inicial, que vai sendo matizado por um tom mais “cientificista”; além disso, no cenário escolar esboçado, revelam-se diferentes formas de conduzir os trabalhos e de operar com os objetos num processo não linear, mas construído por meio de movimentos, de idas e vindas e da convivência de diferentes abordagens.
No artigo “O tema dos modos de ensino nos manuais de pedagogia ou em torno de um problema pedagógico”, Carlos Manique da Silva aborda os manuais na perspectiva da produção de um conhecimento científico em educação que se tornou referencial das práticas, qual seja, aquele que diz respeito aos modos de ensino. Nos manuais selecionados, o autor detecta a mudança de uma perspectiva que advoga a homogeneização da população escolar para o tratamento diferenciado do aluno, produzido pelo desenvolvimento das proposições ancoradas na Psicologia. No debate travado entre duas maneiras de conduzir a relação pedagógica explicitam-se aspectos profundos da atividade escolarizada, que dizem respeito à transmissão do conhecimento e à forma como os professores são entendidos na sua identidade profissional.
Rosa Fátima de Souza, no artigo “A formação do cidadão moderno: a seleção cultural para a escola primária nos manuais de Pedagogia (Brasil e Portugal, 1870 – 1920)”, focaliza a organização pedagógica proposta para a escola primária, tendo em vista o objetivo de ensinar muitas crianças ao mesmo tempo. Nos manuais didáticos analisados, evidencia-se a crescente preocupação com a ordenação e a distribuição do conhecimento e do tempo, que passam a ser considerados requisitos para o exercício da docência. Os conteúdos do ensino primário, resultantes de seleção cultural, tornam-se indissociáveis dos programas, da avaliação e da classificação da aprendizagem e dos procedimentos metodológicos e, juntos, atestam a racionalidade que preside a instituição escolar.
“A mão, o cérebro, o coração. Prescrições para a leitura em manuais escolares para o Curso Normal (1940 – 1960 / Brasil-Portugal)”, artigo elaborado por Maria Teresa Santos Cunha, focaliza questões referentes à escolarização da leitura e evidencia como a ação do Estado a transformou num saber escolar. Nesse processo, os manuais produzidos para uso nos cursos de formação de professores assumem função essencial, pois definem programas, comportamentos – concentração e paciência, por exemplo – e, por meio deles, transformam alunos em leitores. Aliado à escrita, o ensino da leitura atribuiu à instituição escolar importância social sem precedentes, investindo, ao mesmo tempo, na qualificação técnica e simbólica do corpo docente.
Além dos diferentes aspectos tematizados em cada um dos artigos, o conjunto dos textos evidencia a fertilidade dos manuais didáticos como documentos históricos. Indissociáveis da expansão da escola pública, esses materiais de uso cotidiano revelam os vínculos dos autores com o campo editorial e com o campo profissional e a construção do discurso pedagógico. A delimitação temporal aqui adotada possibilitou ainda detectar as modificações produzidas nesse discurso, seja pela incorporação de práticas usuais, seja pela divulgação de tendências emergentes; foram atestados também elementos que parecem resistir às mudanças e têm caracterizado a escola como instituição peculiar. Os manuais, enfim, são dispositivos privilegiados para a compreensão dos processos de circulação de ideias: de mão em mão, de país em país, viajam no tempo; estruturam saberes; e, tomados em fragmentos ou na totalidade, possibilitam o aprofundamento do que sabemos sobre o passado e sobre o presente da escola.
Vera Teresa Valdemarin
Vera Lucia Gaspar da Silva
VALDEMARIN, Vera Teresa; SILVA, Vera Lucia Gaspar da. Apresentação. Revista Brasileira de História da Educação. Maringá, v.13, n.3, set. / dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
The European Union since 1945 | Alsdair Blair
Chefe do Departamento de Política e Políticas Públicas e Professor do curso de Relações Internacionais Jean Monnet da Universidade DeMontfort, em Leicester, Inglaterra, Alasdair Blair dedicou parte de sua carreira a pesquisar os fenômenos que levaram à formação da União Europeia e o resultado pode ser visto nesse livro lançado em 2005 e revisto em 2010.
Organizada em quatro partes, a obra relata os eventos principais do processo de unificação em ordem cronológica com uma primeira parte dedicada à contextualização histórica que levou ao inicio do processo. Na segunda parte, o autor analisa os cinco períodos do processo com cortes em 1945 a 1957 quando da formação do primeiro grupo de países; 1958 a 1970 quando se decide pela primeira abertura à entrada de novos membros e constituição da Comunidade Econômica Europeia; 1971 a 1984 com o destaque para a atuação da Grã-Bretanha dentro do bloco; 1985 a 1993 onde se dá o processo de unificação monetária de parte dos países do grupo; e terminando com o período de 1994 a 2010, onde se destaca o processo de enfrentamento da crise e a entrada de novos países membros. Leia Mais
Brasil, Portugal e África portuguesa: história e artes / História Revista / 2013
O dossiê Brasil, Portugal e África portuguesa: história e artes traz uma gama de discussões voltadas para diferentes objetos, sob olhares diferentes que traduzem a importância desta temática no mundo atual. Além disso, são apresentados artigos e uma entrevista que agregam contribuições de pesquisadores. Assim o texto de Manuel Ferro assentado em uma fonte, o Canto V de os Lusíadas demonstra a permanência deste como fonte de inspiração na literatura atual. Jorge Pais de Sousa preocupa-se com a existência ou não de uma fração socialista do Partido Republicano Português por intermédio da atuação de Magalhães Lima e Afonso Costa. Maria de Fátima Fontes Piazza aborda a circulação de sensibilidades entre Brasil e Portugal, cotejando a edição de luxo, a Selva, do escritor português Ferreira de Castro com as 12 ilustrações de Cândido Portinari para esta edição. Élio Cantalicio Serpa e Heloisa Paulo discutem as relações entre Brasil e Portugal por intermédio do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra. João Batista Bitencourt traz para o leitor uma discussão historiográfica cotejando trabalhos produzidos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, percebendo uma opção pelo enfoque que credita méritos às tradições lusitanas como componente da brasilidade. Alírio Cardoso trata da conquista do Maranhão e Grão Pará durante o período a União Ibérica (1580-1640). Eduardo Melo França trabalha com notícias, publicadas em Portugal, acerca da proclamação da república brasileira e da queda do imperador. Andreia Martins Torres faz uma interpretação das contas encontradas durante a escavação da Fragata Sto. António de Tána, naufragada em Mombaça no ano de 1697, problematizando o significado da presença destes materiais no contexto das ligações entre a Índia e África. Frank Marcon debruça-se sobre o estilo de música Kuduro usado no Brasil, Portugal e Angola, percebendo as implicações de ordem cultural e mercadológica.
Os artigos apresentados tratam de temáticas variadas. O artigo de Cynthia Machado Campos trabalha sobre a emergência do jovem / violência ou jovem / rebeldia nas ciências humanas. José Adilçon Campigoto, João Carlos Corso e Rejane Klein tratam de questões relacionadas com o uso e posse de terra, tendo como ponto de partida a Irmandade de São José da Água Branca. Filipa trabalha com a obra Il Gattopardo de Lampedusa, tendo como fio condutor o corteggiamento della morte, identificando vestígios de uma herança deixada pelos esquemas mentais da dialética barroca. José Antônio de Carvalho Dias Abreu trabalha com a obra de Joaquim Manuel de Macedo intitulada As vítimas algozes percebendo um processo de inversão no sistema escravocrata: a vitima é o algoz e o opressor é vitimizado. Milton Pedro Dias Pacheco debruça-se sobre monumentos relacionados com a arquitetura das águas existentes em Coimbra.
Acrescentamos ao presente dossiê uma entrevista com a Professora Doutora Maria Aparecida Ribeiro, ex Diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra.
Élio Cantalicio Serpa
SERPA, Élio Cantalicio. Apresentação. História Revista. Goiânia, v. 18, n. 2, jul. / dez., 2013. Acessar publicação original [DR]
Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900 – CROSBY (AN)
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Tradução: José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011. Resenha de: VENCATTO, Rudy Nick. .Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 37, p. 331-338, jul. 2013.
As questões socioambientais ganharam um grande impulso nas discussões acadêmicas, principalmente no final do século XX e início do século XXI. É neste cenário que a obra de Alfred W. Crosby1, Imperialismo Ecológico: a expansão biológica da Europa 900-1900 ressurge, no ano de 2011. Publicado primeiramente no ano de 1986, nos Estados Unidos, o livro foi lançado no Brasil pela Editora Companhia das Letras no ano de 2011, em uma versão de bolso, fruto de uma tradução da primeira reimpressão, que data de 1991.
Cabe aqui uma primeira reflexão plausível de debates. Por que uma obra lançada no século passado ganha evidência no Brasil somente no ano de 2011? Em um panorama no qual as preocupações ambientais auferiram lugar de destaque, editar uma obra com tal magnitude de discussão significa também, para a editora, um mercado de circulação favorável. Além disso, é inegável que a temática abordada por Alfred Crosby é pertinente, não somente neste século, mas sim, em qualquer temporalidade, pois proporciona diferentes olhares sobre os movimentos expansionistas e coloniais, estimulando, assim, a quebra de alguns paradigmas.
De uma forma geral, a obra de Alfred W. Crosby problematiza o processo de expansão das populações europeias, principalmente por volta dos 0 a 1900, porém sem perder de vista um recorte temporal mais longínquo. O foco de sua discussão concentra-se na invasão biológica lançada pelas levas europeias em outras regiões do planeta, as quais constituíram aquilo que denominou-se de “biota portátil”2. Crosby aufere um lugar protagonista à biota portátil, sendo ela responsável por expulsar ou até mesmo eliminar a flora, fauna e os habitantes nativos de distintas regiões do mundo, dando origem às “Neoeuropas”, ou seja, Austrália, Nova Zelândia e América.
Para tal reflexão, sua obra foi dividida em doze capítulos, ao longo dos quais, Crosby passeia da Pangeia, há aproximadamente 180 milhões de anos, até 1900. Segundo ele, neste período, as Neoeuropas já estão constituídas e, por sua vez, são responsáveis pelo abastecimento mundial de alimentos estando todas situadas em latitudes similares, em zonas temperadas dos hemisférios norte e sul, possuindo a grosso modo, o mesmo clima. Como introdução, Crosby lança explicações para delimitar seu tema, partindo de uma preocupação central: entender as razões que levaram os europeus e seus descendentes a estarem distribuídos por toda a extensão do globo.
Segundo Alfred Crosby, o bom desempenho das campanhas imperialistas e expansionistas europeias está ligado a questões ecológicas e biológicas. Porém, ao fazer estas afirmações, o autor acaba por simplificar estas campanhas, e/ou, até mesmo, naturalizálas, diminuindo, assim, a relevância das questões econômicas, políticas e culturais que também foram agentes neste processo. Trata-se de uma afirmação audaciosa que por vez pode direcionar os leitores a caírem na malha discursiva do autor, tomando os movimentos de conquista e extermínio enquanto ações naturais, ligadas apenas a questões biológicas.
É no segundo capítulo intitulado, Revisitando a Pangeia: o Neo lítico Reconsiderado, que Crosby passa a olhar mais atento para o processo de evolução e desenvolvimento de diferentes espécies, tomando como eixo de análise a divisão da Pangeia3. Para Crosby, este movimento definidor dos continentes proporcionou que muitas formas de vida se desenvolvessem de maneira independente e em muitos casos, com exclusividade, o que, segundo o autor, pode explicar as diferenças extremas de fl ora e fauna entre a Europa e as Neoeuropas.
Chama atenção a definição de cultura que Crosby traz para sua análise. É cabível de compreensão que sua concepção adapta-se aos interesses que procura desvendar neste processo de investigação, apresentando de forma limitada uma categoria de análise tomada por tanta complexidade e debatida em várias áreas das ciências humanas.
Para Crosby (2011, p. 25), cultura pode ser entendida enquanto: […] um sistema de armazenamento e alteração de padrões de comportamento, não nas moléculas do código genético, mas nas células do cérebro. Essa mudança tornou os membros do gênero Homo os maiores especialistas em adaptabilidade de toda natureza.
Para o crítico literário Raymond Williams, os conceitos são elementos historicamente constituídos, fixando sentidos, imagens e margens de significações que, muitas vezes, imobilizam o passado no passado. Os conceitos, antes de empregados como verdades ou paradigmas, devem ser vistos e problematizados em seu movimento, levando em consideração o espaço e o tempo em que foram criados.
Só assim será possível aplicar análises que venham a compreender os sentidos cristalizados, vividos em outras temporalidades (WILLIANS, 2001). Neste sentido, para além da proposta de Crosby, cultura deve ser entendida não apenas enquanto manifestações biológicas, mas sim enquanto um complexo de relações que são constitutivas e constituintes dos sujeitos humanos.
A partir da concepção biológica de cultura, Crosby levanta hipóteses sobre o desaparecimento dos grandes mamíferos em localidades onde o gênero Homo fora se estabelecendo. Para o autor, as doenças e o fogo utilizado para efetivar grandes queimadas podem ter alterado o hábitat dos gigantes tornando impossíveis a vida e a reprodução. Segundo Alfred Crosby, este processo foi uma mutação cultural que deu origem à “Revolução do Neolítico”4.
No terceiro capítulo, intitulado Os Escandinavos e os Cruzados, Crosby dá ênfase às primeiras colônias ultramarinas da Europa, sendo elas: a Islândia e a Groenlândia. Estabelecidas por populações escandinavas, estas, por sua vez, contribuíram para a criação de mecanismos necessários para o bom desempenho das navegações no século XV. Segundo o autor, o sucesso nestas colônias esteve relacionado à competência náutica, à capacidade de lidar com atividades da pecuária e à adaptação a uma alimentação a base de leite.
Por outro lado, o fracasso, mais tarde, também está relacionado às questões fisiológicas e estratégicas. Para ele, a ausência de cereais, madeira e ferro nestas localidades, tornava o contato comercial com esse continente inviável, e o resultado por um maior intervalo de tempo sem contato com o continente europeu era o extermínio por surtos de epidemias. Em suas palavras, “[…] as doenças infecciosas davam a impressão de trabalhar não para os escandinavos, mas contra eles.” (CROSBY, 2011, p. 64).
No discurso de Crosby, os agentes patógenes que muitas vezes passam despercebidos na análise dos processos de colonização são cruciais para compreender os sucessos e fracassos das expansões europeias. Entretanto, não se deve perder de vista que agentes culturais como costumes, língua, religião, entre outros, são de suma importância para uma compreensão mais abrangente sobre estas campanhas. Olhar somente para a biota portátil significa dar muito crédito a um único conjunto de fatores. Faz-se necessário somar outros elementos que tiveram papel ativo neste processo de ocupação e colonização.
Por outro lado, a quebra de paradigmas que Crosby possibilita é plausível de elogios. É ainda no terceiro capítulo que, fazendo uso de uma rica documentação baseada em cartas de navegação e diários de navegadores, o autor torna possível quebrar com os mode los explicativos que cristalizam o contato e a ocupação europeia do continente americano, apenas enquanto fruto das navegações do século XV. Problematizando a chegada dos escandinavos na região do atual Canadá, Crosby contribui para perceber a história enquanto movimento e processo, estabelecendo, assim, uma série de novos elementos para esta refl exão.
O quarto capítulo é As Ilhas Afortunadas; o quinto, Ventos; e o sexto, Fácil de alcançar, difícil de agarrar, figuram o processo de expansão marítima empreendido pela Europa entre os séculos XIV e XV.
São nesses capítulos que o autor chama atenção às funções dos arqui pélagos para os navegadores. Passando de sinais de orientação no oceano a lugares de abastecimento, tornaram-se, mais tarde, elos entre as metrópoles e as colônias. Para Crosby, os arquipélagos funcionaram como experimentos no processo de expansão das atividades agrícolas e pecuárias. Transformar ilhas em lugares de abastecimento significava disseminar espécies de animais, muitas das quais, num período longo de tempo, acabaram causando alterações nos elementos da fl ora e fauna. Segundo Crosby, (2011, p. 86) “É possível que plantas nativas tenham desa parecido e animais nativos tenham morrido por falta de alimento e abrigo”.
O autor levanta uma refl exão que impulsiona os leitores a pensar sobre a instabilidade do ambiente natural. Para Crosby, muitas espécies que se julgam nativas de um lugar foram em algum tempo trazidas pelos europeus, espalhando-se e levando a crer que sempre existiram em um determinado espaço. Perceber que espécies dora vante tomadas enquanto nativas foram em outros tempos, introdu zidas consciente ou inconscientemente por migrações humanas, significa perce ber os sujeitos humanos num processo relacional com a natureza.
Penso neste momento no trabalho de Simon Schama, Paisagem e memória (1996), no qual, segundo o autor, antes mesmo de estarmos lidando com uma natureza, estamos lidando com uma paisagem, ou seja, olhares que foram lançados sobre a natureza e que, de alguma manei ra, instituem significados para esses espaços. Schama instiga a perceber a natureza não apenas por olhares da botânica ou dos bió logos, mas sim a partir dos usos e das representações presentes no imaginário dos seres humanos. Para o autor, é necessário redescobrir o que já possuímos, mas que, de alguma forma, escapa-nos ao reconhecimento e à apreciação. Através desta concepção, é possível estar atento à rique za, à antiguidade e à complexidade da tradição paisagística com relação aos modos de ver a natureza.
O sétimo capítulo é Ervas; o oitavo, Animais; e o nono, Doenças, dão ênfase, e Crosby não poupa em exemplos, na expansão da biota portátil que, para o autor, fora o principal agente delimitador do sucesso na constituição das Neoeuropas. São nestes capítulos que, sutilmente, Crosby diminui o peso das ações de extermínio causadas pelo expansionismo europeu. Para ele, as mudanças também fugiram do controle humano quando algumas espécies de animais como o rato embarcaram nos porões dos navios levando consigo um universo de agentes patológicos. Para Crosby (2011, p. 201-202), “Isso parece indicar que os seres humanos raras vezes foram senho res das mudanças biológicas que provocaram nas Neoeuropas.”.
É no nono capítulo que essa abordagem é realizada com maior cautela. Crosby dá grande ênfase às ações modificadoras causadas pelos agentes patógenes, excluindo, assim, de maneira sutil, a responsabilidade europeia pela ação e devastação nas colônias ultramarinas.
Em suas palavras, “Foram os seus germes os principais responsáveis pela devastação dos indígenas e pela abertura das Neoeuropas à dominação demográfica”. (2011, p. 205). De certa forma, cabe pensar que quando a ação das enfermidades fora percebida pelos europeus, a mesma passou a ser utilizada enquanto arma no processo de expansão.
Neste caso, excluir a intenção e dar ênfase somente à biota, significa realizar uma anistia no processo de extermínio e isentar os conquistadores das chacinas realizadas.
No décimo capítulo, Nova Zelândia, o autor preocupa-se em destacar o caráter distinto da formação dessa Neoeuropa. Baseando-se em trabalhos de botânica e analisando o processo de colonização da Nova Zelândia, Crosby aprofunda-se na compreensão das mudanças proporcionadas pela biota portátil. Este capítulo emerge enquanto exemplo mais específico, para dar legitimação à análise proposta pelo autor em ressaltar as interferências europeias nos outros continentes.
É nos capítulos décimo primeiro, Explicações e décimo segun do, Conclusão, que Alfred Crosby procura fechar sua análise, mas sem esgotar as possibilidades de refl exão. Cabe destacar que, ainda no capítulo Explicações, o autor retoma a explicação daquilo que seria a biota portátil tornando, de certa forma, algo maçante em seu texto.
Por outro lado, este balanço final vem enquanto auxílio aos leitores que não se debruçam pelos caminhos de toda a obra. Mais uma vez, Crosby vai insistir no discurso que naturaliza o processo de invasão e extermínio causado pela expansão europeia. Um de seus argumentos concentra-se ao fato de que, por volta do século XV, as modificações e devastações de espécies vivas já faziam parte do processo de evolução destes continentes. Em suas palavras: “Em 1500, o ecossistema dos pampas estava arrasado, desgastado, incompleto – como um brinquedo nas mãos de um colosso pouco cuidadoso.” (CROSBY, 2011, p. 290).
Alfred Crosby estimula a olhar para os movimentos migra tórios, sejam eles no Neolítico ou no século XV, enquanto duas levas de invasores da mesma espécie. Para ele, os primeiros atuaram como tropa de choque abrindo caminho para a segunda leva, a qual, numericamente maior, estava equipada com economias mais complexas.
(CROSBY, 2011, p. 291).
De certa forma, O imperialismo ecológico, de Alfred Crosby, possibilita lançar olhares para outros elementos que também são significativos na compreensão dos processos de expansão e colonização difundidos pelo globo. Porém, faz-se necessário, ao longo do texto, estar atento para não naturalizar estas ações humanas, as quais, no discurso do autor, ganham uma imparcialidade perante os agentes naturais. Olhar para as modificações impulsionadas pelas navegações significa não perder de vista os agentes políticos, econômicos e sociais presentes neste processo.
É significativo pensar no caráter da biota portátil e sua capacidade de modificação dos espaços. Caminhar pelas linhas do Imperialismo Ecológico, de Crosby, permite estar atento a esses agentes.
Entretanto, é de suma importância não cair nas amarras e deixar de lado a bagagem cultural que se desloca com esses movimentos migra tórios, levando consigo, transformações e adaptações. Olhar para ambos os aspectos torna a compreensão das ações humanas mais esclarecedoras e possibilita não perder de vista as ações e decisões humanas, imbricadas em diferentes conjunturas e temporalidades.
Notas
1 Nascido em Boston, em 1931, o autor estadunidense atuou em diversas universidades americanas e se estabeleceu na Universidade do Texas, em Austin, onde aposentou-se, no ano de 1999. Suas pesquisas ao longo de sua carreira contemplaram principalmente questões voltadas para a história biológica, assumindo como maior preocupação as ações e interferências causadas pelos processos evolutivos de diferentes espécies de seres vivos.
2 Conjunto de animais, plantas e doenças que navegaram com os europeus efetivando projetos de colonização e dominação de novas terras.
3 Massa única de terra a qual, após sua divisão, deu origem aos continentes. Este movimento iniciou-se por volta de 200 milhões de anos atrás.
4 Para Crosby, essa revolução ocorreu quando os humanos passaram a triturar e polir. Mais tarde vem o surgimento da agricultura e a domesticação dos animais, a qual vai iniciar primeiramente no Velho Mundo (Europa) e mais tarde nas Neoeuropas. (2011, p. 29).
Referências
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900.
Tradução de José Augusto Ribeiro, Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia da Letras, 2011.
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
WILLIAMS, Raymond. Cultura y sociedad. 1780-1950. De Colerige a Orwell, Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.
Rudy Nick Vencatto – Docente do Curso de História da Universidade Paranaense – UNIPAR e doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. E-mail: [email protected].
Imagem e reflexo. Religiosidade e Monarquia no Reino Visigodo de Toledo (séculos VI-VIII)
O campo historiográfico brasileiro atravessou, nas últimas décadas, um amplo e profundo processo de consolidação e expansão. Essa dinâmica, amparada fortemente no crescimento do ensino superior no país, tanto em cursos de graduação e principalmente na pós-graduação, cria as condições para que a historiografia nacional avançasse em termos teóricos e metodológicos, mas também ultrapassasse as fronteiras temáticas que tradicionalmente limitavam os estudos históricos.
No bojo deste processo assistimos senão a emergência, mas com certeza o estabelecimento e a consolidação dos estudos históricos voltados para temáticas vinculadas a Antiguidade e o Medievo. As dissertações de mestrado, as teses de doutorado, artigos e livros se multiplicaram, ainda que aquém do desejável, abordando uma vasta gama de questões que se debruçam desde aos problemas da economia mesopotâmica até a santidade na realeza portuguesa no alvorecer da modernidade. Leia Mais
Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette – ALVES (Tempo)
ALVES, Rubem. Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2011. 188 p. Resenha de: COSTA, Tati. Livro para saborear: método científico regado a sensibilidades. Tempo v.19 no.35 Niterói jul./dez. 2013.
Pelo que sei, só existe um lugar, no universo inteiro,
onde o puro pensamento é capaz de mover
a matéria. Esse lugar é o corpo. No corpo, a gente
pensa na moqueca e a boca fica cheia d’água. (p. 144)
Resenhar obra de Rubem Alves é saboroso desafio pela qualidade de sua escrita e erudição de seus conhecimentos. Resenhar, com objetivo de circulação acadêmica orientada ao conhecimento histórico, é como acrescentar pitada de pimenta ao desafio. Porque a experiência de vida narrada pelo autor, então aos 77 anos, carrega uma provocação ao fato de que ambientes educacionais, acadêmicos e científicos ignoram o aspecto sensível do conhecimento e as dimensões do amor, prazer, desejo e alegria. Felizmente, nas ciências humanas, algumas experiências com história do tempo presente têm se dedicado a desafios semelhantes. Por exemplo, já se trilha com sabedoria a história das sensibilidades; já se trabalha, há algum tempo, a arte de uma boa conversa nas pesquisas com história oral. E, na história cultural, cada vez mais nos debruçamos sobre as artes e artistas da poesia e literatura, da música, da culinária, das imagens, buscando dimensões de economias do desejo ali presentes. Desde o início, o autor sugere aproximações entre a construção do conhecimento e a gastronomia, destacando as coincidentes raízes etimológicas de saber e sabor. Recorda inclusive que, antigamente, quando uma comida era saborosa, dizia-se: “esta comida sabe bem”.
O livro transita por variações nas quais os objetos de análise são retomados por diferentes pontos de vista e, a cada capítulo, têm caráter ensaístico. Além do prefácio, do próprio autor, 12 ensaios variam bastante em estrutura narrativa. Nos títulos, lê-se marcante presença de bom humor, combinado com provocações críticas. As notas de rodapé, por exemplo, recebem o nome de notas de canapé, termo que Rubem Alves considera mais apropriado, pois devem ser “coisas pequenas e saborosas, algumas doces, outras apimentadas, que abrem o apetite, e que são servidas no meio da festa”.1
Atenta, sobretudo, às questões de história e memória, algo que ocupa significativamente a cena dos atuais estudos históricos, minha observação versa sobre o potencial metodológico da obra como contribuição para as pesquisas em História cultural, História do tempo presente e História oral. Além disso, o livro oferece uma bela retomada de autores clássicos, prato cheio para quem pesquisa apropriações e percursos de leitura a respeito de Nietzsche, Marx, Fernando Pessoa, Bachelard, Paulo Freire, Wittgenstein, Manoel de Barros, Guimarães Rosa, William Blake, entre outros.
A velhice é o ponto de onde fala (ou escreve) o autor: “A consciência da morte nos dá uma maravilhosa lucidez”.2 Tal singularidade sobre a fase da vida nos informa a respeito tanto dele quanto das categorias que lhe são atribuídas: escritor vencedor do prêmio Jabuti em 2009, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), pedagogo, poeta, cronista, contador de estórias, ensaísta, teólogo e psicanalista.
Quando fala sobre envelhecimento, refere-se às metamorfoses do ser humano ao longo do tempo, o processo histórico das mudanças no corpo e nas perspectivas sobre a experiência. Em se considerando a frequente participação de pessoas idosas na História oral, o testemunho do autor sugere ingredientes úteis à linha epistemológica interessada em considerar as elaborações, as composições narrativas, os processos de autopercepção que operam durante a produção e registro dos relatos, como sinalizam Walter Benjamin,3 Alessandro Portelli4 e Eduardo Coutinho.5
Outro diálogo importante: a realização de entrevistas é ato de sensibilidade que exige o gosto por uma boa conversa, e uma epistemologia sobre o prazer da boa conversa é um dos elementos presentes na obra. O encontro entre a pessoa que pesquisa histórias de vida e aquela que narra é um espaço de arte e sabedoria, onde o prazer do corpo revela-se essencial. A dimensão do corpo como elemento de conhecimento tem fundamental importância para quem trabalha com o tema da memória na história. Lembremos, por exemplo, da discussão de Henri Bergson em “Matéria e Memória,”6 atualizada no debate de Ecléa Bosi7 sobre sociedade e memória nas lembranças dos velhos e complementada no diálogo com Paul Ricoeur8 na dimensão da memória compartilhada entre as pessoas “próximas”. Considerando-se as diversas operações entre memória individual e coletiva, é através do universo corporal que a lembrança de uma experiência vivida se inscreve na pessoa.
Mas a memória vive tanto de lembranças quanto de esquecimento, tema que recebe de Rubem Alves um ensaio específico, intitulado “O esquecimento: Barthes (ou ‘Me esqueci do sabido para me lembrar do esquecido’)”. Leem-se algumas propostas produzidas na velhice, quando Barthes dedicou-se à pesquisa e à experimentação. Outra lição importante para o trabalho com História oral:
se quero viver, devo esquecer que meu corpo é histórico, devo lançar-me na ilusão de que sou contemporâneo dos jovens corpos presentes, e não de meu corpo passado.9
A relação entre saberes e fases da vida, alvo da reflexão de Rubem Alves, delineia uma rota de aproximação da obra com o fazer histórico no contemporâneo:
Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra em que se ensina o que não se sabe: isso se chama pesquisar.
Não estaria aí uma inspiração para a história do tempo presente? Uma história escrita a partir da compreensão de que essa ciência chegou à “beira da falésia,” e que toma como objeto de atenção o próprio processo de construção da pesquisa, em seus caminhos e descaminhos, escolhas e descartes, enfim, a “operação historiográfica” em si, tomada como objeto de análise.
Por aí transitamos para o diálogo com a concepção de ciência discutida pelo autor: embate sobre os limites da objetividade em relação às subjetividades e saberes do corpo, um universo além do saber “lógico-racional”. Afinal, indaga Rubem Alves, o que faz uma boa moqueca? O livro de receitas não é garantia de sucesso se não contar com a experiência da cozinheira. Por aí se insere a questão do método científico regado a sensibilidades: juntar ingredientes só resultará em uma boa moqueca se for capaz de gerar água na boca. E, para isso, é imperativo contar com os saberes do corpo, que vão desde a memória do gosto ideal de uma moqueca, passam pela sabedoria dos gestos de salpicar temperos e mexer os ingredientes até atingir o ponto.
A inspiração, esse elemento que todos conhecemos (buscamos, ao menos), é essencial nas escolhas do prato a preparar, das quantidades e qualidades de ingredientes, nos momentos de aumentar ou diminuir o fogo. Por esse caminho, Rubem Alves nos conduz ao paradoxo da (im)possibilidade de um método para a escrita ou para a inspiração. Contudo, tal ponto faz da obra uma inspiradora provocação! Preocupado com que a própria escrita seja prazerosa como uma boa conversa, nos ensina sobre as relações entre oralidade e escrita e sugere alguns temperos narrativos para se contar uma boa história:
Um artigo científico é isso: o relato do caminho que se seguiu para se ir do ponto de onde se partiu até o ponto aonde se chegou. Isso se chama método. Mas o corpo não entende a linguagem do método. Método são procedimentos racionais. Mas o corpo é um ser musical. “O organismo é uma melodia que se canta,” diz Merleau-Ponty citando o biólogo Uexküll.10
Mesmo que Rubem Alves defenda sua escrita “contra o método,” com a licença e respeito profundo ao autor, ouso ler, a partir do livro que tenho em mãos, uma proposta metodológica. Não se trata de um método linear, objetivo, racional, como o da ciência cartesiana ou, para a história, no sentido hegeliano. Trata-se, a meu ver, de uma metodologia da inspiração e das sensibilidades — considerando que o sufixo possa ser uma forma de situar em palavras um sentido mais aberto de conhecimento.
Tratar de métodos e metodologias é demanda presente. Diversas áreas da ciência tiveram uma “crise” ou “virada” epistemológica,11 principalmente nas transições e revoluções que caracterizaram o decorrer do século XX. Depois do que se nomeou linguistic turn, o próprio papel do autor na produção do conhecimento científico é reconhecida como questão-chave e, se buscarmos uma emergência da temática, poderemos desfiar interessante debate, reunindo temporalidades por meio das obras de Walter Benjamin,12 Roland Barthes,13 Michel Foucault14 e Giorgio Agamben.15 Daí se decanta um desafio de como operar a transição, à la Deleuze e Guattari, da “árvore do conhecimento” para o conhecimento “rizomático”.16
É com uma escrita por imagens, de caráter sensivelmente rizomático, que se exibe no livro uma metodologia para a construção do saber sensível: no modo de escrever, acompanhado por boa música; no conselho, “para aprender lógica, leia poesia;” nas mil e uma maneiras diferentes que o autor encontra para inserir o diálogo com autores e teorias ou, como ele gosta de dizer, nas conversas com os autores. E traz até uma “receita” para encontrar inspiração, por meio da descrição de Nietzsche:
Repentinamente, com certeza e sutileza indescritível, algo se torna visível, audível, algo nos sacode em nossas últimas profundezas e nos lança por terra… A gente não busca, ouve. Não pede ou dá, aceita. Como o relâmpago, um pensamento se ilumina, com necessidade, sem hesitações com respeito à sua forma.17
Com a metáfora: “ideias são bailarinas, a inspiração é a solista,” o texto se compõe organicamente como num corpo de baile. A cadência do conhecimento científico que considere a inspiração como elemento metodológico está afinada, por exemplo, com o trabalho de Durval Muniz Albuquerque Jr.,18 quando diz que a história é a arte de “inventar” o passado, e com a defesa de João-Francisco Duarte Jr.19 por uma educação (do) sensível. Ambos pontuam uma metamorfose do próprio olhar sobre a verdade, ao longo da história da ciência: mais do que absoluta, a verdade figura como o horizonte de possibilidades, quando se considera a relação de interdependência entre a realidade observada e o seu registro pelo observador.
Rubem Alves ocupa-se dos limites da linguagem para dar conta da experiência sensível. E os problemas que ocorrem quando a ciência, estritamente racional, ignora ou silencia uma importante gama de conhecimentos presentes nos saberes do corpo, não ditos em palavras puramente lógicas. Como uma trilha do prazer, propõe a metodologia da sapiência culinária: ter conhecimento do desejo e do que fazer para produzi-lo. A função da inteligência, nesse sentido, “é organizar o poder de tal forma que ele se transforme em ponte entre o desejo e seu objeto”.20
Nesse sentido, destaco “Os saberes do corpo,” sexto ensaio do livro, dedicado a uma ideia “bergsoniana”: a percepção que temos de algo é a percepção de seus efeitos sensíveis, processo que ocorre de modo muito íntimo nos caminhos da subjetividade. Além do conhecimento acumulado, verificado e atestado, existe um nível subjetivo do conhecimento, elaborado por cada pessoa. Um exemplo: a forma como cada pessoa sente o sabor da mesma manga. A experiência é incomunicável, impossível de traduzir-se em palavras, menos ainda em dados verificáveis.
Sete são os ensaios dedicados ao que arrisco chamar de uma epistemologia do conhecimento sensível. Seguem-se outros cinco em torno das variações sobre o prazer. Inspiram-se na prática, algo comum no universo musical, de compor “variações sobre o mesmo tema”. Além de obras eruditas que trabalham a partir dessa modulação, as Jam Sessions de blues ou jazz têm a mesma levada, com boa dose de improvisação. A cada ensaio, Rubem Alves compõe uma variação sobre o prazer, partindo do ponto de vista de uma área do conhecimento, em companhia de um autor central. A primeira variação, teologia, possui como ponto de partida um texto de longa história. Trata-se do De doctrina christiana, de Santo Agostinho (354–430 d.C.). A segunda variação, filosofia, é uma conversa com Nietzsche, escrita de modo transliterário, em que as ideias “nietzscheanas” são transpostas ao texto, com destaque para a especialidade de Nietzsche: ir além da preocupação com as coisas que podem se tornar palavras, para buscar o universo do indizível, que é visível, audível, sensível. A terceira variação, economia, é uma conversa do autor com Marx, num cenário boêmio, regado a cerveja e envolto por uma fumaça de charuto. A quarta variação, culinária, aproxima os temas da ciência e do saber ao espaço culinário, conversando com cozinheiras como Babette.
Acompanha o cafezinho, do ensaio Post scriptum, um saboroso chocolate mentolado dedicado à ausência do amor e do prazer na educação. Pela minha leitura a partir da História, devemos compartilhar essa observação, já que nosso ofício está ligado à educação em todos os níveis da escola formal, do ensino básico até o superior. E, mesmo quando não nos dedicamos diretamente à docência, concentramo-nos em pesquisas, estamos a produzir um conhecimento que, para ter sentido de ser, carrega o devir de se dirigir a um público e servir como ferramenta do saber.
O gosto que fica na boca após a leitura desse livro delicioso é o sabor de um texto escrito com prazer. Metáforas na arte da escrita, permeada por imagens da culinária e da música, revelam a importância da experiência pessoal e da potência sensível para o exercício da pesquisa e construção do conhecimento científico. Para Rubem Alves, o primeiro passo é o sonho. Levar o corpo a trabalhar, por prazer, mais do que por dever. Que o professor se ponha a sonhar e a ensinar a sonhar… Por isso, encerro com uma frase do filósofo e escritor Euclides Sandoval, leitor de Nietzsche e professor durante 40 anos, do ensino básico à faculdade de Artes, em um de seus cadernos diários: “Antes de uma aula, é preciso que o professor durma… E sonhe”.
1 Rubem Alves, Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2011, p. 7. [ Links ]
2 Idem, Ibidem, p. 9.
3 Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo, Brasiliense, 1987. [ Links ]
4 Alessandro Portelli, “A Filosofia e os Fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais,” Tempo, vol. 1, n. 2, Rio de Janeiro, 1996, p. 59-72. [ Links ]
5 Eduardo Coutinho, “O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade”, Projeto História, n. 15, São Paulo, 1997, p. 165-191. [ Links ]
6 Henri Bergson, Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito, 4. Ed., São Paulo, WMF M. Fontes, 2010. [ Links ]
7 Ecléa Bosi, Memória e sociedade: lembranças de velhos, 3. Ed., São Paulo, Cia das Letras, 1994. [ Links ]
8 Paul Ricoeur, A memória, a história, o esquecimento, Campinas, Editora da Unicamp, 2007. [ Links ]
9 Roland Barthes apud Rubem Alves, Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2011, p. 52. [ Links ]
10 Rubem Alves, Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2011, p. 17. [ Links ]
11 Dentre possíveis abordagens, menciono autores que situam o tema em suas áreas de estudo, com a ressalva de serem escolhas dentro de variado e saboroso menu! Roger Chartier debate a história entre certezas e inquietudes; Fritjof Capra dedica-se ao diálogo entre teorias das ciências físicas e biológicas, com sistemas políticos e sociais; Beatriz Sarlo pensa a emergência da cultura da memória a partir da guinada subjetiva. Cf. Roger Chartier, À beira da falésia: a história entre certezas e inquietudes, Porto Alegre, Ed. UFRGS, 2002. [ Links ] Fritjof Capra, As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável, São Paulo, Cultrix, 2005. [ Links ] Beatriz Sarlo, Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva, São Paulo, Cia das Letras; Belo Horizonte, UFMG, 2007. [ Links ]
12 Aqui me refiro ao ensaio “O autor como produtor”, de 1934, Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo, Brasiliense, 1987. [ Links ]
13 Roland Barthes, “A morte do autor” (1968), In: ______. O rumor da língua. 2. Ed., São Paulo, M. Martins, 2004, p. 65-78. [ Links ]
14 Michel Foucault, O que é um autor?, 4. Ed., Lisboa, Passagens; Vega, 2000. [ Links ]
15 Giorgio Agamben, “O autor como gesto,” In: ______. Profanações, São Paulo, Boitempo, 2007, p. 55-62. [ Links ]
16 Giles Deleuze, Felix Guatari, “Introdução: Rizoma,” Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995, p. 11-37. [ Links ]
17 Rubem Alves, Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2011, p.23. [ Links ]
18 Durval Muniz Albuquerque Jr., História. A arte de inventar o passado, Bauru, Edusc, 2007. [ Links ]
19 João-Francisco Duarte Jr., O Sentido dos Sentidos: A Educação (do) Sensível, 4. Ed., Curitiba, Criar Edições, 2006. [ Links ]
20 Rubem Alves, op cit., p. 147.
Tati Costa – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis (SC), Brasil. E-mail: [email protected].
Identidades e fronteiras no medievo ibérico | Fátima Regina Fernandes
A obra Identidades e Fronteiras no Medievo Ibérico, coordenado pela professora doutora Fátima Regina Fernandes, é fruto de estudos conjuntos realizados pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos Mediterrânicos – NEMED – vinculado à Universidade Federal do Paraná e o grupo Espai, Poder e Cultura da Universidade de Lérida, apoiado por instituições de fomento brasileiras e espanholas. Como expresso pelo título do livro, o tema que perpassa todos os capítulos relaciona-se com formação de identidades e fronteiras nos espaços ibéricos nos séculos VII a XV, interesse haurido de reflexões contemporâneas a cerca de temas que tocam o Ocidente Medieval.
Em contexto de globalização, o interesse do presente estudos surge a partir do questionamento das fronteiras e identidades atualmente estabelecidas, seja entre instituições ou mesmo entre grupos de indivíduos, o que exige um exercício de reflexão em torno da utilização de concepções da atualidade para pensar em questões específicas à medievalidade ibérica, o que exige aos pesquisadores um esforço em evitar possíveis anacronismos. Leia Mais




 Igor Salomão Teixeira
Igor Salomão Teixeira