A Filosofia Natural de Benjamin Franklin: Traduções de Cartas e Ensaios sobre a Eletricidade e a Luz | Breno Arsioli
Breno Arsioli Moura is a Professor at the Federal University of ABC (Universidade Federal do ABC – UFABC), at the Centro de Ciências Naturais e Humanas [Natural and Human Sciences Center] (CCNH), Santo André, SP, Brazil, and a faculty member of the graduate program PEHCM (Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática2 [Graduate Program in Teaching and History of Science and Mathematics]). Moura, both a historian of science and science educator, is known for his contributions to the history of science in the 18th century, history of optics from Newton to early-19th century, and the utilization of science studies in science teaching and education. His book, A Filosofia Natural de Benjamin Franklin: Traduções de Cartas e Ensaios sobre a Eletricidade e a Luz (2019) [The Natural Philosophy of Benjamin Franklin: Translations of Letters and Essays on Electricity and Light], is a work of scholarship on the scientific achievements in electricity by Benjamin Franklin (1706-1790), famous American statesman, publisher, scientist, and diplomat. Leia Mais
Arroz negro: as origens africanas do cultivo de arroz nas Américas | Judith Carney
Finalmente é publicada em língua portuguesa a obra Arroz negro: as origens africanas do cultivo de arroz nas Américas , de Judith Carney (2018) . A versão editada em inglês ( Carney, 2001 ) atraiu a atenção de leitores mundo afora pela originalidade e abrangência multidisciplinar na mais clara representação da tradição na qual a autora se insere. Seu trabalho reflete a tradição da geografia cultural de Carl Sauer em Berkeley. Esse background pode ser percebido de forma significativa na transposição de barreiras disciplinares e na utilização de modelos metodológicos que hoje são norteadores de muitas práticas investigativas no campo das humanidades ambientais ( Carney, 2016 , 2017 ). Nessa obra, Carney revive essa importante tradição ao transitar com fluidez e pertinência científica em diferentes campos do conhecimento.
O leitor atento perceberá a forma confortável como a autora utiliza as explicações culturalistas e a interação entre sociedade e natureza. Dessa forma, a interação entre os ambientes sociais e naturais foi fortemente considerada na produção de manifestações e patrimônios culturais. No caso específico de Arroz negro , destacamos a forma como a autora aborda as evidências de uma cultura específica, que ela chama de “cultura do arroz”, fundamentada em relação a um contexto geográfico distinto na África Ocidental e sua transposição para outros territórios e paisagens nas Américas. O roteiro metodológico em construir a “cultura do arroz” e suas origens africanas nas Américas, sobretudo na região da Carolina do Sul, revela práticas e processos históricos do comércio atlântico e do complexo intercâmbio colombiano ( Crosby, 1972 , 2009 ), que envolvia uma troca biológica e cultural de sementes, culturas, etnias e saberes, entre outras. Nesse sentido, a autora procura dar ênfase a essa faceta do intercâmbio colombiano nas Américas, abordando, além dos EUA, exemplos na América Central e no Brasil. Leia Mais
História da saúde no Brasil: uma breve história | Luiz Antonio Teixeira, Tânia Salgado Pimenta e Gilberto Hochman
A obra História da saúde no Brasil: uma breve história , organizada por Luiz Antonio Teixeira, Tânia Salgado Pimenta e Gilberto Hochman (2018) chega em momento marcante do país, em meio às ameaças que cercam, de forma profunda e decisiva, a democracia brasileira. Como um espelhamento de si, aprendemos pelas análises tratadas que, se os poetas podem ver na escuridão, os estudiosos da história da saúde podem ver através da neblina dos sofrimentos humanos e dos diversos modos de se tentar aplacar essas aflições, indicando o entrelaçamento de saberes, tecnologias, políticas e práticas que moldam o Brasil e o brasileiro.
O livro aqui examinado possui valores distintos, exatamente por deixar registrado o empreendimento de décadas, fundamentalmente, dos pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), em sua conjunção de esforços desde 1986. Isso pode ser acompanhado pelo leitor que reconhecerá, por meio das notas biográficas dos autores, desde os que participam da criação da Casa até os mais recentes, numa comprovação evidente da consolidação do trabalho desse grupo nesses mais de 30 anos da COC, considerada referência na produção de conhecimento e formação em história da saúde e medicina do país. A obra está dividida em 11 capítulos com dois eixos fundamentais – temporal e temático –, abarcando perspectivas que envolvem a própria trajetória profissional desses pesquisadores. Leia Mais
The scramble for the Amazon and the lost paradise of Euclides da Cunha | Susanna Hecht
Essa obra merece uma crítica inicial: trata-se de “vários livros” encadernados sob título e capa únicos. Além da descontinuidade entre seus componentes, a obra é um conjunto de livros enorme e heterogêneo, difícil de ler. Ainda assim, o conteúdo é valioso para quem se interesse por Euclides da Cunha e/ou pelo prolífico trabalho de Hecht sobre a Amazônia; no entanto, a obra não é para iniciantes.
Hecht é doutora em geografia pela University of California (Berkeley) e professora da University of California (Los Angeles). É veterana estudiosa do Brasil e da América Latina, sobre os quais publicou livros e artigos, especialmente a respeito de questões socioambientais, como The fate of the forest: developers, destroyers, and defenders of the Amazon (com Alexander Cockburn; edição atualizada em 2011) e Soy, globalization, and environmental politics in South America (com Gustavo L.T. Oliveira, 2017 ). Leia Mais
Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico – WILLIAMSON (RFMC)
WILLIAMSON, Timothy. Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico. Lisboa: Gradiva, 2019. Resenha de: PACHECO, Gionatan Carlos. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.7, p. 339-341, n.3, dez. 2019.
Uma Nova Introdução à Filosofia
Em Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico, Timothy Williamson oferece uma introdução à filosofia acadêmica. É um livro com notável potencial didático. Por exemplo, Williamson começa com um exemplo de como Jean-Pierre Rives, uma lenda do rugby, aplicava em seu arsenal tático as Regras para Direção do Espírito: “ter uma ideia clara e distinta daquilo que se procura alcançar. Então há que decompor cada jogada complexa nos seus componentes mais simples, torná-los intuitivos, e reconstituir tudo a partir daí” (p. 11). O livro se inicia então apontando que a filosofia pode apresentar as aplicações mais inesperadas.
Na introdução o autor aborda rapidamente uma grande gama de assuntos, passa do exemplo citado acima, que evoca Descartes, para a dúvida hiperbólica, da dúvida hiperbólica para a ciência natural, desta para a política internacional. Mas a ideia principal desta introdução, que fará eco no restante da obra, é a relação entre os primórdios da filosofia e os primórdios da ciência. O autor nos lembra que Newton e Galileu reclamavam o título de filósofos naturais, de modo que a ciência é como que uma filha da filosofia. No entanto, alguns desdobramentos no pensamento contemporâneo tendem a mostrar a ciência como uma matricida em potencial.
O segundo capítulo é sobre o senso comum. O senso comum é um ponto de partida. Uma anedota contada por Williamson é muito ilustrativa acerca deste ponto. Digamos que estamos tentando chegar em algum lugar, estamos em uma praça, perguntamos a um sujeito onde fica o tal lugar que queremos ir, e ele nos responde: daqui desta praça é difícil chegar lá. O senso comum é a nossa praça, não importa o quão deslocado ele é, é dele que partimos, não temos opção. Essa “metafísica dos selvagens” – Williamson nos lembra dessas palavras de Russel – obteve notáveis defensores entre os filósofos e possui inclusive um potencial refutatório. Como exemplo, o autor afirma que o senso comum refutou teses como, por exemplo, a da irrealidade do tempo de McTaggart (p. 21). O senso comum, em um certo aspecto, funcionaria como um “freio” da filosofia.
É em grande parte sobre refutações e debates que gira em torno o capítulo três. Willianson nos dá um panorama de um clima potencialmente beligerante nos eventos acadêmico da área de filosofia, seus prós e seus contras. Os apresentadores se “defendem” das ofensivas dos arguidores e o júri seria encarnado na comunidade dos filósofos em geral. Como sói acontecer, o autor aponta que muitas disputas acabam por concordarem em conteúdo e divergir em nas palavras. Com efeito, este fenômeno é o tema do quarto capítulo. Aquim Williamson apresenta uma espécie de paradoxo da clareza, pois, de certa forma, ela não pode aspirar “um padrão mítico de indubitabilidade” , visto que para esclarecermos uma palavra, lançamos mão de outras palavras e, além disso, estariam os presos em questões como a possibilidade de se conceitualizar o conceito de “conceito”.
Este Filosofar também pode ser considerado uma introdução à metodologia filosófica. Assim, os capítulos seguintes apresentam uma série de ferramentas filosóficas. O capítulo cinco discorre acerca de experiência mentais. Aqui ele nos apresenta uma experiência mental do autor budista do século VII, Dharmottara (740-800), onde este antecipou os epistemologicamente revolucionários exemplos de Gettier, e, entre outros exemplos, como do experimento mental acerca do aborto de Judith Jarvis Thomson, o experimento mental dos zumbis de Chalmers e, além disso, nas ciências naturais, os experimentos mentais das esferas de Galileu e a hipotética “cavalgada” sob um raio de luz de Einstein. O livro de Williamson é extremamente imagético, repleto de exemplos e tabelas. Os exemplos exemplos citados, por si só, constituem ferramentas metodológicas do pensar filosófico e reforçam o caráter pedagógico do livro. Além disso, ao passo que apresenta esta série de experimentos mentais, alguns conceitos, mesmo sem ser nomeados são apresentados, como a modalidade e os contrafactuais.
A filosofia é colocada lado a lado com a ciência natural durante toda obra. Assim, muitos tópicos são compartilhados, como as questões dos vieses cognitivos, do sobreajuste em teorias, da dedução e dos princípios lógicos. Williamson discorre sobre a história da filosofia, de uma forma quase amarga, com aqueles acadêmicos que estudam “um filósofo”, claramente defendendo seu “estilo Oxford de filosofar”, isto é, tratar de problemas filosóficos e não de filósofos. “A questão controversa é saber se os filósofos precisam ou não de muito mais conhecimento da história menos recente do seu assunto do que precisam os matemáticos e cientistas naturais nas suas áreas” (p. 114). Williamson irá conceder importância, sim, mas uma importância do que ele chamade“genealogiaintelectual” (p. 115). Assim, para ele há teorias filosóficas que mesmo sendo falsas, possuem sua importância. Em termos gerais, segundo o autor, a história da filosofia estaria para a filosofia atual, como a história da arquitetura está para quem está atualmente visitando uma obra arquitetônica.
Enfim, Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico é certamente um fruto do pensamento filosófico contemporâneo de nossa época que poderá ter muita influência na geração futura de pesquisadores. Isto pois, ele se destina a um público amplo, em especial estudantes de graduação em filosofia, mas, ainda assim, por possuir um caráter de divulgação filosófica, pode destinar-se a comunidade em geral. É um livro com viés oxfordiano, o que pode causar desconforto para certos leitores, no entanto, é um livro com uma visão tanto ampla, quanto coerente sobre a atividade filosófica.
Gionatan Carlos Pacheco – Mestre e Bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Maria (UFSM). Atualmente realiza doutorado em filosofia na UFSM. E-mail: gionatan23@gmail.com
Nietzsche: filosofo della libertà – LANGONE (RFMC)
LANGONE, Laura. Nietzsche: filosofo della libertà. Pisa: Edizioni ETS,2019. Resenha de: PAULA, Marcio Gimenes de. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.7, p. 335-338, n.3, dez. 2019.
Laura Langone, jovem pesquisadora italiana, nos apresenta em seu trabalho Nietzsche: filosofo della libertà os desafios de nos debruçarmos sobre a filosofia do pensador alemão como uma filosofia da liberdade. Para tanto, ela começa por caminhos já bastante explorados, a saber, o seu primeiro capítulo trata exatamente da famosa passagem de Zaratustra anunciando o segredo da liberdade na obra Assim falou Zaratustra. Contudo, parece errar quem aposta aqui que a filosofia é algo que se faz apenas com abordagens supostamente inovadoras ou, ainda pior, que pensa que visitar passagens já conhecidas (ou supostamente conhecidas) é algo reprovável ou de menor significado. Assim, revisitando a popular- ao menos em tese- passagem em que Zaratustra anuncia a morte de Deus, a pesquisadora nos apresenta sua leitura e interpretação, fruto não apenas de uma exegese de Nietzsche, mas também dos interpretes com os quais escolhe dialogar.
Nota-se aqui claramente a crítica nietzschiana aos aspectos metafísicos e morais construídos pela filosofia e pela religião no decorrer dos séculos. Tal caminho é bastante explorado e até mesmo exaustivamente explanado pela autora, o que nos prepara para compreender Nietzsche como um grande crítico da metafísica e da moral, fato que já atraiu a atenção de inúmeros pesquisadores da mais alta qualidade como, por exemplo. Heidegger e o compatriota de Langone, Gianni Vattimo, o que parece provar, desde os dias da edição de Giorgio Colli e Mazzino Montinari, o quanto os estudos nietzschianos devem ao pensamento italiano do século XX. Aqui, entretanto, penso que a autora nos apresenta outro importante pensador: o norte-americano Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta que viveu, tal como Nietzsche, no século XIX e, segundo relatos que se pode observar, teria exercido alguma influência também no pensamento nietzschiano. Como se trata de um autor pouco conhecido entre nós, e talvez até mesmo na academia italiana, penso que Laura Langone possui o grande mérito de apresenta-lo e de discutir suas teses lado a lado com as teses de Nietzsche, a saber, suas implicações para a metafísica e para a moral. Seria significativo também se, de algum modo, o nome do pensador norte-americano viesse agregado ao título principal da obra ou, talvez, num subtítulo, pois tal coisa ajudaria na localização do leitor que, a rigor, só percebe a presença de Emerson ao ler efetivamente a totalidade do texto.
O capítulo segundo segue discutindo o problema metafísico em Nietzsche e agora aprofunda a discussão ao tomar a metafísica como uma espécie de erro de linguagem, o que parece inserir Nietzsche dentro de outra fronteira, isto é, o pensador pode ser tomado também como um filósofo da linguagem. A autora trabalha de modo exegético, mas selecionando aspectos, passagens importantes das obras A Gaia Ciência e Assim falou Zaratustra. Aqui o texto é bastante apropriado para quem deseja aprofundar em Nietzsche (e em Emerson) a discussão sobre verdade e linguagem e também para a realização efetiva de uma crítica da ciência, notadamente nos seus aspectos metafísicos.
A moral escrava será o tema do capítulo terceiro. Especialmente por uma leitura de Humano, demasiado humano, a autora faz interlocução com as teses de Nietzsche e de Emerson. Desse modo, aprofundando a crítica da metafísica e da moral, Langone explicita de modo mais categórico que a moral escrava é, na verdade, consequência do equívoco metafísico. Assim, o capítulo quarto possui intrínseca relação com o capítulo que lhe antecede e, por isso, a cisão metafísica entre alma e corpo será tão importante para a exploração intelectual da temática de Laura Langone, mas também se poderá percebê-la não apenas na obra de Nietzsche, mas nos aspectos naturais discutidos por Emerson, o que totaliza um quadro significativo e cheio de profundidade.
Outro tema nietzschiano bastante conhecido – ou ao menos citado – é retomado pela pesquisadora em seu capítulo quinto, isto é, o tema do espírito livre e a compressão da liberdade como consciência de si. Aqui novamente, com uma seleção especialmente feita de passagens de Aurora e A Gaia Ciência, a autora não apenas aproxima Nietzsche de temas tão significativos para a filosofia da vida (Lebensphilosophie), igualmente explorada por autores como Simmel e Arendt, como é capaz de perceber a relação do pensador alemão com Darwin, o que o aproxima de uma significativa discussão muito atualizada sobre a natureza. Desse modo, há aqui um vasto campo para os que se desejam aprofundar em tal investigação.
Já o capitulo sexto visitará outro tema bastante mencionado nos estudos nietzschianos: a vontade de potência. Aqui Langone é novamente exegética, no melhor sentido da palavra, e o aborda enfrentando diretamente A Gaia Ciência e Assim falou Zaratustra, além, é claro, dedialogar com ótima bibliografia de comentadores da obra nietzschiana. O mesmo ocorrerá no capítulo sétimo sobre a morte de Deus. A rigor, trata-se de um tema imenso para todo o pensamento moderno. Contudo, a autora sabiamente percebe que poderá explorá-lo melhor a partir da pista do niilismo ocidental e assim o desenvolve de maneira clara, sóbria, o que abre o campo para futuras investigações e indagações de toda a sorte, o que é profundamente filosófico.
Por fim, o capítulo oitavo dissertará sobre o eterno retorno do igual e aqui, ainda que se trate também de um tema bastante discutido por especialistas de Nietzsche, Langone consegue uma qualificação ao aprofundá-lo em consonância com as teses de Emerson. O mesmo sucederá no nono capítulo, quando o tema da liberdade como consciência poderá ser compreendido em modo ampliado e, assim, a afirmação da vida, a potência, o tema do além do homem e a transvaloração de todos os valores, passa a ter uma nova possibilidade de leitura e interpretação, o que fica ainda mais claro na conclusão de Laura Langone entre Nietzsche e Emerson.
Destaque-se ainda o fato da autora ser a primeira intérprete de Nietzsche a afirmar que o eterno retorno é uma teoria da consciência da filosofia pós-metafísica, tal como é argumentado por ela no último capítulo. Até então, pelo que se pode constatar, inúmeros outros estúdios os nietzschianos tenderam a tomar o eterno retorno como uma ontologia ou uma ética. A título apenas de sugestão, os capítulos, talvez, pudessem ter sido agregados e, desse modo, o texto se mostraria ainda mais claro e compacto. De todo modo, o trabalho da autora é apenas o início de um percurso. Elogiável início visto que nos ajuda a pensar.
Marcio Gimenes de Paula – Professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília (UnB). E-mail: marciogimenes@unb.br ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5991-5710
A conquista da opinião pública: como o discurso manipula as escolhas políticas – CHARAUDEAU (A-RL)
CHARAUDEAU, P.. A conquista da opinião pública: como o discurso manipula as escolhas políticas. Corrêa, Angela M. S.. São Paulo: Contexto, 2016. 192p. Resenha de: SPARAS, Marcelo, IKEDA, Sumiko Nishitani; A manipulação do discurso político. Alfa, Revista de Linguística, São José Rio Preto, v.63 n.3, São Paulo Sept./Dec. 2019.
A obra A conquista da opinião pública: como o discurso manipula as escolhas políticas apresenta, em 192 páginas, além da Introdução, três capítulos, assim, intitulados: “O que é a opinião pública?”, “A manipulação da opinião pública” e, finalmente, “Crise da opinião, crise da democracia: os sintomas de uma crise política da pós-modernidade”.
(1) “O que é a opinião pública?” divide-se em (a) “Um pré-requisito: como se constrói a identidade coletiva”, (b) “Da opinião coletiva à opinião pública”, (c) “A fabricação da opinião pública”, (d) “Uma confusão a evitar: a opinião não é o eleitorado” e (e) “A consciência cidadã: O difícil paradoxo”.
(2) “A manipulação da opinião pública” abrange: (a) “A manipulação no mundo político”, (b) “A manipulação no mundo midiático” e (c) “Conclusão”.
(3) A “Crise da opinião, crise da democracia: os sintomas de uma crise política da pós-modernidade”, trata dos seguintes assuntos: (a) “A questão da soberania num regime democrático”, (b) “A questão do contrapoder”, (c) “As razões de uma crise política da pós-modernidade” e (d) “Entre democracia de opinião e democracia participativa”.
A maneira como o autor explica conceitos complexos que cercam a construção da opinião pública, por meio de uma linguagem acessível, mesmo aos iniciantes ao assunto, acrescida de exemplos (na maioria, franceses) do mundo atual é que proporcionam uma leitura fluente e de fácil compreensão.
Por outro lado, para os pesquisadores – tanto da análise do discurso como de outras áreas como sociologia, política e comunicação – o livro vem mostrar e esclarecer os conteúdos implícitos que jazem nas subjacências do texto, fatos que contribuem no processo persuasivo do discurso.
O primeiro capítulo – “O que é a opinião pública?” – relata a construção da identidade coletiva, que se constitui no que Rimbaud (2009) resumiu em Eu é o outro, ou seja, só existo porque existe um outro diferente de mim. O grupo se constrói segundo fatores sociais (e.g., posição que ocupamos e papéis que desempenhamos) e culturais (e.g., conjunto de práticas de vida dos membros do grupo; representações que fazem do mundo).
A identidade coletiva é frágil e deve ser constantemente defendida (processo de diferenciação). Nesse processo de construção, há grupo que se isola e grupo que domina outro (tentativa de assimilação). A assimilação (ou integração) pode ser verificada, por exemplo, no caso da imigração vista pelo país de acolhida, que a exigirá em troca da permissão de entrada.
Uma opinião é um julgamento pessoal ou coletivo, uma avaliação, que um indivíduo faz sobre os seres ou os acontecimentos do mundo, e é, por conseguinte, subjetiva e relativa. O mesmo não acontece com os saberes de crença, que contemplam explicações objetivas.
No momento da enunciação, não há palavra coletiva (um coro, por exemplo, para proferir a mesma palavra), mas um indivíduo que a pronuncia e que pretende que sua opinião seja compartilhada. Uma vez compartilhada, a opinião poderia ser considerada verdadeira. A opinião coletiva não é, pois, a soma de opiniões individuais, assim como a identidade de um grupo não é a soma das identidades individuais.
A opinião pública necessita de motivos: acontecimentos que se apresentam a ela e ao grupo que a sustenta (políticos, pesquisas de opinião, mídias), e emerge por reação de indivíduos em situação que eles julgam insustentáveis. Assim, para que a opinião pública se manifeste, é necessário que surja um acontecimento suscetível de tocar muitos indivíduos. Um acontecimento que cause problemas e que não esteja resolvido. Charaudeau alerta para a confusão a se evitar: opinião com eleitorado. Ele trata de vários acontecimentos que abalaram a opinião pública francesa e finaliza o capítulo com o difícil paradoxo que cerca a consciência cidadã. Para ele, é preciso distinguir pertencimento e sentimento identitário: pertence-se a um grupo por nossa identidade social de idade, sexo, meio familiar, etc. O sentimento identitário procede de uma idealização; ele se constrói subjetivamente em referência a um grupo no qual desejamos nos reconhecer, ao qual nos ligamos por intermédio de crenças. A consciência cidadã é “um condensado do querer estar juntos e do querer viver juntos e é de ordem simbólica.” (CHARAUDEAU, 2016, p.63).
No segundo capítulo – “A manipulação da opinião pública” – o autor trata da manipulação da opinião pública no mundo político que pode ser feita por meio de manipulação do discurso se utilizando da sedução. Para tanto, Charaudeau assevera que um líder carismático tende a manipular a opinião pública com mais desenvoltura e especifica alguns tipos de carisma, como por exemplo, o carisma messiânico, que, segundo Max Weber, está relacionado com o dom da graça. Para Weber (2003), ao contrário de boa parte da corrente de especialistas no assunto, o mérito não deve ser dado ao tipo de carisma em si, mas à sua dominação e seus efeitos. Numa linha de raciocínio mais sociológica e histórica, Weber vê a dominação carismática como a essência para se compreender esses fenômenos sem necessariamente se deter na substância, ou elemento, que faz de uma figura um líder, em contraponto a seus prosélitos. Embora Weber foque prioritariamente no indivíduo carismático, a relação deste com o coletivo chamava também sua atenção, uma vez que somente a partir do reconhecimento do seguidor, e mesmo da comunidade em que ele vive, a existência do carisma é formada. O referido dom da graça não é necessariamente de ordem divina; pode ser uma força interior. No caso do ator político, Charaudeau cita Cristo como exemplo de alguém que possuía o dever kantiano do tipo faça o que deves, além de figuras menos relacionadas à religião, como é o caso do general Charles De Gaulle que, segundo o autor, era dotado de uma grandiosidade tal, que possuía a missão de salvar a França.
Há, na opinião do autor, outros líderes carismáticos como os que exploraram as raízes fundadoras de um povo, apelando para a revolta, como fez Hugo Chaves em seus discursos ao se referir a Simon Bolívar e às árvores das três raízes2.
Um outro tipo de carisma, a que se refere Charaudeau, é o carisma cesarista, que está relacionado com o ethos de potência que pode ser expresso através de diferentes figuras. Elas aparentemente são figuras de virilidade exacerbada, podendo até ser expressas por aventuras sexuais como era o caso do ex-presidente norte americano John Fitzgerald Kennedy e do ex-presidente italiano Sílvio Berlusconi. Há também figuras de energia, que se manifestam por hiperatividade como acontecia com Fidel Castro e Che Guevara. Entretanto, existe um ethos menos relacionado à potência, porém mais relacionado à coragem, como pode se observar no discurso do ex-presidente argentino Juan Domingos Perón sobre o Peronismo. Charaudeau deixa claro que o carisma político é de outra natureza em relação aos outros tipos de carisma, pois parece haver duas forças antagônicas que permeiam essa relação: de um lado, há o poder – um lugar indeterminado – mas com força de dominação; do outro, um povo – uma entidade global um tanto amorfa – sem limites definíveis, mas um suposto lugar de contrapoder.
Esse mesmo capítulo, iniciado pelo subcapítulo “A manipulação do mundo político”, traz outros subcapítulos sobre manipulação da opinião pública intitulados: “A manipulação do discurso de sedução dramatização”, “A manipulação pela exaltação de valores”, “O discurso populista como reciclagem dos discursos extremistas”, “O discurso como fator de embaralhamento das oposições políticas”, “A manipulação no mundo midiático”.
Em a “A manipulação do mundo político”, Charaudeau, faz um apanhado sobre política e sobre atores políticos. Ele trata da ideia de que a palavra política circula num espaço público e está sujeita às suas restrições, ou seja, nesse espaço as trocas ocorrem não entre indivíduos, mas entre entidades ou instâncias coletivas, que se definem por meio de estatutos e de papeis sociais. É nesse espaço político que existem as duas instâncias mencionadas pelo autor, que são as instâncias política e cidadã.
A seguir, encontramos uma subseção sobre a manipulação pelas pesquisas de opinião, que se subdivide em: “A pesquisa da opinião pública que é um discurso”, “Diferentes tipos de pesquisa de opinião”, “Um espelho deformante da sociedade”, “Análise de uma pesquisa de opinião que causa complexidade”, “Um bom exemplo de manipulação” e “As pesquisas formatam a opinião pública”, seguida de uma conclusão sobre a manipulação.
Em “A manipulação do discurso de dramatização”, o autor defende que o discurso político, longe de ser uma verdade absoluta, procura interpelar o outro por meio de apelos aos sentimentos e fazendo encenações, como num palco teatral no qual se apresentam dramas e tragédias a fim de manipular a opinião pública. Esse discurso pode despertar um movimento de protesto, como alguma injustiça causando indignação, e um estado de angústia na opinião pública. Há episódios na história em que esse discurso justificava, por exemplo, intervenções militares em países estrangeiros onde se estigmatizavam os inimigos absolutos como Saddam Hussein, Slobodan Milošević e Osama Bin Laden.
Já em “A manipulação pela exaltação de valores”, tem-se uma questão subjetiva a ser pensada que seria a noção ou o significado do termo valores. Todos os políticos declaram defender valores de suas nações, a democracia, a república, etc. Entretanto, a questão é que determinados valores podem ser julgados pela utilidade e bom funcionamento da vida social em determinada época e, esses mesmos valores, podem ser tidos como valores que são obstáculos para o desempenho da economia e, até mesmo, do bem estar social, como ironiza Luís Fernando Veríssimo em seu texto Silogismo, publicado no jornal O Globo:
[…] A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se devem à tenacidade com que homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais, mantêm uma política econômica solidamente fundeada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada na fome dos outros. O país só é viável se metade da sua população não for3.Neste mesmo bloco, em “O discurso populista como reciclagem dos discursos extremistas”, Charaudeau lida com as matrizes ideológicas francesas tanto de direita como de esquerda para, na sequência, tratar do discurso populista como sendo uma reciclagem dos discursos extremistas. O discurso populista consistente com a tradição dominante na ciência política comparativa, define o populismo como uma forma de política baseada no “aviltamento moral de elites e uma veneração concomitante das pessoas comuns” (KRIESI, 2004, p.362, tradução nossa)4. Segundo o autor, o populismo é denunciado como uma antecâmera do totalitarismo. Ele apregoa a vitimização de um povo, exaltação de determinados valores desse povo e a satanização dos culpados feita por meio da figura do bode expiatório. O discurso populista como fator de embaralhamento das oposições políticas traz exemplos da história ocorridos tanto na Europa como nos países latino-americanos, africanos ou do Leste. Para o autor, o discurso populista tem origem histórica na extrema direita, porém pode se alinhar, para fins estratégicos, ao discurso da extrema esquerda.
Nessa linha de pensamento, o populismo de esquerda almeja um Estado forte, sem economia de mercado, mas a serviço do povo para o qual deve redistribuir a riqueza. Do mesmo modo, o populismo da direita defende as classes menos favorecidas, mas sem a intervenção estatal. No caso da França, essas classes são representadas por uma população do interior agrário acrescida de uma pequena burguesia de comerciantes e artesões. Já o populismo de esquerda luta pelo conjunto de integrantes da classe dita popular como operários, proletários e os ilegais. Como inimigos, os populistas de direita têm não só o establishment, mas uma hipotética aliança socialista comunista. Os inimigos, no caso dos populistas de esquerda, seriam as forças ditas reacionárias, chamadas em outras épocas de fascistas.
A seção intitulada “A manipulação no mundo midiático” essa parte apresenta uma subdivisão que trata de uma característica do discurso que vai desde a superdramatização da informação à peopolização do político. A estratégia que os políticos usam para alcançar eleitores indecisos, por meio de argumentação não política, contribui não apenas para a personificação, mas também para a predominância da propaganda televisiva. Além disso, “a publicidade negativa ao atacar o oponente direciona a atenção do eleitor à característica pessoal dos candidatos com mais intenção de votos” (ANSOLABEHERE; IYENGAR, 1995, p.258, tradução nossa)5. Como consequência, as personalidades com maior intenção de votos se tornam o principal motivo de votos, em detrimento dos programas políticos ou dos temas de campanha, tendo como um efeito colateral duvidoso a celebrização da política, ou seja, a peopolização. Segundo o autor, a peopolização se distingue do populismo por ter uma característica no discurso que fala da vida privada dos famosos como celebridades, ídolos do cinema, esporte, arte, etc. Este é o apanágio das revistas de fofocas. Esse fenômeno é uma faca de dois gumes, pois dessacraliza o(a) político(a) pela aproximação com o eleitor(a), tirando-o(a) de seu pedestal, porém ressacralizá-lo(a) “pelo fato de introduzir humanidade numa função que, por definição, é desumanizada” (CHARAUDEAU, 2016, p.124).
Sob o título “A manipulação pelas pesquisas de opinião”, Charaudeau analisa a pesquisa de opinião afirmando que esta é na realidade um discurso, pois, para ele, uma pesquisa é um ato de linguagem que traz em seu bojo um conjunto de perguntas e respostas. Desse modo, a pesquisa de opinião pode induzir uma resposta, pois, de maneira geral, toda pergunta impõe um esquema de fala no qual é inserido aquele que é perguntado. Outrossim, pode-se pensar no interrogador como alguém que quer saber algo com determinado objetivo.
O autor faz um apanhado geral dos vários tipos de pesquisa e argumenta que elas podem ser um espelho deformante da sociedade (palavras do autor), pois alimentam a dramaturgia eleitoral, ou seja, permitem que comentaristas políticos, com suas próprias ideologias, comentem os resultados das pesquisas dentro de seus próprios vieses. Assim as pesquisas podem manipular a opinião pública, uma vez que constituem, por sua vez, atos de formatação de um pensamento do qual não se sabe o que representam.
Em conclusão, o autor vê, nas pesquisas de opinião, a falta de limite entre estratégias legítimas de persuasão ou a amostragem de um cenário por meio das pesquisas e a intenção de manipulação das mentes.
Por fim, no terceiro capítulo – Crise de opinião, crise da democracia: os sintomas de uma crise política da pós-modernidade – o autor aborda os fenômenos muito discutidos nos dias de hoje que são as crises de opinião e da democracia. Nos regimes monárquicos, devido ao poder supostamente ter uma origem divina, a voz que representa um povo adquire sua soberania por um regime absoluto de crenças; no entanto, num regime democrático, “a voz vem de baixo, ou seja, da opinião pública” (CHARAUDEAU, 2016, p. 152) e isso, nem sempre, se traduz por um alinhamento entre a opinião pública e o(s) representante(s) dessa opinião. Se tomarmos como exemplo uma, dentre várias instâncias que ocorreram na política brasileira, podemos citar o caso do julgamento pela Câmara dos Deputados de Brasília, que isentou o atual Presidente da República Michel Temer de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) apesar de a grande maioria dos brasileiros, fato revelado por algumas pesquisas de opinião, ser a favor da autorização para que o STF pudesse decidir se abriria ou não um processo criminal contra o mandatário.
Em seguida, pode-se ler sobre as possíveis noções relacionadas a essas crises da democracia e do poder como o contrapoder, que advém da opinião pública na forma de alguma reivindicação, serem ignoradas. Segundo Charaudeau, uma democracia plena sem um contrapoder inexiste. O grande princípio democrático é o da delegação provisória do poder de um povo a um representante, que em teoria vai representá-lo em decisões vitais que afetarão de modo contundente a vida desse mesmo povo. O contrapoder tem, nesse caso, um papel importante na regulação da soberania de um representante para que a política de um país não seja feita apenas em nome de uma maioria ou uma minoria ativa sem nenhuma justificativa.
No livro em referência, Charaudeau amplia essas ideias aqui discutidas e circunstancia sua análise acerca da construção da opinião pública. Ele constrói uma atividade discursiva sobre como se pode manipular as pesquisas de opinião. A obra tenta detalhar como ocorrem os discursos manipuladores, levando em conta os processos de construção identitária individual e coletiva trazidos à tona por sentimentos, valores, teatro político e o carisma.
Vale ressaltar a importância social da leitura do livro tanto para quem quer pensar sobre estratagemas utilizados para a conquista da opinião pública como para a compreensão de estratégias discursivas existentes no atual momento histórico. Em regimes democráticos, são os políticos que representam a voz do povo, mas para que cheguem ao poder, eles precisam usar o discurso para conquistar os cidadãos. E é por meio da palavra que se seduz, que se persuade, que se manipula e que se regula a vida social e política
Referências
ANSOLABEHERE, S; YIENGAR, S. Going Negative: How Attack Ads Shrink and Polarize the Electorate. Michigan: Free Press, 1995. [ Links ]
KRIESI, H. The populist challenge. West European Politics. Abingdon, v. 37, p. 361-378, 2004. [ Links ]
RIMBAUD, A. Correspondência. Tradução de Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Topbooks, 2009. [ Links ]
VERISSIMO, L. F. Silogismo. O Globo, Rio de Janeiro, 24 mar. 2000. [ Links ]
WEBER, M. Le savant e le politique. Paris: La Découverte/Poche, 2003. [ Links ]
2 Alusão às figuras históricas Simón Bolívar, Simón Rodriguez e o general Ezequiel Zamora.
3 VERÍSSIMO, L. F. O Globo, 24/03/2000, citado pelos autores.
4 No original: “[…] moral debasement of elites and the concomitant veneration of ordinary people” (KRIESI, 2004, p. 362).
5 No original: “[…] negative publicity in attacking opponents directs the attention of voters to the personal characteristics of the candidates with the most votes” (ANSOLABEHERE; IYENGAR, 1995, p.258).
Marcelo SAPARAS – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Faculdade de Comunicação, Artes e Letras. Dourados – MS – Brasil. marcelosaparas@ufgd.edu.br.
Sumiko Nishitani Ikeda – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes. São Paulo – SP – Brasil. Departamento de Linguística. sumiko@uol.com.br.
…como se fosse um deles: Almirante Aragão. Memórias, silêncios e ressentimentos em tempos de ditadura e democracia | Anderson da Silva Almeida
En el año de 1996 Ánderson da Silva Almeida ingresó en régimen de internado al Cuerpo de Fusileros Navales de Brasil, donde posteriormente pasaría a componer el cuadro de músicos en la misma institución como intérprete de Bombardino.
Paralelo a su carrera como marinero y músico, Ánderson da Silva Almeida hizo su graduación en Historia con la Universidad Católica de Salvador, Bahía; y posteriormente adelantó su especialización, maestría y doctorado en Historia en la Universidad Federal Fluminense UFF donde se destacó en el año 2012, con el premio Memorias Reveladas del Archivo Nacional por su disertación de maestría que daría origen al libro “Todo o leme a bombordo: marinheiros e ditadura civil – militar no Brasil: da rebelião de 1964 à anistia” [1] . Leia Mais
História Oral e Patrimônio Cultural: potencialidades e transformações | Letícia B. Bauer e Viviane Trindade Borges
Quando ouvimos o patrimônio cultural, quais vozes são possíveis? As historiadoras Leticia Bauer e Viviane Trindade Borges, organizadoras desta publicação, contribuem nos debates recentes desenvolvidos no campo do patrimônio e da história oral no Brasil, com a seleção de diferentes percepções sobre o tema, ampliando as possibilidades teórico metodológicas de análise do patrimônio cultural a partir do trabalho com fontes orais, e das discussões sobre a história oral na problematização do patrimônio cultural. Este trabalho está inserido na coleção “História oral e dimensões do público”, da Editora Letra e Voz, que é dirigida por Juniele Rabêlo de Almeida, divulgando pesquisas voltadas para o uso das fontes orais e a relação com seus públicos, trazendo outras perspectivas sobre a história oral a partir de temas como migrações, mídia e os movimentos sociais.
Para além de ouvir a potencialidade das vozes nas narrativas sobre o patrimônio, as organizadoras buscam divulgar ações que possibilitem a transformação com a participação cidadã na construção de suas memórias. Esse intuito se relaciona com as trajetórias acadêmicas destas historiadoras, que privilegiaram em suas pesquisas e na sua atuação profissional as experiências com patrimônios não convencionais de maneira colaborativa, em consonância com as discussões desenvolvidas pela História Pública. Leia Mais
A história na moda, a moda na história | Paulo Debom, Camila Borges e Joana Monteleone
A convergência para estudos históricos que têm a moda e o consumo como foco central é um denominador comum na trajetória acadêmica de Camila Borges, Joana Monteleone e Paulo Debom. Parceiros na organização do simpósio temático “Moda, imagem & poder”, que desde 2012 integra o programa da Semana de História Política-Seminário Nacional de História: Política, Cultura e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente em sua 13ª edição, Paulo Debom e Camila Borges estenderam a bem-sucedida colaboração à organização, com Joana Monteleone, do livro A história na moda, a moda na história, publicado em 2019 pela Alameda Editorial. Trata-se de uma coletânea de trabalhos de pesquisadores brasileiros provenientes de áreas e formações diversas, norteados pelo tema da moda em suas abordagens investigativas.
Se, nos anos 1980, poderia se afirmar que a questão da moda não causava furor no mundo intelectual e quase não aparecia “no questionamento teórico das cabeças pensantes” (LIPOVETSKY, 2002, p. 9), na década seguinte já se podia afirmar que “a roupa e a moda se tornaram finalmente veículos para debates que agora estão no centro dos estudos em cultura visual e material” (BREWARD, 1998, p. 301-313). No ensaio Fashion and the postmodern body, a historiadora inglesa Elizabeth Wilson atestou uma virada no panorama acadêmico no início da década de 1990, com o crescente interesse por estudos relacionados à moda: “The postmodernism debate helped rescue the study of dress from its lowly status, and has created – or at least named – a climate in which any cultural and aesthetic object may be taken seriously”1 (WILSON, 1992, p. 6). Leia Mais
Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975 | Leandro Pereira Gonçalves
Desde os trabalhos pioneiros de Hélgio Trindade (1974, 2007) na década de 1970 a respeito do Integralismo brasileiro, diversos outros estudos procuraram apresentar novas abordagens sobre o tema (CHASIN, 1999; CHAUÍ, 1985; VASCONCELOS, 1979). Também a produção acadêmica comparativa dos autoritarismos português e brasileiro, iniciada no trabalho organizado por José Luiz Werneck da Silva (1991), prosperou em análises diversas, fortalecendo aos poucos este campo de investigação (PINTO; MARTINHO, 2007).
O trabalho de Leandro Pereira Gonçalves, Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975), vem, portanto, contribuir com uma tradição importante e já consolidada de pesquisas a respeito do integralismo e das direitas radicais. O livro tem, como objeto de análise, o pensamento e a produção intelectual do mais importante político do movimento integralista brasileiro: Plínio Salgado. Ao mesmo tempo, o autor lança luz sobre as possibilidades de investigações acadêmicas comparativas acerca de Portugal e do Brasil. Longe, entretanto, da mera repetição, seu estudo acrescenta novidades ao complexo universo das direitas no século XX, não só no Brasil como também na Europa. Leia Mais
O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883) | Marcello Musto
Karl Marx seguramente figura entre os autores mais debatidos e analisados nos últimos cem anos. A vasta bibliografia que toma o pensamento de Marx por objeto poderia sugerir que falta pouco a ser dito de forma original. No entanto, a produção intelectual em torno de Marx parece escapar a este itinerário lógico e surge como uma fonte inesgotável de reflexões que, de diferentes maneiras, segue instigando e propiciando um renovado debate. É esta capacidade de constante atualização que alimenta as diversas tradições no âmbito das culturas marxistas e, mesmo, o renovado (e variado) interesse do pensamento crítico de forma geral.
Se é inegável, por um lado, que a vida e obra de Marx jamais deixaram de ser objeto de pesquisa ao redor do mundo, por outro, no período aberto após o fim da União Soviética e o ocaso do chamado “socialismo real”, o legado do pensador alemão parecia encontrar-se numa encruzilhada fatal. A crise econômica de 2008 mudou sensivelmente este cenário, renovando o interesse em Marx e o afirmando como um dos autores mais debatidos no século XXI. Não apenas suas análises e elaborações teóricas ganharam um novo impulso junto ao grande público, mas também sua trajetória de vida desperta curiosidade, como atesta o sucesso do filme O jovem Karl Marx, dirigido por Raoul Peck e lançado em 2017. Neste contexto, o livro O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883), escrito por Marcello Musto e publicado em 2018 pela editora Boitempo, surge como uma importante contribuição na busca por preencher lacunas e por aprimorar a nossa compreensão do legado de Marx. Leia Mais
Arte e conhecimento em Leonardo da Vinci | Alfredo Bosi || Leonardo da Vince | Walter Isaacson
A tarefa do historiador
Historiadores visam compreender eventos passados. Restos de colunas sugerem um templo que eles tentam imaginar utilizando elementos preservados. Entretanto, às vezes, nem restos existem. Em sua Institutio oratoria, Quintiliano discute Virgílio e Ovídio, comenta que Macer e Lucrécio valem a leitura e, então, menciona Varrão Atacino, Cornélio Severo, Saleio Basso, Gaio Rabírio, Albinovano Pedo, Marco Fúrio Bibáculo, Lúcio Ácio, Marco Pacúvio e outros poetas que admirava. Desses autores, hoje só existem obras de Virgílio, Ovídio e Lucrécio (GREENBLATT, 2011, p. 59). Historiadores não podem imaginar autores que sequer sobreviveram enquanto nomes. Então, ao escrever, eles tentam encaixar peças fragmentadas de um quebra-cabeças cujo amplo desenho conhecem vagamente, e desconhecem suas dimensões.
Existem inúmeras abordagens para estudar fragmentos de épocas passadas. No caso de documentos escritos, a História Conceitual talvez seja uma das abordagens mais importantes, pois conceitos estruturam questões de época e permitem relacionar momentos distintos. Matteo Palmieri, humanista e embaixador florentino, escreveu entre 1431 e 1438 o Libro della vita civile [Livro da vida civil], no qual fala a respeito da formação para viver dignamente em uma “ótima república”: Leia Mais
Ruptura: a crise da democracia liberal | Manuel Castells
Manuel Castells é doutor em sociologia pela Universidade de Paris, onde leciona nas áreas de Sociologia, Comunicação e Planejamento Urbano e Regional. Estudioso da era da informação, Castells avalia a influência da comunicação em rede nas sociedades conectadas e suas principais transformações no final do século XX. Das suas obras principais, destaca-se a coleção A era da informação, composta por três livros (A sociedade em rede, O poder da identidade e Fim de milênio). Nesta resenha, apresenta-se uma de suas mais recentes contribuições para o debate acerca da Democracia e dos inimigos que a rodeiam, oferecendo uma perspectiva de interpretação que aponta para a ruptura no processo de consolidação das democracias no mundo.
“Sopram ventos malignos no planeta azul”. Assim, Castells abre seu livro de cinco capítulos, montando, inicialmente, o panorama no qual sua contribuição se inscreve. Crises múltiplas, precariedades no mundo do trabalho, fanatismos de toda ordem, restrição das liberdades em nome de uma segurança vigiada – “Fomos transformados em dados” (CASTELLS, 2018, p. 4), diz o autor. A era da comunicação foi convertida em uma era da pós-verdade, em que mentiras são torpedeadas por diversos mecanismos de comunicação e alçadas à categoria de verdades absolutas. Existe, porém, segundo o autor, uma crise ainda mais significativa: o colapso das instituições representativas, que se configura enquanto crise cognitiva e emocional. Nosso modelo de representação e governança, a democracia liberal caiu em descrença e enfrenta hoje a fúria das ruas. Dessa rejeição, surgem figuras políticas que negam a estrutura partidária e aprofundam a desordem mundial ao promover o segregacionismo e o protecionismo. De modo geral, o autor aborda nesse livro a crise da democracia liberal; a ruptura da representatividade entre cidadãos e governos; e os desafios da procura por instrumentos legítimos capazes de sanar esse “furacão sobre nossas vidas”. Leia Mais
Unidos perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro | Cláudia Maria Ribeiro Viscardi
Dizer que “Não há na História do Brasil nada mais velho que a ‘República Velha’” (VISCARDI, 2017, p. 18) é uma feliz escolha para propor a revisitação da política de transição entre a Monarquia e a República e discutir os impactos do federalismo na organização política nacional. Este é um dos enfoques de Cláudia Maria Ribeiro Viscardi, professora titular do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Autora de Teatro das Oligarquias (VISCARDI, 2001), obra enraizada na historiografia para oferecer uma leitura concisa sobre a participação dos estados-atores na política da primeira fase republicana, Viscardi apresenta uma nova proposta a respeito das consequências do federalismo na conjuntura do início da República e particularmente do governo Campos Sales. Unidos perderemos, como reconhece a autora, é uma continuação de discussões específicas sobre a descentralização política à época dos debates republicano-federativos. Leia Mais
Educação democrática: antídoto ao Escola sem Partido – PENNA et al (TES)
PENNA, Fernando; QUEIROZ, Felipe; FRIGOTTO, Gaudêncio (Orgs.). Educação democrática: antídoto ao Escola sem Partido. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2018. 192p. Resenha de: AFFONSO, Cláudio. Pilares firmes contra a Arquitetura da Destruição. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.18, n.2, 2020.
Ao apresentar seu filme, em 1989, o sueco Peter Cohen nos convidava a um voo rasante sobre uma aldeia na qual, segundo ele, as pessoas ansiavam por um mundo mais puro e harmonioso, rejeitando as ameaças da decadência, o caos espiritual e intelectual que, segundo elas mesmas, conduziriam sua amada pátria à escuridão. Purificada do mal, protegida da degeneração moral e estética da cultura bolchevique e da degradação dos débeis, inúteis e parasitários, a nação renasceria bela, limpa e forte. Segundo Gerhard Wagner, médico-chefe do Bureau de Beleza no Trabalho, criado nos anos 1930 e retratado no filme, “se ao proletariado fosse mostrado como ele deveria se lavar e se elevar ao nível da burguesia, ele – o proletariado, entenderia que não havia porque lutar”. Um verdadeiro despertar estético libertaria os trabalhadores de sua classe e a sociedade superaria o conflito de classes. Ditas e repetidas, orquestradas e estampadas, articuladas às condições de existência daquela Alemanha, estas verdades serviram de base para a Arquitetura da Destruição que se seguiu. Para o cineasta, a tarefa de evidenciar e denunciar esta ‘arquitetura’ fundamentaria o repúdio aos regimes antidemocráticos e seu banimento da História da humanidade.
No mesmo ano de 1989, do outro lado do Atlântico, a República parecia reinaugurar-se. Na esteira dos avanços prometidos pela Constituição de 1988 e ansiados por boa parte dos brasileiros, respirava-se a noção de direito público universal, a defesa de princípios democráticos e a valorização das liberdades individuais e coletivas, abandonando os duros anos da ditadura civil militar das décadas anteriores. Se é verdade que não havia consenso em torno dos conteúdos da democracia e da cidadania, podemos afirmar com alguma convicção que cidadão – fosse o portador de direitos civis e sociais, fosse o de direitos do consumidor –, e cidadania foram os substantivos mais repetidos do período.Neste contexto, e não sem muita luta, a educação pública, laica, de qualidade e para todos parecia um projeto possível. A ressurgência de antigos movimentos sociais e o nascimento de novas formas de organização e mobilização, tanto de cunho popular quanto elitistas, dotavam a sociedade civil de feição estonteantemente dinâmica. Esperava-se a construção de uma democracia substantiva, independente do que isto quisesse dizer para os diversos grupos em disputa.
“A democracia em vertigem”, documentário lançado por Petra Costa, em 2019, testemunha um dos pontos de chegada desta disputa. Capturadas no tempo presente, as imagens emolduradas pela narrativa da própria diretora conduzem o expectador a momentos de angústia e desolação: a democracia brasileira em frangalhos.
A frase: “A bandeira do Brasil jamais será vermelha”, pronunciada no discurso de posse do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019, talvez sirva de síntese metafórica daquilo que se instalou no Brasil nos anos recentes e que, como farsa – “um passado disfarçado voltando pela porta dos fundos” ( Konder, 1995 ), repete a Arquitetura da Destruição. Baseado numa espécie de milenarismo míope, ou salvacionismo débil, o regime de ódio político e intolerância, parece sustentar-se em concepções éticas, morais e estéticas que em muito fazem lembrar o irracionalismo fascista. A repulsa à Educação Democrática, e de resto, às instituições democráticas como um todo é, certamente, uma das bases fortes desta construção. Não é sem razão que a disputa pela Escola se tornou o centro aglutinador do movimento/programa/projeto/partido que, nos anos 2000, lançou-se ao combate em defesa de um Deus opressor e da Teologia da Prosperidade, da família parental, da moral machista e das ideologias ultrareacionárias e ultraliberais, autonomeando-se Escola Sem Partido (EsP) 1 .
Tudo isso para dizer: Educação Democrática: antidoto ao Escola Sem Partido, organizado por Fernando Penna, Felipe Queiroz e Gaudêncio Frigotto, é um livro imprescindível. E não apenas para quem se interessa por Educação. Lançado em 2018, reúne artigos de pesquisadores que àquela ocasião tinham assistido ao Golpe de 2016, mas não às eleições de outubro de 2018 e os primeiros meses do (des)governo Bolsonaro. Como o leitor logo perceberá, e talvez possa concordar, nem mesmo investigadores metódicos e criteriosos puderam antever o ritmo, a intensidade e a extensão da destruição que se seguiria. Aleatoriamente, mencionemos a Reforma Trabalhista, a subordinação do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Fazenda, a liberação de um sem número de agrotóxicos, a extinção do Programa Mais Médicos e a ‘expulsão’ dos médicos cubanos em atividade no Brasil, o Decreto das Armas, os gigantescos cortes no financiamento da Educação Pública, a nomeação de Sérgio Moro Ministro da Justiça e da Segurança Pública e a avalanche de denúncias contra ele e, agora mesmo, a Reforma da Previdência. Ou, algum detalhe mais sutil, mas igualmente significativo, como a estratégia negacionista em relação ao Golpe Militar de 1964 e à Ditadura Militar que tem suscitado mecanismos de autocensura entre renomados autores e professores de História e Sociologia; ou a defesa que fez o Presidente da República ao afirmar que quer um futuro ministro do STF “terrivelmente” cristão, leia-se evangélico.
Se o livro ‘não viu tudo isto’ e, portanto, não traz a análise desta dramática conjuntura e suas implicações na fórmula do “Antídoto ao Escola sem Partido”, o que faz o livro? Aqui situa-se o ponto de inflexão mais importante que podemos tomar neste momento, segundo me parece. A obra faz ‘formação de base’, fundamenta pilares teóricos e, por que não dizer, ético-políticos para o enfrentamento que está em questão. Numa frase, tomada de empréstimo à Marise Ramos que assina a Introdução e inspirada na obra de Ellen Wood, Democracia contra capitalismo 2003, oferece muitas pistas para os que pensam que a democracia “em sua plenitude é incompatível com o capitalismo e odiada pela oligarquia dominante, não se pode lográ-la. Isto porém, não elide – ao contrário exige – a luta por sua conquista.” (p. 8).
Tomada como tarefa coletiva, a construção de pilares para o enfrentamento da desdemocratização do Brasil se faz de forma generosa e abundante ao longo dos textos. Em seu conjunto, o livro pode ser lido como resultado de três movimentos articulados: a delimitação criteriosa do ‘fenômeno’ Escola sem Partido, identificando e analisando suas bases materiais, institucionais e sua estratégia discursiva; a busca metódica das determinações históricas que conduziram à regressão das relações sociais capitalistas com a negação de seus postulados de integração dos indivíduos na diversidade social e do papel da escola no processo de socialização dos indivíduos nos valores do convívio coletivo e, a proposição de táticas de enfrentamento desta regressão, notadamente, o fortalecimento do Movimento Escola Democrática com perspectiva de gênero emancipatória. O ‘antídoto’ está, para os autores, na luta por democracia e escola democrática.
A análise do ‘fenômeno’ EsP, para o qual “O que verdadeiramente está acontecendo é que o conceito de ‘gênero’ está sendo utilizado para promover uma revolução sexual de orientação neo-marxista com o objetivo de extinguir da textura social a instituição familiar” (p.101), encontra-se em praticamente todos os textos. A diferença de ênfase talvez particularize as contribuições. Assim, os aspectos institucionais do EsP podem ser lidos em “Liberdade para a democracia: considerações sobre a institucionalidade da Escola sem Partido”, de Felipe Queiroz e Rafael Oliveira e “Direito à educação democrática: conquistas e ameaças”, de Russel da Rosa. Os aspectos discursivos são perscrutados em “Como o discurso da ‘ideologia de gênero’ ameaça o caráter democrático e plural da escola”, de Giovanna Marafon e Marina Souza; “O Movimento Escola sem Partido e a reação conservadora contra a discussão de gênero na escola”, de Fernando de Moura; “É que Narciso acha feio o que não é espelho: o ensinar e o aprender pela ótica do EsP”, de Carina Costa e Luciana Velloso e “A EsP na desdemocratização brasileira”, de Diogo Salles e Renata Silva. A análise do problema do ponto de vista das disputas históricas em torno da Escola, daquilo que Carlos Jamil Cury nomeou como “Educação e Contradição” ( 1995 ), encontra-se em “A disputa por educação democrática em sociedade antidemocrática”, de Gaudêncio Frigotto e “ Instrutio ou Educatio”, de Zacarias Gama. O centro da formulação tática encontra-se, segundo minha leitura, em “Construindo estratégias para uma luta pela educação democrática em tempos de retrocesso”, de Fernando Penna, mas também, e fortemente, no já citado texto de Giovana Marafon e Marina Souza.
Aos que sentem o ânimo combalido diante de tamanha avalanche, sirvo-me de duas imagens para concluir esta recomendação de leitura. A primeira está no Prólogo do também imperdível A era do cometa, do historiador alemão Daniel Schönpflug (2018) . Apropriando-se da tela “O cometa de Paris” (1918), de Paul Klee, ele descreve um contexto que “mirava exatamente esse limiar entre o passado e o futuro, entre a realidade e as projeções” ( Schönpflug, 2018 , p. 13). Tratava-se do ano de 1918, final da Primeira Grande Guerra Mundial e ano um da Revolução Russa. Usado como metáfora para definir um sinal do imprevisível, um arauto de grandes acontecimentos, de transformações profundas e, até mesmo, de catástrofes, o cometa representa o alvorecer de novas e impensadas possibilidades no horizonte, e futuros desconhecidos. Lembremo-nos que, percebidos ou não, cometas seguem cruzando o céu 2 .
A segunda, não menos importante, e que devemos a Gramsci, reafirmar o pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. As diversas sínteses, organizadas em artigos independentes, nos permitem avançar rapidamente na fixação de pilares firmes para a luta por democracia radical e plural.
Eis o antídoto. Eis a tarefa.
Boa leitura!
Referências
CURY, Carlos Jamil. Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do fenômeno educativo. SP, Cortez, 1995. 7ª ed [ Links ]
KONDER, Leandro. O novo e o velho. O Globo. 27/05/1995 [ Links ]
SCHÖNPFLUG, Daniel. A era do cometa: o fim da primeira guerra e o limiar de um novo mundo. São Paulo: Todavia, 2018, p.13 [ Links ]
Notas
1 O esforço analítico empreendido por FRIGOTTO, Gaudêncio (Org). Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira . Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017 merece ser considerado pelos que desejam compreender melhor o fenômeno.
2 CÁSSIO, Fernando (org.). Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. São Paulo: Boitempo, 2019. é mais uma luz no céu escuro.
Cláudia Affonso – Colégio Pedro II , Rio de Janeiro , RJ , Bras. E-mail: professoraclaudiaaffonso@gmail.com
(P)
Os brasileiros e a Segunda Guerra Mundial | Francisco César Ferraz
Após 77 anos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, a obra de Francisco César Ferraz – Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina – nos mostra como foi intenso, impreciso e incerto enviar cidadãos brasileiros à guerra. Apesar de pouco valorizada, a atuação direta desses homens através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e do grupo de caça brasileiro conhecido como “Senta Pua”, foram determinantes no cenário de guerra dos campos de batalha italianos, em vitórias como a tomada do Monte Castelo e Montese.
O livro é dividido em dez capítulos, além da cronologia, referências, fontes – como o ensaio de Francisco Ruas Santos, Fontes para a história da FEB, e o livro de Cesar Campiani Maximiano, Onde estão os nossos heróis? Uma breve história dos brasileiros na 2ª Guerra – sugestões de leitura e o último sobre o leitor. As divisões são feitas de forma cronológica onde o autor retrata os motivos e a preparação que culminaram na presença brasileira. Leia Mais
Pequenos acasos cotidianos. Presentes e desastres da vida cotidiana | Juliana Russo
Toda vez que abro um livro da Juliana Russo recebo de cara um convite. Nesse Pequenos acasos cotidianos não seria diferente (ela também é autora do livro São Paulo infinita). Mas este convite não é formal nem explícito. É um convite velado, sutil, sensível, subterrâneo, palavra tornada desenho. É um convite imediato, mas que precisa ser composto, combinado e descoberto pelo leitor ao virar página por página. Nesse passo a passo das folhas o convite emerge… um caminhar convidando o leitor a caminhar! Um caminhar pelo livro, um caminhar pela cidade.
Juliana nos apresenta esses desenhos, belos e às vezes desengonçados e imprecisos traços, como um convite a acompanhá-la numa caminhada qualquer de um dia qualquer por uma cidade que poderia ser qualquer. Calhou de ser São Paulo (Perdizes ao Centro e de volta), calhou de ser dia 9 de agosto de 2017. O que vemos nesse livro é um relato de viagem, um “mapa de percurso” como queria Michel de Certeau – o cara da Invenção do cotidiano (1), um mapa mentalizado de um caminhar pela cidade observando e lembrando, recordando, recortando, resgatando rastros de um tempo que passa, de um cotidiano que continua. Juliana segue os rastros do cotidiano, anota-os, resgatando-os e colecionando-os. Os presentes (tanto o adjetivo quanto o substantivo) e os desastres desenhados pelo simples desejo de torná-los presente, fixos e eternos. “Os lugares têm uma lembrança própria” sussurra Juliana em algum momento do relato, do mapa, da caminhada. Leia Mais
Machado de Assis: a poética da moderação – BASTOS (MAEL)
BASTOS, Alcmeno. Machado de Assis: a poética da moderação. Rio de Janeiro: Batel, 2018. 315 pp. Resenha de: AZEVEDO, Sívia Maria. Machado Assis Linha v.12 n.28 São Paulo Sept./Dec. 2019 Epub Nov 25, 2019.
Se a expressiva e longa atuação de Machado de Assis no exercício da crítica teatral vem recebendo importante recepção entre os estudiosos (FARIA, 2008), ainda são relativamente poucos os trabalhos que se debruçam sobre a crítica literária machadiana, comparados aos estudos voltados à prosa de ficção (romances e contos) e, mais ultimamente, à crônica. Por isso mesmo, é muito bem-vindo o livro de Alcmeno Bastos (2018, p. 11), Machado de Assis: a poética da moderação, no qual o autor se propõe “[…] identificar a poética pela qual se guiou Machado de Assis no exercício da crítica literária e teatral, ofício que desempenhou no decurso de grande parte de sua vida intelectual”.
Bastos chama de “poética da moderação” a poética da crítica machadiana pautada pelos princípios defendidos em “O ideal do crítico” (1865) – “ciência”, “consciência”, “coerência”, “independência”, “tolerância”, “urbanidade” -, em relação aos quais, segundo o autor, “[…] Machado de Assis se manteve fiel […], exercendo uma crítica ‘ciente’ e ‘consciente’, marcada pela recusa à agressividade (com raríssimas exceções), sob o império da moderação […]” (BASTOS, 2018, p. 14).
Assim, a “poética da moderação” é o princípio condutor por meio do qual Bastos empreende o rastreamento dos principais textos de crítica literária e teatral de Machado de Assis, na promoção de um diálogo em que, sem deixar de reconhecer especificidades de ambas as áreas, privilegia a coerência de Machado aos postulados estéticos e éticos no exercício da crítica.
Agrupados em blocos temáticos, os textos de crítica literária e teatral de Machado de Assis são submetidos a leituras minuciosas, a começar por aqueles que atendem ao título “profissões de fé”, nos quais Machado identifica as qualidades necessárias para o exercício da crítica, que deveria ter função reguladora e normativa, explorados no capítulo “As profissões de fé: o ideal do crítico e o crítico ideal: ‘ciência’ e ‘consciência’, pilares da crítica machadiana”. Aqui foram selecionados os textos “Ideias sobre o teatro” (1859), “A crítica teatral. José de Alencar: Mãe” (1860) e “O ideal do crítico” (1864), ao lado de alguns pareceres que Machado de Assis exarou, enquanto censor do Conservatório Dramático, atividade que exerceu em 1862-1864 e 1886-1887. Cabe ainda mencionar as duas cartas do Dr. Semana, dirigidas ao Presidente do Conservatório Dramático Brasileiro, Antônio Félix Martins, publicadas em 3 e 17 de abril de 1864, na Semana Ilustrada, nas quais o cronista, em tom irônico, convida a autoridade censória a visitar o Alcazar Lírico para constatar a decadência moral do público e a baixa qualidade das peças encenadas naquele teatro. Bastos atribuiu essas cartas a Machado de Assis por coincidirem com o período em que o escritor atuou como censor- quando “Inúmeras vezes […] externou o ponto de vista de que o teatro tinha função social civilizadora e, portanto não podia aceitar peças que ofendessem a moral” (BASTOS, 2018, p. 46) -, crítica endereçada às peças levadas no Alcazar Lírico, o que vai ao encontro do teor das missivas do Dr. Semana.
O segundo eixo temático responde pelos “balanços críticos”, textos nos quais Machado de Assis empreende uma visão de conjunto da produção literária e dramatúrgica da época, objeto do capítulo “Os balanços críticos: a quantas andavam a literatura e o teatro no Brasil nos anos 1860/70”. Essa seção é contemplada com os textos “O passado, o presente e o futuro da literatura brasileira” (1858), “Notícia da atual literatura brasileira. Instinto de nacionalidade” (1873), “A nova geração” (1878) e “O teatro nacional” (1866), seleção que, como se vê, descarta a linha evolutiva, e com isso a divisão da obra machadiana em duas fases. Ao longo desses quase vinte anos, se Machado de Assis imprimiu nuances a seu pensamento crítico, ao tratar de questões como o indianismo, a cor local na aferição da nacionalidade, a adesão dos escritores às novas tendências estéticas oriundas da Europa, tais como o teatro “realista”, nem por isso houve “[…] uma mudança acentuada em suas convicções crítico-teóricas, sempre marcadas pela consideração ponderada das razões em choque” (BASTOS, 2018, p. 58).
As resenhas de Machado de Assis sobre o movimento teatral no Rio de Janeiro, publicadas nas seções “Revista de Teatros” (O Espelho, 1859-160) e “Revista Dramática” (Diário do Rio de Janeiro, 1860-1861), e os estudos, produzidos de forma esparsa, sobre a obra dramática de Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo, Antônio José, Quintino Bocaiúva, Oliveira Lima, entre outros, integram o capítulo “Machado de Assis vai ao teatro: a militância crítica no estudo (preferencial) de autores e peças contemporâneos e alguns estudos singulares”. Nesses textos, Bastos reconhece a fidelidade de Machado de Assis ao princípio de independência, ao criticar os desempenhos de João Caetano e Eugênia Câmara, aquele, pelo exagero na representação, esta, por estar mais afinada com a comédia do que com a tragédia. A defesa da função social do teatro justificaria a referência de Machado pelo teatro realista, mais adequado à representação da realidade, embora sem deixar de reivindicar a liberdade na criação artística.
Os textos mais propriamente de crítica literária de Machado de Assis, sobre poetas e ficcionistas, sobretudo os contemporâneos, receberam capítulo à parte: “Na crítica literária, um Machado mais atento à poesia (e aos poetas) que à prosa de ficção (ao romance, aos romancistas e aos raros contistas)”. Neste título-resumo (como em outros do livro), Bastos não apenas informa o leitor sobre o perfil do capítulo, mas também, no caso, a preferência de Machado pelos poetas em vez dos romancistas e contistas, o que talvez tenha passado despercebido, mesmo entre os machadianos. Outra novidade foi extrair de várias crônicas de “A Semana”, publicadas na Gazeta de Notícias, com base em obra anterior (AZEVEDO; DUSILEK; CALLIPO, 2013), os rápidos comentários de Machado acerca de ficcionistas, alguns dos quais, Coelho Neto, Raul Pompeia, Aluísio Azevedo, José Veríssimo. Em relação aos poetas de seu tempo, nenhum nome importante deixou de receber a atenção de Machado de Assis, que se manifestou tanto sobre os que o tempo consagrou, como Gonçalves de Magalhães, Junqueira Freire, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, quanto sobre os que ficaram esquecidos (Bruno Seabra, Alberto Zaluar, Adélia Fonseca etc.), sem deixar de contemplar os estrangeiros (Garrett, Gomes de Amorim, Guilherme Malta).
Os paratextos escritos por Machado de Assis para os seus romances, livros de contos, poemas e peças teatrais foram analisados no capítulo “Machado de Assis se apresenta ao leitor: a função metadiscursiva dos prefácios, prólogos, das advertências”. A inclusão desses textos no livro em pauta significa que Bastos os compreende como integrantes da bibliografia machadiana sobre crítica literária, o que é mais outra novidade trazida pela obra. A defesa de um “realismo seletivo”, a conformidade das ações das personagens às motivações interiores, o consórcio entre dados procedentes da realidade e a invenção do autor são princípios norteadores da crítica literária e teatral, a repercutir nos paratextos machadianos, com ressalvas em relação ao prólogo de Memórias póstumas de Brás Cubas, por já integrar o tecido ficcional, e aos de Esaú e Jacó e Memorial de Aires, pela ambiguidade quanto à autoria dos textos apresentados ao leitor.
Os últimos capítulos do livro foram dedicados a Eça de Queirós e José de Alencar, respectivamente, “Uma polêmica logo descontinuada (por ‘tédio à controvérsia’?): Eça de Queirós e a questão do realismo” e “José de Alencar: o romancista e o dramaturgo lidos e admirados pelo crítico Machado de Assis”. No primeiro, Bastos aborda a célebre querela em torno d’O Primo Basílio, em 1878, sobre o qual Machado de Assis se manifestou em artigos, nos quais reiterou suas convicções acerca da representação ficcional da realidade. Essa foi das raras ocasiões em que Machado se pronunciou mais duramente como crítico literário; ainda assim, o tom severo da sua crítica ficou muito distante do acirrado debate travado na imprensa carioca da época, do qual participaram vários nomes de peso (NASCIMENTO, 2008). No capítulo sobre José de Alencar, localizado não por acaso no fecho do livro, que se abrira com ele como epígrafe, na carta enviada em 1868 a Machado de Assis, apresentando-lhe Castro Alves, o pesquisador carioca resenha três modalidades de intervenção crítica de Machado acerca da obra de Alencar: a crítica literária (Iracema, 1866), a crítica teatral (Verso e reverso, O demônio familiar, As asas de um anjo, Mãe, O que é o casamento?, 1866) e o prefácio (edição comemorativa de O guarani, 1887, que acabou não acontecendo), sem esquecer as provas de admiração manifestadas em várias ocasiões, em crônicas e discursos.
Como balanço geral, o livro de Alcmeno Bastos vem trazer importante contribuição aos estudos machadianos, quanto à atuação de Machado de Assis no exercício da crítica literária e teatral, ao promover frutífero diálogo entre essas duas áreas de militância crítica, norteadas pelos princípios da “poética da moderação”.
Referências
AZEVEDO, Sílvia Maria; DUSILEK, Adriana; CALLIPO, Daniela Mantarro (Orgs.). Machado de Assis: crítica literária e textos diversos. São Paulo: Editora UNESP, 2013. [ Links ]
BASTOS, Alcmeno. Machado de Assis: a poética da moderação. Rio de Janeiro: Batel, 2018. [ Links ]
FARIA, João Roberto (Org.). Machado de Assis: do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. [ Links ]
NASCIMENTO, José Leonardo. A recepção de O Primo Basílio na imprensa brasileira do século XIX: estética e história. São Paulo: Editora UNESP , 2008. [ Links ]
Sílvia Maria Azevedo – É professora adjunto de Teoria Literária e Literatura Comparada, do Departamento de Literatura, UNESP/Assis, tendo publicado artigos e livros sobre Machado de Assis, dentre os quais a organização das seguintes antologias Badaladas Dr Semana (São Paulo: Nankin, 2019, t. I e II), História de quinze dias, História de trinta dias (São Paulo: Editora UNESP, 2001), Machado de Assis: crítica literária e textos diversos (São Paulo: Editora UNESP, 2013), em colaboração com Adriana Dusilek e Daniela Mantarro Callipo. É autora da reedição de O Momento Literário, de João do Rio (São Paulo: Editora Rafael Copetti, 2019), com Tania Regina de Luca, e da obra Brasil em imagens: um estudo da revista Ilustração Brasileira (1876-1878) (São Paulo: Editora UNESP, 2010). https://orcid.org/0000-0001-7679-1919. E-mail: silrey@uol.com.br.
Escenarios de família: trayectorias, estratégias y pautas culturales, siglos XVI–XX | Juan Francisco Henarejos López e Antonio Irigoyen López
O livro Escenarios de família: trayectorias, estratégias y pautas culturales, siglos XVI–XX é resultado dos trabalhos empreendidos pela Red de Estudios de Familia de Murcia (REFMUR), um grupo de estudos promovido pela Universidad de Murcia e pela Fundación Séneca. A REFMUR tem por objetivo oferecer reflexões, sugestões e pesquisas sobre a família, um elemento que podemos considerar como uma das problemáticas históricas mais atuais e, ao mesmo tempo, mais complexas. O livro, ao longo de suas páginas, visa a demonstrar como a família pode representar uma importante ferramenta teórica e metodológica para que se possa adentrar na análise da complexidade da realidade social.
Todavia, antes de mergulharmos mais a fundo nos temas abordados na obra em questão, consideramos fundamental apresentar ao leitor o local de produção desse livro: o grupo de estudos REFMUR. Como já mencionado, esse grupo está vinculado à Universidad de Murcia; contudo, esse não tem a intenção de ser apenas mais um grupo acadêmico que realiza pesquisas dentro da universidade e que acaba por se manter somente no campo da reflexão acadêmica. Tampouco mantém o isolamento que os estudos históricos costumam observar com relação às continuidades e mudanças sociais contemporâneas. Pelo contrário, o REFMUR demonstra que compreender a família, como objeto de estudo, reflete as formas de organização e de vida da sociedade, uma vez que que a família tem suas raízes no tempo histórico plenamente. Leia Mais
Formar novos rurais | Valério Alécio Turnes, Wilson Schmidt e Thaíse Costa Guzatti
“Formar Novos Rurais”, escrito em parceria por Valério Alécio Turnes, Wilson Schmidt e Thaíse Costa Guzzatti, constitui-se num livro de ensino-aprendizagem destinado a orientar a formação empreendedora de jovens no campo como parte do Programa Novos Rurais. Constituído por 189 páginas, inclui imagens, mapas, gráficos, quadros e notas que contribuem para uma apresentação textual muito didática. O prefácio, escrito pelo oficial de Programas da FAO, Carlos Antônio Ferraro Biasi, assinala a importância da agricultura familiar e do estímulo aos jovens rurais e pontua o conteúdo que está estruturado didaticamente em quatro módulos: as recentes mudanças no meio rural; os novos horizontes para os jovens; as fontes de financiamento para o empreendimento; as possibilidades e o planejamento de um empreendimento agrícola ou não agrícola. Leia Mais
The New Brazilian University – A busca por resultados comercializáveis: para quem? – SILVA JUNIOR (TES)
SILVA JUNIOR, João dos R. The New Brazilian University – A busca por resultados comercializáveis: para quem?. São Paulo: Canal 6 Editora, 2017. 288 pp. Resenha de: ALVES, Giovanni. A ideologia da New Brazilian University. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.17, n.3, Rio de Janeiro, 2019.
O livro de João dos Reis Silva Júnior intitulado “The New Brazilian University – a busca por resultados comercializáveis: para quem?” (Projeto Editorial Praxis/RET, 2017), é uma importante contribuição para o entendimento da nova ofensiva do capital sobre as universidades públicas no Brasil. O livro possui uma introdução: “As tendências da universidade estatal no Brasil em face das influências dos Estados Unidos da América” e quatro capítulos nos quais o autor trata do capitalismo acadêmico na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); elementos de uma teoria do capitalismo acadêmico; a mundalização financeira, Estado neoliberal e as mudanças nas universidades em âmbito mundial (World Class University); e o novo papel da universidade estatal brasileira. É um livro interessante (e necessário) que preenche a lacuna de uma crítica da nova organização neoliberal da instituição ‘universidade estatal’ com impactos na natureza da produção do conhecimento e na atividade de trabalho do professor-pesquisador (o que nos ajuda a entender uma nova dimensão da precarização do trabalho docente).
O autor disseca o histórico e a natureza do ‘capitalismo acadêmico’, como ele denomina uma academia que busca resultados comercializáveis. Ao colocar-se no seio do capitalismo acadêmico por excelência, os Estados Unidos da América (Silva Júnior realizou este estudo durante sua estadia na Arizona State University), o autor situou-se num território privilegiado para exercer a crítica de um paradigma acadêmico que se disseminou pelo mundo global.
O título em inglês do livro, tal como a imagem mitológica da capa (Saturno devorando seus filhos), possuem candentes significados: a imagem da capa intitulada “Saturno” (de Peper Paulo Rubens, 1577-1640), é a metáfora suprema do capital devorando a civilização que no século XXI assume seu patamar histórico mais elevado, com o capitalismo neoliberal. O título em inglês do livro de Silva Júnior não é gratuito – é a expressão da colonização neoliberal da universidade, uma das instituições mais caras da civilização humana. No caso do Brasil, pelo menos desde a década de 1990, o capitalismo neoliberal significou o aprofundamento de tendências instauradas pela ditadura militar (1964-1984). O capítulo 1 do livro, no qual o autor tratou do capitalismo acadêmico na UFMG, expõe a visada histórica desde 1967. A miséria neoliberal no Brasil é, de certo modo, uma herança maldita da ditadura militar.
O autor abre o capítulo 1 com um estudo sobre a UFMG, o concreto com base no qual o autor disseca teoricamente – nos capítulos seguintes – as múltiplas determinações do capitalismo acadêmico e as perspectivas da universidade brasileira no século XXI. Silva Júnior reconhece o primado do objeto concreto segundo o qual ele vai expor a totalidade histórica da mundialização financeira, o Estado neoliberal no Brasil e as profundas mutações do processo de produção do conhecimento na era do capitalismo global que leva a forma-mercadoria do conhecimento à sua dimensão exaustiva – ou melhor, adequando a formulação à imagem mitológica da capa do livro, à sua dimensão autofágica.
O capital como sujeito automático da autovalorização do valor devora sua própria cria. A autofagia do capital expõe uma densa (e íntima) contradição que percorre a própria natureza do processo: valor de uso versus valor de troca, processo de trabalho versus processo de valorização, natureza e capital. Silva Júnior busca dissecar o processo de transformação da produção do conhecimento nas condições históricas da mundialização financeira do capital. O professor-pesquisador tornou-se trabalhador industrial – especializado – no sentido de estar mais próximo dos interesses da grande indústria (ou fazer parte da complexa cadeia de produção de valor na era das revoluções tecnológicas).
A forma-mercadoria complexa exige a adequação da cultura institucional das universidades como polo de produção de conhecimentos, um conhecimento que busca resultados comercializáveis. A nova forma institucional que a universidade brasileira deve adotar é o que Silva Júnior denomina “The New Brazilian University”. O nome é a marca. O foco do estudo no polo historicamente mais desenvolvido – as universidades estadunidenses – permite afirmar o preceito metodológico marxiano: “a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco” (Marx, 2011, p. 58); ou seja, o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido. Foi nos EUA que Silva Júnior descobriu o DNA da nova cultura institucional da universidade brasileira. A New Brazilian University ou a cultura institucional do capitalismo acadêmico no Brasil, que se corporifica nas universidades públicas que produzem conhecimento em parceria com a empresa privada.
A parceria da empresa privada com a universidade pública é o modo institucional de espoliação do fundo público pelo capital. A ‘New Brazilian University’ é a cultura do regime de acumulação por espoliação, adequado não apenas à mundialização financeira do capital que encontra nos EUA seu polo mais desenvolvido, mas a tradição oligárquica do capitalismo brasileiro na qual o público, desde as priscas eras do capitalismo colonial-escravista, confunde-se com o interesse do privado oligárquico.
A nova cultura institucional da universidade brasileira tem um impacto no processo de trabalho do professor pesquisador. Na verdade, ela explica – em última instância – a precarização do trabalho docente nas universidades públicas e privadas que incorporam as formas derivadas da lógica do valor, ou aquilo que Marx denominou trabalho abstrato (a forma do trabalho que produz valor, e, portanto, o fundamento da forma-mercadoria). Silva Júnior tem uma vasta reflexão sobre o trabalho alienado (ou estranhado) do professor nas universidades públicas, tendo portanto investigado as formas de degradação do trabalho do professor-pesquisador nas universidades no mundo do capital na sua cotidianidade. Não podemos esquecer que o estranhamento (Entfremdung) – como categoria lukacsiana – é, “em grande medida, também um fenômeno ideológico, [e] que em particular a luta individual-subjetiva de libertação do estranhamento possui um caráter essencialmente ideológico” (Lukács, 2013, p. 637). A ‘New Brazilian University’ é uma poderosa ideologia do capital no mundo acadêmico brasileiro. Ela move corações e mentes da vaidade e labor acadêmicos tendo, como telos efetivo, a busca por resultados comercializáveis. Portanto, a ideologia da ‘New Brazilian University’ é um componente ineliminável de “precarização da pessoa humana que trabalha” como professor pesquisador nas universidades brasileiras (Alves, 2016, p. 210).
Diante da crise estrutural de financiamento público das universidades brasileiras, a elite dirigente do ensino superior no Brasil proclama o modelo da ‘New Brazilian University’. Não poderia ser diferente – de FHC a Bolsonaro, passando por Lula, Dilma e Temer, a lógica do capitalismo acadêmico se impõe como modo de produção do capital em sua etapa de declínio histórico (o que explica sua dimensão autofágica).
Silva Junior tem uma formação marxista de base ontológica que lhe permite enriquecer o veio crítico, evitando reducionismos e determinismos mecanicistas. Neste livro, o autor nos conduz a entender as determinações estruturais e institucionais do estranhamento do trabalho nas universidade brasileiras, com o conceito de ‘New Brazilian University’, operando com riqueza, a crítica do capitalismo acadêmico. A análise da Reforma do Estado na era neoliberal no Brasil, o complexo jurídico-institucional que regulamenta a educação superior brasileira, os caminhos da commodification da produção do conhecimento na universidade brasileira, coloca o livro de Silva Júnior como sendo a crítica mais contundente da manifestação histórica da lógica capitalista na instituição universitária no Brasil – e quiçá, no mundo global. Mas, Silva Júnior não perde a particularidade concreta. Embora analise a universidade nos Estados Unidos, seu interesse é a crítica do trabalho na universidade brasileira, o que credencia a sua análise crítica com a força da dialética.
Referências
ALVES, Giovanni. A tragédia de Prometeu: a degradação da pessoa humana que trabalha na era do capitalismo manipulatório. Bauru: Praxis editorial, 2016. [ Links ]
LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: Boitempo editorial, 2013. [ Links ]
MARX, Karl. Grundrisse – Manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo editorial, 2011. [ Links ]
Giovanni Alves – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Marília, São Paulo, Brasil. <alvesgiovanni61@gmail.com>
(P)
Negação e poder: do desafio do niilismo ao perigo da tecnologia – OLIVEIRA (RFA)
OLIVEIRA, J. R. Negação e poder: do desafio do niilismo ao perigo da tecnologia. Caxias do Sul: Educs, 2018. Resenha de: VIOLA, Geovani. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.31, n.54, p.986-992, out./dez, 2019.
As ideias de Hans Jonas não representam “apenas” o pensamento de um filósofo clássico do século XX, mas remetem a uma das vozes mais importantes da ética contemporânea. O inventário de sua filosofia demonstra que seu interesse, no âmbito teórico, esteve voltado para a filosofia da religião e à filosofia da natureza (a partir dos interesses em torno da vida), e, em âmbito prático, para os efeitos da técnica e o despertar de uma nova ética.
No Brasil, o interesse pela obra de Jonas decorre inicialmente de sua proposta ética e pode ser demarcado pela tradução precursora do capítulo Por que a técnica moderna é um objeto para a ética? da obra Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung (Frankfurt a/M, Insel, 1985, pp. 42-52, mais tarde traduzido pelos membros do GT Hans Jonas da ANPOF), realizada pelo professor Oswaldo Giacoia Júnior. Posteriormente, a tradução da obra O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica (Contraponto, PUCRio, 2006) abriu caminho para uma série de publicações acerca do autor. Outros trabalhos de divulgação e interpretação foram se somando às traduções, mas é com a obra Negação e Poder, o “fascinante livro de Jelson Oliveira”1, que o pensamento de Jonas tem um novo e significativo capítulo impresso no cenário nacional.
O texto é fruto de pesquisa de pós-doutorado realizada na Universidade de Exeter, no Reino Unido, em 2016, sob supervisão do professor Michael Hauskeller. Sua publicação em 2018, estabelece definitivamente um marco no cenário filosófico brasileiro, sobretudo pelo protagonismo das conexões feitas por Oliveira entre o tema da técnica com os desafios do niilismo, atrelando o pensamento jonasiano ao de Nietzsche e de Heidegger. Se Jonas não explicitou a unidade teórica de seus textos, Oliveira demonstra que o conceito de niilismo é o traço característico e ao mesmo tempo um fio condutor da obra de Jonas (p. 24).
É sabido que as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e o crescimento exponencial da tecnologia impactaram e redirecionaram o interesse de Jonas, pois representavam um problema que advinha, sobretudo, de um âmbito eminentemente prático. A obra Negação e Poder segue as pistas de Jonas para demonstrar que, embora tais fatos fossem novos como fenômenos da modernidade, eles partilham com a Antiguidade o mesmo sentido daquela negação do mundo já identificada por Jonas nos movimentos gnósticos do cristianismo primitivo. Se na tradição gnóstica tal negação era expressa na forma hostil com a qual o homem se relacionava com o mundo, segundo a tradição existencialista, tal negação era revelada pela via da indiferença, cujo resultado é o mesmo — e talvez até mais grave: o antinomismo, o amoralismo, o libertinismo, o ascetismo, a crise da temporalidade e a abertura para a exploração da natureza como resultado daquela indiferença (p. 24
Se o uso de armas químicas e biológicas já tinha sido razão para preocupação na ocasião da Primeira Guerra Mundial, o desfecho da Segunda Grande Guerra deixou um legado ainda mais ameaçador com relação ao emprego da técnica para fins nocivos: as explosões das duas bombas atômicas no Japão e os experimentos com seres humanos nos campos de concentração alemães alertaram o mundo quanto ao descompasso que havia sido perpetrado pelas ações humanas. Esse contexto conservou o tema do gnosticismo, tratado como uma tipologia existencial, no horizonte das análises jonasianas durante toda sua vida. Oliveira evidencia que os textos sobre o assunto continuaram sendo revistos e produzidos, uma vez que a “forma existencial gnóstica” assumiu uma “dimensão paradigmática” no seu pensamento, tanto do ponto de vista teórico, quanto ético. Mais do que isso, o niilismo moderno é apresentado por Oliveira como chave de leitura para o diagnóstico jonasiano da era moderna, pois uma vez que a ciência esvaziou o sentido que antes era oferecido pelas crenças e superstições, ela própria seria um desdobramento do niilismo. Eis uma marca relevante da sociedade ocidental.
Digno de nota é o argumento de Oliveira acerca da diferença do homem gnóstico com o homem técnico. Se o primeiro lutava contra o mundo para fugir dele, o segundo trabalha no mundo para explorá-lo como fonte de recursos, amparado em um avanço do progresso que cresce proporcionalmente ao distanciamento do homem em relação à natureza (p. 25), um distanciamento tomado não apenas em relação ao mundo, mas também do ser humano perante si mesmo e em relação à sua imagem. O que a análise alcança é precisamente o despertar para o fato de que a posição de distanciamento que adviria, sobretudo do antropocentrismo moderno, teria por consequência um tratamento com a vida que não passaria por uma “inclusão”, mas, ao contrário, seria marcado por uma intensa “exclusão”.
Se o primeiro tipo de niilismo negava o mundo, o segundo exerce um poder sobre ele: negação e poder, por isso, antes de serem pares contrapostos, devem ser entendidos como elementos confluentes e intercomplementares (p. 25), pois conforme já havia indicado Jonas, em The phenomenon of life (p. 250), a filosofia existencialista — com seu “gnosticismo moderno” — produziu uma separação abissal entre o homem e a natureza. Para Oliveira, as duas formas de niilismo representam o modus operandi da cultura ocidental, segundo o qual a civilização cresce em sentido proporcionalmente contrário à natureza. Coadunando, assim, com a análise de Jonas quando afirma que essa separação chegou ao ponto em que “nunca uma filosofia preocupou-se tão pouco com a natureza quanto o existencialismo, para quem ela não conservou nenhuma dignidade” (PV, p.250), a obra Negação e Poder elucida com a acuidade peculiar do autor, como a natureza, na modernidade, foi destituída de qualquer dignidade quanto a fins e valores e transformada em um grande laboratório de experimentações. Desse modo, na medida em que a perda da dignidade humana ocorre como desligamento do homem em relação à natureza, ou seja, um erro avaliativo sobre o seu próprio lugar no âmbito da vida, tal situação “leva-nos mais uma vez de volta ao dualismo entre ser humano e physis, como fundo metafísico da situação niilista” (PV, p.251).
Negação e Poder está metodologicamente estruturada em cinco partes, sendo que cada novo capítulo representa, segundo o próprio autor, “um incremento aprofundado da abertura teórica anterior” (p. 30). No primeiro, Oliveira demonstra que Jonas, embora parta de suas próprias perspectivas teóricas acerca do niilismo, retoma o conceito a partir de Nietzsche e Heidegger, sobretudo na sua associação ao diagnóstico de decadência e declínio da civilização ocidental (p. 34), processo que culminará com a ruptura entre homem e o mundo. Mais do que isso, na concepção do mundo como um lugar inóspito e a natureza como um corpo morto, o que faz com que a ciência moderna se apoie em uma “ontologia da morte” (PV, p.30) e o homem defina-se enquanto ser, negando seu pertencimento ao âmbito da vida. Oliveira demonstra, no primeiro capítulo, que há um fio condutor na obra de Jonas em torno do tema do niilismo que pode ser organizada em três eixos temporais e temáticos (p. 125-126): a dimensão cósmica-gnóstica com seus estudos acerca da natureza, a dimensão onto-antropológica com seus estudos acerca do homem e a dimensão ética com seus estudos acerca da tecnologia. Em cada dimensão há em comum o diagnóstico de um dualismo latente. O niilismo, derivado desse dualismo, torna-se uma rejeição do mundo físico, que, pela via da ciência moderna, trouxe um afã de exploração humana da res extensa tida como inerte, sem preocupação e responsabilidade, sendo essa também a marca da ciência e da tecnologia moderna, as quais, legitimadas pela filosofia existencialista, compreendem o mundo pela vida da indiferença.
Oliveira finaliza o primeiro capítulo demonstrando que, embora Jonas tenha recebido influências de Nietzsche e Heidegger acerca da análise do niilismo, ele possui uma formulação própria do problema, ligada à atitude de negação do mundo na forma da hostilidade, da indiferença ou da exploração tecnológica. Em seguida, no segundo capítulo, o autor aborda três Formas do niilismo, sendo eles o niilismo cósmico, compreendido como negação do mundo; o niilismo antropológico, isto é, a negação da “imagem” do homem ou da própria ideia do que seja o homem propriamente dito; e o niilismo ético, amparado no diagnóstico do niilismo técnico, que deixou a humanidade sem um critério moral capaz de orientar a técnica. A técnica, nesse contexto, promove muitos êxitos, mas, desamparada eticamente, não é capaz de “julgar a sua eficácia do ponto de vista do bem da espécie”, apresentado por Oliveira como uma nova versão da ideia de “bem comum”, posto que ampliado para o âmbito extra-humano (p. 247).
O tema do terceiro capítulo é justamente O niilismo da técnica, que teria como característica a “desumanização e a desominização na forma de um acosmismo” (p. 260) e tratado por Oliveira a partir de quatro aspectos que demonstram como a técnica se apresenta em sua forma niilista: a sua dinâmica formal, a sua “vontade de ilimitado poder”, a ignorância dos fins e dos valores e a utopia do progresso. Esses quatro aspectos evidenciam, como produto da utopia tecnológica, a negação do caráter autêntico da humanidade atual em função de uma nova humanidade, culminando com uma “natureza desnaturalizada e um homem desumanizado” (p. 340). Dessa forma, o capítulo cumpre o objetivo de demonstrar os resíduos niilistas da técnica, movida por uma dinâmica própria e impulsionada por uma perspectiva utópica.
No quarto capítulo, denominado O transumanismo é um niilismo, Oliveira apresenta o transumanismo como último reduto das utopias e herdeiro do niilismo por três razões (p. 341): partem de uma “neutralização da imagem de homem” (SDD, 120); [2] que o ser humano, tal como ele foi até agora, permaneceu preso aos limites impostos pela natureza, portanto, a natureza ou mesmo a condição humana devem ser superadas para que o homem seja melhor no futuro — trata-se ainda de uma “ontologia do ‘ainda não’”; [3] a tecnologia ofereceria a possibilidade de melhoramento, mas sua ação permanece sempre atirada a si mesma, dado que lhe falta uma imagem ou modelo e mesmo um objetivo claro capaz de orientar o seu fazer. Embora Jonas não utilize o termo transumanismo, Oliveira elucida que sua reflexão inaugura a possibilidade de uma análise desse fenômeno, principalmente a partir da atividade reconfiguradora da biotecnologia, eis que o chamado movimento transumanista coloca-se no cerne no debate a respeito da reconfiguração do ser humano (e da vida em geral), posto que pretende corrigir e alterar (melhorar) a performance e obter total controle sobre a natureza, mesmo diante da ausência de um modelo (ou mesmo de objetivos claros) para tal. O quarto capítulo é finalizado demonstrando que as promessas do transumanismo, de prolongamento da vida ou cura da morte, acabam assumindo ares religiosos, na medida em que um dos pontos centrais da religião sempre foi a promessa da imortalidade.
No quinto e último capítulo, Oliveira detalhará que “ao pensar o niilismo como marca principal da história ocidental” (p. 395), a proposta de Jonas se apresenta, portanto, tanto como um diagnóstico de suas consequências, quanto como uma tentativa de formulação de três perspectivas esboçadas por Hans Jonas para o Enfrentamento do niilismo, sendo elas: a articulação de uma nova ontologia, uma nova antropologia e uma nova proposta ética baseada na responsabilidade. Sua ontologia é constituída a partir de uma compreensão biológicofilosófica do fenômeno da vida, o que seria uma nova interpretação do fenômeno da vida, por meio de um monismo de terceira via, ou de um monismo integral. A partir de tal ontologia, Oliveira explana como Jonas, embora não tenha desenvolvido uma nova antropologia, aponta para essa perspectiva a partir de um religamento do homem com a natureza/mundo/cosmos. Por fim, a terceira forma apresentada para o enfrentamento do niilismo está constituída em sua proposta ética, que é baseada na responsabilidade e seu fundamento é declaradamente metafísico, uma vez que se apoia em uma nova formulação para a pergunta sobre o Ser. Nesse sentido, o princípio responsabilidade nasce tanto de uma nova visão a respeito do homem (uma nova antropologia), quanto de uma nova perspectiva a respeito dos seus poderes tecnológicos, sendo que o princípio ético fundamental, do qual o preceito extrai sua validade, é o seguinte: “a existência ou a essência do homem, em sua totalidade, nunca podem ser transformadas em apostas do agir” (PR, p.86).
O Epílogo, por sua vez, resgata, na forma ensaística, um personagem tornado central por Camus na interpretação existencialista da condição humana. Diferente de Camus, o interesse de Oliveira é pelo Sísifo que ergue a pedra. “O que me interessa em Sísifo não é a sua tomada de consciência sobre o absurdo, mas o fato de que, diante da falta de sentido, ele continue trabalhando” (p. 473). Sísifo serve de fonte mítica para a interpretação do tecnologismo, que revela a condição existencial de nossa era, que da mesma forma, ao fazer, deixa de pensar e sem pensar, “seu fazer é redundante, sem finalidade, fechado no ato presente e, por isso, irresponsável diante do futuro” (p. 473). A condição de Sísifo serve de metáfora para a moderna tecnologia, na qual a atividade se torna obrigação por excelência, e, nesse caso, serve como uma espécie de conclusão do livro, na qual Oliveira, mais do que analisar o niilismo e seu desdobramentos, apresenta uma tarefa à filosofia: encontrar meios de contribuir para construir uma convivência que minimize as suas consequências. Aqueles que se interessam pela obra de Jonas certamente encontrarão neste livro um valioso subsídio para o melhor entendimento desse autor, pois se trata de um texto criterioso e original. Jelson Oliveira sempre desenvolveu intensa e extensa publicação de cunho filosófico, com grande dedicação à pesquisa. Essa é sua 31ª obra publicada. Se a quantidade impressiona, é a egrégia qualidade de sua pesquisa e maturidade de seu texto que lhe proporcionam respeito e reconhecimento junto à comunidade da área. Negação e Poder, sem a menor dúvida, posiciona o autor, no cenário nacional e internacional, entre o rol de experts dos estudos jonasianos.
Nota
1 Expressão utilizada por Michael Hauskeller, professor da Universidade de Liverpool, no prefácio (p. 15) da obra Negação e Poder.
Geovani Viola – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba, PR, Brasil. Doutor em Filosofia. E-mail: geovani.moretto@pucpr.br
[DR]
Vocabulário Hans Jonas – OLIVEIRA (RFA)
OLIVEIRA, J. Vocabulário Hans Jonas. Caxias do Sul: EDUCS, 2019. Resenha de: FONSECA, Lilian S. Godoy. Revista de Filosofia Aurora, v.31, n.54, p.979-985, out./dez, 2019.
O Vocabulário Hans Jonas — recentemente publicado pela EDUCS em parceria com o Centro Hans Jonas Brasil, sob a organização de Jelson Oliveira (PUCPR) e Eric Pommier (PUC-Chile), como parte dos eventos comemorativos pelos 40 anos de O Princípio Responsabilidade (1979), obra mais relevante de Jonas — é o resultado de um trabalho realizado a várias mãos, reunindo 31 autores de oito países e 24 diferentes instituições de ensino superior que, embora identificados a diversas vertentes filosóficas, têm em comum o conhecimento e o apreço pela obra jonasiana.
Desde a proposta de organizar o Vocabulário, feita durante a reunião do GT Hans Jonas, realizada no XVII encontro da ANPOF, em Aracaju, até a sua publicação, foram necessários três anos, para elaborar, reunir e traduzir todos os verbetes; o que demonstra o rigoroso processo de preparação e empenho exigidos para oferecer aos leitores essa pequena, mas expressiva, compilação composta por 33 vocábulos retirados do extenso e pluritemático arcabouço teórico de Jonas. Autor que, até pouco mais de uma década, era praticamente desconhecido no meio acadêmico brasileiro e hoje, dada a importância de sua reflexão filosófica para a atualidade, vem, felizmente, conquistando cada vez mais interessados em conhecer e se aprofundar em seu pensamento.
Jonas nasceu em 1903, na cidade alemã de Mönchenglandbach, em uma família judia, razão pela qual sua primeira formação humanística foi marcada pela rigorosa leitura dos profetas hebreus. Ele próprio resumiu sua rica trajetória intelectual, em três diferentes momentos. O primeiro teve início em 1921, ano em que iniciou sua graduação na Universidade de Freiburg, escolhida por lá lecionar o já célebre filósofo Edmund Husserl (1859-1938). Ali, assistiu também às aulas de um jovem e brilhante professor, Martin Heidegger (1889-1976), até então pouco conhecido. Jonas admite que, por muito tempo, Heidegger foi seu mentor intelectual1, tanto que, quando o mestre se transferiu para a Universidade de Marburg, ele o seguiu sem hesitar. Fato importante em seu percurso, pois foi lá que Jonas conheceu o seu segundo mentor: Rudolf Bultmann (1884-1976), quem o despertou para o tema sobre o qual versou sua tese — Gnose e o cristianismo primitivo —, defendida em 1931, sob a orientação de Heidegger. Desse trabalho inicial resultou, em 1934, a sua primeira publicação: o notável Gnosis und spätantiker Geist (Gnose e o espírito antigo tardio), em que apresenta importantes e originais contribuições ao estudo sobre a gnose e que ele considerou como seu primeiro grande passo como filósofo.
O segundo mais relevante momento de sua vida intelectual, cuja inspiração ele atribuiu à sua participação na Segunda Grande Guerra — como soldado das brigadas judias do exército britânico contra Hitler —, foi marcado pela publicação, em 1966, de sua segunda grande obra, o célebre The Phenomenon of Life, Toward a Philosophical Biology (O fenômeno da Vida, Rumo a uma Biologia Filosófica), reunindo artigos nos quais busca estabelecer os parâmetros para uma abordagem fenomenológica da vida, que ele denominou de “uma biologia filosófica”. Inaugurouse, assim, um novo campo de sua reflexão voltado para a precariedade da vida, assinalando o enorme alcance filosófico da abordagem das questões biológicas. Desse modo, Jonas restituiu à vida sua posição de destaque, afastando-se a uma só vez das duas tendências então vigentes e igualmente extremas: o irreal idealismo e o limitado materialismo. Ele ainda advertiu quanto ao perigoso equívoco de se separar o homem da natureza e de imaginá-lo isolado das demais formas de vida. No epílogo dessa obra, Jonas delineia, de forma geral, o seu projeto ao escrever que “com a continuidade entre o espírito2 e o organismo, entre o organismo e a natureza, a ética se torna parte da filosofia da natureza […]. Somente uma ética fundada na amplitude do ser […] pode ter significado na ordem das coisas”3.
Com tal conclusão, Jonas anunciou o terceiro e último momento de seu trajeto intelectual e, logo em seguida, tem início a elaboração de uma ética específica para nossa civilização tecnológica. Assim, sua ética da responsabilidade, reconhecida como sua principal formulação, foi publicada em 1979, em sua língua materna, sob o título: Das Prinzip Verantwortung — Versuch einer Ethic für die technologische Zivilisation (O princípio responsabilidade — um ensaio ético para a civilização tecnológica), traduzida para o inglês em 1984, para o francês em 1990, para o espanhol em 1994 e para o português, apenas em 2006. Algo que, talvez, explique a tardia descoberta pelo público brasileiro dessa obra que, com justiça, o notabilizou mundialmente.
Ademais, é preciso assinalar que Jonas foi um dos primeiros, senão o primeiro a se deter sobre as implicações éticas da técnica moderna e acrescentar que, mesmo antes de publicar O Princípio Responsabilidade, ele já se ocupava de questões identificadas à Bioética. Cabe destacar que, na verdade, seu primeiro artigo dedicado explicitamente a essa área data de 1969 e tem por título “Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects” (“Reflexões filosóficas sobre experiências com seres humanos”)4. Isso revela que sua preocupação prática antecedeu a necessidade de elaboração teórica concretizada posteriormente, por meio de vários artigos5 que ao longo dos anos 70 prepararam a publicação, ao final dessa mesma década, do Princípio Responsabilidade, no qual expõe sua concepção ética definitiva e cuja aplicação é apresentada em seu Technik, Medizin und Ethik (Técnica, Medicina e Ética), publicado em 1985, reunindo artigos escritos entre 1969 e 1984, cuja tradução para português do Brasil foi realizada pelo GT Hans Jonas e publicada em 2013, pela Editora Paulus.
Como o próprio título sugere e Jonas explicita no prefácio, Technik, Medizin und Ethik tem por objetivo “partir daquilo que é mais próximo a nós, ali onde a técnica tem diretamente por objeto o próprio homem e onde o conhecimento de nós mesmos, a ideia de nosso bem e nosso mal tem uma responsabilidade direta, ou seja: no âmbito da biologia humana e da medicina” (1985, p.19).
Com efeito, Technik, Medizin und Ethik é, sobretudo, destinado à reflexão acerca da biotecnologia e sua relação com o ser humano, tanto no âmbito experimental quanto no da aplicação. Cabe explicitar que dos doze ensaios que o compõem, os cinco primeiros6 podem ser considerados como propedêuticos, enquanto os demais se voltam ao exame “prático”, propriamente dito, das questões que decorrem do fato de o homem ter se convertido em objeto das biotecnologias, como o sujeito de experimentação ou o alvo de sua aplicação.
Feita essa concisa apresentação de uma pequena parte da vasta e diversa produção filosófica de Jonas, cabe frisar que o Vocabulário buscou contemplar relevantes conceitos presentes nos principais momentos de seu pensamento. Dentre os quais, destacamos: o conceito de gnose, cujo verbete foi elaborado por Nathalie Frogneux, professora da Universidade Católica de Louvain (UCLouvain), localizada na região francofone da Bélgica, autora de vários artigos e de um excepcional estudo sobre a obra jonasiana, intitulado Hans Jonas ou la vie dans le monde (Hans Jonas ou a vida no mundo), publicado em 2001, pela De Boeck Université, de Bruxelas. Cabe notar que o termo gnose merece destaque devido a sua importância por, como vimos, inaugurar a produção filosófica de Jonas e pelo fato de, com sua pesquisa, ele ter apresentado contribuições significativas, ainda hoje reconhecidas pelos estudiosos da área.
Outro conceito a ressaltar é o de mortalidade, cujo verbete foi elaborado por Lawrence Vogel, professor do Connecticut College (EUA), laureado com diversos prêmios, autor de vários textos sobre Jonas, em alguns dos quais propõe um diálogo entre o pensamento jonasiano e o de autores como Heidegger, Hannah Arendt, Leo Strauss, Leon Kass e Levinas. Vogel foi editor de um volume em que foram publicados os dois últimos ensaios de Jonas, com o título de Mortality and morality: a search for the good after Aushwitz (Mortalidade e moralidade: uma busca pelo bem depois de Auschwitz), publicado pela Northwestern University Press, em 1996, e também escreveu o prefácio para a reedição do The Phenomenon of Life, publicado pela mesma Northwestern, em 2001. O termo mortalidade atravessa, sob diferentes aspectos, toda a obra de Jonas. Na verdade, foi graças a seu confronto com o tema que teve início sua reflexão sobre a vida, resultando no que denominou de biologia filosófica. A mortalidade é um tema subjacente até à sua reflexão ética, já que é a vulnerabilidade da vida o que exige a responsabilidade. Mas essa é uma questão ainda mais relevante em sua reflexão bioética, sobretudo devido à sua relação com a redefinição de morte e assuntos como a eutanásia e o prolongamento da vida.
Cabe assinalar, a seguir, o conceito de responsabilidade, cujo verbete foi elaborado por Oswaldo Giacoia Junior, professor do Departamento de Filosofia da Unicamp que, embora estudioso de pensadores como Augusto Comte, Friedrich Nietzsche e Arthur Shopenhauer, desde 1989, publicou diversos artigos sobre Jonas e foi tradutor de vários textos do autor para o português, feitos que o colocam como um dos precursores estudiosos e divulgadores da obra jonasiana no Brasil. O termo responsabilidade, com toda certeza, é o que confere destaque a Jonas e a seu pensamento. Sem a menor dúvida, foi a sua ética da responsabilidade que o tornou mundialmente conhecido, até mesmo fora do meio acadêmico, e o que constitui a sua obra como tão atual e necessária ao nosso momento.
Além dos verbetes referentes aos termos citados, o leitor encontrará outros 30, alguns dos quais remetem a temas bem recorrentes ao longo da tradição filosófica, como os de bem, consciência, corpo, Deus, para mencionar apenas alguns dos mais introdutórios. Ainda assim, a leitura oferecerá a abordagem singular que Jonas propõe para cada um dos conceitos que, embora já bem debatidos pela tradição, recebem, no texto jonasiano, uma roupagem própria e, muitas vezes, inusitada; como é o caso, por exemplo, do conceito de liberdade.
Por tudo o que foi dito, o Vocabulário Hans Jonas tem a oferecer, com grande diversidade de estilos, uma modesta, porém, significativa mostra dos temas tratados por esse pensador que viveu e pensou o século XX com intensidade e profundidade, antevendo problemas que o nosso século tem e terá, cada vez mais, de enfrentar.
Por sua atualidade e urgência das temáticas que aborda, Jonas é um autor que precisa ser conhecido para além das fronteiras da Filosofia e dos muros da Academia. Por esse motivo, o Vocabulário Hans Jonas cumpre a necessária missão de divulgar e tornar ainda mais acessível o pensamento jonasiano. É uma obra escrita por muitos especialistas, mas destinada não só a estudantes e professores de Filosofia ou universitários, mas ao público em geral que tem interesse em conhecer um pouco dos temas com os quais se ocupou esse autor, cuja vida e obra tanto marcaram o século passado, mas que tem muito ainda a oferecer a nós que, em pleno século XXI, ainda não assimilamos aquilo que ele, no final da década de 1970, já declarava:
O futuro da humanidade é o primeiro dever do comportamento coletivo humano na idade da civilização técnica, que se tornou ‘todo-poderosa’ no que tange ao seu potencial de destruição. Esse futuro da humanidade inclui, obviamente, o futuro da natureza como sua condição sine qua non . Mas, independentemente desse fato, o futuro da natureza constitui sua responsabilidade metafísica, na medida em que o homem se tornou perigoso não só para si, mas para toda a biosfera (PR. p. 229).
Referências
JONAS, H. Philosophical Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 349 p.
JONAS, H. The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. University of Chicago Press: Phoenix Books, 1982. 303 p.
JONAS, H. Le Principe Responsabilité. Paris: Flammarion, 1990. 470 p.
JONAS, H. Técnica, medicina y ética – la práctica del principio de responsabilidad. Barcelona: Paidós, 1997. 206 p.
JONAS, H. Le Phénomène de la Vie – Vers une biologie philosophique. Traduit de l’anglais par Danielle Lories. Bruxelles: De Boeck Université, 2001. 288 p.
JONAS, H. O Princípio Responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução do original alemão Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Editora PUC Rio, 2006. 354 p.
JONAS, H. Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio de responsabilidade. Trad. Grupo de Trabalho Hans Jonas da ANPOF. São Paulo: Paulus, 2013. 328 p.
Notas
1 Pois, posteriormente, devido ao envolvimento de Heidegger com o nazismo, Jonas dele se afastou até quase o fim da vida de seu antigo professor.
2 No original o termo é Geistes e na versão francesa esprit . A tradução espanhola segue a tradição anglo-saxã de traduzir tais termos por mind e adota o termo mente .
3 H. Jonas. Das Prinzip Leben. pp. 401 e 403. Versão francesa: Le phénomène de la vie. pp. 281 e 282.
4 Versão original publicada em Dædalus e versões posteriores em periódicos especializados ou coletâneas, por exemplo, Philosophical Essays — From Ancient Creed to Technological Man . Chicago: The University Chicago Press, 1974. Midway Reprint, 1980, pp. 105-131. Republicado também em TME como o ensaio de número 6.
5 Vale mencionar: “The Scientific and Technological Revolutions”, in Philosophy Today , 15, 1971, pp. 79-101”; “Testimony Before Subcommittee on Health, United States Senate: Hearings on Health, Science, and Human Rights”, Nov, 9, 1971, The National Advisory Commission on Health S cie n c e a n S o cie t y R e s olu tio n , (…) (73-191-0), 1972, pp. 119-123.; “Technology and Responsibility: Reflections on the New Tasks of Ethics”, in Social Research , 40, 1973, pp. 31-54; “Responsibility Today: The Ethics of an Endangered Future”, in Social Research , 43, 1976, pp. 77-97; “Freedom of Scientific Inquiry and the Public Interest”, in The Hastings Center Report , 6, 1976, pp. 15-17; “The Right to Die”, in The Hastings Center Report , 8, 1978, pp. 31-36; e, por fim, “Toward a Philosophy of Technology”, in The Hastings Center Report , 9, 1979, pp. 34-43. Alguns desses artigos foram escritos a convite e parte deles republicada em TME.
6 No ensaio 1, Jonas justifica (formal e materialmente) o fato de a filosofia tomar a técnica por objeto. No ensaio 2, ele expõe 5 motivos para justificar o fato de a técnica ter se convertido em objeto (também) da reflexão ética. No ensaio 3, ele faz uma espécie de “balanço axiológico”, refletindo sobre os valores passados e antecipando alguns valores futuros (apesar da crise atual de valores). No ensaio 4, ele propõe uma questão acerca da compatibilidade entre a ciência destituída de valores e a responsabilidade referente à autocensura da pesquisa. No ensaio 5, ele discute a relação entre liberdade da pesquisa e a noção de bem público, além de propor a questão: pode a moral ofuscar a ciência?
Lilian S. Godoy Fonseca – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, MG, Brasil. Doutora em Filosofia. E-mail: godoylilian2@gmail.com
[DR]
Geography education for global understanding – DEMIRCI et al (I-DCSGH)
DEMIRCI, A.; DE MIGUEL GONZÁLEZ, R.; BEDNARZ, S. W. (eds.). Geography education for global understanding. Nueva York: Springer, 2018. Resenha de: LÓPEZ, María Sebastián. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia,n.97, p.81-82, out./dez. 2919.
Esta obra pretende dar a conocer el valor formativo y científico de la geografía, sobre todo a la hora de abordar temas relativos a la compresión global del planeta y su sostenibilidad. Geography education for global understanding es el tercer número de la serie «Perspectivas Internacionales sobre Educación Geográfica», que resulta de un acuerdo entre la Comisión de Educación Geográfica de la UGI y la editorial Springer.
En este volumen se aborda cómo el mundo (en general) y los países individuales (en particular) están experimentando problemas sociales, económicos y ambientales que afectan directa e indirectamente a sus sociedades, poniendo en valor las capacidades de la geografía. Al respecto, se argumenta que a través del aprendizaje de esta disciplina se pueden explorar las relaciones espaciales de los fenómenos sociales y físicos en diversas escalas y sugerir soluciones a problemas importantes y persistentes. En efecto: la educación en geografía en las escuelas de primaria y secundaria atesora un enorme potencial para proporcionar a la próxima generación el conocimiento, los procedimientos y las actitudes necesarios para trabajar en la comprensión y la solución de problemas globales. De una forma u otra, hay varios temas relacionados con la educación global y la educación ciudadana global –como los derechos humanos, la gobernanza mundial, la sostenibilidad, la paz, la identidad y la diversidad cultural, entre otros– que son habituales en los currículos nacionales de geografía.
Bajo esta perspectiva, la obra se divide en tres secciones que agrupan un total de veintiún capítulos.
La primera parte del libro afronta el marco teórico y las relaciones entre el conocimiento geográfico, los contenidos disciplinarios y la comprensión global. A pesar de los enfoques críticos con respecto a la educación global, tres capítulos abordan los nuevos desafíos de la educación en geografía, promoviendo la adquisición de una competencia ciudadana bajo una perspectiva globalizadora.
La comprensión global supone una oportunidad para contribuir a la renovación de la educación en geografía: así, las tecnologías geoespaciales y las prácticas de clase basadas en problemas son formas concretas de innovar la ensenanza de la geografía y convertirla en una asignatura más atractiva y motivadora para el alumnado. Este es el tema de la segunda sección del libro.
Finalmente, en la tercera parte, se desarrolla un análisis comparativo internacional a través de diez países (diez capítulos) que recoge los contenidos y experiencias geográfico- educativas relacionadas con la comprensión global.
El libro concluye con una hoja de ruta cuyo objetivo es fomentar los conocimientos, las habilidades y las prácticas geográficas de manera individual y colectiva, a escala local y global, en los diferentes elementos de la geografía, y promover un aprendizaje geográfico acorde con el mundo global en el que vivimos.
Resumiendo, en Geography education for global understanding se defiende que los desafíos espaciales del aprendizaje de la escala global solo pueden abordarse si el estudiantado más joven los percibe en el ámbito de lo local y nacional. Las migraciones internacionales, la rápida urbanización, la deslocalización, las alteraciones del paisaje causadas por el aumento de las temperaturas son, entre otros, buenos ejemplos para realizar estudios de casos en contextos locales que permitan la comprensión de los cambios sociales y espaciales actuales en el mundo.
En definitiva, una magnífica obra en la que no solo se tratan los temas principales de manera exhaustiva, sino en la que se ofrecen distintas alternativas didácticas a través de ejemplos llevados a cabo en el aula.
María Sebastián López – E-mail: msebas@unizar.es
[IF]Coordinación docente en los títulos de máster: Una estratégia de innovación docente – ÁLVAREZ GONZÁLEZ (I-DCSGH)
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, E. M. Coordinación docente en los títulos de máster: Una estratégia de innovación docente. Madrid: Pirámide, 2010. Resenha de: SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M.. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia,n.97, p.82-83, out./dez. 2919.
La entrada en vigor del denominado «Plan Bolonia», con la homogeneización del Espacio Europeo de Educación Superior, supuso que las antiguas licenciaturas de cinco anos pasaran a desarrollarse en dos ciclos: un grado de cuatro anos y un posgrado, que suele corresponderse con un máster de un curso escolar. Si bien la reglamentación de los grados se ha desarrollado desde las facultades que imparten sus titulaciones, no ha sido lo mismo en los másteres: por una parte, porque algunos son interuniversitarios; por otra, a causa de la especificidad de la conoferta de estudios y la escasa tradición de la universidad espanola para trabajar cooperativamente.
El libro que coordina la profesora Elsa Marina Álvarez afronta el problema de la falta de coordinación docente en los másteres de la universidad espanola, una oferta académica queÌber – se ha multiplicado en los últimos anos: de 829 másteres y 16.609 alumnos y alumnas registrados en el curso escolar 2006- 2007, pasamos a 3.661 y 139.844 respectivamente (p. 44). Una oferta que ha combinado tanto los aspectos de especialización profesional como un curso propedéutico para hacer el doctorado.
La obra se organiza en torno a la experiencia registrada en la Universidad de Málaga en el máster de Regulación Económica y Territorial, que realmente se corresponde con una especialidad en urbanismo y ordenación del territorio. Sin duda es un ámbito interdisciplinario, como sucede en otros sectores profesionales, que requiere de una programación y una coordinación concretadas después de un amplio debate acerca de los objetivos y metodologías.
De ahí que se llame la atención en la necesidad de una coordinación en tres momentos diferentes: el plan de estudios del título y la planificación del curso académico y de las materias que componen dicho título (p. 31). Desde la experiencia acumulada como director de dos másteres de educación (el de Investigación en didácticas específicas y el de Profesor/a de Secundaria), puedo verificar la inevitabilidad de dicha coordinación, pues tanto la carga docente como las metodologías utilizadas en el desarrollo de los másteres implican una planificación conjunta y un diálogo sobre sus finalidades.
La redacción del libro es precisa y nos permite valorar las afirmaciones vertidas en las páginas del mismo. A este respecto destacamos las precisiones realizadas sobre la evaluación y calificación de los estudios de máster (Nivel 3 del Marco Espanol de Cualificaciones de Educación Superior). Los siete descriptores de los resultados de aprendizaje (pp. 68-69) nos remiten al ámbito de las competencias, donde los conocimientos se combinan con el desarrollo profesional autónomo.
Junto a los criterios de evaluación, otro instrumento que se emplea para diagnosticar el funcionamiento de los másteres son los indicadores de calidad de la ensenanza universitaria.
El problema que posee este tipo de herramientas es su carácter burocrático y subjetivo: se miden deseos y expectativas en un momento dado y no se suelen contrastar con otros indicadores, pese a las declaraciones de intenciones de los organismos que gestionan estas instituciones (p. 77). Mi experiencia personal me dice que un proceso serio y riguroso de evaluación supone la celebración de sesiones presenciales, donde se puedan confrontar los pareceres y opiniones del profesorado y el alumnado, así como las inquietudes de estos en relación con otros parámetros, como pueda ser su implicación en el momento de las actividades prácticas en los centros de trabajo, o en la transferencia de la investigación al campo de la innovación.
En este sentido, las referencias que aparecen en el libro nos remiten a las instituciones políticas que gestionan la política de calidad, pero no existe un planteamiento crítico de la evaluación de los másteres en relación con los egresados. Sin duda, esta observación es fruto de mi experiencia y está relacionada con la función que debe ejercer la universidad en la formación inicial del profesorado de educación primaria o secundaria; desde mi diagnóstico personal, no es positivo que la formación inicial esté alejada de la formación permanente y de las necesidades del sistema escolar básico, un referente que debería ser primordial a la hora de evaluar la calidad de un máster. Y lo mismo podemos decir del urbanismo y ordenación del territorio; es decir, cómo se transfiere este conocimiento a los sujetos que participan en las sesiones de debate o asesoramiento de los planes estratégicos o en los planes de ordenación municipal. Si no existe transferencia de conocimiento, difícilmente podremos hablar de calidad.
Cierto es también que las prácticas externas ocupan un capítulo entero (en concreto, el 7) y se ofrece un análisis específico del caso de la Universidad de Málaga. Como se indica en estas páginas la coordinación es compleja cuando se trata de realizar actividades en los centros laborales. Para estos casos se precisan protocolos de actuación (por ejemplo, la declaración de estar exentos de delitos sexuales si van a trabajar con menores) y un estudio exhaustivo de las condiciones laborales donde los alumnos y alumnas se van a insertar como alumnado en prácticas. Si a ello le anadimos los intereses del empresariado o de las administraciones que gestionan los ámbitos de trabajo, podremos apreciar la necesidad de una coordinación grande entre los tutores externos, propios de la universidad, la Comisión de Coordinación Académica, el rectorado y las empresas e instituciones.
Estamos pues ante un libro que nos manifiesta la complejidad de la coordinación docente de los másteres, tanto desde la figura del coordinador del título como el del módulo y la propia Comisión de Coordinación Académica, tal como se refleja en la figura de la página 96. Una coordinación que implica, además, una ardua tarea de gestión administrativa, lo que supone mayores niveles de cooperación. Como se ve, una labor que precisa ser definida en los próximos anos.
Xosé M. Souto González – E-mail: xose.manuel.souto@uv.es
[IF]Lessons for present, lessons for future: The Holocaust and The Spanisch Civil War – GARCÍA ZAMORA et al (I-DCSGH)
GARCÍA ZAMORA, M. S.; GUILBERT HERNÁNDEZ, A. R.; MARTÍNEZ MONTESINOS, D. (Eds). Lessons for present, lessons for future: The Holocaust and The Spanisch Civil War. 2007. Resenha de:. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia,n.97, p., out./dez. 2919.
Alumnado y profesorado de ocho centros europeos de educación secundaria, bajo el paraguas del Programa Erasmus + (ID Project: 2014-1-ESP1- KA201-004981), han trabajado durante tres anos en torno a la memoria histórica, en particular la del Holocausto y la guerra civil espanola. En este inmenso trabajo, premiado en 2018, han estado implicados los siguientes institutos: Gymnázium Angely Merici (Eslovaquia), IES Tirant lo Blanc (Espana), Ahmon koulu Siijinjärvi (Finlandia), 28th Lyceum of Thessaloniki (Grecia), Istituto Superiore Statale Leardi (Italia), Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija (Lituania), Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu im. Jana Pawła II (Polonia) y Metod Koleji (Turquía). El coordinador del proyecto es Darío Martínez Montesinos, profesor del IES Tirant lo Blanc, de Elche.
Fruto de ese trabajo es el libro Lessons for present, lessons for future: The Holocaust and The Spanish Civil War. Didactic Units, que recoge algunos de los materiales confeccionados. El proyecto parte de la idea de que la educación, más allá del objetivo de preparar al alumnado para el mercado de trabajo, debe ser una herramienta para formar una ciudadanía capaz de enfrentarse críticamente a los mensajes –nacionalismo radical excluyente y xenofobia, entre otros– de los partidos de extrema derecha que han emergido en Europa (y en otros continentes) en los últimos anos.
Lo que se ha venido a denominar «memoria histórica» ocupa un lugar fundamental en la formación de las ciudadanas y ciudadanos. Y si hay un tema clave en esa memoria histórica es el Holocausto, que es imprescindible conocer y, hasta donde sea posible, explicar. Junto al Holocausto, este Lessons for present, lessons for future… estudia también la guerra civil espanola y el franquismo, ejes centrales del movimiento de recuperación de la memoria histórica en nuestro país. No en vano el hispanista Paul Preston ha acunado la expresión «Holocausto espanol» para referirse a la represión franquista, frente a la que se levantan peligrosas posturas revisionistas y negacionistas, como ha ocurrido con el Holocausto.
Las unidades didácticas están organizadas en torno a cuatro ejes: resistencia, colaboracionismo, indiferencia –en referencia a la actitud de la población– y, en cuarto lugar, la posición de los partidos políticos actuales en relación con la memoria histórica.
Todas las unidades recogidas en el libro están estructuradas de la misma manera. Después de indicar las edades a las que están destinadas, así como el número de horas necesarias para trabajar los materiales, se presentan las fuentes y documentos –de variadísima tipología–, los objetivos y la metodología de cada unidad.
A continuación, se incluye el contexto histórico y la biografía del personaje a través del que se analiza uno de los cuatro ejes a los que nos acabamos de referir, para finalizar con la propuesta de actividades.
El primer apartado («Resistencia») nos ofrece los materiales del 28th Lyceum of Thessaloniki, un centro de secundaria de Grecia que ha trabajado la lucha de cristianos y judíos frente a la ocupación nazi.
Las actividades proponen reflexiones sobre un problema de nuestros días: el drama de los refugiados en el Mediterráneo. La resistencia al fascismo es estudiada por otro instituto, en este caso eslovaco: el Gymnázium Angely Merici. La particularidad de esta propuesta radica en el hecho de que estudia, a partir de la biografía de un obispo, la resistencia ante dos regímenes totalitarios: el nazi y el comunista.
El fenómeno de la colaboración –«La difícil decisión de los judíos finlandeses»– es abordado por el Ahmon koulu Siijinjärvi, un centro finlandés. En este caso, no se presenta una biografía particular, sino que se utiliza la experiencia de aquellos finlandeses judíos que se enrolaron en el ejército de su país, que fue aliado del nazi. También hubo ciudadanos polacos que tuvieron que tomar «Decisiones difíciles». La biografía escogida por el Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu im. Jana Pawła II es la de Moses Merin, miembro del consejo judío (Judenrat) creado por los nazis para gobernar la localidad de Sosnowiec.
Bajo el título de «La libertad es solo participar: indiferencia frente objea responsabilidad» se estudia el desinterés de la población en dos casos: Italia y Turquía. Las reflexiones del Istituto Superiore Statale Leardi (Cassale Monferrato, de Italia) parten de las leyes raciales de 1938. Desde la Estación de Milán fueron deportadas 774 personas, de las que solamente sobrevivieron veintidós. El testimonio de Liliana Segre, presidenta de la asociación Ninos de la Shoá, dice que el apoyo tácito al fascismo fue característico de una parte de la población italiana, que no se opuso al antisemitismo.
Por su parte, el Metod Koleji (Ankara, Turquía) trabaja sobre el caso del Struma, un barco con 768 judíos procedentes de Rumanía con destino a Palestina. Tras permanecer varias semanas en el puerto de Estambul debido a las complicadas relaciones entre Turquía y Gran Bretana, el barco, que no disponía de las más mínimas condiciones para albergar a tal cantidad de personas, zarpó hacia el mar Negro, donde fue torpedeado y hundido por un submarino soviético el 24 de febrero de 1942. El testimonio de David Stoliar, uno de los pocos supervivientes, es elegido en esta unidad para poner de manifiesto la hipocresía de la diplomacia.
El cuarto bloque de contenidos («La memoria histórica en nuestros días: el lenguaje de los movimientos totalitarios en Europa») está representado por el trabajo del ilicitano IES Tirant Lo Blanch. La dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo pasan por sus páginas para analizar las dificultades del movimiento de recuperación de la memoria histórica, un problema de actualidad que se analiza desde una perspectiva múltiple: histórica, ético-moral y política.
Estos párrafos no hacen justicia al trabajo de las muchas personas implicadas. Resulta imposible resumir en unas pocas líneas la totalidad de las experiencias recogidas en el volumen, que son solo una parte de las que están disponibles en la web www.lessonsforfuture.com, a través de la que pueden descargarse. Su visita debería ser obligada; y no solo para alumnado y profesorado.
Víctor Manuel Santidrián Arias – E-mail: vsantidrian@gmail.com
[IF]Mujeres y hombres en la historia: Una propuesta historiográfica y docente – BOLUFER PERUGA (I-DCSGH)
BOLUFER PERUGA, M. Mujeres y hombres en la historia: Una propuesta historiográfica y docente. Granada. Pomares, 2018. Resenha de: GUILLOT, Helena Rausell. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.97, p.85-86, out./dez. 2919.
El libro que presenta Mónica Bolufer dentro de la colección «Mujeres, historia y feminismos» tiene como objeativo fundamental contextualizar el surgimiento de la historia de las mujeres dentro de la renovación historiográfica del siglo xx, además de reivindicar sus aportaciones y de analizar su presencia en la historia ensenada a nivel universitario. Pero Mujeres y hombres en la historia no es tan solo un texto historiográfico, ya que incluye reflexiones sobre la historia ensenada, además de exponer y argumentar una propuesta didáctica propia, basada en más de veinte anos de experiencia docente e investigadora.
La obra se estructura en tres partes, que se corresponden con cada uno de los capítulos. La primera de ellas está consagrada a la renovación historiográfica que se inicia en el siglo xx con la Escuela de los Annales y el marxismo. Este repaso historiográfico sirve para explicar la aparición y el afianzamiento de la historia de las mujeres como campo historiográfico y de investigación desde los anos setenta del siglo xx.
Sus reflexiones se construyen a partir de la lectura de algunas de las aportaciones sobre epistemología de la historia más valoradas de las últimas décadas (Iggers, Hernández Sandoica, Aróstegui o Moradielos), además de incluir referencias a los autores clásicos del siglo xx. Están igualmente presentes algunas de las voces más autorizadas de la historiografía de género, la historia de las mujeres o del movimento feminismo (Mary Astell, Inés Joyce, Jane Austen, Joan Wallach Scott, Virginia Woolf…), junto a fragmentos de obras literarias, en una aproximación ya clásica dentro de los estudios de género que valora la literatura como fuente histórica y como instrumento para recuperar las voces de las mujeres del pasado.
Quizá sea el tercer apartado, el dedicado a «ensenar la historia de las mujeres en la universidad», el que pueda resultar más interesante desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales. Entre sus reflexiones, encontramos el reconocimiento a figuras como Dolores Sánchez Durá, Pilar Maestro, Joaquín Prats o Rafael Valls y a aquel sector más implicado del profesorado de secundaria que impulsó los Movimientos de Renovación Pedagógica. La autora llega a argumentar la necesidad de que el cambio historiográfico y pedagógico vayan estrechamente unidos, además de criticar la falta de aportaciones con respecto a la ensenanza de la historia de las mujeres en el ámbito universitario. Asimismo, razona que esta historia del género pueden desempenar un papel especialmente fecundo en la actualización de las formas de entender y de ensenar la historia en los distintos niveles educativos, a partir de algunas de las posibles aportaciones de la historia de las mujeres a la historia ensenada, entre las que destaca: aprender a pensar históricamente (historicidad de las categorías de femenino y masculino); la existencia en el tiempo de modelos no hegemónicos, minoritarios o discordantes; la necesidad de enriquecer la reflexión sobre la complejidad de las relaciones y las desigualdades sociales; o la atención a las formas variadas de la presencia y protagonismo de las mujeres en la historia.
Otra de las aportaciones más sugerentes de la obra es el balance que realiza con respecto a la presencia de la ensenanza del género en los grados de historia y en otras titulaciones y posgrados. La autora documenta que, en la actualidad, se imparten, con denominaciones distintas (historia de las mujeres, del género, de las relaciones de género…), asignaturas especializadas en veintiocho universidades, en algunas de ellas desde hace casi veinte anos o más (caso de las universidades de Barcelona, Valencia, Granada, Oviedo, Complutense y Autónoma de Madrid) y otras en las que gozan de una trayectoria más reciente. Dichas materias se insertan en treinta y cuatro grados, entre ellos veintiuno en historia, pero también en historia del arte, historia y ciencias de la música, humanidades y otras disciplinas científicas y sociales (como medicina o comunicación audiovisual). Dentro de los estudios de posgrado, estas asignaturas están presentes en veintisiete másters, ocho de ellos interuniversitarios, tanto en historia como en historia del arte y patrimonio, y aquellos dedicados a estudios de género (Bolufer, 2018, pp. 85 y 86).
La obra concluye con un muy buen aparato crítico que distingue entre lecturas básicas, textos de época y lecturas complementarias y que se complementa con una filmografía escogida. Esta misma autora ha lanzado de forma casi simultánea otro libro, Arte y artificio de la vida en común: Los modelos de comportamiento y sus tensiones en el Siglo de las Luces, en la editorial Marcial Pons (2019). Dicho texto reflexiona en torno a la civilidad y la circulación de libros e ideas en la Europa de la Ilustración. Mónica Bolufer Peruga es catedrática de historia moderna en la Universidad de Valencia.
Helena Rausell Guillot – E-mail: helena.rausell@uv.es
[IF]
Concebendo a liberdade / Camillia Cowling
O livro de Camillia Cowling publicado nos Estados Unidos, em 2013, e recentemente traduzido para o português já se constitui uma leitura obrigatória para historiadoras, historiadores e demais pessoas interessadas em conhecer aspectos da luta de pessoas escravizadas na Diáspora. Em Concebendo a liberdade a autora apresentou uma pesquisa comparativa entre Havana (Cuba) e Rio de Janeiro (Brasil) na qual “mulheres de cor” apareciam na linha de frente da luta por liberdade legal para elas próprias e suas crianças nas décadas de 1870 e 1880.
Ao prefaciar a obra Sidney Chalhoub foi muito feliz ao lembrar a acolhida que o livro de Rebeca Scott a Emancipação Escrava em Cuba teve no Brasil, ainda na década de 1980, evidenciando o interesse do público brasileiro em saber mais sobre este processo em Cuba, colônia Espanhola que assim como o Brasil e Porto Rico foi um dos últimos redutos da escravidão nas Américas.
Mais de três décadas desde a tradução do livro de Scott, a pesquisa de Cowling chegou ao Brasil em um momento que embora já possamos contar com vários estudos de referência para o conhecimento a respeito da escravidão e da liberdade muitos lacunas ainda estão por serem preenchidas, a exemplo, das especificidades da experiência das mulheres – escravizadas, libertas e “livres cor”.
Felizmente, o alerta das feministas negras, especialmente a partir da década de 1980 de que as mulheres negras tinham um jeito específico de estar no mundo ganhou novo impulso nos últimos anos, notadamente, devido ao processo que resultou na Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, ocorrida no Brasil, em 2015, cujos desdobramentos já podem ser percebidos na sociedade brasileira e tem inspirado pesquisadoras e pesquisadores no desafio de reconstituir esse passado.
Inserida no campo da história social e utilizando uma escala de tempo pequena para descortinar a agência feminina negra, Cowling esteve atenta também para questões mais amplas do período investigado como às conexões atlânticas entre Cuba e Brasil no contexto da “segunda escravidão”. Isso permite que a leitora e o leitor possam notar que embora tivessem optado por um processo de abolição gradual da escravidão ambos vivenciaram processos paralelos e distintos um do outro.
A obra foi dividida em três partes e subdividido em 8 capítulos. Neste texto destaco alguns aspectos, dentre vários outros, que chamaram minha atenção de maneira especial. Primeiramente, saliento que Cowling conseguiu remontar o itinerário de duas libertas tornado visíveis as marcas deixadas por elas tanto em Havana como no Rio de Janeiro, de modo que personagens tradicionalmente invisibilizadas pela documentação e, até mesmo, pela historiografia tiveram seu ponto de vista descortinado nas páginas de seu livro.
Os fragmentos da experiência de Romana Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes remontados pela autora é a demonstração de um esforço investigativo de fôlego e bem sucedido. As questões levantadas e o exercício de imaginação histórica da pesquisadora tornaram possíveis que a partir do ponto de vista dessas mulheres possamos saber como pensavam várias outras de seu tempo e compreender os sentidos de suas escolhas, bem como daquelas feitas por seus familiares, escrivães, curadores e integrantes do movimento abolicionista.
A liberta Romana que comprara a própria liberdade um ano antes de migrar para Havana, em 1883, encaminhou uma petição dirigida ao governo-geral de Cuba reivindicando a liberdade de suas 4 crianças, María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves que estavam em poder de seu ex-senhor, Manuel Oliva. Quase um ano depois, foi a vez da liberta Josepha dar início a uma ação de liberdade na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de retirar sua filha, Maria, ingênua, com apenas 10 anos, do domínio de seus ex-senhores José Gonçalves de Pinho e sua esposa, Maria Amélia da Silva Pinho.
Assim como outras tantas pessoas, Romana e Josepha eram migrantes que a despeito das dificuldades das cidades, usaram a seu favor as possibilidades que as mesmas ofereciam na busca pela liberdade, além disso, como ressaltou a autora as chances de uma pessoa escravizada conseguir a liberdade morando nas áreas urbanas eram maiores do que aquelas que moravam nas áreas rurais.
De acordo com Cowling as duas libertas se apegaram as brechas da lei e fizeram omesmo tipo de alegação para contestar a legitimidade do domínio senhorial. EnquantoRomana declarou que sua filha era vítima de negligência e abuso sexual, Josepha alegou que suas crianças não estavam recebendo educação. Foi com base nessas denúncias que os senhores foram acusados de maus tratos, o que implicava na perda do domínio sobre as mencionadas crianças, conforme a legislação de Cuba e do Brasil respectivamente determinava.
No livro de Cowling, a leitora e o leitor interessado no tema pode verificar que as perguntas feitas a documentos como petições, ações judiciais, correspondências, jornais, obras literárias, imagens e legislação explicitam que as mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor” sempre estiveram no centro da luta por liberdade legal. Isso porque as noções de gênero foram determinantes para o modo como elas vivenciaram a escravidão e consequentemente influenciaram em suas escolhas na luta pela conquista da manumissão. Além disso, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, elas que sempre estiveram na linha de frente das disputas judiciais foram colocadas ainda mais no centro do processo da abolição gradual da escravidão.
As Romanas e as Josephas foram muitas nas duas cidades portuárias investigadas pela autora e com o objetivo de conseguir a própria liberdade e de suas crianças, elas se apegaram a argumentos legais tomando como base a legislação, como a Lei Moret de 1870 e a Lei do Patronato de 1880, em Cuba; e a Lei do Ventre Livre de 1871, no Brasil, mas também se apegaram a argumentos extralegais baseados em valores culturais como o“sagrado” direito a maternidade, apelando para piedade e a caridade das autoridadespara os quais levaram suas demandas de liberdade para serem julgadas.
Para Cowling, sobretudo, a retórica da maternidade era tão forte que era utilizada tanto por mulheres ao reivindicarem a liberdade de suas filhas e filhos como nos casos em que eram os filhos que buscavam libertar suas mães, e mesmo, nos casos em que os pais apareceram junto com as mães tentando libertar suas crianças, a opção era por colocar a maternidade no centro.
Não poderia deixar de trazer para este texto aquele que a meu ver é um dos pontos mais fortes da obra. Trata-se da opção da autora de enfrentar o tema da violência sexual contra “mulheres de cor”, aspecto da vida de muitas dessas personagens, ainda pouco explorado pela historiografia brasileira, seja devido ao sub-registro dessa violência na documentação disponível que era escrita em sua maioria por homens da elite e autoridades muitos dos quais também proprietários de cativas, seja devido à própria tradição de priorizar outros aspectos da experiência das pessoas.
Para a autora a tradição de violar o corpo de “mulheres de cor” era naturalizada entre os senhores e os homens da lei tanto que os primeiros não viam qualquer impedimento à prática de estuprá-las. Por isso mesmo, a falta de proteção extrapolava a condição de cativas e nem mesmo a liberdade legal era garantia de proteção ou reparação contra aqueles que as forçassem a ter relações sexuais com eles ou com outros (muitas escravizadas eram forçadas a prostituição por suas proprietárias e proprietários).
No entanto, se por um lado, ao se depararem com denúncias de violência sexual as autoridades geralmente posicionavam-se a favor dos agressores, inclusive responsabilizando as próprias “mulheres de cor”, prática que tinha a ver com a imagem que esses homens de maneira geral faziam desse grupo social considerado por eles como lascívias e corruptoras das famílias da elite. Por outro, ao procurar à justiça para denunciar a violência sexual elas explicitavam sua própria compreensão sobre si mesmas. Ao fazer isso Romana e várias outras estavam dizendo que acreditavam ter conquistado para si e para suas filhas o direito de poder dizer não para um homem com quem não quisessem fazer sexo.
Cheguei ao epílogo da obra convencida por Cowling de que embora Romana e Josepha tenham vivido em lugares diferentes e nem se quer se conhecessem, caso tivessem tido a oportunidade de se encontrar naqueles anos cruciais de suas vidas, elas teriam muito que conversar. Inevitavelmente suspeito ainda que várias mulheres negras do século XXI que tiverem acesso as minúcias do itinerário das personagens trazidas no trabalho terão a sensação de que também poderiam participar da conversa.
Por fim, acredito que as questões levantadas ao longo da obra sob vários aspectos servirão de inspiração para historiadoras e historiadores empenhados na reconstituição tanto quanto possível da vida de mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor”, bem como de seus familiares e das pessoas com as quais elas se aliaram na construção de outros tantos processos coletivos de luta por liberdade legal.
Karine Teixeira Damasceno – Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura (PUC-Rio), Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Tradução: Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas: UNICAMP, 2018. 440p.. Resenha de: DAMASCENO Karine Teixeira. “Mulheres de cor” no centro da luta por liberdade legal em Havana e no Rio de Janeiro. Canoa do Tempo, Manaus, v.11, n.2, p.294-297, out./dez., 2019. Acessar publicação original.
A construção de um programa. Manfredo Tafuri, seus leitores e suas leituras
Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2015, ocorreu um seminário sobre a obra de Manfredo Tafuri (1935-1994) e sua recepção por parte de colegas de sua geração, alunos e estudiosos, com o objetivo de atualizar uma trajetória intelectual à luz dos dilemas contemporâneos. O programa foi organizado em cinco sessões não cronológicas que partem de temas básicos suscitados por seu trabalho. Cada sessão contou com um moderador brasileiro que se incumbiu de fazer uma reflexão sobre o impacto da obra de Manfredo Tafuri no Brasil, revelar a rede de relações e os intercâmbios científicos construídos em torno do seu método historiográfico e produção.
Como escreve Howard Burns, Tafuri criou “um novo e fértil modo de fazer história da arquitetura – ou história tout court – que não ‘explica’ a arquitetura em termos de ‘contexto’, mas identifica a sua função fundamental no âmbito de um dado momento cultural e político e a sua interação com as outras forças culturais, pela qual não é passivamente determinada (1). Leia Mais
The Record group concept: a case for abandonment | P. J. Scott
O artigo The record group concept: a case for abandonment da autoria do arquivista australiano Peter Scott, é a certidão de nascimento de uma nova abordagem arquivista, que pode ser considerada como a “mais contundente reinterpretação da proveniência” da segunda metade do século passado. (COOK, 2018, 50 [1997]).
Publicado em 1966 na American Archivist, revista da Associação dos Arquivistas Americanos, o texto de Scott consiste na primeira apresentação sistemática da metodologia inovadora por ele criada, do que viria a ser conhecido como Sistema Australiano de Séries, naquele momento em implantação pelo Commonwealth Archives Office, o embrião do Arquivo Nacional de seu país. Leia Mais
The Record group concept: a case for abandonment | P. J. Scott
O artigo The record group concept: a case for abandonment da autoria do arquivista australiano Peter Scott, é a certidão de nascimento de uma nova abordagem arquivista, que pode ser considerada como a “mais contundente reinterpretação da proveniência” da segunda metade do século passado. (COOK, 2018, 50 [1997]).
Publicado em 1966 na American Archivist, revista da Associação dos Arquivistas Americanos, o texto de Scott consiste na primeira apresentação sistemática da metodologia inovadora por ele criada, do que viria a ser conhecido como Sistema Australiano de Séries, naquele momento em implantação pelo Commonwealth Archives Office, o embrião do Arquivo Nacional de seu país. Leia Mais
Mashinamu na Uhuru: conexões entre a produção de arte makonde e a história política de Moçambique (1950-1974) | Lia Laranjeira
Nos últimos anos (ou mesmo décadas), diversos são os historiadores, artistas, cientistas sociais e juristas que vêm interrogando os limites de uma história oficial centrada unicamente na atuação da Frente de Libertação Moçambicana e no consequente acesso ao poder político e econômico de que, aparentemente, desfrutam os que comungam desta narrativa.655 Na literatura, nomes como João Paulo Borges Coelho e Ungulani Ba Ka Khosa (mas não só), ao incluírem em suas obras personagens e acontecimentos reais e fictícios, fontes históricas diversas e memórias de gente comum, tanto rediscutem a história oficial quanto oferecem um novo caminho interpretativo sobre a vasta experiência histórica moçambicana. Em Memórias Silenciadas (Khosa, 2013), por exemplo, o personagem Antônio resume o poder estabelecido no pós-independência a “um grande campo de tênis privado onde os pequenos donos se limitam a estender a rede a seu bel prazer em locais que acham seus, por direito adquirido nas matas de libertação. Um direito circunscrito à pequena elite” (Khosa, 2013, p. 101).
Na cena musical, destaca-se a atuação de figuras como o rapper Mano Azagaia, cuja canção As mentiras da verdade tece provocações acerca do passado recente ao entoar “Que a revolução não foi feita só com canções e vivas; Houve traição, tortura e versões escondidas”.656 Além desses, filmes como Virgem Margarida (2012), de Licínio Azevedo, rememoram uma das feridas mal cicatrizadas do pós-independência moçambicano: os campos de reeducação. No campo jurídico, não se pode esquecer da atuação do constitucionalista franco-moçambicano Gilles Gistac, assassinado em 2015 após indicar que não haveria impedimentos constitucionais para a governança nas províncias de forma autônoma ao governo central, conforme reivindicara o partido Renamo. Leia Mais
Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil | Inés Pérez Marinês Ribeiro dos Santos
Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil é o título do livro organizado por Inés Pérez e Marinês Ribeiro dos Santos a partir de artigos apresentados no 10º Seminário Internacional Fazendo Gênero (2013). A publicação tem como objetivo analisar, por meio dos artefatos, práticas e difusão do consumo, a construção de noções de feminilidades e masculinidades que incidem sobre a divisão sexuada do trabalho, a organização, a concepção e a ocupação do espaço habitado.
Temas afins foram pesquisados pelas organizadoras em suas teses de doutorado a partir dos campos da história da família e do design e da perspectiva de gênero. Enquanto Pérez (2012) analisou as transformações nas estruturas familiares na Argentina dos anos 1940 e 1970 em relação às dinâmicas de gênero e ao processo de industrialização da vida doméstica, Santos (2015) investigou as relações entre as transformações de gênero no Brasil dos anos 1960 e 1970 e a assimilação da linguagem pop no design de produtos. No desenvolvimento das pesquisas foi ficando clara a centralidade do consumo para a compreensão da modernidade, uma vez que a estruturação de um mercado diversificado de artefatos produzidos em massa foi acompanhada por discursos que contribuíram para a estratificação das vendas e a desigualdade de aquisição por gênero, classe e raça, incidindo nos ambientes urbano e doméstico, este último alvo privilegiado da produção industrial no período. Leia Mais
Gênero e Desigualdades: os limites da democracia no Brasil | Flávia Biroli
Como garantir a maior participação política (nas diferentes esferas) das minorias? De que maneira é possível superar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres (como limitação temporal, causada pelo acúmulo de responsabilidades do trabalho doméstico, cuidado e maternidade) para um maior envolvimento político? Que direitos ainda são negados às mulheres e às pessoas LGBTQI+ pela democracia 1 brasileira? Como os feminismos têm contribuído para uma sociedade mais igualitária no que tange aos direitos e à participação política? Quais foram os avanços, os limites e as desigualdades ao longo das últimas décadas no Brasil? Essas e muitas outras questões foram respondidas por Flávia Biroli no livro Gênero e Desigualdades: os limites da democracia no Brasil, publicado no ano de 2018, no qual enfatiza, como anunciado no título, as limitações, as desigualdades e as relações de gênero presentes na democracia brasileira, a partir de uma análise que entrelaça local/global e as diferentes teorias feministas.
Flávia Milena Biroli Tokarski é formada em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP), e possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ao longo de seus anos de pesquisadora e professora no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), tem se dedicado às temáticas da democracia, política, estudos de gênero e teoria feminista, sobretudo, com enfoque nas áreas de mídia e política. Suas principais publicações, além do livro resenhado aqui, são: Caleidoscópio convexo: mulheres, política e mídia (2011, publicado com Luis Felipe Miguel), Autonomia e desigualdades de gênero: contribuições do feminismo para a crítica democrática (2013), Família: novos conceitos (2014) e Feminismo e Política (2014, também com Luis Felipe Miguel). Leia Mais
Cuerpos aliados y lucha política: hacia una teoría performativa de la asamblea | Judith Butler
A filósofa norte-americana Judith Butler é sem dúvida uma das mais importantes pensadoras sociais contemporâneas. A produção intelectual da autora tornou-se referência internacional e nacional no campo dos estudos de gênero, a partir de teorias e conceitos apresentados no seu primeiro livro, Gender Trouble, publicado no final de 1989 (Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade, publicado em português, em 2003, pela Editora Civilização Brasileira).
Nesse livro, a autora buscou analisar o caráter performativo do gênero, ressaltando que nossas ideias de masculino e feminino não são essenciais e universais e se modificam de acordo com a cultura. Butler dialoga com algumas pensadoras feministas para desestabilizar a universalidade das categorias sexo, corpo e gênero, procurando compreender os processos de assujeitamento às normas sociais que têm nos constituído historicamente. Assim, para Butler, a teoria de gênero não será apenas uma teoria sobre a produção de identidades, mas um modo de ser e de viver o desejo. Por isso, tal obra permitiu afirmar a complexidade de nossos desejos e identificações para dar visibilidade às múltiplas expressões de gênero, colocando em questão as leis naturais que determinam nosso sexo e nosso destino e a matriz heterossexual que sustenta muitas teorias sobre a diferença sexual. Leia Mais
Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira 1760-1876 | Ilana Peliciari Rocha
De que maneira o Estado brasileiro atuou como senhor de escravos? A questão é colocada pelo livro “Escravos da Nação”, da historiadora Ilana Peliciari Rocha. O estudo é oriundo de sua tese de doutorado, defendida em 2012. A autora, que tem experiência em história demográfica, já desenvolveu pesquisas sobre a população escrava do município de Franca (SP) no século XIX e a respeito do fluxo imigratório para São Paulo no período republicano. Atualmente, Rocha é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e tem publicado artigos que abordam a trajetória de escravos e escravas da nação na história brasileira.
No livro em questão, Rocha investiga uma peculiaridade: a condição pública atribuída a alguns escravos no Brasil. Já de início a autora explica que os “escravos da nação” se tornaram uma categoria específica no Brasil após a expulsão e o confisco dos bens da Companhia de Jesus pela Coroa portuguesa, o que se deu em 1760. De acordo com ela, a partir desse evento é possível traçar, por meio da análise de documentação coeva (como cartas e ofícios, relatórios dos ministérios do Império, legislação e recortes de jornal), as formas de tratamento direcionadas aos “escravos públicos” espalhados em fazendas e outros estabelecimentos localizados em distintas regiões do Brasil. A administração desses cativos coube, no século XIX, às instituições vinculadas ao Estado imperial e perdurou até, precisamente, o ano de 1876, quando expirou o prazo que, segundo a legislação, era necessário para que tais cativos entrassem em posse de suas liberdades.
Segundo a avaliação de Rocha, os estudos historiográficos sobre a presença de escravos da nação nas fazendas e fábricas do Brasil mostraram, de maneira isolada para cada estabelecimento e localidade, que a administração desses cativos teria acompanhado o modelo da escravidão privada ou tradicional. A autora buscou acrescentar a esses trabalhos um olhar mais atento para o caráter público de tais escravos, com destaque para aqueles mantidos na Fazenda de Santa Cruz, na província do Rio de Janeiro, e na Fábrica de Ferro São João de Ipanema, na província de São Paulo. Sua proposta principal é compreender em que medida a administração desses escravos permite apreender o significado de “coisa pública” no Brasil entre o final do século XVIII e o último quartel do século XIX. Para isso, a pesquisadora leva em conta o conceito de “patrimonialismo” e dialoga com as obras de Raimundo Faoro, Fernando Uricoechea e José Murilo de Carvalho.
A estrutura do livro, inteligentemente pensada, colabora para o entendimento do estudo. A obra é composta por três partes bem articuladas, nas quais são abordados, respectivamente, os percursos dos escravos após a expulsão dos jesuítas, as concepções compartilhadas a cada época sobre tais cativos e os aspectos das experiências cotidianas desses escravos nos estabelecimentos do Estado. Ao longo dos capítulos, Ilana Peliciari Rocha compara o tratamento destinado a esses cativos com outras experiências ocorridas entre senhores e escravos, no âmbito do que chamou de “escravidão privada ou tradicional”, de modo que seja possível empreender o “significado de ser público para o escravo e também para o Estado” (p. 20). Os argumentos estão bem fundamentados tanto nas narrativas produzidas pelos contemporâneos quanto na projeção de dados quantitativos que auxiliam o leitor a visualizar os perfis dos escravos nacionais e as características da escravidão pública.
Na primeira parte do livro, em que é identificado o início de um cativeiro “público” no Brasil, Rocha discorre sobre os caminhos dos escravos após o confisco dos bens dos jesuítas, em 1760. Segundo ela, os escravos adquiridos pela Coroa portuguesa, então chamados “escravos do Real Fisco”, tornaram-se “patrimônio público” sem que houvesse legislação uniforme para o seu tratamento. Seja pela dificuldade de estabelecer um regimento homogêneo para estabelecimentos distintos, seja pela eficácia do controle administrativo desenvolvido pelos religiosos inacianos, a manutenção das propriedades e dos cativos confiscados deu continuidade – ao longo de todo o período colonial – ao modelo adotado pelos jesuítas.
Em seguida, a segunda parte apresenta as concepções e, sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelos membros do governo imperial no trato dos escravos da nação. Aqui, a análise concentra-se em meados do século XIX – período em que a documentação oficial permitiu perceber, com maior recorrência, a presença de cativos “públicos”. A autora mostra que houve a tentativa inicial de vender tais escravos a particulares, mas que o governo imperial acabou adaptando-se à condição de proprietário. Havia um sistema de trocas entre as fazendas e fábricas para suprir as necessidades de mão de obra, além de regulamentos para o controle e a manutenção da rotina produtiva nesses estabelecimentos públicos.
Quanto a esta segunda parte do livro, cabe destacar o capítulo que aborda a “visão oficial” sobre os escravos nacionais. Nele, Rocha busca dimensionar o impacto da escravidão pública nos debates políticos de meados do século XIX brasileiro e perpassa alguns temas caros ao período, como abolicionismo, patrimonialismo e liberalismo. De acordo com seu entendimento, a administração dos cativos “públicos” pelo Estado imperial teve um papel relevante na época, pois intensificou as discussões em torno da manutenção da escravidão “privada” na década de 1860. Segundo ela, “[…] como sancionadora da escravidão, a presença deles [dos escravos da nação] não gerava incômodos, mas no momento em que o Estado passou a ter uma nova atitude e as questões emancipacionistas ganharam vulto, isso influenciou as políticas públicas para com eles” (p. 171).
Entretanto, Ilana Peliciari Rocha também expõe os limites dos posicionamentos que questionaram a escravidão e o uso de escravos pelo governo imperial nesse período. Ao analisar os discursos do Parlamento do Império e um embate entre o periódico Opinião Liberal e a Mordomia-mor – repartição responsável pelos escravos da Fazenda de Santa Cruz -, ela identifica que a defesa da liberdade dos escravos da nação sofreu reveses devido à preocupação de que o assunto se estendesse à abolição do sistema escravista. Na compreensão da autora, tais discussões mostram que houve uma contradição entre o discurso liberal e as práticas do governo imperial, bem como o uso dos escravos nacionais no âmbito privado – o patrimonialismo. Juntos, tais aspectos teriam dificultado a aprovação de medidas favoráveis à alforria dos escravos da nação e, ao mesmo tempo, postergado o fim da escravidão particular no Brasil.
Especificamente sobre o “patrimonialismo”, Rocha acompanha a perspectiva de José Murilo de Carvalho e entende que a escravidão pública esteve relacionada à “administração patrimonial” empreendida pela burocracia nascente do século XIX brasileiro. Ela avalia, por meio da historiografia e das fontes, a complexidade que envolveu o uso de cativos pelo Estado: de um lado, o uso de escravos da nação para fins privados era admitido porque foi recorrente e não foi “efetivamente combatido” (p. 188); de outro lado, em alguns locais, como a Real Fábrica de Pólvora da Estrela, tal prática foi repreendida. A dificuldade do tratamento de tal patrimônio público esteve associada, ainda segundo sua leitura, à proximidade dos estabelecimentos com a sede do governo imperial e do Imperador, o qual teria influenciado uma postura “paternalista” em relação aos cativos. Para a autora, é possível afirmar que o Estado imperial, quando atuava como proprietário de escravos, foi patrimonialista, pois prevaleceu a confusão entre as esferas pública e privada na administração dos escravos da nação.
Vale observar que a “visão oficial”, tal como disposta por Rocha neste capítulo, dá centralidade aos embates entre liberais e conservadores no Brasil do Oitocentos. De certa forma, as atividades administrativas das instâncias do Estado e das instituições que mantiveram os escravos da nação, apresentadas ao longo de todo o estudo, ficaram em segundo plano nessa análise. Assim, é preciso sublinhar que não apenas as discussões no Parlamento e na imprensa, mas as diferentes medidas direcionadas aos escravos – presente nos regimentos, ofícios e relatórios – compõem a “visão” que o Império brasileiro pôde revelar sobre a escravidão pública e os escravos nacionais na época.
A última parte do livro de Ilana Peliciari Rocha é dedicada às ocupações e às experiências dos cativos mantidos na Fazenda de Santa Cruz, que foi usada como residência de passeio do imperador, e daqueles que se encontravam na Fábrica de Ferro de Ipanema. A autora conta que nesses estabelecimentos houve grande diversidade quanto às funções desempenhadas pelos escravos e que as oficinas manufatureiras permitiram que alguns deles se especializassem. Motivadas mais pelas demandas casuais dos administradores do que pela orientação de um regimento geral, a profissionalização e a diversificação das atividades nem sempre eram vantajosas para os cativos, os quais muitas vezes foram deslocados dos estabelecimentos em que viviam com suas famílias para trabalhar em outros locais, inclusive em propriedades particulares.
Nesta terceira parte, Rocha elenca ainda tópicos conhecidos na historiografia da escravidão, como a resistência escrava e a obtenção de alforrias, e aponta que os escravos da nação também recorreram às fugas ou aos pedidos de liberdade, mas de maneira distinta dos cativos “privados”. Enquanto as dificuldades de supervisionar a rotina de trabalho nos estabelecimentos favoreceram as fugas, a condição pública contribuiu, em muitos casos, para obtenção de alforrias. Aliás, apesar das ponderações feitas na segunda parte do livro, a autora conclui que a discussão parlamentar sobre a liberdade dos escravos da nação, iniciada na década de 1860, teve grande impacto na vigência da escravidão privada no Brasil. Segundo sua perspectiva, o debate que culminou na Lei do Elemento Servil, de 1871, teria impulsionado o discurso abolicionista e, até mesmo, “antecipado” a abolição aprovada em 1888.
Em suma, pode-se dizer com a investigação de Rocha que “ser público” para o Estado imperial brasileiro teve como característica o problema de “ser possuidor” de escravos para manter o funcionamento de seus estabelecimentos e de ter que lidar com um patrimônio disputado na sociedade oitocentista. Para os escravos da nação, “ser público” era estar sob o controle de um senhor disperso, algumas vezes favorável à liberdade, mas de qualquer forma presente em sua rotina e seus percursos. Os aspectos abordados indicam que este estudo contribui para ampliar as indagações, os debates historiográficos e a compreensão, entre os leitores interessados de hoje, sobre uma faceta pouco conhecida da história da escravidão e do Estado senhor de escravos no Brasil.
Referências
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: O Público e o Privado na Escravidão Brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018.
ROCHA, Ilana Peliciari. O escravo da nação Florencio Calabar: da Fábrica de Pólvora da Estrela para a Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Nucleus (Ituverava), v. 15, n. 2, p. 7-2-13, 2018. Disponível em: <Disponível em: http://nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/3011 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. ‘Escravas da nação’ no Brasil Imperial. História, histórias, Brasília-DF, v. 4, n. 8, p. 44-61, 2016. Disponível em: <Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10944 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. Imigração Internacional em São Paulo: retorno e reemigração, 1890-1920. Novas Edições Acadêmicas, 2013.
ROCHA, Ilana Peliciari. Demografia escrava em Franca: 1824-1829. Franca: UNESP-FHDSS, 2004
Larissa Biato Azevedo – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Câmpus de Franca. Mestre em História e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Câmpus de Franca. Bolsista CAPES. E-mail: larissabiato@gmail.com
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018. Resenha de: AZEVEDO, Larissa Biato. O estado imperial: um senhor de escravos “pouco definido”. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 612-618, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Construtores do Império – defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais 1823-1834
Dentre os estudos mais recentes que se debruçam sobre o processo de construção do Estado nacional no Brasil, a obra de Carlos Eduardo França de Oliveira – vencedora do 5º Prêmio de Teses da Anpuh – se destaca como inovadora e polêmica. Resultado de Doutorado defendido em 2014, ela desconfia, como escreve Cecília Helena Salles de Oliveira no prefácio, do “saber já sabido” e das certezas prévias. Isso pelo motivo de se inscrever em um movimento de renovação historiográfica que, sobretudo nas últimas duas décadas, amparando-se em exaustiva exploração de fontes e referenciais teórico-metodológicos diversos, tem contribuído para o esclarecimento de aspectos fundamentais da sociedade brasileira no século XIX.
Durante muitas décadas, a história do período imperial brasileiro foi pensada a partir de duas temáticas essenciais: a revolução liberal como projeto inacabado e a escravidão. Resguardadas suas especificidades, as leituras tradicionais sobre as origens, as instituições e o percurso do Brasil independente, baseando-se em paradigmas do ideário liberal formulados no Oitocentos e (re)configurados à luz das interpretações posteriores, apontavam ao menos para três grandes assertivas: a conservação de uma incômoda herança colonial que impossibilitou o efetivo desenvolvimento de cidadãos; o profundo desarranjo das ideias e práticas políticas europeia e estadunidense aplicadas à dinâmica do liberalismo brasileiro, marcado pelo cativeiro de africanos; e, por último, porém não menos importante, a fase imperial do Brasil como momento desprovido de perfil próprio, sendo mera etapa entre a época colonial e a republicana de sua história.[3]
Ao propor uma análise da ascensão de políticos paulistas e mineiros no processo de formação do Estado nacional brasileiro entre 1823 a 1834, enfatizando-se a criação das esferas do poder provincial em São Paulo e Minas Gerais, bem como a projeção desses agentes no cenário político da Corte fluminense, Oliveira vincula-se a um conjunto maior de estudos renovados sobre a formação do Império do Brasil. Essas interpretações, inspiradas por questões contemporâneas e pelas crescentes análises desenvolvidas nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras a partir da segunda metade do século XX, vêm repensando a supremacia do “econômico” sobre as práticas e o imaginário dos agentes históricos, fazendo cair por terra conclusões que sublinham o suposto “atraso” da sociedade brasileira em relação à modernidade, sua intangibilidade e inconsistência no século XIX, como também a incompatibilidade entre liberalismo e a lógica escravista.[4]
Desse modo, unindo-se ao rol de análises que revalorizaram os estudos políticos em uma ampla variedade de temas, da cultura política ao constitucionalismo, da formação dos espaços públicos e formas de sociabilidades às identidades e às transformações das mentalidades dos agentes que experienciaram as rupturas entre os séculos XVIII e XIX, [5] o autor coloca em outra ordem de importância o papel da cultura e das iniciativas dos indivíduos, especialmente de paulistas e mineiros, na formação da sociedade brasileira e consolidação do projeto liberal moderado. Baseando-se em repertório amplo de fontes variadas, como documentos oficiais e periódicos, assim como em uma bibliografia abrangente e atualizada, Oliveira joga luz sobre o arranjo de relações que envolveram instituições e homens, marcando a consolidação da província como novo lócus de poder.
No primeiro capítulo, Oliveira explora os vínculos entre política e economia nas províncias de São Paulo e Minas Gerais nos primeiros anos do Império, chamando a atenção para os grupos e sua incorporação no processo de construção da nova ordem monárquica-constitucional com sede no Rio de Janeiro. Esse processo, de um lado, assumiu lugar primordial ao assegurar a integridade do novo Estado e, de outro, permitiu a esses mesmos círculos a conquista de participação política na Corte. Problematizando a tese decadentista (segundo a qual as dinâmicas das duas províncias estagnou após o declínio da produção aurífera mineira), o autor defende que, mais do que redutos de nomes consagrados no processo de Independência, São Paulo e Ouro Preto foram importantes arenas de disputa e articulação política em que parcelas socioeconômicas plurais, vindas de variadas partes das províncias, batalhavam pelo poder.
Evitando intepretações rígidas que unem segmentos socioeconômicos específicos a orientações políticas particulares seguindo um fio único de interesses, o autor convida o leitor a olhar para a diversidade de situações e fidelidades que coloriam um quadro mais amplo de relações políticas, econômicas e sociais da época. Assim, como contraponto à vertente mais tradicional, Oliveira implode categorias como “centro” e “província”, “interesse nacional” e “interesse local”, enfocando as formas negociadas com que mineiros e paulistas foram concebendo suas províncias como espaços essenciais de articulação política e poder.
No segundo capítulo, o autor detém-se na exposição pormenorizada dos principais aspectos dos conselhos provinciais – Conselho da Presidência e Conselho Geral – em São Paulo e Minas Gerais, principalmente seu funcionamento, ação política e participação na composição do poder nessas regiões. Oliveira trata, primeiro, da dinâmica do Conselho da Presidência e da atuação dos presidentes de província, relativizando a historiografia que caracteriza o Primeiro Reinado como momento “centralizador”, no qual os chefes do Executivo provincial seriam meros “delegados” a serviço de D. Pedro. O autor tece sua problematização com perícia, apontando como a atuação dos vice-presidentes – sujeitos escolhidos nas próprias localidades – e do Conselho da Presidência serviram de contrapeso ao poder dos presidentes. Ademais, o autor afirma que os Conselhos da Presidência paulista e mineiro, ultrapassando o papel de órgãos consultivos a serviço dos presidentes de província, se elevaram a âmbito privilegiado de prática política, seguindo os moldes de um regime representativo preocupado com a defesa dos preceitos monárquico-constitucionais.
Na segunda parte, Oliveira apresenta o processo de instalação dos Conselhos Gerais nas províncias de Minas Gerais e São Paulo, conforme previsto na Carta de 1824. A partir da exposição da relação entre esses órgãos, câmaras municipais e finanças provinciais, o autor delineia um panorama em que aponta como o aparelhamento político-administrativo das províncias, ligado às realidades locais e certa margem de autonomia para geri-lo, foi chave para a manutenção e consolidação do Estado monárquico-constitucional.
Para dar conta das formas como políticos paulistas e mineiros ocuparam o Legislativo do Império a partir de 1826, Oliveira apresenta e discute os aspectos fundamentais da representação e do encaminhamento dos assuntos provinciais na Câmara dos Deputados e no Senado. Na primeira parte, ele aborda a composição das bancadas mineira e paulista na Câmara dos Deputados. Explanando uma temática pouco explorada, o autor matiza o enfrentamento que ocorreu no Parlamento, especialmente na câmara baixa, como simples embate entre os herdeiros de um suposto conflito entre “portugueses” e “brasileiros” na Independência. Afirma que o âmbito da Câmara dos Deputados se configurou como espaço de matizes e nuances, no qual a distinção entre os grupos políticos não pode ser compreendida como elemento preexistente à luta política. Tampouco havia uma simetria entre inserção econômica e posicionamento político, como também uma dicotomia entre províncias e Corte.
Há que mencionar ainda que o autor aborda um dado importante não desenvolvido por muitos estudos: o de como os grupos políticos parlamentares teriam se inserido no sistema eleitoral das províncias paulista e mineira, forjando-se no espaço local para, a partir dele, se rearticular na Câmara dos Deputados. Longe de estabelecer uma simplificadora correspondência entre fidelidades de origem, representação e aprovação de pautas provinciais, baseada em uma relação de causa e efeito, Oliveira põe em exibição uma realidade mais cambiante, em que a composição das bancadas paulista e mineira nas três legislaturas da câmara baixa dependeram da convergência de um emaranhado de fatores como distintas concepções de representação e projeto de Estado, questões político-institucionais, alianças (inter)provinciais, rivalidades entre os grupos políticos, tensões sobre perspectivas diversas a respeito dos negócios e de ocupações dos espaços administrativos. Portanto, conclui que o encaminhamento das necessidades provinciais na Câmara dos Deputados foi um processo complexo que não se diluía na transposição automática das demandas das províncias para o Legislativo.
Dando prosseguimento à discussão sobre a maneira como os representantes provinciais deram vazão às demandas das suas províncias, um segundo movimento, ainda relacionado à primeira parte, dá conta da análise do engajamento do Senado no tocante às demandas que partiam de São Paulo e Minas Gerais. De novo, o autor rompe com afirmações prévias, relativizando a ideia de um Senado fechado em si mesmo, atento apenas às estratégias de contenção da câmara baixa. Pelo contrário, Oliveira assume que tais assertivas desembocaram em deduções simplistas e perigosas. Apesar do envolvimento menor do Senado com as propostas dos Conselhos Gerais, não se pode dizer que a casa vitalícia era desalinhada das causas provinciais. Mesmo diante da sua maior autonomia frente às bases eleitorais das províncias, perceber o Senado superficialmente como instrumento político em prol do monarca e de seus ministros, provoca o autor, seria cair no jogo retórico dos liberais, produzido especialmente pelos moderados da época.
Na segunda parte, o autor tematiza a questão do comprometimento dos deputados com as propostas dos Conselhos Gerais, sobretudo daqueles que ocuparam as duas instituições, a fim de encarar se eles eram “homens da província”, ou seja, seus representantes no Parlamento. No fim da análise, o autor conclui que as pautas dos Conselhos Gerais serviram para os parlamentares como instrumento de luta e negociação política, no qual assegurar os interesses provinciais nem sempre foi o objetivo final. Além do mais, essa dinâmica teria sido permeada por um encadeamento complexo de relações entre os eleitores, conselheiros-gerais, deputados e senadores, perpassado por outros fatores como enfrentamentos políticos, heterogeneidade das bancadas provinciais, autonomia dos legisladores em relação às bases eleitorais e existência de tópicos considerados mais relevantes do ponto de vista nacional. Nesse sentido, Oliveira esvazia categorias como “interesse local” e “interesse nacional”, já que para esses legisladores ao fazer política provincial, direta ou indiretamente, eles estavam dando conta também da política nacional e vice-versa.
Dividido em cinco partes, o quarto e último capítulo é o maior do livro. Na primeira parte, o autor apresenta em linhas gerais o clima de tensão e redefinição de forças que caracterizou o contexto político após a saída de D. Pedro, um quadro marcado pelas discussões em torno de uma reforma constitucional do país nascente. O autor faz uma ponderação metodológica relevante, recomendando ao especialista que evite descrições estanques, tendo em vista a fluidez que os termos “moderados”, “exaltados” e “caramurus” possuem. A coerência programática desses grupos, forjada pelos próprios coevos, pesava menos do que sua função política influenciada pelas tensões em jogo.
Na segunda parte, Oliveira sugere que a elaboração de um movimento de reforma constitucional atrelou-se à intensificação da investida liberal contra o governo pedrino no Primeiro Reinado, o que também gerou uma fratura entre os grupos liberais, particularmente acerca das relações entre Legislativo e Executivo. Nessa lógica, os debates sobre a reforma da Carta de 1824 travados depois da abdicação de D. Pedro I, em 1831, retomariam, sob nova luz, questões já presentes no triênio de 1821 a 1823, sobretudo as relações entre centro e província, as atribuições que caberiam ao Poder Moderador, a existência do Conselho de Estado e a vitaliciedade dos senadores, solapadas com o fechamento da Constituinte por D. Pedro. Toda essa discussão não se restringiu só aos setores oficiais da luta política. Ela alargou o espectro social de ação política, como aponta o autor na terceira parte, percebida nos debates levados a cabo pelos círculos dos alunos do Curso Jurídico de São Paulo e vários periódicos mineiros e paulistas. Toda a tensão em torno da reforma constitucional desencadeou uma restruturação do campo de luta política.
Na penúltima parte, o autor não economiza esforços para demonstrar que as discussões em torno do projeto de reforma constitucional propunham mudanças radicais na estrutura política do Império, permeada pelas ideias de federação que seriam exploradas a fundo pela imprensa e pelos heterogêneos grupos políticos. Com o adensamento da inevitabilidade da reforma, tanto ela quanto o sistema federativo em si acabaram ganhando uma conotação positiva em meio à então resistente ala moderada, que via na ampliação dos poderes provinciais, especialmente de cunho legislativo e fiscal, uma maneira para se garantir no poder, resguardando a continuidade da monarquia-constitucional. Na última parte, o autor apresenta as discussões que culminaram no Ato Adicional, apontando que as maiores polêmicas em relação à reforma constitucional repousaram nas atribuições das Assembleias Legislativas. Aqui o pesquisador, mais uma vez, assume uma postura revisionista, amparando-se em autoras como Miriam Dolhnikoff e Maria de Fátima Gouvêa, encarando a execução da reforma como parte de um arcabouço legal maior que vinha sendo gestado anteriormente.
Baseado em uma bibliografia vasta e atualizada, como também em variedade de fontes de natureza diversas, Carlos Eduardo França de Oliveira tece apontamentos e questionamentos pertinentes sobre um momento complexo da história do estabelecimento do Estado nacional brasileiro. Sem se deter em um único segmento social em São Paulo e Minas Gerais e, muitas vezes, apontando o que acontecia em outras províncias do Império, o autor esboça o emaranhado de relações múltiplas e cambiantes que esses indivíduos teceram, sem que tal dinâmica se restringisse à cooptação de forças pelo poder central na Corte ou outras associações unilaterais. Desse modo, ancorado nesse processo de ampla complexidade, o autor ressignifica episódios importantes do período, fazendo cair por terra ideias pouco fluídas como “centro” vs. “província” e “interesse nacional” vs. “interesse provincial”.
Notas
1. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Guarulhos – São Paulo.
2. Graduada em História e mestranda do Departamento de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista FAPESP, processo nº 2018/11696-0. E-mail: c.rezende4991@gmail.com
3. MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Liberalismo, monarquia e negócios: laços de origem. In: ______ (orgs.) Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013, p. 10-11.
4. Ibidem, p. 11.
5. GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América ibérica (c. 1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 183, 2. Semestre 2013.
Referências
GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América ibérica (c. 1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 183, 2. Semestre 2013.
MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Liberalismo, monarquia e negócios: laços de origem. In: MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles (orgs.) Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.
OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. Construtores do Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834 [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017.
Claudia de Andrade1-2 – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Guarulhos – São Paulo. Graduada em História e mestranda do Departamento de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista FAPESP, processo nº 2018/11696-0. E-mail: c.rezende4991@gmail.com
OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. Construtores do Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834 [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. Resenha de: ANDRADE, Claudia de. O império negociado: agentes provinciais no ajuste da ordem no Brasil independente. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 619-626, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá – Minas Gerais século XIX) | Juliano Custódio Sobrinho
Localizada no sul da Mantiqueira, no sul da Capitania de Minas G, no sul da Capitania de Minas Gerais e próxima ao nordeste da Capitania de São Paulo, a Freguesia de Itajubá se configura como uma região fronteiriça, local de passagem e de rotas comerciais, mas também de habitação e permanência. Seu povoamento data do início do século XVIII, decorrente dos fluxos migratórios ocasionados pela busca por ouro na região que, aparentemente, não prosperaram. Seu núcleo populacional se deslocou no início do século XIX, precisamente em 1819 e, em 1862, foi elevada à categoria de cidade, consolidando-se onde se localiza atualmente. Em Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX), Juliano Custódio Sobrinho aborda a dinâmica interna da Freguesia de Itajubá, suas estruturas produtivas, bem como sua inserção no circuito mercantil do sudeste brasileiro, especialmente na primeira metade do século XIX.
Com base no levantamento, identificação e caracterização do perfil socioeconômico da freguesia, o autor revela uma dinâmica rede de abastecimento interno, impulsionada sobretudo pela agropecuária voltada ao mercado local e regional, bem como ao consumo das unidades produtivas internas. Mercadorias como gado bovino, gado suíno e seus produtos derivados associavam-se a uma crescente produção de bens de raiz e investimentos em escravaria. Valendo-se do método analítico da história serial e da perspectiva da História Social, o autor, podemos dizer, contribui para o crescente campo da “História Social da escravidão”.
Dentre as fontes consultadas, privilegia a investigação de inventários post mortem pertencentes ao Fórum Wenceslau Braz (Itajubá, MG). Menciona também o uso de Listas Nominativas e Mapas de População, para os anos compreendidos entre 1831 e 1835, disponíveis no banco de dados do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR/UFMG), além de visitar outros acervos paulistanos e mineiros, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Cúria Metropolitana de São Paulo, o Centro de Estudos Campanhense Monsenhor Lefort, e o Banco de Dados do Arquivo Histórico Ultramarino. O estudo das fontes se volta não só para uma abordagem quantitativa, senão também qualitativa dos dados, buscando compreendê-los em conjunto.
Segundo Custódio Sobrinho, até a década de 1970 a historiografia pouco se debruçou sobre a dinâmica interna das sociedades coloniais, secundarizando as especificidades regionais e o funcionamento do mercado interno. Trata-se de uma perspectiva historiográfica que não está superada e segue ancorada em um modelo explicativo que compreende as sociedades coloniais a partir das relações externas, invisibilizando suas próprias dinâmicas e especificidades. Não obstante, muitos são os estudos que protagonizam a economia mineira e a vertente historiográfica que privilegia os estudos regionais tem se ampliado, especialmente a partir da década de 1970, quando houve uma inflexão historiográfica no viés interpretativo, protagonizando novos agentes e abarcando novas fontes.
O autor é Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e atualmente é professor da Universidade Nove de Julho (Uninove). O livro é resultante de sua dissertação de mestrado, apresentada em 2009 à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sob orientação da Profa. Dra. Carla M. Carvalho de Almeida, que assina o generoso prefácio. Com 193 páginas, o livro divide-se em quatro capítulos: I – Povoamento e riqueza na capitania do ouro, II – Poder e privilégios entre os “melhores da terra”, III – Escravizados nas páginas dos inventários e IV – Produção agropecuária e perspectivas de mercado.
O primeiro capítulo, “Povoamento e riqueza na capitania do ouro” é subdivido em três tópicos: “A economia colonial nas Minas”, “Mercado interno e a historiografia revisitada” e “A freguesia de Itajubá”. Nele, o autor descreve a formação da freguesia de Itajubá dentro de um panorama mais amplo e discute como o seu desenvolvimento é abordado nos debates sobre a economia colonial mineira. Grosso modo, pode-se dizer que a produção historiográfica define a extração aurífera como determinante da economia mineira e descreve um cenário, a partir do declínio da mineração, em que a extrema estagnação econômica invisibilizou todo um circuito mercantil dedicado à produção interna, em especial a agropecuária.
É inegável que a história de Minas Gerais está intimamente ligada às atividades de mineração, no entanto seu declínio não deve ser compreendido como estagnação econômica, como se houvesse simplesmente engessado dali por diante. Trata-se de um processo importante cujo decaimento resultou em uma dinamização da economia voltada ao mercado interno, inclusive decorrente da necessidade de rearticulação dessa mesma economia diante das transformações do contexto. Para o caso de Itajubá esses rearranjos são verificáveis, por exemplo, na produção agropecuária, e o autor demonstrou que o fortalecimento do mercado interno estava plenamente em consonância com a lógica escravista da sociedade em que se circunscrevia. Nesse sentido, os estudos regionais ampliam o debate no sentido de evidenciar as especificidades locais, demonstrando uma complexidade socioeconômica muito maior inerente às suas próprias lógicas de organização. É a partir desse método interpretativo que Custódio Sobrinho se debruça, como que por uma lupa, fugindo a homogeinizações e generalizações que desapercebem toda uma rede de relações que se articulava internamente.
O segundo capítulo, intitulado “Poder e privilégios entre os ‘melhores da terra’”, também se organiza em três subtítulos: “Percepções demográficas”, “Indivíduos e relações sociais” e “Vida material e hierarquia na freguesia”. Aqui, podemos conferir uma melhor explanação e cotejamento de informações acerca da demografia e do perfil socioeconômico da região em estudo, compreendendo as hierarquias, distribuição de riquezas e vida material por meio da análise em conjunto dos inventários post mortem com os dados levantados por meio do Banco de Dados Populacional do CEDEPLAR-UFMG. A partir de 125 inventários, Listas Nominativas e Mapas de População, o autor evidencia uma sociedade extremamente estratificada, cujos privilégios se expressam, por exemplo, nos bens de herança. Mais que um levantamento quantitativo, Custódio Sobrinho qualifica esses dados, revelando questões sociais em dimensões mais amplas.
O terceiro capítulo, “Escravizados nas páginas dos inventários”, versa sobre a participação dos negros escravizados nas atividades produtivas de Itajubá (suas partes são “Posse de cativos na freguesia”, “A participação escrava” e “Sujeitos, ações e identidades”). O autor procurou traçar o perfil destes sujeitos e compreendê-los enquanto agentes, buscando lançar luzes em suas formas de agir, reagir e resistir. Compreendidos enquanto posse, o levantamento de escravos foi feito também a partir dos inventários post mortem. Nesse caso, as limitações inerentes a esse tipo documental deixam dúvidas acerca de sua suficiência para compreendermos efetivamente a participação dos negros nas unidades produtivas e na própria consolidação da Freguesia de Itajubá. Um arrolamento maior de outras espécies documentais contribuiria melhor para o propósito. De todo modo, Custódio Sobrinho deixa claro não se tratar do objetivo central da pesquisa e sua contribuição se verifica ao demonstrar o quão expressiva foi a participação de pessoas escravizadas nas atividades voltadas ao abastecimento interno em uma freguesia da província que, segundo o autor, deteve o maior contingente de escravos do Império em sua estrutura produtiva.
Pode-se inferir, ainda, que a expressiva importação de cativos para a região deve-se, fundamentalmente, à expansão e diversificação socioeconômica, especialmente a partir do declínio da mineração que impôs a rearticulação da economia. O autor menciona que a província de Minas Gerais se tornou a maior detentora de escravos e assim permaneceu até a abolição da escravidão, em 1888. A produção de alimentos na região também atende à manutenção dos afluxos na importação de escravos durante todo o século XIX e se intensifica com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro. Para além disso, constata em Itajubá uma situação não rara no Brasil oitocentista, mas ainda pouco tratada pela historiografia, em que a mão de obra escrava trabalhava lado a lado com a mão de obra familiar, no caso das pequenas propriedades. De forma mais ampla, Custódio Sobrinho se vale do mapeamento da posse de cativos como indicativo para melhor compreender a estratificação social e a hierarquização das unidades produtivas.
Por fim, o quarto e último capítulo, “Produção agropecuária e perspectivas de mercado”, é também o mais extenso. Dividido em quatro partes (“Produção mercantil”, “Composição dos bens nos inventários”, “Padrões de riqueza e utilização da terra” e “Terras de cultivo, campos de criar: a agropecuária na freguesia”), esse é o capítulo que, talvez, melhor situe o autor dentro de sua própria obra. São oito tópicos que se preocupam em discutir a participação de Itajubá no contexto regional, isto é, sua inserção na produção mercantil sul mineira e sua relação com o Rio de Janeiro. Aqui, o autor se volta a uma caracterização das unidades produtivas, rurais e urbanas, a fim de evidenciar a diversidade econômica da região. Reafirma, ainda, o expressivo envolvimento dessas unidades com o abastecimento interno e a massiva participação das pessoas escravizadas, composta sobretudo por cativos nascidos na região (crioulos).
A partir de um estudo de caso, Juliano Custódio Sobrinho nos apresenta um trabalho pertinente e pormenorizado acerca das estruturas econômicas na Freguesia de Itajubá no Brasil oitocentista. Voltada fundamentalmente ao mercado interno, a pesquisa é provocativa na medida em que demonstra uma complexa rede de relações econômicas e sociais, mais ampla e diversa que a imagem estanque que se pressupunha pela historiografia até a década de 1970. Uma narrativa que se consagrou entre os historiadores que centravam o argumento da dependência econômica externa enquanto modelo explicativo para as colônias e sob um viés que se sedimentava no pressuposto de um capitalismo comercial. Neste sentido, ao passo em que se privilegiava territórios voltados à macroeconomia escravista e de exportação, invisibilizou-se todo um mercado interno do sudeste brasileiro, seus agentes e suas dinâmicas próprias de organização.
Para além dos interessados no caso específico de Itajubá, o livro é indicado àqueles que almejam compreender melhor como se engendram as relações econômicas e sociais que envolvem o sudeste brasileiro no século XIX, bem como os distintos grupos que aí se verificam e se conformam. Por meio da Demografia Histórica enquanto método analítico, o autor buscou caracterizar e compreender as estruturas daquela sociedade, as práticas que a orientam e os agentes que a organizam, para além da dicotomia senhor-escravo. Nesse sentido, nos informa sobre uma sociedade altamente estratificada e hierarquizada, envolvida em uma dinâmica rede de abastecimento interno e que se fundamentava sobretudo na diversidade agropecuária. Ao longo de seu livro, o autor nos revela o entrecruzamento de histórias de uma elite local, emaranhada por relações de parentesco, conflitos por heranças e articulações pela manutenção do patrimônio, junto às diversas formas de cotidiano e resistência dos sujeitos subalternos, sobretudo a população negra escravizada. A obra confere um espectro mais plural para a compreensão de economia e sociedade do centro-sul do Brasil.
Referência
CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX). São Paulo: Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 2017.
Karina Oliveira Morais dos Santos – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Graduada em História pela Universidade Federal de São Paulo; Mestranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-UNIFESP) e bolsista FAPESP. Atualmente em mobilidade internacional enquanto aluna visitante na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). E-mail: karinaolimorais@gmail.com
CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX). São Paulo: Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 2017. Resenha de: SANTOS, Karina Oliveira Morais dos. História serial e economia de abastecimento no Sul de Minas. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 627-633, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Eu no mundo – Keith Hart
Keith Hart. www.up.ac.za.
HART, Keith. Eu no mundo. Manuscrito não publicado. 2018. 240.p. Resenha de: RAKOPOULOS, Theodoros. Auto (e com) o mundo: memória de Keith Hart. Sociologia & Antropologia, v.9 n.3, Rio de Janeiro set./ dez. 2019.
“Educar” significa “liderar”, liderar o eu na viagem da vida para os assuntos do mundo. O mundo intelectual germânico dominou a idéia de escrever sobre a educação de alguém como Bildung , e a forma burguesa moderna adotada por esse tipo de escrita confessional era o Bildungsroman . Um empreendimento fundamentado, mas completamente enraizado em uma visão romântica do eu no mundo. A contemplação das ruínas do Mediterrâneo proporcionou à mente uma perspectiva, estabelecendo uma relação no tempo e com o tempo, bem como uma relação entre o eu e o mundo ao longo do tempo.
A jornada de um antropólogo que acompanhou o movimento de africanos em todo o mundo, tornando-se tão móvel quanto eles, é uma história totalmente diferente . É o caso do livro de sua vida por Keith Hart. A Antropologia foi atacada por seu passado colonial e elogiada por propor uma conexão real entre o eu e o outro, levando a sério as vozes de outras pessoas ao tentar ouvir e entender a nossa. Essa é uma narrativa.
Um bom livro de memórias pode oferecer uma narrativa analítica de lugares na jornada do eu, mas também a mudança na formação desse próprio eu até o final dessa jornada. Este fim é alcançado através da escrita: é o ponto final de uma viagem e uma conclusão, um objetivo alcançado. Vou acentuar alguns tópicos que tecem a posição intelectual de Keith no mundo, baseando-se na história de sua vida (“no mundo”, dois terços do livro), em vez de suas reflexões gerais “no mundo”.
Ser humano no mundo necessariamente fica em alguns lugares. Um deles é o apartamento de Durban. Ele contém toda a obra de Mohandas K Gandhi, que viveu na cidade por duas décadas. Ao lado de todas as obras de Lenin e um pôster de Kwame Nkrumah, que caiu do poder em um golpe de estadoenquanto o jovem etnógrafo realizava trabalho de campo nas favelas de Accra. A autobiografia de Michael Caine também está lá, onde ele celebra sua própria jornada no mundo, seu amor pelo movimento e pela América e suas origens Cockney. As conexões com a história de Keith são fortes. Acima de tudo, ele é um professor, um dos melhores que eu já conheci, e seu livro não pode deixar de ser didático em parte: “Este livro é um relato de minha educação, uma escavação de memória para fins de autoconhecimento, se você gostar. Mas seu objetivo também é permitir que os leitores reflitam sobre sua própria educação ”.
O tema do livro é a construção da sociedade mundial em nossos tempos, como pode ser visto na jornada de um homem. Keith foi um dos primeiros antropólogos a observar o poderoso papel da internet nesse processo histórico. Seu interesse em integrar os assuntos mundiais à antropologia trouxe-lhe mais reconhecimento fora da disciplina do que dentro dela. A antropologia britânica, americana e até francesa adotou o localismo estreito às custas de qualquer tipo de empreendimento cosmopolita:
As ciências sociais se concentraram nos tipos de organização social e divisões de classe, raça, gênero, religião e nacionalidade que mediam as dimensões pessoais e impessoais de nossa existência, em vez de considerar a personalidade humana e a humanidade como um todo.
E, assim, o humanismo filosófico que inspira Keith Hart foi substituído por um relativismo cultural boasiano.
“O eu no mundo” não é uma canção de cisne, mas uma proposta prospectiva de um estudioso peripatético de que a autobiografia seja assumida como um método central em qualquer antropologia verdadeiramente global. Para que isso aconteça, devemos abandonar concepções enraizadas de si para uma vida de movimento, imaginação, colaboração e ambição. O resultado é participação cosmopolita no mundo. Para esse projeto, Hart enfatiza politicamente o tema perene da antropologia econômica: a sociedade desigual como propulsora do desenvolvimento desigual. Nosso autor partiu de um contexto que não tinha privilégios, mas conseguiu esfregar os ombros com alguns que os encarnavam. A escada rolante que ele montou para a Universidade de Cambridge e além foi fornecida pela Manchester Grammar School. Grã-Bretanha na década de 1960, sua revolução cultural marcada pelos Beatles, ofereceu mais chances de mobilidade ascendente do que o nosso presente. Hoje não resta muito do consenso social pós-guerra que deu a Keith o seu começo na vida. Cambridge também não perdeu seu papel de criadouro para a elite nacional. Um garoto da classe trabalhadora de Manchester fez da sua profissão a aprovação em exames clássicos e usou Cambridge como plataforma de lançamento de viagens pelo mundo como antropólogo. Mas sua formação clássica como adolescente nunca o abandonou e ele logo desistiu do trabalho de campo etnográfico para ler livros antigos e escrever sobre eles. Um garoto da classe trabalhadora de Manchester fez da sua profissão a aprovação em exames clássicos e usou Cambridge como plataforma de lançamento de viagens pelo mundo como antropólogo. Mas sua formação clássica como adolescente nunca o abandonou e ele logo desistiu do trabalho de campo etnográfico para ler livros antigos e escrever sobre eles. Um garoto da classe trabalhadora de Manchester fez da sua profissão a aprovação em exames clássicos e usou Cambridge como plataforma de lançamento de viagens pelo mundo como antropólogo. Mas sua formação clássica como adolescente nunca o abandonou e ele logo desistiu do trabalho de campo etnográfico para ler livros antigos e escrever sobre eles.
Como na vida de Hart, o livro de sua vida também é carregado de inventividade literária e a capacidade de contar uma boa história sempre com a sociedade imaginada em primeiro plano. O texto inteiro é um exercício de “reduzir o mundo e ampliar o eu”. Os escritores clássicos da teoria social são seus meios para esse empreendimento. Karl Marx aparece 54 vezes na versão que li (Durkheim apenas duas vezes, e Weber quatro vezes, Fanon 15 vezes). A marca de Marx no mundo vai muito além dos estudos e se estende aos reinos da história real e vivida da qual Hart participa ao longo do livro. Seu relato dessa história não é celebração. De fato, ele considera a revolução anticolonial e o desenvolvimento desigual que se seguiu ser mais formativo de seu pensamento do que a antropologia.
A carta de Keith ao escritor de Trinidad e ao revolucionário CLR James (“a única carta de fã que já escrevi”) é um bom estudo de caso de sua atitude para com os dois. É uma tentativa honesta, apaixonada e espontânea de se envolver com alguém de todo o coração. James, mencionado mais de 60 vezes, é o verdadeiro negócio aqui. As razões para isso são muitas. Nem James nem Marx eram acadêmicos. Eles incorporam a dialética deste livro – narração de eventos da vida pessoal e reflexão meditativa sobre eles – e estão no centro do entendimento de Keith sobre sua vida e seus tempos. Ambos se envolveram com o mundo intelectualmente e politicamente, combinando movimento inquieto e consciência histórica de suas tensões.
O capitalismo transatlântico moldou tragicamente a vida de muitas pessoas, pardas e brancas, mas principalmente negras.
Durante grande parte da minha vida profissional, acompanhei a diáspora africana através de um mundo atlântico cujo momento decisivo foi a escravidão. Traço minha auto-reinvenção na meia-idade até um período na Jamaica durante os anos 80.
Nos anos por volta de 1990, quando a União Soviética entrou em colapso, a China e a Índia emergiram como potências mundiais e a Internet se tornou pública, viu o surgimento de Keith como um intelectual público. Precisamos encarar a tragédia e ainda manter a esperança. Keith Hart será lembrado como a principal fonte da “economia informal” nos estudos de desenvolvimento (ver suas reflexões em meados da década de 1980 sobre uma década de uso do termo: Hart, 1985). Revelou a agência e a criatividade dos africanos sob a imagem da uniformidade monótona gerada pelas estatísticas oficiais. Um capítulo sobre seu trabalho de campo em Gana revela sua própria experiência quadriculada, juntamente com as histórias de vida de empresários locais. Uma passagem posterior na Jamaica fornece instantâneos mais perspicazes da vida local e reflexões sobre o método (como ler e participar da história).Hart, 2017 ).
Keith é um historiador de idéias, uma pessoa política intensamente – mas nunca em voz alta – e cidadão do mundo, sempre ciente de que está nos ombros de gigantes. Ele trabalha com revolucionários anticoloniais como um estudioso humanitário (ver Hart, 2009 ). Essa perspectiva cosmopolita é profunda, mas também tem raízes profundas no Manchester da classe trabalhadora. “Venho de Manchester” é o título do seu capítulo de abertura. Quando acusado na Jamaica de ser um beneficiário do enriquecimento em inglês às custas de seus ancestrais, ele responde: “Eu não sou inglês, sou de Manchester”. Esta resposta fala de uma recusa da metodologia do estado-nação.
A linguagem do livro é o Keith oral , óbvio para quem o conhece, talvez não para todo mundo. É irônico que as pessoas escrevam suas autobiografias quando se tornam septuagenárias. Talvez devêssemos escrever dois deles, um na faixa dos 40 anos, quando estamos mais próximos da juventude e outro na faixa dos 70. De fato, Keith escreveu um em seus 40 anos, mas foi instruído a não publicá-lo, pois era “brutal demais”. Seus relatos de seus primeiros anos são vívidos e comoventes. Ele nunca menciona a psicanálise ou abordagens semelhantes. No entanto, ele acredita claramente que a infância é formativa. Ele veio de uma família de cantores e a música é a base de sua personalidade. Ele credita ouvir a New World Symphony de Dvořak quando menino com o apelo da América mais tarde.
O movimento no Atlântico Norte o inspirou e rejuvenesceu ao longo de sua vida: “O Atlântico Norte tem alguma reivindicação de ser o crisol da história mundial moderna; mas não é o mundo. Nem o movimento no mundo é o próprio mundo ”.
Esse movimento teve solavancos na estrada. As páginas pungentes que descrevem o colapso de uma mente brilhante no meio de uma carreira impressionante em Yale são fascinantes. Nesse momento, Keith passou a escrever poesia, algumas das quais são reproduzidas aqui.
Pode haver muitos detalhes aqui sobre conflitos acadêmicos. Mas os vislumbres da vida institucional na Ivy League e no Meio-Oeste têm seu interesse. Aqui está uma festa de Chicago pelo seu 40º aniversário:
Até então, eu imaginava que poderia ser qualquer coisa – um político, empresário, jornalista. Naquela festa, eu disse a mim mesma: “Com quem você está brincando, Keithy? Agora você alcançou o ponto médio da sua vida e estudou por tudo isso. Se você fosse sair, já teria passado muito tempo agora. Essa revelação me deu uma tremenda onda de liberdade. Uma vez que aceitei a necessidade de ser um acadêmico, havia tantas maneiras diferentes que isso poderia ser realizado. Logo descobri o que aquilo significava.
Voltando à Grã-Bretanha, ele reflete sobre onde ir e decide sobre Cambridge: “Eu era mais intelectual do que apoiador do United”. E um intelectual de produção variada, grande parte ainda escondida – e algumas reveladas neste livro (como a bela etnografia tardia de Accra). Um bom livro de memórias revela o autor manqué ou o escritor secreto; as últimas páginas da vida e das obras. Entre muitos tesouros escondidos aqui, eu escolheria um documentário sobre Rousseau; a poesia; reflexões arqueológicas; uma série de ensaios juvenis que acabaram em pira.
Keith sofria de doença mental de 35 a 50, quando ficou claro. Esses anos foram muito difíceis, e acho incrível que ele seja tão aberto em ser bipolar, tão genuíno em relação à saúde mental. “Agora eu estava convencido de que estava sofrendo de uma doença objetiva e cientificamente identificável. Eu tomava minhas pílulas religiosamente e espero superar tudo isso eventualmente. ”
“A Jamaica me radicalizou”, escreve Keith. Isso o levou a uma antropologia política e explicitamente engajada, com base em sua experiência na indústria do desenvolvimento na década de 1970. Ele co-escreveu o programa de desenvolvimento para a independência da Papua Nova Guiné e um manual sobre agricultura da África Ocidental para a USAID. Nos anos 90, ele assumiu o exército nigeriano e reuniu os lados opostos na guerra de Angola. Esse engajamento é a força vital do livro e a força motriz de sua vida. Para muitos, pode ser uma surpresa que alguém que há muito sofra de depressão e nunca ingressou em um partido político escolha uma vida com esse compromisso de fazer a diferença. Mas aqui estamos nós.
Algumas das escolhas de Keith revelam uma humanidade profunda: por exemplo, abandonar a melhor oferta de emprego que ele já teve para passar um tempo com o CLR James e Anna Grimshaw lança luz sobre a forma idiossincrática do noivado de Hart. A dele é uma economia humana real , no sentido de dedicar seu próprio tempo neste mundo à produção, alocação e consumo de recursos.
O título do livro, “Eu no mundo”, é uma maneira profundamente atual e oportuna – e até urgente – de pensar sobre a antropologia engajada. Essas são as memórias de um homem em seus 70 anos; a maioria dos leitores provavelmente é mais jovem e vive em um mundo mais difícil. Mas o envolvimento pessoal de Keith nos oferece uma metodologia. Antropologia é sobre cuidar e entender; os dois são inseparáveis. Imagem , certamente, mas também Verstehen , compreensão.
Veja a economia, por exemplo, com sua frieza numérica. Keith surgiu com uma idéia que decorre da observação direta da vida. Então, ele teve a idéia de dinheiro como a unidade da política e da economia (“cara ou coroa” , Hart, 1986 ). Em seguida, ele surgiu com a impossibilidade teórica e prática de separar o pessoal do impessoal. Enquanto isso, com Anna Grimshaw, ele lançou Panfletos Prickly Pear como textos rápidos e compreensíveis, escritos para um público leigo educado. EP Thomson escreveu que o CLR se tornou mais radical à medida que envelhecia. Talvez Keith tenha entendido a ideia.
O site de Keith, The Memory Bank, é onde ele coloca tudo o que escreve. Ele odeia a idéia de propriedade intelectual e chama o capitalismo digital de “feudalismo informacional”. Como diretor do Centro de Estudos Africanos de Cambridge, ele “tentou colocá-lo na relação histórica entre o Ocidente e a África”. Isso o levou a escavar o papel central de Cambridge no movimento de abolição por volta de 1800.
Keith é um verdadeiro pensador da iluminação com uma visão utópica, uma das poucas mentes ecumênicas restantes na antropologia. O movimento é sua principal virtude:
Então, o que impediu os estudantes de graduação que eu conheci de se envolverem com o mundo através de Cambridge? A sociedade mundial está sendo formada em nossos dias. Foi quando o mundo se uniu para o bem ou para o mal. Estamos todos conectados através de uma única rede para troca de bens, serviços e informações. Nossa geração descobriu conexão e movimento universais. Só precisamos encontrar as formas de associação que possam utilizá-las.
Em outras palavras, devemos aprender a cuidar da sociedade mundial e não apenas de nós mesmos.
Keith é um “intelectual comprometido”. Ele se tornou um historiador intelectual ao invés de permanecer etnógrafo da África. Isso o levou a escavar a história industrial de Lancashire como uma maneira de entender o sistema de classes em que ele cresceu. Ele passou a entender as sociedades do Atlântico Norte como uma rede ‘cubista’: “A África Ocidental parecia familiar: era uma sociedade antiga, como a Grã-Bretanha, onde as pessoas sabiam quem eram. A América era nova, mas eu ainda não havia digerido seu significado. O Caribe foi todos os outros três combinados ”.
Ao sombrear a diáspora africana, Keith atravessou o Atlântico várias vezes, como um pêndulo na história mundial e no desenvolvimento da antropologia.
Keith passou as últimas duas décadas em Paris com uma nova família, mantendo-se altamente móvel. Ele chama isso de “em casa no mundo”. A internet, à qual ele se esforçou bastante, é a máquina que une diferença e distância, o virtual e o real. O eu inventivo encontra a criatividade geral da máquina coletiva que é a web.
Keith Hart viveu uma vida entre e com outras pessoas, de maneira completamente antropocêntrica. Ele pondera suas influências, métodos e objetivos aqui, de maneiras decididamente humanistas.
Referências
Hart, Keith (ed). (2017). Dinheiro em uma economia humana . Nova Iorque, Oxford: Berghahn. [ Links ]
Hart, Keith. (2009). Um antropólogo na revolução mundial, Antropologia Hoje, 25/6, p. 24-25. [ Links ]
Hart, Keith. (1986). Cara ou Corôa? Dois lados da moeda. Homem , 21/4, p. 637-656. [ Links ]
Hart, Keith. (1985). A economia informal. The Cambridge Journal of Anthropology , 10/2, p. 54-58. [ Links ]
Hart, Keith. O banco de memória: uma nova comunidade. Disponível em < http://thememorybank.co.uk/ >. Acessado em 13 de outubro de 2019. [ Links ]
Theodoros Rakopoulos é professor do Departamento de Antropologia Social da Universidade de Oslo. Ele publicou, entre outros livros, Rumo a uma antropologia da riqueza: imaginação, substância, valor (co-editor, com Knut Rio) (2019) e De clãs a cooperativas: terra da máfia confiscada na Sicília (2017).
Knowing Emotions: Truthfulness and Recognition in Affective Experience – FURTAK (RFA)
FURTAK, R. A. Knowing Emotions: Truthfulness and Recognition in Affective Experience. New York: Oxford University Press, 2018. Resenha de: BACKENDORF, Jonas. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.31, n.54, p.972-978, set./dez, 2019.
The discussion about the role of emotions in human life, despite the obvious antiquity of the theme, is quite recent in terms of systematic and autonomous philosophical inquiry. Until very recently, emotions have been viewed, save a few notable exceptions, as mere obstructions to the objective and realistic understanding of the world as it is. Addressing a similar issue, in the middle of the last century, Erich Fromm, for example, ironically describes the curious status of this “realism,” especially in a world where we “have a special word for each type of automobile, but only the one word “love” to express the most varied kinds of affective experience” (2013, p.11). A few years later, arguing for the relevance of deepening our approaches to emotions in order to strike a balance against intellectualist models, Michael Stocker (1958) pointed to the schizophrenic conception of ourselves we were nourishing. His criticism was addressed to those who claim that there should be a division between an impersonal and impartial world of “reasons” that can guide us and the world of affective and personal aspects – which should be hushed up so as not to contaminate the former.
These instances reflect a reality that is constantly being challenged by theorists who, like Stocker, defend and highlight the fundamental role that emotions play in our lives. Rick Anthony Furtak’s Knowing Emotions: Truthfulness and Recognition in Affective Experience is a fine and stimulating example of this recent trend. More than arguing that emotions have a place in the moral construction of a meaningful personal life, the author emphatically maintains the epistemic centrality of emotions in the very revelation of the “external” world as it appears to us. Above all, Furtak seeks to break with a still persistent view of “all or nothing” held by cognitivists and non-cognitivists, arguing that emotions are both viscerally constituted and cognitively instructive.
The author is associate professor of philosophy at Colorado College. Knowing Emotions is his fifth book, the second to specifically address the issue of emotions – the first is “Wisdom in Love: Kierkegaard and the Ancient Quest for Emotional Integrity”, published in 2005.
Knowing Emotions: Truthfulness and Recognition in Affective Experience is structured in seven chapters, divided into three large parts, as summarized below.
Chapters one (“The Intelligence of Emotions: Differing Schools of Thought”) and two (“What the Empirical Evidence Suggests”), which constitute the first part of the text (THE RATIONAL AND THE PASSIONATE), provide an overview of the debate between cognitivists and non-cognitivists about emotions – a debate that delimits the central aspects of all subsequent arguments of the book – using both conceptual clarifications and empirical evidence. According to Furtak, cognitivist theories of emotion are those which defend that intentionality has a decisive role in the composition of our affective expressions (p. 7): an emotion such as anger, in this sense, can only be understood as such to the extent that it is “anger of” something, someone, and so on (pp. 7-8). This “intrinsically intentional” component (p. 75) leads to the idea that emotions have their own intelligence and are epistemically fundamental: “our affective experience is our mode of access to significant truths about what concerns us” (p. 14). Non-cognitivist theories, in turn, conceive emotions primarily as somatic or physiological components for which intentionality is merely a contingent aspect, so it would be unwise on our part to rely on emotions (pp. 16-7).
The author highlights the mistake of assuming a closed attitude on either side. But it does not mean that seeking a “middle path” capable of reconciling the two positions is the most appropriate posture (p. 21). He argues instead that the affective experience concerns two aspects that are only “conceptually separable” in so far as they concretely concern a type of “unified response” (pp. 19-20). The author’s main effort, however, is to oppose, from the outset, non-cognitive postures, which he considers more distant from his ideal, particularly because of the non-cognitivist’s tendency to regard emotions as no more than “physiological disturbances” ( p. 1). In contrast, Furtak suggests that emotions are at the same time “necessarily” composed of “certain feelings of physiological or bodily activity” and “necessarily” composed of “a cognitive impression – which may be accurate or inaccurate” (p. 18).
In the discussion about empirical support, especially neuroscience, António Damásio’s and Joseph LeDoux’s works are presented as emblematic postures of cognitivism and noncognitivism, respectively. Noteworthy in this discussion is Furtak’s critical and contrary stance in relation to fragmented and reductionist science models, such as the neurological works that seek to reduce our experience to this or that brain space (or even to equate our emotional reactions with those of rats, as does LeDoux) (pp. 29-30), as well as in relation to the hasty generalizations that many philosophers, in wanting to empirically sustain their theories, draw from these very limited scientific works (pp. 30-1). A negative aspect of this first part of the book is the lack of depth in the author’s presentation of the non-cognitivist version he aims to oppose, reducing it to some remarks about one or two passages by William James (p. 15-7).
The second part (ON REASONABLE FEELINGS AND EMBODIED COGNITION), wich comprises chapters three (“Feeling Apprehensive”) and four (“Emotions as Felt Recognitions”), discusses the arguments that favor the detached cognitive and epistemic role of our emotions in establishing salient and significant aspects of our experiences with the world: a model that the author defines as “a modified cognitivism” (p. 90). Here the author’s criticism of non-cognitivists is stronger, suggesting that their positions eventually trivialize emotions “and encourage us not to take their content seriously”, “just because they are not reflective judgments, not impersonal, not subject to voluntary control” (p. 97-8). Against this flawed model, Furtak argues that our affective life is deeply responsible for our sense of reality as a whole (p. 98). Without emotions, he argues, we would not be able to perceive a wide range of truths and distinctions that are fundamental to our life and our understanding of things. “A ‘dispassionate thought’ of loss or danger, without any feeling of grief or fear, is cognitively defective” (p. 74). To understand this, we must first of all reject the idea that the world can be understood by us with neutrality (p. 94); insofar as we are made of a specific organism, what we learn from the world is inseparable from the characteristics of that organism, and our affective reality is a fundamental part of who we are.
Noteworthy in part 2 is the author’s discussion of emotions conceived as irrational affective responses, as in cases of phobia and so-called “recalcitrant emotions” (e.g. the person who is afraid of public speaking even though he or she knows that there is no reason for it) (p. 54). Non-cognitivists argue that these cases demonstrate the irrationality of emotions, since in “each of these cases, a person’s felt emotions are at odds with the beliefs that he or she consciously affirms” (p 55). From a series of considerations about the real meaning of “knowing” something, Furtak argues that, in fact, the problem in these cases is not that emotions are at odds with cognition, but that cognition itself, which must be seen in a gradual sense (and not “binary one-or-zero matter” (p. 60; 62)), has not yet reached a satisfactory degree of reflexive clarity. In this sense, though a person who is afraid of public speaking may not believe that the public threatens her, she may still believe that she can have problems in her speech (and she cares about it). That is, as much as she verbalizes that she is convinced that there is no cause for concern, she nonetheless maintains cognitive components contrary to this assertion (p. 56).
In support of this thesis, Furtak presents some of the most interesting passages of the book, like when he discusses the case of Proust’s protagonist. Here, even though the protagonist had long known of his grandmother’s death, he only acknowledges this situation when he visits the house where he had lived with her for a long time, he realized, in fact, that she was no longer there.
Although in one sense the narrator already knew of his grandmother’s death, he did not know it perfectly well. The full significance of her death does not register in his awareness until this later moment. It is only now, “a year after her burial,” that “he learns that she is dead,” as Samuel Beckett comments. “For the first time since her death he knows that she is dead, [and] he knows who is dead.” (p. 70)
The third, longest, and last part of the book (THE REASONS OF THE HEART) consists of chapters five (“On the Emotional A Priori”), six (“Love’s Knowledge; or, The Significance of What We Care About”) and seven (“Attunement and Perspectival Truth”), and details the author’s personal positions on the wisdom of our affective constitution. In the first chapter, the author argues in favor of what he called “emotional a priori”, the “affective dispositions”, which would constitute the background (the most enduring and persistent affective component), the sine qua non condition, which enables the manifestation of episodic emotions (pp. 105-6) discussed throughout the first two parts of the book (p. 107).
In this same chapter, he also discusses “how” these affective dispositions foster episodic emotions. The “emotional a priori”, according to Furtak, is basically constituted by “love, care, and concern” (p. 105). According to him, these basic concepts are relevant because it is through them that we engage, not just with this or that activity, person or thing, but with the world as a whole. Quoting Max Scheler, Furtak states that “love provides the foundation for every sort of knowing” (p. 108).
This third part may contain the greatest virtues and, at the same time, the greatest problems of the book. On the one hand, Furtak makes us realize how limited or even empty our conscious rationality is when not substantiated or embodied. He argues that even activities allegedly free from any affective interference, such as the empirical sciences (p. 177), are also charged with prior valuation, which in turn depends not on rationality itself, but on the visceral, affective importance that certain things (at the exclusion of endless others) have for us as beings endowed with a specific and corporeal nature. Without this visceral component, quoting James, “no one portion of the universe would then have importance beyond another; and the whole collection of things and series of its events would be without significance” (p. 141). Therefore, if we were guided solely by this idea of a neutral and abstract reason, not only would our subjective life lack any significance and meaning, but also the very understanding of reality external to us. We do not address the world “outside” with neutrality. Whenever we
engage with it, we select certain things that have some special value to us by virtue of our preferences, and this selection is itself a break with the supposed neutrality.
One of the problems of this part, if I see correctly, has to do with the ease with which the author starts from this visceral conception, moves through affective aspects and arrives at very abstract instances such as the interest in my neighbor’s interests (p. 130), all this without clearly showing how these instances are implicated. I fully agree with the view that rationality itself is incapable of giving meaning and flavor to life and to relations with the world. But I am not convinced that this other component, capable of filling the gap left by reason, is the triad that makes up the author’s “emotional a priori”. His basic argument, in fact, insofar as it rests on notions such as being “sentient beings” (p 142) endowed with a certain bodily constitution (p. 167) or a certain organism (p. 36), could more easily authorize a naturalistic theory based on crude concepts such as selfish biological needs (which may also fulfill the criteria presented by Furtak as essential so that the world does not seem to us completely indifferent).
For instance, the author tells us: “underlying affective dispositions function as the lenses through which we view the world: without them, we could not discern the meaning or value of anything whatsoever” (p. 113) and adds: “If we find the world to be charged with value, this is because we are ‘always already’ loving or caring beings” (p. 124). Now, that the world has “meaning” or “value” for beings like us, it does not follow that, as a condition, we love the world. An overly greedy person will see, through her distorted lenses, value in material things, but that does not mean she loves them. Likewise, an explanation tied to a certain kind of evolutionary theory might say that things are valuable to us simply in that they facilitate, for example, the perpetuation of our genes.
Furthermore, even if we accept, as Furtak claims, that it is indeed emotions that guide us and reveal to us the truths that disembodied reason cannot, we would still lack a careful explanation of what separates true or genuine emotion from a false or treacherous one. Furtak certainly does not ignore that such a distinction exists, but his exposition in Knowing Emotions does not address this important issue. He rightly tells us that “if we could validate our emotional responses only by appealing to universal consensus, then it would follow that my
grief upon the death of someone whom I knew and appreciated as no one else did would qualify as irrational” (p. 180- 1). But this is only true for a specific set of emotional responses, and certainly not for cases in which the same argument is used to validate neurotic feelings and emotions of all kinds. The very idea of love is perhaps one of the most mistreated by this lack of discrimination, and is usually confused with less noble manifestations such as affective dependence, sexual desire and possessive fixations. In holding that our emotions occupy such a central place in our lives and that we must trust them, it is necessary to present a consistent criterion, or set of criteria, capable of showing why the affections and emotions of a sadistic or a neurotic person are distinct from those we consider worthy of affirmation and trust.
This, however, does not detract from the brightness and vigor of Furtak’s text. Above all, I find his basic proposal to break with dichotomous attitudes toward emotions quite potent, as well as his argumentation for the incapacity of (supposedly) neutral rationality to guide us wherever we are.
Referências
FROMM, E. The Forgotten Language. An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales, and Myths. New York: Open Road Media, 2013
STOCKER, M. The Schizophrenia of Modern Ethical Theories. The Journal of Philosophy, Vol. 73, No. 14 (Aug. 12, 1976), pp. 453-466
Jonas Backendorf – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. Doutorando em Filosofia pela UFSM. E-mail: jonasb90@hotmail.com
[DE]
Heterocronias: estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos | Marlon Salomon
[…] o tempo é quanto dura um pensamento –
Clarice Lispector, Água viva.
Heterocronias: estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos, lançado em 2018, é um livro que apesar de suas muitas vozes possui uma sintonia. Aliás, é uma obra que através de suas muitas vozes alcança a sintonia. O livro é composto por doze estudos, uma entrevista com o filósofo Jacques Rancière e a tradução de um texto de Bachelard, ainda inédito em língua portuguesa – um dos inauguradores deste problema da multiplicidade temporal. Ao todo, são quatorze vozes diferentes ressoando; de historiadores e filósofos, brasileiros e estrangeiros.
A obra contrapõe-se a uma imagem-identidade de tempo já criticada pela filosofia e pela história desde o entreguerras, no entanto, essa crítica será mais desenvolvida na história a partir das décadas de 1970 e 1980, e que persiste ainda em ser pensada em diversos campos do saber dessa mesma maneira: um tempo fluido, linear, contínuo, cumulativo, sincrônico, único, progressivo. Seus estudos evidenciam a realidade de um tempo pensado, sentido e vivido como um tempo múltiplo, plural, descontínuo, desordenado, não-homogêneo, não-linear. Leia Mais
How language began: the history of humanity’s greatest invention – EVERETT (FU)
EVERETT, Daniel L. How language began: the history of humanity’s greatest invention. New York: Liveright Publishing Corporation, 2017. Resenha de: BRAGA, Viviane Zarembski. Nenhuma linguagem é uma ilha: a história da maior invenção humana. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.20, n.3, p.293-297, set./dez., 2019.
No language is an island: the history of humanity’s greatest invention
Erectus societies had culture. From the very first, humans, with their larger brains and new experiences, built up values, knowledge and social roles that allowed them to wander the earth. And from these cultures built more than 60,000 generations ago we emerged. Our debt to Homo erectus is inestimable. They were not cavemen. They were men, women and children, the first humans to speak and to live in culturally linked communities (Everett, 2017, p.290).
Daniel Everett é um linguista estadunidense, e seu último livro, How language began, apresenta resultados de anos de estudos junto à comunidade indígena Pirahã, na Amazônia. O principal objetivo do livro é o de apresentar a linguagem como uma das mais importantes ferramentas utilizadas pelos seres humanos, desenvolvida e aperfeiçoada por mais de um milhão de anos pela espécie humana. Com est a hipótese, Everett quer refutar a teoria chomskyana acerca do surgimento da linguagem, o que o faz est ar em permanente confronto com Chomsky e seus seguidores. Everett iniciou seu trabalho na Amazônia em 1977, como missionário. Seu objetivo inicial era o de catequizar os índios e traduzir a Bíblia para o idioma Pirahã. Para ter acesso à aldeia, contudo, Everett precisou se filiar a uma instituição brasileira e começou um mestrado na Unicamp. Após algum tempo convivendo com os índios – ele mudou-se para a Amazônia com a esposa e três filhos pequenos –, Everett passou a dedicar mais tempo ao estudo da cultura e língua Pirahã e menos tempo à catequização e tradução da Bíblia. Ele abandonou tanto a tarefa missionária quanto a vida religiosa. Hoje, Everett ainda passa boa parte do ano na Amazônia, realizando estudos de campo.
Everett acredita que o idioma Pirahã nos apresenta indícios para refutar a teoria chomskyana e aceitar o fato de que a linguagem, como outras características do Homo sapiens, desenvolveu-se ao longo dos anos, culminando na linguagem complexa que nossas sociedades hoje desenvolveram. Segundo ele, Chomsky ignora a teoria darwiniana e apresenta um argumento circular, não dizendo nada sobre a evolução dos símbolos, gestos e ícones e apresentando uma alteração genética súbita para a capacidade da recursividade. Outro ponto a destacar é que a teoria chomskyana não coloca a comunicação como aspecto principal da linguagem. Os animais se comunicam de diferentes maneiras, mas somente os humanos desenvolveram estruturas dependentes de regras para realizar est a comunicação.
Pesquisas dão evidências da existência da linguagem no Homo neanderthalensis, mas Everett acredita que os neandertais herdaram a linguagem de seus ancestrais. Para ele, a linguagem já é usada há mais de 60 mil gerações, tendo seu início no nosso ancestral Homo erectus, há mais de um milhão de anos. O Homo erectus foi o pioneiro em diversos aspectos humanos além da linguagem, como a cultura e a migração humana. Segundo Everett, o domínio do fogo, as migrações, as ferramentas e os indícios culturais apontados por pesquisas fazem com que se remeta a origem da linguagem ao Homo erectus. A linguagem foi o que possibilitou a troca de informações, planejamento e transmissão de conhecimento para futuras gerações, o diferencial e a vantagem da espécie humana sobre todas as outras espécies da terra.
Aparato vocal: a fala como uma função do corpo inteiro
Um dos aspectos apontados por Everett para sustentar sua hipótese diz respeito ao aparato vocal dos humanos. Não nascemos com um modelo mental para a gramática. As semelhanças entre as diferentes linguagens ocorrem por um processo histórico individual, e não por um gene específico para a linguagem. Além disso, não há “um” órgão humano dedicado à linguagem. Temos diversos órgãos que estão envolvidos no processo de fala, cuja função principal é outra:
There are three basic parts to human speech capabilities that evolution needed to provide us with to enable us to talk and sing as humans do today. These are the lower respiratory tract, which includes the lungs, heart, diaphragm and intercostal muscles, the upper respiratory tract, which includes the larynx, the pharynx, the nasopharynx, the oropharynx, the tongue, the roof of the mouth, the palate, the lips, the teeth and, most importantly by far, the brain (Everett, 2017, p.175).
Como em outros processos evolutivos, a evolução “aproveitou” um órgão já existente e o adaptou para uma nova demanda. Nem mesmo o cérebro possui um local cuja função única seja a linguagem. A única exceção a est a regra pode ser encontrada na forma e posição da língua. Isto parece ser uma evidência de que a linguagem é, antes, uma criação humana, proporcionada pela cultura, do que uma função biológica. A biologia possibilitou que os humanos desenvolvessem est a habilidade, mas não pode ser vista como uma “oferta” biológica aos humanos, já que a linguagem é uma função do corpo todo, incluindo gestos, entonação, aspectos culturais e mesmo aspectos relacionados ao meio ambiente:
[…] each unit of sound is built up from smaller units via natural processes that make it easier to hear and produce sounds of a given language. Our sound structures are also constrained by two other sets of factors. The first is the environment. Sound structures can be significantly constrained by the environmental conditions in which the language arose – average temperatures, humidity, atmospheric pressure and so on. Linguists missed these connections for most of the history of language, though more recent research has now established them clearly. Thus, to understand the evolution of a specific language, one must know something about both its original culture and its ecological circumstances. No language is an island (Everett, 2017, p.211).
Everett acredita que os humanos inventaram a linguagem, motivados por sua forma de vida e interação social. O desenvolvimento do cérebro, obviamente, foi decisivo para tornar possível est a invenção.
Cérebros humanos estão conectados
O grande e denso cérebro dos humanos possibilitou a invenção da linguagem. A combinação entre um cérebro grande e a cultura é o que explica por que só os humanos possuem a capacidade da fala. Everett afirma que os humanos conseguiram desenvolver o cérebro não apenas com uma alteração biológica, mas também com uma alteração cultural, visto que os humanos passaram a cozinhar os alimentos, fazendo com que necessitassem de menos tempo para a digestão, podendo dedicar est e tempo e energia a outras tarefas. Além disso, o tamanho da comunidade à qual um indivíduo pertence afeta o tamanho do cérebro deste indivíduo. Everett (2017, p.131) cita Robin Dunbar e afirma que quanto mais o grupo cresce, mais o córtex humano se desenvolve. Isto ocorre porque os cérebros estão conectados, fazendo com que a cultura “aumente” nosso cérebro. Os cérebros estão não somente conectados com nossos corpos evolutiva e fisiologicamente, mas também conectados com outros cérebros por meio da cultura. Conforme Everett, est e é mais um indício de que a linguagem não pode ser uma característica inata dos indivíduos, mas uma ferramenta desenvolvida e aprendida culturalmente:
Because culture can change the form of the brain, and since there is no knowledge of any cognitive function that is innate to a specific location in all brains, the difficulty of using arguments from cerebral organisation or anatomy for the idea that language is innate is clear. And it is equally implausible to claim that specific regions of the brain are genetically specialised for specific tasks. The brain uses and reuses its various areas in order to accomplish all of the challenges that modern humans confront. Evolution has prepared humans to think more freely than any other creature by giving them a brain capable of learning culturally rather than one that relies on cognitive instincts. From one vantage point, localisation in the brain is trivial. Everything we know is somewhere in our brain. Therefore, finding that this or that kind of knowledge is located in a specific part of the brain is not evidence for innate knowledge (Everett, 2017, p.141).
Esta capacidade de aprendizado presente no cérebro humano nos possibilitou pensar de maneira flexível, preparando-nos para qualquer situação, em contraste com as reações instintivas dos outros animais. Isto tornou os humanos mais aptos à sobrevivência que qualquer outro animal. Esta explicação para o aparecimento da linguagem parece ser, para Everett, mais plausível de ser favorecida pela seleção natural. Os animais que possuíam est a habilidade passaram por um genuíno efeito Baldwin, pois tinham maior capacidade de planejamento e pensamento complexo, facilitando a sobrevivência da espécie e possibilitando o desenvolvimento, no decorrer de anos, de uma linguagem complexa. Uma alteração genética, como um gene para a linguagem, poderia ser tratada pela seleção natural simplesmente como uma mutação neutra, podendo ser alterada ou eliminada por meio do efeito Baldwin, de uma deriva genética ou de um gargalo populacional. Em vez de ser eliminada, a linguagem foi se tornando mais complexa ao longo dos anos, mas sua forma e complexidade podem variar, de acordo com o período ou local em que dada comunidade vive.
Linguagem: holística e multimodal
Para Chomsky, a linguagem necessita de recursividade gramatical. Em seus estudos com a comunidade Pirahã, contudo, Everett observou que a língua Pirahã não utiliza o recurso da recursividade nem uma estrutura gramatical complexa, apesar de suprir todas as necessidades daquela tribo. Por causa disso, ele afirma que a linguagem é uma combinação de vários fatores e a gramática dá forma e estrutura um conjunto de informações, auxiliando para que uma mensagem seja passada, mas não é, por si só, linguagem. Também não é possível estabelecer em qual etapa da evolução linguística a gramática aparece, mas é certo que, antes dela, devem vir os símbolos. Isto porque, para a linguagem humana, o significado deve vir em primeiro lugar e depois a forma. Segundo ele,
[…] all languages come about gradually. Language did not begin with gestures, nor with singing, nor with imitations of animal sounds. Languages began via culturally invented symbols. Humans ordered these initial symbols and formed larger symbols from them. At the same time symbols were accompanied by gestures and pitch modulation of the voice: intonation. Gestures and intonation function together and separately to draw attention to, to render more salient perceptually, some of the symbols in an utterance – the most news-worthy for the hearer. This system of symbols, ordering, gestures and intonation emerged synergistically, each component adding something that led to something more intricate, more effective (Everett, 2017, p.XVII).
Símbolos são, portanto, o ponto central para a compreensão da evolução da linguagem humana. Eles moveram os humanos até as linguagens complexas que utilizamos hoje. A passagem de um ícone a um símbolo, entretanto, é uma passagem “não natural” para Everett:
This step requires human invention. Evolution did not create symbols or grammars. Human creativity and intelligence did. And that is why the story of how language began must also be about invention rather than about evolution alone. Evolution made our brains. And humans took over from there (Everett, 2017, p.18).
Everett destaca que a linguagem é uma convergência de diferentes aspectos: invenção humana, história, evolução física e cognitiva. Por isso deve ser compreendida levando em consideração não somente os aspectos biológicos e fisiológicos, mas também os aspectos culturais e ambientais envolvidos. Ele também afirma que a linguagem é holística e multimodal. Isto significa que
Whatever a language’s grammar is like, language engages the whole person – intellect, emotions, hands, mouth, tongue, brain. And language likewise requires access to cultural information and unspoken knowledge, as we produce sounds, gestures, pitch patterns, facial expression, body movements and postures all together as different aspects of language (Everett, 2017, p.230).
Uma comunicação humana real deve est ar sempre composta por gestos e fala, já que eles formam um sistema integrado. Os gestos facilitam a compreensão da mensagem a ser passada, visto que a fala, por si só, nunca consegue expressar completamente todos os aspectos necessários em um enunciado. O falante sempre precisa se valer de gestos, entonação, expressão facial e de uma série de conhecimentos prévios, bem como pressupor conhecimentos prévios do seu interlocutor. “But something is always left out. The language never expresses everything. The culture fills in the details” (Everett, 2017, p.201).
Língua: serva da cultura
A comunicação é comum a todos os animais. O diferencial da comunicação humana se dá pela qualidade com que ela ocorre, ou seja, por meio da linguagem. É ela que distancia tanto os humanos e os outros animais. E ela só é possível devido à cultura. Para Everett, “Language is the handmaiden of culture” (Everett, 2017, p.XVII).
A cultura também contribuiu para nos libertar da nossa condição puramente biológica. Sociedades que se reconhecem por meio de regras e acordos culturais têm mais chances de perseverar e transmitir seus genes, visto que os indivíduos pertencentes a ela são amparados pelo grupo e não se veem mais pressionados pelas ameaças físicas evolutivas. Um indivíduo mais fraco, que sozinho não teria muitas chances de sobreviver, em uma comunidade que supre suas necessidades biológicas pode prosperar e procriar, transmitindo seus genes a descendentes viáveis. Everett afirma que a seleção natural foi favorável aos humanos, ampliando suas opções cognitivas. Esta liberdade cognitiva nos auxilia no desenvolvimento de habilidades cognitivas e no uso da linguagem. Em diversos momentos do livro, Everett retoma a ideia de que conceitos nunca são inatos, sempre aprendidos. E só podem ser aprendidos porque conceitos fazem parte da cultura, que é uma construção humana. Habilidades perceptivas, por outro lado, são inatas. Ver, ouvir, sentir e algumas emoções são exemplos de habilidades perceptivas inatas que nos auxiliam a apreender conceitos e a interagir com os demais indivíduos. Segundo ele, “Human bodies and brains are enhanced by culture just as culture itself is enhanced by our thinking and language” (Everett, 2017, p.125), o que leva a cultura a afetar não somente nossos comportamentos e inteligência, como também nossa aparência e fenótipo. Por isso,
[…] the most important question about our brains is not ‘What in the brain makes language possible?’ The right question is, ‘How brains, cultures and their interactions work together to produce language?’ The answer is that, over time, each has helped the other to improve. One cannot understand the evolution of language, therefore, without understanding the evolution of culture (Everett, 2017, p.126).
O uso de símbolos, gestos e gramática impulsionou a comunicação humana, mas também sua capacidade cognitiva, possibilitando pensar em conjunto, desenvolver habilidades coletivas e conhecimento sobre o mundo, bem como orientar-se para o futuro.
Todo o comportamento humano est á orientado culturalmente. Os diferentes papéis sociais ocupados pelos indivíduos e reconhecidos por outros são perpassados pela cultura, mesmo aqueles que se consideram universais. Nada do que é compreendido em uma conversação é completamente falado. Nem mesmo os artefatos podem ser compreendidos fora de determinada cultura. Todo o processo do desenvolvimento humano deve ser compreendido levando em consideração o papel da cultura neste processo. No momento da fala, os indivíduos utilizam gestos, entonação, expressão facial e vários outros mecanismos para passar uma informação, contando não somente com toda a sua experiência de vida e conhecimento prévio, mas também contando com que o seu interlocutor se utilize delas para compreender a mensagem. E a mensagem, via de regra, é compreendida prontamente. Isto porque todos dispomos de um conhecimento tácito, chamado por Everett de dark matter.
Dark matter é uma combinação entre cultura e psicologia individual, na qual o indivíduo se utiliza das informações culturais fornecidas para ele, para formar primeiro uma imagem ou percepção de si próprio e, a partir disso, interagir com o mundo. Everett retoma a ideia de dark matter no livro How language began, já que est e conceito é fundamental para compreender a forma como a cultura perpassa a linguagem e constituição dos sujeitos, mas uma definição mais adequada do termo pode ser encontrada no seu livro anterior, Dark matter of the mind:
Dark matter of the mind is any knowledge – how or any knowledge – that that is unspoken in normal circumstances, usually unarticulated even to ourselves. It may be, but is not necessarily, ineffable. It emerges from acting, “languaging,” and “culturing” as we learn conventions and knowledge organization, and adopt value properties and orderings. It is shared and it is personal. It comes via emicization, apperceptions, and memory, and thereby produces our sense of “self” (Everett, 2016, p.26, grifos do autor).
Toda a compreensão humana sobre o mundo é produto da sobreposição de ideias e valores, dark matter. Nossa percepção de nós mesmos, lembranças, posição sexual e nossas ações dentro da comunidade, mas também as leis, arquitetura e todos os objetos feitos e utilizados pelos seres humanos. Apesar de parecer algo estritamente humano, Everett afirma que outros animais, além dos humanos, também possuem o que ele chamou de dark matter. Fez uma comparação com a maneira como os cachorros se comunicam conosco, aprendendo truques, expondo emoções e se comunicando, mesmo sem poder verbalizar est as intenções. Para ele, est a é mais uma prova de que os erectus provavelmente também aprendiam a sua linguagem por meio da interação com outros membros do grupo, principalmente com as mães. Segundo ele,
The relevance of all the above to language evolution is that even Homo erectus, Homo neanderthalensis, Denisovans and Homo sapiens would have – in the gradual construction of relationships, roles and shared knowledge bases – interpreted what people said, from the very first syllable uttered or gesture made, based on their view of the person and their understanding of their context. They would have ‘filled in the blanks’ of speech just as sapiens do. This is all a part of language that many linguists call pragmatics – the cultural constraints on how language is used. And these constraints guide our interpretations of others. They help us, as they helped other Homo species, to resolve the underdeterminacy of speech (Everett, 2017, p.256, grifos do autor).
A linguagem sempre funcionou se valendo da interação com os demais membros do grupo e da sua compreensão mútua acerca dos conceitos. A linguagem só pode ser entendida em conjunto com a cultura e a psicologia, e sua evolução só pode ser explicada levando em consideração est es fatores. Para ele, apesar de muitos cientistas relacionarem o aparecimento da linguagem com a complexidade cerebral e social que o sapiens desenvolveu, é preciso pensar que a linguagem apresenta diferentes níveis de complexidade, que se desenvolve com a complexidade social, mas que continua sendo linguagem mesmo que seja considerada mais “rudimentar”, já que se vale dos mesmos artifícios utilizados por linguagens mais complexas.
Everett nos apresenta uma nova interpretação da evolução da linguagem humana, com alguns indícios que remetem o seu início a um distante ancestral humano. Sua teoria est á em consonância com os estudos atuais e com a compreensão evolutiva que temos acerca dos seres vivos. Por mais que sua explicação pareça mais adequada a uma visão evolutiva do ser humano, ainda faltam provas para validar suas afirmações. O salto de 60 mil gerações apresentado por Everett precisa ser comprovado, já que os indícios apresentados no livro são insuficientes para que possamos conceder também ao Homo erectus a capacidade ou, como sugere Everett, a invenção da linguagem.
Referências
EVERETT, Daniel L. 2016. Dark matter of the mind: the culturally articulated unconscious. Chicago, The University of Chicago Press.
Viviane Zarembski Braga – Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: vivianezbraga@gmail.com
[DR]
DOMINGUES, Ivan. Filosofia no Brasil: legados e perspectivas – ensaios metafilosóficos – DOMINGUES (FU)
DOMINGUES, Ivan. Filosofia no Brasil: legados e perspectivas – ensaios metafilosóficos. São Paulo, Editora Unesp, 2017. Resenha de: CANDIOTTO, Cesar; OLIVEIRA, Jelson. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.20, n.3, p.290-292, set./dez., 2019.DOMINGUES, Ivan.
O livro de Ivan Domingues é uma contribuição ímpar para a discussão em torno da formação da “filosofia brasileira”, aquilo que, grosso modo, envolve a existência de autores, de obras e leitores de temas brasileiros ou ligados ao Brasil. Seu horizonte de leitura não é a “narrativa” daquilo que tem acontecido desde o Brasil Colônia até os últimos 50 anos. Antes, ele é apresentado como uma “metafilosofia”, na extensão da natureza reflexiva da filosofia, autorizando-a a tomar a si mesma como objeto e fazer uma reflexão filosófica sobre a filosofia, uma filosofia da filosofia. O background da obra, como já destacou o professor Oswaldo Giacoia Jr., em resenha recente da obra3, é a atuação acadêmica de Ivan na área de Filosofia, algo que não lhe dá apenas legitimidade para escrever o que escreve do jeito como escreve, mas, sobretudo, conhecimento e vigor argumentativo para recontar a história não na perspectiva do passado, mas com os interesses próprios de nosso tempo. Porque conhece de dentro, Ivan pode relatar o pensamento de forma viva e fecunda. Para contar a história, ele suja as mãos, por assim dizer: contamina-se da história, situa-se nela, sai do texto contagiado por ele, tanto quanto nós, seus leitores, empurrados para o pensamento a respeito das perspectivas e para as perguntas sobre o futuro disso que é a tarefa da filosofia em nosso país. Trata-se de uma empreitada que aproxima o epistemólogo do genealogista que se deixa azeitar pela riqueza argumentativa de sua própria trajetória filosófica, cuja pergunta inicial, como é praxe nesses casos, diz respeito à possibilidade e oportunidade de seu objeto: existiria, afinal, uma filosofia no Brasil? E, em caso positivo, qual a sua identidade?
Tal questão ganha renovada importância quando temos em conta a história de outras disciplinas das ciências humanas, como educação, antropologia, ciências sociais e políticas, cuja contribuição para a elaboração de um pensamento no Brasil (que é também, quase sempre, sobre o Brasil) conta com nomes como Paulo Freire, Florestan Fernandes e Sérgio Buarque de Holanda, entre tantos outros. Formular a interrogação, como faz Ivan, sobre a filosofia no Brasil, por isso, é colocar-se diante da história como quem olha para as raízes de uma árvore florescida, adivinhando seus frutos, para depois, como Ferreira Gullar, ver que “cresce no fruto/ A árvore nova”.
O objeto principal da obra é a filosofia brasileira, ou, especialmente, o problema filosófico da existência ou não de uma filosofia no Brasil que justifique a adjetivação brasileira. Trata-se de uma tentativa exitosa de imprimir às reflexões empreendidas a forma do ensaio filosófico. Fazer filosofia como ensaio e não como narrativa envolve fazer uso da argumentação cuidadosa, da provisoriedade dos resultados, do pensamento não objetual e do risco da tentativa, que inclui erros e acertos. Nesse sentido, o livro segue os rastros metodológicos de Montaigne reafirmados na época contemporânea por Michel Foucault, para o qual a filosofia consiste no exercício do pensamento sobre si mesmo, sendo o ensaio a expressão literária maior desse exercício. Fiel à balança do tempo no qual ele mesmo se pesa, Ivan expressa seu pensamento na forma ensaística como quem recusa a conclusividade fácil, embora também recuse o caminho do meio. O resultado é que seu pensamento age por metástase, contagiando o leitor com o espírito da curiosidade e do interesse que Ivan aciona e pratica na sua melhor forma.
Se a filosofia é um exercício do pensamento, então se trata de sair dela mesma, para tratar sua tentativa de totalização do real. Nesse sentido, Ivan descarta a hegemonia de uma única filosofia sem abrir mão de anunciar linhas e tendências argumentativas, cujos fios servem para costurar a história do pensamento em solo nacional. Essa postura, contudo, implica abrir-se a outras maneiras de pensar, a outros domínios, tais como os da história e da sociologia. Todavia, as considerações históricas, assim também como as sociológicas, fazem parte da argumentação não como objeto de pesquisa, mas como meio e fonte. São fundamentais para a argumentação as considerações sobre a natureza da sociedade brasileira, entre seu passado colonial e o Brasil moderno, entre a sociedade agrário-oligárquica e a urbano-industrial. Tais perspectivas e considerações, contudo, cimentam a estratégia e comparecem no contexto geral da obra como para dar corpo ao desenvolvimento de uma problemática de ordem metafilosófica, que reconhece as condicionalidades nacionais como parte integrante de um pensamento enraizado nas experiências geográficas e históricas da racionalidade filosófica que apareceu na pena de pensadores como Paulo Eduardo Arantes, Henrique Cláudio de Lima Vaz, Silvio Romero, Tobias Barreto e tantos outros.
Para cumprir sua tarefa, Ivan Domingues apoia-se na linguística estrutural a partir de dois procedimentos: os métodos in praesentia e in absentia, sendo que o primeiro perscruta “os elementos empíricos e reais (sociológicos, históricos, políticos e culturais) denominados como positividades; e o segundo, os elementos abstratos – especulativos, ideais e virtuais –, voltados para a ordem das ideias ou do pensamento”. Em poucas palavras, trata-se de estabelecer o contraste entre o método histórico da praesentia e o método lógico ou dialético descolado do real empírico, porém considerado mais operativo para desenvolver o argumento. Outro método associado provém da lógica modal, cuja premissa são os chamados “tipos ideais” de Max Weber, a saber, “constructos mentais ou modelos teóricos” que se revelaram essenciais para vencer a opacidade do real empírico e trabalhar os diferentes tipos ou figuras de intelectuais a que o exercício da filosofia se viu ligado em diferentes épocas de sua formação histórica.
Assim, o livro se desenvolve a partir desse eixo metafilosófico e, complementarmente, de uma tentativa de recontar a história intelectual brasileira a partir dos tipos ideais que o autor busca em Max Weber, para caracterizar os cinco intelectuais brasileiros no campo da filosofia, os quais servem muito bem para a compreensão das etapas históricas que orientaram a filosofia brasileira até nossos dias. Tal intuição, revestida de capacidade sintética e, ao mesmo tempo, quase metafórica, oxigena a obra com fecundo e instigante ineditismo interpretativo.
Dessa maneira, a estrutura do livro é delineada a partir de seis passos: [1] o argumento metafilosófico, que acabamos de sumarizar; [2] o passado colonial e seus legados: temos aí o tipo ideal do intelectual orgânico na igreja; [3] Independência, império e república velha: o intelectual estrangeirado; [4] os anos 1930-1960: a instauração do aparato institucional da filosofia: os fundadores (departamento de ultramar), a transplantação do scholar e o humanismo intelectual público; [5] os últimos 50 anos: o sistema de obras filosóficas, os scholars brasileiros e os filósofos intelectuais públicos ligados aos partidos e às questões nacionais; [6] conquistas e perspectivas: os novos mandarins e o intelectual cosmopolita globalizado.
A partir dessa estrutura, o autor situa a atividade filosófica na tensão entre dois aspectos que se complementam entre si: de um lado, essa atividade é uma techné, para não dizer um métier, composto pelo desenvolvimento de certas habilidades e competências, a frequentação e o trabalho dos textos. Pensada desta maneira, a atividade filosófica seria semelhante à do scholar, enfocado na exegese e na história da filosofia, e, nesse sentido, ela não seria diferente de outras áreas, como a da filologia e a da história. De outro lado, a atividade filosófica é um ethos, a saber, uma atividade reflexiva e questionadora da realidade, quando deixa de manter com o real e o empírico a mesma atitude reverencial da ciência. O ethos é o gosto pela discussão, pelo cultivo do espírito crítico, experimental e intuitivo, e, nesse sentido, podemos dizer que a alma desse livro, além de outros elementos importantes, é pensar a questão do ethos do filósofo ou do intelectual brasileiro.
Como se trata de uma tentativa de pensar os legados e perspectivas da filosofia brasileira, o ensaio aposta na estratégia do “paradigma de formação” para identificar o legado e da “pós-formação” para vaticinar as perspectivas. Nesse sentido, Filosofia no Brasil segue os passos dos chamados “pensadores do Brasil” (atente-se que não se trata dos “filósofos do Brasil”), como Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Antonio Cândido, Celso Furtado, Raymundo Faoro, Paulo Arantes (e est a lista poderia continuar), que evocam em seus títulos e subtítulos esse paradigma da formação.
Para quem conhece outros trabalhos de Ivan Domingues, est e livro é a continuidade de O continente e a Ilha, no qual ele elabora um contraste entre a filosofia continental europeia e a filosofia anglo-saxã, uma mais voltada para a história da filosofia, outra mais próxima da filosofia analítica. Essa dupla face europeia tem tido repercussões na filosofia no Brasil, entre, de um lado, os chamados analíticos e, de outro, aqueles mais dedicados à filosofia e sua história. Filosofia no Brasil indica a fragilidade dessas grandes distinções, mostrando que, mesmo na tradição franco-alemã, há dois caminhos: o de Hegel, que privilegia uma perspectiva histórico-sistemática (“fazer história da filosofia”, como já encontramos em Cassirer), e outra de Foucault, para o qual fazer filosofia é apostar no ensaio, no fragmento e em um canteiro de obras.
A tensão proposta e desenvolvida por Domingues, assim, dá bons frutos, porque na medida em que lê o livro, o leitor situa-se no campo das interdisciplinaridades sem tirar um pé das características filosóficas propriamente ditas, compreendendo a intelligentsia brasileira como um produto controverso e tensional, para o qual pouca gente se dirigiu com a coragem de Ivan, dados os desconfortos que mais intimidaram do que promoveram um debate tão necessário como o que, agora, esse livro evoca – destaque-se o “agora” que dá ao livro uma vocação inédita, mas, sobretudo, o situa no tempo que é o nosso, no qual a filosofia no Brasil se encontra com novos dilemas, ameaçada por antigas mordaças ressuscitadas por certa perseguição aos intelectuais e pelo culto à vulgaridade do pensar, corroído pela assimilação tendenciosa dos modernos meios de comunicação, pelas predisposições fanáticas, pela desinformação e pelas desverdades.
Um livro, assim, sobre a filosofia no Brasil não poderia chegar em hora mais apropriada, quando somos todos convidados a prestar nova atenção à realidade que nos cerca, seus recuos históricos, suas discursividades forjadas pela indústria da desinformação, sua hipérbole de emotivismo que forja e brame narrativas em busca de impacto (leia-se, “likes” e coisas do gênero), sua preguiça diante do pensamento crítico em benefício de um nefasto desejo de ordem, educação moral e cívica. Com seu livro, Ivan Domingues torna o problema novamente atual: de onde viemos e para onde vamos, como filósofos no Brasil? Uma pergunta que, assim, bem formulada, torna-se também deliberadamente perigosa, porque retoma o papel da filosofia como uma espécie de protesto contra a indiferença do pensar. É essa provocação visceral que o leitor dessa obra precisa aceitar, as novas gerações em especial.
Notas
1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Rua Imaculada Conceição, 1155, 80215-901. Curitiba, PR, Brasil. Email: ccandiotto@gmail.com.
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Rua Imaculada Conceição, 1155, 80215-901. Curitiba, PR, Brasil. Email: jelson.oliveira2012@ gmail.com
3 Kriterion, Belo Horizonte, n.140, ago. 2018, p.631-636.
Cesar Candiotto – Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, PR, Brasil. E-mail: ccandiotto@gmail.com
Jelson Oliveira – Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia. Universidade Católica do Paraná. Curitiba, PR, Brasil. E-mail: jelson.oliveira2012@gmail.com
[DR]
A 500 años del hallazgo del Pacífico: la presencia novohispana en el Mar del Sur | Carmen Yuste López, Guadalupe Pizón Ríos
A despeito dos aspectos artificiais e anacrônicos, datas “redondas” de determinados eventos são marcadas pelo aumento do interesse por parte do grande público, dos meios de comunicação e do mercado editorial, gerando publicações, encontros acadêmicos e cerimônias oficiais. Tomando o México como exemplo, podemos citar as comemorações realizadas em 2010 pelo bicentenário do início do processo de independência e os cem anos da Revolução Mexicana, que geraram programas de televisão, a construção de monumentos, celebrações realizadas pelo Governo Federal em todo o País, além do envio de dezenas de milhares de livros de história e bandeiras nacionais para os lares mexicanos. Eventos da mesma magnitude estão previstos para ocorrer em 2021, envolvendo os 700 anos de fundação da cidade asteca de MéxicoTenochtitlán, os 500 anos de sua conquista pelas forças lideradas por Hernán Cortés e os 200 anos da independência mexicana.
Entre essas duas grandes celebrações nacionais, outra efeméride passou praticamente despercebida, mas gerou interessantes reflexões no âmbito acadêmico. Em 1513, uma expedição comandada por Vasco Núñez de Balboa pela região do atual Panamá alcançou o Mar del Sur. O contato europeu com os limites a oeste do Novo Mundo e com o Oceano Pacífico foi fundamental para a compreensão dos desdobramentos da presença espanhola não apenas no continente americano, mas também no seu estabelecimento na Ásia. Segundo Carmen Yuste López e Guadalupe Pinzón Ríos, esse feito teria reacendido na Coroa espanhola o sonho anteriormente perseguido por Colombo de obter acesso às míticas riquezas que se escondiam no Oriente em locais como Catay e Cipango. Leia Mais
Inovar o ensino e a aprendizagem na universidade – IMBERNÓN (EA)
IMBERNÓN, Francisco. Inovar o ensino e a aprendizagem na universidade. São Paulo: Cortez, 2017. 128 p. Resenha de: GOULART, Sheila Fagundes; BOLZAN, Doris Pires Vargas. Inovação e protagonismo na universidade. Em Aberto, Brasília, v. 32, n. 106, p. 191-195, set/dez. 2019.
O filósofo espanhol Francisco Imbernón lançou, em 2012, a obra Inovar o ensino e a aprendizagem na universidade, cuja temática é a qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem desenvolvidos em instituições de ensino superior. O autor busca alternativas ao modo tradicional de transmissão do conhecimento acadêmico e social ao apresentar sua argumentação acerca do aprimoramento da educação realizada nessas instituições. Ele prescreve um caminho a ser trilhado pelo professor universitário, a fim de que consiga transformar a aula “transmissora de conhecimento” em uma aula “magistral”, incentivando a participação dos alunos nas propostas de seu trabalho pedagógico.
Ao longo dos 19 capítulos, Imbernón nos leva a visualizar a importância dos métodos e das técnicas para a qualificação do processo de ensino desenvolvido nas universidades. O autor pontua a necessidade de uma mudança no sentido da transmissão de conhecimentos acadêmicos e sociais, exigindo que o estudante assuma o protagonismo deste processo ao realizar uma aprendizagem “ativa”. Nessa direção, percebemos três focos convergentes, que são priorizados para a inovação do ensino: o primeiro está na aula expositiva e na importância em torná-la “magistral”; o segundo apresenta o estudante como um “ser” capaz de mobilizar a prática docente; e o terceiro, por fim, trata da formação e do desenvolvimento profissional do professor. Aqui podemos afirmar que a organização do ensino implica um evidente compromisso com a aprendizagem, uma vez que o reconhecimento das demandas da dinâmica pedagógica pode favorecer os processos de aprender dos estudantes.
Partimos do ponto em que Imbernón lança a hipótese de que o envolvimento dos estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem os torna capazes de consolidar conhecimentos de forma significativa. Assim, a aprendizagem passiva apontada pelo autor – cujo centro do processo é o professor – precisa transformarse em aprendizagem interativa, na qual o estudante assume também o protagonismo no ensino, colocando-se como participante cooperativo na aula ministrada pelo docente.
Para que esse processo de ensino se torne significativo, o professor precisa se desprender da ideia de que o domínio científico do conteúdo que oferta garante uma aula expositiva ou magistral capaz de levar o estudante a estabelecer relações entre o que aprende na universidade e os desafios do mundo na contemporaneidade.
Assim, uma aula expositiva permite a interação entre alunos e destes com seus professores. Esse processo interativo e mediacional é capaz de promover a interlocução no espaço pedagógico, motivando-os a trabalharem e a refletirem sobre os conteúdos desenvolvidos, de modo que suas competências e suas habilidades sejam aprimoradas ao extremo. Nesse modelo de aula proposto pelo autor, a argumentação e a explicação são componentes de destaque. A argumentação, segundo Imbernón, é um modo de explanação do conteúdo científico que pode levar o estudante a alcançar saberes distintos daqueles que tinha, chamados, comumente, de conhecimentos prévios. Tais conhecimentos se desenvolvem juntamente com os conhecimentos atitudinais e procedimentais. A explicação, por sua vez, pode ser considerada como a forma “adequada” de argumentar, ou seja, ela é a própria didática. Nesse sentido, podemos afirmar que a relação conteúdo e forma constituise em duas faces do processo de ensino.
Com início, desenvolvimento e conclusão, a aula expositiva rompe com a inércia estabelecida pela visão de uma atividade transmissora de conhecimento.
Por meio de perguntas, exemplos, mudanças de assunto, recursos variados, o professor estabelece uma relação de reciprocidade com os estudantes. O início de uma aula magistral deve apresentar elementos que envolvam os estudantes, despertando-lhes o interesse sobre o assunto que ainda não conhecem ou dominam.
Para que tenham o desejo de apropriar-se do conteúdo a ser trabalhado e, também, para que organizem a temática a ser desenvolvida, os estudantes precisam ser mobilizados a se envolverem nas atividades de ensino propostas pelo professor. Este, por sua vez, tem a incumbência de inquietar o aluno por meio de questionamentos e problematizações, despertando a curiosidade e a imaginação necessárias ao processo de aprendizagem. Nessa primeira etapa, Imbernón desenvolve os conceitos de retroação positiva ou descritiva, retroação avaliativa e efeito primazia como elementos orientadores da estruturação inicial da aula. Ao destacar esses conceitos, leva-nos a refletir sobre a importância de valorizarmos o estudante, colocando-o como corresponsável pelo êxito da sua formação, pois um modo de organização que faz o estudante interessar-se pelo processo de aprendizagem resulta no reconhecimento da necessidade de construir novos saberes acadêmicos e sociais.
O desenvolvimento de uma aula é considerado a parte central de todo o processo. Nesse momento, o professor precisa estar atento a sua turma, uma vez que é necessário considerar o tempo e o modo como cada estudante se mobiliza para aprender. Além disso, ao apontar possibilidades de elaboração do conhecimento, cria condições para que o grupo compreenda o assunto tratado, tendo nas atividades um suporte para seu trabalho. Por fim, o encerramento da atividade precisa ser realizado com tranquilidade e sintetizar o que foi trabalhado na aula magistral.
Ainda no primeiro foco, há pequenos capítulos que problematizam as normas de conduta adotadas por professores, destacando a aula expositiva como um processo de comunicação que existe em função da relação professor-estudante. Há também a definição de pautas para a elaboração de um roteiro de aula. A primeira pauta apontada por Imbérnon é a “análise da situação de comunicação”, que incide na observação do contexto em que a aula magistral será desenvolvida; já a segunda, chamada de “delimitação do tema e coleta de informações”, consiste na delimitação do assunto a ser trabalho e na busca por dados que auxiliem em seu desenvolvimento.
Por último, o autor destaca que, para a “elaboração do plano” de aula, é necessário refletir acerca do que queremos que os estudantes aprendam, sobre o quanto eles podem aprender e como podemos facilitar essas aprendizagens.
Em nossa categorização, pontuamos o papel do estudante como o segundo foco tratado por Imbernón. Nos capítulos que compõem a metade da obra, o autor explicita as estratégias para a participação dos alunos em sala de aula, o trabalho em grupo como uma possibilidade metodológica e o estudante como mobilizador do trabalho docente. Esses pontos fomentam a ideia de que as instituições de ensino superior devem primar por aulas nas quais as competências e as habilidades sejam desenvolvidas em detrimento da memorização e da repetição mecânica. Cabe salientar que, segundo o autor, não há modelos metodológicos bons ou ruins, mas práticas de sucesso ou não, realizadas com base em determinado modelo. Nesse sentido, o que importa são as concepções de ensino e de aprendizagem de cada professor. Portanto, o docente precisa revisitar suas concepções a respeito da formação para propor aulas motivadoras, capazes de incentivar a criatividade e a autonomia do estudante. Outro aspecto que precisa ser considerado nesse processo é a perspectiva de inovação pensada a partir da transformação dos modelos tradicionais de ensino, potencializados pelo acesso à tecnologia da informação e da comunicação desenvolvidas na educação superior.
Nesse contexto, não há como o professor reproduzir as mesmas condições e nuances de um ensino tradicional, uma vez que a condução do processo educativo não é unilateral, ou seja, ela acontece como consequência das relações estabelecidas entre todos os seus envolvidos. Logo, para que o estudante assuma o protagonismo do processo formativo é necessário, além do empenho do professor, que ele deseje e, também, se reconheça como capaz de autoformar-se. Cabe a ele construir sua autonomia, neste caso, desprender-se do aval docente, para elaborar saberes a partir de suas necessidades, tornando-se responsável pela sua própria aprendizagem e desenvolvimento.
No terceiro foco delineado, tratamos do desenvolvimento profissional docente. Para Imbernón, o conceito de desenvolvimento profissional não pode ser confundido com o de formação permanente, uma vez que este se dá pelas experiências vividas no contexto laboral e pode possibilitar ou não o progresso na vida profissional dos professores. Ao qualificar sua prática pedagógica, revistar suas crenças e aprimorar os conhecimentos relativos à docência, o professor colabora para o seu progresso profissional e, ainda, coopera para o desenvolvimento coletivo das instituições de ensino nas quais atua. Além disso, o autor registra que o conceito de inovação é uma mistura de “formação e contexto”, logo é preciso que o docente perceba a formação permanente como um elemento dinâmico, que resulta em melhorias sociais, capazes de estabelecer novos modelos relacionais.
Portanto, para que o professor possa contribuir para as mudanças necessárias à inovação do ensino e da aprendizagem, é preciso que busque alternativas para a sistematização qualitativa do trabalho, ampliando as possibilidades de produzir inovações, mobilizando, assim, as concepções docentes sobre esses processos. Nessa perspectiva, a obra de Imbernóm leva-nos a compreender que a educação deve estar intimamente relacionada às mudanças e aos incrementos do contexto social. Logo, o professor precisa transformar sua prática docente, colocando-se como profissional capaz de produzir conhecimento com os estudantes, aberto às novas tecnologias e ao modo de ser e de estar dos demais sujeitos do processo educativo.
A contribuição do autor não marca profícua expressão na área da inovação do ensino e da aprendizagem. Entretanto, ele apresenta de forma bastante didática diretrizes aos professores universitários, que podem contribuir para a qualificação das atividades desenvolvidas na educação superior. Isso porque a qualidade de uma instituição depende das formas de organização do trabalho pedagógico e da sua repercussão no contexto sociocultural dos estudantes. Para que se estabeleça um processo formativo que resulte no desenvolvimento do professor, seja no âmbito pessoal, seja no profissional, é preciso romper com a visão linear da prática educativa.
Observamos que a obra de Imbernón apresenta diretrizes nada complexas, cabendo ao professor universitário aproveitá-las como possibilidade de tornar seu trabalho dinâmico e mobilizador do outro.
Com a intenção de mostrar a importância de desenvolver processos metodológicos que contribuam para a qualidade do ensino e da aprendizagem promovido nas universidades, Francisco Imbernón leva-nos a perceber que é necessária uma mudança epistemológica nos modelos de formação. É imperativo transformarmos os processos acadêmicos, em que a transmissão dos conhecimentos, a memorização e a prática unilateral levam ao posicionamento passivo de estudantes.
A construção de uma aula unitária, na qual o professor dirige seu discurso ao grupo, como unidade, já não tem mais espaço. A possibilidade de avançarmos em direção a uma atividade pautada em perspectiva relacional, na qual estudantes e professores protagonizem os processos de ensinar e de aprender, é a chave de uma dinâmica pedagógica mais eficiente e exitosa, capaz de favorecer a inovação da aula universitária.
A clássica obra de Imbernón problematiza o campo da formação de professores e serve de possibilidade para redefinirmos ações de formação continuada, focando na importância de um desenvolvimento profissional docente marcado por processos auto e interformativos.
Sheila Fagundes Goulart – É doutoranda em Educação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: sheilafgoulart@gmail.com.
Doris Pires Vargas Bolzan – É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Departamento de Metodologia do Ensino (PPGE/CE/MEN) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: dbolzan19@gmail.com.
Assessoria pedagógica na universidade: (con)formando o trabalho docente – BROILO (EA)
BROILO, Cecília Luiza. Assessoria pedagógica na universidade: (con)formando o trabalho docente. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2015. 264 p. Resenha de: AZEVEDO, Maria Antonia Ramos de: CARRASCO, Ligia Bueno Zangali. Inovação na universidade e o papel da assessoria pedagógica. Em Aberto, Brasília, v. 32, n. 106, p. 185-190, set/dez. 2019.
O livro Assessoria pedagógica na universidade: (con)formando o trabalho docente, escrito por Cecília Luiza Broilo, trata da tese de doutorado da autora, que realizou sua pesquisa por meio da análise da atuação pedagógica das assessorias junto ao trabalho de docentes universitários em três países. A referida obra produziu uma poderosa reflexão acerca da formação pedagógica do docente universitário e da atuação do assessor pedagógico como coparticipante da dinâmica formativa nos espaços institucionais.
Com apresentação de Denise Leite (orientadora da tese) e prefácio de Isabel Alarcão (orientadora de Cecília em Portugal), o livro apresenta uma pergunta central: a ação de assessoria dentro das universidades qualifica e/ou (con)forma o trabalho docente? Denise Leite indica, em sua apresentação, que a pesquisa foi realizada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), do Brasil, na Universidad de La República (Udelar), do Uruguai, e na Universidade de Aveiro (UA), de Portugal.
Explica, ainda, que a autora possui larga experiência na área, pois atuou profissionalmente como assessora pedagógica.
Já Isabel Alarcão, ex-vice-reitora da UA, traz um breve panorama das transformações na universidade que ocorreram por diversos fatores, entre eles a grande expansão que, em sua opinião, apesar de ser algo positivo, trouxe novas realidades, as quais exigem adaptação. Explica que, como as universidades são instituições por natureza conservadoras, acabam alimentando resistência às mudanças.
Ao explicitar o motivo da escolha do título da pesquisa, a professora Isabel destaca que o foco foi causar reflexão e questionamento sobre o entendimento acerca do ato de formar professores. Para a autora, essa reflexão é fundamental, pois manifesta a urgência de que as universidades criem espaços de ressignificação docente para atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como na gestão acadêmica.
Sob a perspectiva de análise do contexto universitário e da correlação com o âmbito pedagógico, é palpável a ideia de que a competência profissional na área de atuação do professor universitário é algo importante e de grande valor, mesmo que seja determinada institucionalmente a exigência de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado.
É nessa direção que a ideia de profissão e profissionalização da docência toma força e acaba por ser, para a autora, o rumo da pesquisa que se dá no contexto do trabalho docente, pensando mais especificamente na formação pedagógica. Nesse sentido, as ações institucionais que vêm acontecendo, tanto no contexto brasileiro quanto no internacional, devem ter como pilar a busca da construção identitária dos professores que precisam constantemente ressignificar suas ações pedagógicas mediante um processo de desenvolvimento profissional, via assessorias.
Broilo (2015) menciona no texto que, em 1991, em um congresso na Espanha denominado Formación Pedagógica del Professorado Universitário y Calidad de la Educación, houve um grande debate acerca da formação pedagógica do docente universitário. Além de discutir as concepções de docência e de formação desse profissional, Dalceggio (1993 apud Broilo, 2015, p. 37) afirmou que identificou na Universidade de Montreal um importante trabalho de formação e aperfeiçoamento pedagógico do docente. Nessa experiência, as ações estavam atreladas à avaliação institucional como uma “consequência lógica da avaliação do ensino”. No entanto, conclui que as experiências demonstram que “as atividades de avaliação do ensino não serão verdadeiramente eficazes se não forem acompanhadas por medidas, especialmente de valorização do ensino e de aperfeiçoamento pedagógico dos professores” (Broilo, 2015, p. 37).
Em nosso País, com apoio em Masetto (1998), a autora afirma que “os cursos de Ensino Superior no Brasil vêm se caracterizando cada vez mais pela fragmentação do saber e das qualificações profissionais, concentrando-se na formação específica de seus profissionais” (Broilo, 2015, p. 38). Ressalta o fato de que ainda é problemática, no contexto brasileiro, a correlação entre a avaliação de ensino e o trabalho docente de qualidade, no ato educativo de saber ensinar.
Cecilia Broilo segue pontuando diversos estudos – Cunha e Leite (1996); Cunha (1997); Cunha (1998); Scheibe (1987); Bernstein (1990) –, que mostram que os conhecimentos e saberes pedagógicos são pouco valorizados pela docência universitária e que o currículo é visto de maneira enviesada, colocando a imensa inquietação no sentido de buscar uma tomada de consciência de que “ser professor universitário significa antes de tudo ser professor, e ser professor significa relacionarse e envolver-se de forma pedagógica com o ensino” (Broilo, 2015, p. 42).
Por outro lado, a autora alerta que, apesar de não ter delimitada a formação para a docência legítima, o professor universitário muitas vezes valoriza seu status profissional na área em que se formou (médico, engenheiro, bioquímico), desconsiderando a necessária aprendizagem que deve vivenciar para se tornar um docente qualificado. É pertinente que procuremos problematizar a reflexão sobre o papel dos assessores, que necessitam urgentemente buscar igualmente sua identidade como profissionais que devem possuir carga teórica e metodológica de peso nas diferentes áreas de conhecimento para conseguirem, de fato, auxiliar os professores na ressignificação de suas práticas.
A autora analisou os processos formativos das universidades pesquisadas a partir das avaliações externas pelas quais essas universidades passaram.
No Brasil, com o início dessas avaliações por meio do “Provão”, foi possível detectar a necessidade de melhorar os processos formativos junto aos professores.
Já em Portugal, os fatores que têm desencadeado uma maior preocupação com a formação do docente universitário, além da avaliação, são: o financiamento, o processo de acreditação dos cursos e as orientações da Declaração de Bolonha. Em todas as universidades pesquisadas, há o fato da expansão de vagas, o que muda o perfil dos estudantes nesses locais. Assim, é fundamental repensar os processos de ensino e de aprendizagem na universidade.
No Uruguai, na Universidad de La República, a autora teve a oportunidade de acompanhar a Comissão Setorial de Ensino, que desencadeava ações pedagógicas e acompanhava o trabalho docente e que muito contribuiu para melhorar a formação do professor.
Em Portugal, na Universidade de Aveiro, mesmo não havendo um setor específico de assessoria pedagógica, há o Departamento de Didática e Tecnologia Educativa e o de Ciências da Educação, os quais promovem programas e projetos para atender às necessidades formativas. Dessa forma, há investimento institucional para a organização de projetos pedagógicos.
A autora acredita que deva acontecer na universidade forte investimento no setor de assessoramento pedagógico, levando-se em consideração as especificidades dos diferentes campos de conhecimento e o envolvimento das propostas formativas com as capacidades humanas e técnico-profissionais específicas. Retoma a tentativa de Boaventura Souza Santos (1975) de repensar a universidade, onde ele destaca a importância da democratização pedagógica e administrativa para que a instituição realmente possibilite “a produção de conhecimento, a formação de profissionais e o desenvolvimento de novos pesquisadores” (Broilo, 2015, p. 53-54).
A obra retoma a questão da pedagogia universitária, lembrando que não há uma pedagogia, mas diversas pedagogias e que é por meio desse campo de conhecimento que se pode desenvolver um novo olhar para o processo de ensinar e de aprender. Assim, o estudo analisa a atuação das assessorias pedagógicas como meio de qualificar o ensinar e o aprender na universidade, pontuando que no Brasil há várias universidades que possuem setores pedagógicos para acompanhamento dos processos voltados ao ensino na instituição.
Explicando sua metodologia de pesquisa, a autora afirma que seu estudo foi desenvolvido sob a perspectiva qualitativa e que se baseou em Franco (1998) para elaborar as categorias de análise, elaboração essa efetuada a priori e a posteriori, de acordo com o referencial teórico e com sua experiência profissional na área pedagógica. Em seguida, incluiu outros elementos a partir das entrevistas e das leituras realizadas no decorrer da coleta de dados. Assim, as dimensões de análise foram definidas: a) professores universitários – quem são e o que fazem em seus espaços institucionais; b) saberes profissionais – pedagógicos, formação profissional, curricular e experiência; c) inovação pedagógica como prática de construção de conhecimento; d) atuação pedagógica.
A partir dessas dimensões, a autora levanta sete categorias que nos levam a uma reflexão importante:
1) Professores como intelectuais públicos e formativos – a reflexão sobre o docente como sujeito público, comprometido com os aspectos sociais e com os paradigmas emancipatórios, destaca-se nessa categoria. Nela também se expressa a necessidade de que as assessorias pedagógicas institucionais invistam fortemente no empoderamento de seus professores como docentes intelectuais historicamente situados.
2) Construção dos conhecimentos e dos saberes pedagógicos dos professores – essa perspectiva se direciona à constituição dos saberes e à construção do conhecimento dos docentes sobre a prática pedagógica. Entretanto, a autora salienta que essa construção se dará, de fato, quando os professores exercerem plenamente sua autonomia nas trajetórias profissionais. Para tal, é papel dos assessores pedagógicos subsidiarem os docentes com aportes teórico-conceituais e pedagógicos.
3) Inovação pedagógica na educação universitária – nesse caso, a inovação é compreendida como “um processo descontínuo de ruptura com os paradigmas tradicionais vigentes na educação, no ensino e na aprendizagem ou como uma transição paradigmática, em que ocorre uma reconfiguração de saberes e poderes” (Leite, 2002, p. 49 apud Broilo, 2015, p. 87). A inovação pedagógica deve estar fortemente vinculada à proposta formativa dos cursos nos quais os professores estão envolvidos, exigindo que sejam protagonistas ao pensar e ao executar tais propostas.
4) Interdisciplinaridade como possibilidade para inovação pedagógica – essa categoria traz reflexões sobre a interdisciplinaridade como um exercício epistemológico e uma alternativa de inovação educativa. A interdisciplinaridade deve ser compreendida nas diferentes áreas de conhecimento, assim como nas práticas docentes (metodologia interdisciplinar) ao serem desencadeadas.
5) Sala de aula como espaço de ruptura com o ensino tradicional – nessa categoria, há um olhar sobre as relações existentes dentro e fora desse espaço. Há pertinência nessa colocação, entendendo o espaço de aula como um território de intervenção do pensar e do fazer cidadão.
6) Autoinvestigação em uma abordagem reflexiva e construtiva – fundamentando-se em Schön (1992) e Zeichner (1993), traz a ideia do professor como um profissional prático-reflexivo que constrói seus conhecimentos e saberes docentes a partir da reflexão sobre a ação. Tem o intuito claro de ressignificação de suas práticas e de seus saberes.
7) Reconceituação da supervisão de atuação pedagógica na universidade – a concepção de supervisão deve ser entendida como um ato propulsor de ideias e ações docentes e não como um olhar punitivo ou fiscalizador por parte dos assessores. Não basta importar a ideia da supervisão contida no âmbito da educação básica para o ensino superior. É preciso reconhecer as especificidades da formação acadêmica e organizar os espaços institucionais de formação continuada, levando sempre em conta os desafios, dilemas e superações que emergem no exercício profissional de quem está frente a frente com os alunos, com a realidade, com o conhecimento e com o mundo do trabalho.
A autora traz, a partir das análises das entrevistas realizadas nas três universidades e contando com sua vasta experiência no campo da formação docente pedagógica, as seguintes considerações:
−− Muitas instituições têm realizado ações pedagógicas inovadoras, buscando novos caminhos de atuação no sentido de romper com o ensino tradicional e tornar a educação mais significativa. No entanto, ainda existe muita dificuldade de compreensão acerca da importância do trabalho pedagógico na universidade, seus espaços institucionais de formação continuada e principalmente sobre a concepção e atuação profissional que os assessores precisam assumir para que possam efetivamente contribuir com a qualificação do trabalho pedagógico.
−− É fundamental a existência de um setor pedagógico nas universidades que trabalhe na direção da formação docente, como apoio, parceria. Para que “haja inovação efetivamente como prática de construção de conhecimento, a fim de recuperar a prática centrada na aprendizagem […] rompendo com a repetição e a reprodução dos conhecimentos” (p. 238).
É possível concluir que as inovações pedagógicas podem ressignificar a ação do professor desde que existam mudanças paradigmáticas em relação à compreensão de conhecimento que impacta sua profissionalidade docente. Também as inovações podem impactar a forma como os professores se apropriam de suas experiências, sempre que suas intervenções teórico-metodológicas estiverem acompanhadas de reflexões e significâncias. Nesse caso, as assessorias pedagógicas representam um papel importante no trabalho conjunto e de respeito às singularidades e sincronicidades inerentes às diferentes áreas de conhecimento.
Referências
BERNSTEIN, B. A estruturação do discurso pedagógico. Petrópolis, RJ: Vozes, 1990.
CUNHA, M. I. Aula universitária: inovação e pesquisa. In: LEITE, D.; MOROSINI, M. (Orgs.). Universidade futurante: produção do ensino e inovação. Campinas, SP: Papirus, 1997. p. 79-94.
CUNHA, M. I. O professor universitário na transição de paradigmas. Araquara, SP: JM Editora, 1998.
CUNHA, M. I; LEITE, D. Decisões pedagógicas e estruturas de poder na universidade. Campinas, SP: Papirus, 1996.
DALCEGGIO, P. La formación pedagógica de los profesores de la enseñanza superior: informes sobre actividades de formación pedagógica durante los últimos años. In: LORENTE, L. M. L. Formación pedagógica del profesorado universitário y calidad de la educación. Valencia, Espanha: Servei de Formación Permanente, Universidad de Valencia y C.I.D.E., Ministério da Educación y Ciencia, 1993. p. 31-64.
FRANCO, M. E. D. P; WITTMANN, L. C. Experiências inovadoras/exitosas em administração da educação nas regiões brasileiras. Brasília: Inep, Fundação Ford, Anpae, 1998. 115 p. (Série Estudos e Pesquisas, Caderno nº 5).
LEITE, D. Innovaciones em la educación universitária. In: CONTERA, C. Primer foro innovaciones educativas em la ensiñanza de grado. Montevideo, Uruguay: Comisión Sectorial de Ensiñanza, Universidad de La República, 2002. p. 45-53.
MASETTO, M. Professor universitário: um profissional da educação na atividade docente. In: MASETTO, M. Docência na universidade. Campinas, SP: Papirus, 1998. p. 9-26.
SANTOS, B. S. Democratizar a universidade: universidade para quê? Para quem? Coimbra, Portugal: Centelha, 1975. (Estudos Nosso Tempo, 5).
SCHEIB, L. Pedagogia universitária e transformação social. 1987. 187 f.
Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 1987.
SCHÖN, D. La formación de profisionales reflexivos: hacia um nuevo diseño de la ensiñanza y el aprendizaje em las profesiones. Madrid: Paidós, 1992.
ZEICHNER, K. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa, Portugal: Educa Professores, 1993.
Maria Antonia Ramos de Azevedo – Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutora em Pedagogia Universitária na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), é vice-diretora do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro, onde é professora na área de Didática. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária (Geppu/Unesp). E-mail: maria.antonia@unesp.br.
Ligia Bueno Zangali Carrasco – Mestra em Educação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro e doutoranda em Educação na mesma universidade, é diretora de escola na rede municipal de ensino de Rio Claro e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Pedagogia Universitária (Geppu/Unesp). E-mail: li_carrasco@yahoo.com.br.
El museo apagado: Pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos – PRECIADO (RTA)
PRECIADO, Paulo B. El museo apagado: Pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos. Colección Posmuseo. Buenos Aires: MALBA, 2017. Resenha de: MELO, Sabrina Fernandes. Museus e neoliberalismo no Tempo Presente. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 11, n.28, p.540-545. set./dez., 2019.
Paul B. Preciado é filosofo e Mestre em Filosofia Contemporânea e Teoria de Gênero pela New School for Social Research, de Nova York e doutor em Filosofia e Teoria da Arquitetura pela Universidade de Princeton. É escritor, curador independente e militante ativo no debate contemporâneo sobre os modos de subjetivação e identidade de gênero, cuja obra Manifiesto Contrasexual (2002) tornou-se referência indispensável para discussão sobre a teoria queer. As reflexões de Preciado perpassam por modalidades alternativas de relações entre corpos e críticas historiográficas de gênero sob uma perspectiva decolonial. Atualmente, o autor ministra aulas sobre Teoria de Gênero em diferentes universidades como Paris VIII, École des Beaux Arts, de Bourges, e no Programa de Estudos Independentes do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona.
El museo apagado Pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos é a primeira publicação a integrar a coleção PosMuseo, parte do Programa Público do Museu de Arte Latino Americana de Buenos Aires (MALBA). A coleção objetiva reunir vozes de destaque no pensamento museológico e artístico contemporâneo. O livro, que conta com o prólogo da filósofa argentina Julieta Massacesse, reúne três análises de Preciado sobre museus, exposições, gênero, arquitetura e cidade. Paul Preciado investigou desenhos feitos em banheiros, tratou das exposições de Bjork no MoMA e problematizou as imagens eróticas encontradas nas ruínas de Pompeia. Imagens colocadas em diálogo com a pornografia, entendida como uma categoria de gestão do espaço público. O autor desnaturaliza a organização expográfica das coleções e a ordenação de corpos estabelecida pela arquitetura em taxinomias que distinguem homens e mulheres. O fio condutor dos três textos está na reflexão sobre os espaços pelos quais transitamos, em especial, o espaço cambiante e global dos museus.
Em Basura y Género. Mear/Cagar.Masculino/Feminino, texto originalmente publicado na Revista Web Hartza em 2006, as múltiplas fronteiras nacionais e de gênero são questionadas. Fronteiras difusas e tentaculares que se alastram por cada centímetro dos espaços habitados/vividos/praticados. Em espaços cotidianos utilizados para necessidades fisiológicas básicas, as portas, as janelas e as entradas são reguladas sob uma discreta e efetiva ‘tecnologia de gênero’. Nessa reflexão, a criação de latrinas públicas no século XIX é historicamente problematizada. As latrinas foram inseridas nos espaços urbanos de forma concomitante ao estabelecimento de novos códigos conjugais, definidores dos papéis de gênero relacionados à patologização da homossexualidade e à normalização da heterossexualidade.
As imagens utilizadas para sinalizar as portas dos banheiros públicos se resumem a masculino/feminino, damas/cavalheiros, sombrinhas/bengalas, flores/bigodes. Imagens que, segundo Preciado, dizem mais sobre fazer-se em determinado gênero do que desfazer-se das fezes ou da urina. A arquitetura constrói barreiras quase naturais relacionadas às funções e separações entre homens e mulheres. Escapar desse regime, afirma Preciado, é desafiar a segregação sexual imposta pela arquitetura moderna.
No segundo texto, Museo, Basura Urbana e Pornografia, o mercado de arte e sua articulação com o consumo de produções pornográficas são colocados em pauta. Entretanto, a pornografia a ser consumida é aquela que reside como mero resíduo estético e não aquela oriunda do feminismo e da crítica social. Grandes centros de arte como o Barbican, em Londres, abrigam obras de artistas como Jeff Koons ou de ‘testículos bem desenhados por cavaleiros solenes’. Já artistas, como Daniel Edwards, e sua obra Autópsia de Paris Hilton, transcendem de forma singular o sórdido mundo da pornografia e, com perspicácia, aumentam a transgressão dos YABs (Young British Artists), grupo de jovens artistas britânicos que, a partir do final da década de 1980, produziram obras de contestação à sacralidade da arte.
Na construção de uma nova História da Arte, a pornografia, a prostituição e o feminismo muitas vezes não fizeram/fazem parte do mesmo relato. Na historiografia recente, artistas mulheres dos anos de 1970 e 80 são retomadas e ‘etiquetadas como feministas’: Judith Chicago, Martha Rosler, Rebeca Horn, Marina Abramovich, entre outras. A essas artistas, são cobradas produções relacionadas a temáticas como corpo, maternidade, trabalho doméstico ou aspectos da sexualidade naturalizados como ‘femininos’. Já a pornografia, vista como grosseira, estaria relacionada aos homens. Tal pressuposto explicaria o ‘vazio historiográfico’ referente às práticas artísticas como as de Annie Sprinkle, Linda Montano, Lea Cheang, Maria Llopis e outras tantas artistas que se encontram em novas categorias como pós-pornografia, videoarte ou performance pornofeminista. Neste capítulo, Preciado traça uma genealogia que auxilia no entendimento dos motivos pelos quais a pornografia se converteu, a partir de 1970, em um espaço crucial de análise crítica e, ao mesmo tempo, em espaço de reapropriação para as micropolíticas de gênero, sexo, raça e sexualidade.
Preciado entende a pornografia enquanto discurso cultural. Aponta para uma saturação pornográfica com a grande distribuição de imagens e modos de consumo. Ao mesmo tempo, essa saturação vem acompanhada de uma opacidade discursiva apartada como objeto de estudo cinematográfico e filosófico. O autor retoma a emergência da noção de pornografia nas línguas vernáculas durante a modernidade e nas imagens descobertas nas ruínas de Pompeia. O objetivo é entender a emergência da pornografia no Ocidente como parte integrante de um regime mais amplo – capitalista, global, midiatizado – de produção de subjetividade por meio da gestão técnica da imagem.
Imagens de corpos entrelaçados e desnudos, esculturas de corpos animais e humanos, pinturas, afrescos e murais com representações de falos de grandes proporções, sátiros em terracota, falos em forma de pantera e órgãos genitais masculinos autônomos, foram encontrados nos cantos das ruas, nas paredes das lojas ou servindo como lápides na antiga cidade de Pompeia. Imagens até então soterradas, reprimidas, desconhecidas que desvelam outro modelo de conhecimento e organização dos corpos e das formas de prazer na Antiguidade. Tipologia contrária àquela desenvolvida na Europa do século XVIII, momento das escavações em Pompeia e do encontro dessas imagens.
Em 1794, as escavações iniciadas pelo Rei Carlos III reuniram um enorme contingente de imagens eróticas, que ganharam uma sala própria no Museu Herculano, em Portici, Itália. No século XIX, as imagens foram transferidas para o Museu Royal Bourbon, atual Museu Arqueológico de Nápoles, conhecido como Museu Secreto. A coleção secreta das imagens eróticas era resguardada em local fechado e a visitação era regulada através de dispositivos de vigilância e controle. De acordo com um decreto real, a entrada era proibida para mulheres, crianças ou pessoas de classe popular. Somente os aristocratas poderiam adentrar o espaço, o que configurou novas categorias de feminilidade, infância e classes populares, ao mesmo tempo em que emergia uma nova hegemonia político-visual. A palavra pornografia surgiu neste contexto museológico, conceituada pelo historiador da arte alemão C. O. Muller, que definiu a raiz grega da palavra (porno – grafei: pinturas de prostitutas, escritos sobre a vida de prostitutas) e deliberou a coleção do Museu Secreto como pornográfica. Em 1864, o Dicionário Webster definiu a palavra pornografia como as pinturas obscenas utilizadas para decorar os muros das habitações de Pompeia, cujos exemplos se encontravam no Museu Secreto. Preciado defende que a regulação desse espaço museológico secreto e da taxonomia aplicada a esses objetos podem ser entendidos como marcos fundadores de uma racionalidade visual, sexual e urbana da modernidade ocidental do que viria a ser a pornografia. Estratégias relacionadas ao controle do olhar, da visualidade, da ocupação dos espaços públicos, de limites daquilo que é ou não visível ao público.
Preciado aponta que a introdução do conceito de pornografia pela História da Arte abre caminho para o surgimento de medidas higienistas no século XIX, principalmente nas metrópoles modernas. A pornografia aparece associada à prostituição nas cidades como questão de saúde pública e passível de medidas policiais e sanitárias para mediar a atividade sexual no espaço público, além disso, é percebida como uma categoria higiênica e um dispositivo de regulação da sexualidade e domesticação de corpos, sobretudo das mulheres.
No último texto, El Museo Apagado, Preciado aborda o papel dos museus de arte moderna e contemporânea na era do liberalismo a partir de duas exposições: a de Bjork no MoMA e a de Jeff Koons no Pompidou. Tais exposições demostram os grandes investimentos direcionados para os museus e o marketing de exposições. Segundo o autor, a tentativa das grandes corporações é fazer com que o museu torne-se um local rentável e uma indústria de produção e venda de bens de consumo. Uma das estratégias é realizar megaexposições, com artistas conhecidos visando principalmente o turismo. No chamado “museu barroco- financeiro” tudo é intercambiável, os signos e o dinheiro se sobressaem à experiência e à subjetividade.
Os textos de Preciado discutem a questão da pornografia e da (re)configuração dos grandes museus e exposições, uma questão extremamente atual, percebida no MoMA de Nova York, em exposições como “Queer Museu” e com a mostra “Histórias das Sexualidades”, no Museu de Arte de São Paulo, o MASP.
Sabrina Fernandes Melo – Doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professora permanente no Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa, PB – BRASIL. E-mail: sabrina.fmelo@gmail.com.
HUNT, Lynn. History: Why It Matters. Cambridge: Polity Press, 2018. 140p. Resenha de: SILVA, Guilherme José da. Agora mais do que nunca: History Why it Matters. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 12, n. 29, e0502. jan/abr. 2020
A história, e não é de hoje, tem sido alvo das mais diversas disputas, que foram acentuadas exponencialmente com o avanço dos meios de comunicação da era digital. Algumas destas controvérsias são muito arriscadas, levando-nos a enfrentar negacionismos da história. Outras concernem a embates de memórias sobre tragédias, identidades e discursos. Por esses motivos, a história hoje é mais importante do que jamais foi.
É dessa maneira que Lynn Hunt inicia sua jornada intelectual para tornar lúcidos alguns dos principais motivos, no que diz respeito à compreensão epistemológica da autora e do consenso acadêmico, da história ser importante na atualidade, enquanto disciplina e como ferramenta utilitária na costura do tecido social. A autora, embora tenha nascido no Panamá, viveu e foi criada no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, tendo concluído grande parte de seus estudos acadêmicos entre as décadas de 1960 e 1970, época emblemática envolvendo os movimentos de maio de 1968. O recorte histórico, o espírito revolucionário da época e as reivindicações próprias do período atraíram sua atenção ao estudo sobre a Revolução Francesa, âmbito de pesquisa que a tornou conhecida em outros países. Em 2014, foi reconhecida pela Academia Britânica como parceira associada, um reconhecimento de distinção acadêmica nos estudos de humanidades e ciências sociais, título geralmente conquistado através de trabalhos publicados, no caso de Hunt, muito provavelmente por obras como A Invenção dos Direitos Humanos, de 2007, tendo sua versão traduzida em 2009, e Writing history in the global era de 2014, ainda inédito no Brasil.
History: why it matters é composta por quatro capítulos, o primeiro chamado Now more than ever, seguido por Truth in history, History’s politics e History’s future1. O livro faz uso de uma linguagem acessível, embora isso não o torne superficial, tendo em vista que compõe a série Why it matters2, da editora inglesa Polity3. A série tem por objetivo introduzir assuntos, através de lideranças intelectuais relevantes, e inspirar uma nova geração de estudantes, o que também elucida a forma com que Lynn Hunt constrói sua narrativa, evitando citações longas, fornecendo subdivisões curtas de seus capítulos, além de utilizar como mola propulsora para seus debates, de forma harmônica, recortes de tempo e espaços próximos e remotos da história, navegando entre Roma Antiga, a corrida eleitoral estadunidense de 2016, as produções de livros didáticos no Japão e discussões memoriais do pós-guerra.
O fato de ser uma produção recente, lançada em maio de 2018, desfavorece a acessibilidade de leitores que não compreendem língua inglesa, pois, pelo menos no Brasil, ainda não há tradução ou mesmo previsão para tal. No entanto, em termos documentais, esse aspecto só tem a acrescentar no conjunto da obra, fato visível ao observarmos a seção de notas e referências, as quais trazem produções muito atuais, o que nos proporciona não só informações cada vez mais contemporâneas e acuradas, mas também perspectivas coerentes com o mundo interseccional que presenciamos manifestado na questão da globalização. Não é à toa que Hunt preocupa-se constantemente em fazer esse giro epistemológico, trazendo exemplos e perspectivas de várias localidades. Suas experiências pessoais e acadêmicas evidenciam e tornam compreensível a preocupação, considerando ser uma mulher adentrando ao mundo acadêmico em um momento histórico que este movimento era considerado contra-hegemônico. Focalizando na obra, em um primeiro momento, a autora define algumas categorias de análise que remetem a estas disputas de interesse político e os usos e abusos da história. Dentre elas, podemos salientar as mentiras, ou simplesmente, as fake news; Hunt é muito feliz não só em estabelecer momentos da história que compõem muito bem suas teses, mas também de construir seu argumento de forma sagaz e fluída através desses fatos ilustrativos. Outras ferramentas nessas pelejas discursais seriam os monumentos, os quais emendam um debate extremamente presente na atualidade: a possibilidade de alternância patrimonial. Se em determinado momento e espaço, alguns patrimônios evocam ideias e figuras que já não cabem em uma democracia constituída, eles devem, no entanto, permanecer para que a história não seja desvanecida ou devem ser superados para que novas construções tomem seu lugar? Em todo caso, essas disputas são políticas.
Fenômenos no tempo como as falsificações, as disputas patrimoniais, a produção de livros didáticos e mesmo os confrontos relacionados às memórias de guerra são amostras de como o mundo globalizado acentua os debates que envolvem a história. Isso tudo nos leva a pensar como a história pública tem se tornado um campo de lutas cada vez mais borbulhante, tal qual a própria autora faz questão de trabalhar em seu livro. A era da informação digital transformou o modo como a população alheia à produção acadêmica consome as produções de temática histórica. Para além de filmes, romances, vídeo games, apresentações, se intenta em viver a experiência histórica em níveis sensoriais, entretanto, nenhuma dessas vivências, nem mesmo as disputas sobre a memória têm muita importância caso não sejam embebidas em uma catalogação verídica dos fatos e uma problematização coerente sobre o passado. No entanto, como a autora coloca, é necessário reconhecer que a experiência histórica hoje é diferente do que jamais foi, e é preciso, então, não negar essas experiências, mas apreendê-las para melhor balancear a engenhosidade, a precisão e a reflexão histórica.
Tamanhas são as guerras travadas nas trincheiras da história, que se faz necessário estabelecer os meandros da ciência histórica. Dando continuidade a isso, Lynn Hunt explana, então, alguns portos seguros no que se refere às práticas e métodos históricos, para que possamos encontrar alguma verdade na história. De início, temos dois grandes pilares do conhecimento histórico: o documento e o fato. Os documentos nos auxiliam a construir uma narrativa sobre o passado, ou sobre o que nos é revelado do passado por meio das fontes históricas. As fontes existem, no entanto, os fatos são construídos e, portanto, podem ser reconstruídos. Eles são provisórios, o que não quer dizer falsos ou inverídicos; eles têm sua permanência até que novos documentos providenciem novos questionamentos ao passado e, por conseguinte, novas interpretações. Isso nos leva também a um ponto importante da reflexão de Hunt: os fatos fabricados, que muitas vezes nos surgem por meio de documentos falseados com interesses políticos. Cabe ao historiador escavar e cruzar fontes para que as falsas possam ruir diante das contradições expostas através das múltiplas perspectivas documentais.
A partir daí, a autora levanta apontamentos pertinentes quanto à centralidade epistemológica hegemônica em relação à ciência histórica: o eurocentrismo. Hunt resgata a ideia europeia de verdade histórica construída ao longo do século XIX no processo de formação disciplinar da história, principalmente ao apresentar outras documentações que revelam outros espaços e tempos na história, nos quais essa concepção já era presente, de acordo com as especificidades do recorte. Os europeus em si têm essa “vantagem”, angariada pela colonialidade enquanto dominação física e mental, de que não precisam preocupar-se com outras localidades e perspectivas ao desenvolverem suas teses, enquanto o contrário não ocorre sem críticas.
A exposição dessas perspectivas, alheias ao que se pode considerar o mainstream acadêmico, indicam, certamente, uma percepção latente de Lynn Hunt, influenciada por sua própria trajetória pessoal dentro das universidades e em sua vida, como relata ao longo do livro. Hunt ao perpassar a história da disciplina de História, analisa as modelações pelas quais a ciência histórica passou para atender as demandas de um grupo restrito da sociedade e que, resquícios dessas limitações permanecem, manifestados, em parte, em sua experiência como uma das poucas mulheres de um corpo docente universitário. A mudança gradual, segundo a autora, não possui uma importância em apenas incluir minorias sociais em ambientes que historicamente não as aceitavam, mas que tal movimento é importante para a própria construção do conhecimento histórico, pois democratiza, pluraliza e estimula novas perspectivas do que entendemos como História.
A história, em constante agregação do plural na atualidade, também foi e continua sendo remexida pela erupção de informações e concepções sobre o passado, sejam elas embasadas cientificamente ou não. A preocupação com uma nova revolução da informação agitou novas perspectivas dimensionais; as relações humanas vêm tomando formas nunca experienciadas, o que se reflete em uma concepção de tempo mais interseccionada, unindo dimensões locais, nacionais e globais de diversas direções. Hunt coloca como uma forma de superarmos a ideia do ser humano como o centro do conhecimento, para que possamos compreender as infinitas relações entre nós, enquanto sujeitos de estudo, para com o que nos cerca, como os animais, os micróbios, plantas e etc.
Estes pontos levantados por Hunt impulsionam debates sobre como utilizamos a História para o presente. O senso de continuidade foi e continua sendo uma ferramenta filosófica orientadora no que diz respeito à concepção cidadã da História. O que nos coloca frente ao presentismo4, uma tensão duradoura, mas que nos leva a armadilhas, como o anacronismo, as quais devemos evitar. Por fim, a História tem o potencial cívico de investigar como os seres do passado enfrentaram as problemáticas de seus tempos e essa é uma das grandes oportunidades que a disciplina nos apresenta. Hunt encarou um grande desafio ao intentar apontar ideias concernentes à ciência histórica em um formato palatável e que dialoga constantemente com o que se entende como História Pública, mas, mais do que um conteúdo bem estruturado e embasado, os seus questionamentos possuem um grau de relevância para que, como ela mesma coloca, possamos manter o espaço de debate histórico sempre em movimento, para que questionemos os lugares comuns dentro da própria ciência histórica, afinal, a história não permanece estagnada.
1 Respectivamente: “Agora mais do que nunca”, “Verdade na história”, “Política da história” e o “Futuro da história.”
2 Why It Matters. Polity Books. 2019 <http://politybooks.com/serieslanding/?subject_id=88&series_id=50> Acesso em: 29 de mar. 2019.
3 About. Polity Books. 2019 <http://politybooks.com/about/> Acesso em: 29 mar. 2019.
4 Por presentismo, podemos entender a predominância do presente sobre as relações com o passado ou mesmo o futuro, como bem desenvolve François Hartog (HARTOG, 2003).
Guilherme José da Silva – Mestrando no programa de Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: guisilva.2186@gmail.com.
Podemos gobernarnos nosotros mismos: La autonomía, una política sin el Estado – BASCHET (RTA)
BASCHET, Jérôme. Podemos gobernarnos nosotros mismos: La autonomía, una política sin el Estado. Chiapas: Ediciones Cideci, 2017, 150 p. Resenha de: GUERRA, Rodrigo de Morais. Autonomia, espacialidades e novas sociabilidades no Tempo Presente: a experiência zapatista. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.28, p.534-539. set./dez., 2019.
Consagrado pelos seus estudos sobre o medievo, Jérôme Baschet nos propõe com “Podemos gobernarnos nosotros mismos: La autonomia, una política sin el Estado” uma nova perspectiva acerca do seu trabalho como historiador, bem como, acerca das relações político-sociais do Tempo Presente. Professor da Universidad Autónoma de Chiapas, desde 1997, Baschet vivenciou o enfervecido contexto mexicano de fins do século XX e presenciou um dos momentos mais marcantes da história dos novos movimentos sociais latino-americanos: a insurgência zapatista para o mundo no 1º de janeiro de 1994. Neste livro, o historiador adentra ao complexo universo zapatista, explora suas espacialidades e nos oferece novas reflexões a respeito das (con)vivências em sociedade e seus desafios frente a uma pluralidade de mundos que coexistem em nossas ricas diferenças culturais.
Oriunda de uma verdadeira imersão intelectual e antropológica, a pesquisa de Baschet resulta em um estudo que tem como problemática central compreender de forma mais aprofundada as sociabilidades zapatistas, a partir de uma análise ampla do conceito de autonomia e seus efeitos. Para tanto, a obra gira em torno de duas perguntas basilares: “o que pode ser uma política da autonomia?” e “há outras opções frente a devastação capitalista?”. A fim de endossar este debate, temos, logo de início, uma distinção política que polariza a problemática em questão por meio de duas formas, não apenas distintas, mas antagônicas, de exercer um governo: a política de arriba e a política de abajo. Como forma política de arriba, temos uma política que segue as instituições do Estado moderno, englobando seus partidos políticos, toda a classe política e todo o seu aparato burocrático; por outro lado, como forma política de abajo, temos uma política que segue estritamente o povo. Para além de suas distinções estruturais, essas duas formas políticas diferem, essencialmente, em suas manifestações de poder e participações plenamente democráticas, assim, ambas as formas políticas apresentam-se numa condição de total incompatibilidade, de modo que, a primeira (de arriba), caracterizada, por desapropriar o povo de suas capacidades de auto-organização, por meio de seus mecanismos institucionais, não admite o pleno exercício da segunda (de abajo); que, por sua vez, não tem como ser exercida se não combater a primeira e o seu monopólio na centralidade do poder. Portanto, diante de tal cenário, a autonomia zapatista incorpora um caráter anti-institucional: uma forma política de abajo, exercida por e para o povo e constante combatente à centralidade do poder político heterônomo estatal (de arriba).
Sendo assim, a autonomia zapatista, uma configuração governamental político-popular, fruto de um processo histórico de lutas e resistências frente à imposição do poder (o que caracteriza a violência) de cima para baixo, ocupa o cerne do texto com sua conceituação e aplicabilidades práticas. A autonomia surge, destarte, não como um sonho ou devaneio dos indígenas de Chiapas, mas como uma arma de resistência, como um refúgio para a proteção de suas vidas, como uma resposta ao Estado moderno heterônomo capitalista e, incessantemente, mantém seu processo construtivo ativo, diante das necessidades de adaptação e autotransformação, a partir dos novos desafios propostos pela experiência vivida. Dessa forma, a autonomia zapatista materializa-se numa configuração que Jérôme Baschet (2017) distingue em três dimensões: a comunidade, ou seja, o modo de organização dos povos indígenas, assumindo a dimensão coletiva do viver; o território, compreendido como as partes habitadas e cultivadas, mas também bosques e montanhas, como o lugar próprio da consistência e singularidade da comunidade; e a terra, dimensão caracterizada por Baschet como “potência de vida englobante”, que seria, portanto, sua vida, sua tradição, sua cultura, sua visão do mundo, sua coesão e sua identidade (BUENROSTRO Y ARELLANO, 2002, p. 17). Em sua aplicabilidade prática, a experiência zapatista ainda propõe uma organização política articulada em outros três níveis: comunidade, município e zona, nos quais, cada um dispõe de mecanismos vigilantes de seus plenos funcionamentos enquanto política de abajo, tais como: assembleias e autoridades eleitas, Conselho municipal autônomo e Juntas de bom governo, conformando, assim, a estrutura organizativa política autônoma de abajo zapatista.
Ao ser estabelecida uma estrutura política para gerir um sistema autônomo, podemos nos indagar sobre a real horizontalidade neste governo, pois, se há instituições organizativas das sociabilidades dos sujeitos, presume-se que há hierarquias e superioridades. Entretanto, a existência de uma estrutura reguladora do poder não deve ser confundida com um sistema de dominação através do poder. O poder, em sua essência, jamais será singular, mas sempre plural, como nos advertiu Hannah Arendt (2010); o poder aparece, pois, como manifestação organizativa das aspirações coletivas. Dessa forma, a autonomia, por mais que se estabeleça sob a responsabilidade de promover uma sociedade em que todos estão em pé de igualdade e todos têm responsabilidade sobre todos, ainda assim, é um modelo político no qual as relações de poder são fundamentais para a sua existência e sobrevivência. Para lidar com essa questão, os zapatistas dispõem de mecanismos reguladores que preservem a forma política de abajo de se autogovernar, para tanto, o seu já consagrado oximoro mandar obedecendo é um dos pilares de sustentação do bem caminhar da autonomia. Algumas características fundamentais do mandar obedecendo que regulam esta dinâmica são: os mandatos se concebem como cargos realizados para servir à comunidade, sem remuneração, nem nenhum tipo de vantagem material; ninguém se autopropõe para as funções e são as próprias comunidades que solicitam a quem consideram que podem exercê-las; os cargos são assumidos sobre a base de uma ética efetivamente vivida do serviço à coletividade; e os cargos sempre são exercidos de maneira colegiada e sob o controle permanente tanto da “Comissão de vigilância”, responsável por conferir as contas dos conselhos, quanto da população, à vista que os cargos são revogáveis a qualquer momento, fazendo valer a máxima de que o poder só é efetivado quando a palavra e o ato não se divorciam (ARENDT, 2010, p. 249).
Ademais das características descritas que garantem a governabilidade autônoma, o mandar obedecendo engloba um outro aspecto de fundamental importância que consiste na “desespecialização” das tarefas políticas. A partir de uma não especialização dos representantes do povo no governo, o exercício da autoridade se cumpre desde uma posição de não saber e “asumir ese no saber es lo que permite ser una ‘buena autoridade’, la cual se esfuerza por escuchar y aprender de todos, sabe reconocer sus errores y deja que la comunidad la guíe en la elaboración de las decisiones” (BASCHET, 2017, pp. 32-33). Logo, permitindo que o mandar obedecendo constitua uma “sólida defensa contra el riesgo de una separación entre gobernantes y gobernados (BASCHET, 2017, p. 33). Por fim, “Podemos gobernarnos nosotros mismos” traz importantes contribuições para o campo teórico no estudo da autonomia. Uma primeira reflexão diz a respeito de que uma política não-estatal não exige, necessariamente, um horizontalismo puro: há momentos em que o povo manda e o governo obedece, e há momentos em que o povo obedece e o governo manda, configurando, dessa forma, o exercício coletivo do poder, como já apontamos, o que, por sua parte, não dissocia inteiramente as duas relações inversas, mas as coloca numa condição de reciprocidade. Desta forma, não se trata de um poder heterônomo e, tampouco, de uma perfeita horizontalidade, mas o exercício de uma coletividade do poder que permite o pleno funcionamento da autonomia e não põe em risco toda a dinâmica de governo. Posto isso, enquanto que o Estado heterônomo emprega um modelo de delegação dissociativa, ou seja, na articulação com a estrutura social, almeja produzir e reproduzir a separação entre governantes e governados, concentrando o “poder-sobre” em um aparato burocrático e um grupo isolado; a autonomia sugere um modelo de delegação não dissociativa, ou seja, busca restringir ao máximo a separação entre governantes e governados, através de mecanismos ativos no combate à dissociação e na manutenção do uso efetivo da potência coletiva.
Por último, mais uma importante provocação levantada por Baschet (2017) consiste na eterna condição de inacabada da autonomia, o que o autor coloca como “um processo sem fim”. A autonomia, desse modo, consiste, portanto, em uma manifestação política incompleta e, necessariamente, infinita, pois, a pretensão de se criar uma sociedade ideal que afirmaria ter alcançado seu objetivo e sua forma última, completa e realizada, significaria, imediatamente, a morte da autonomia, haja vista que a autonomia, tal qual o rio de Heráclito, está, cotidianamente, transformando e transformando-se, destacando, dessa forma, uma condição paradoxal para a sua vigência: a autonomia só existe enquanto ela não é. Diferentemente das utopias normativas, que partem de pressupostos e objetivos finais a priori, a autonomia parte das singularidades de suas vivências concretas, utilizando-se da sua inacabável capacidade de adaptar-se e reinventar-se, o que os zapatistas tratam como “buscar el modo”, ou seja, descartar toda resolução pronta, abstrata e geral. Opondo-se, drasticamente, às lógicas constitutivas do Estado capitalista, a autonomia “es una política procesual que no puede ser(pre)determinada por ningún texto; se ubica en las antípodas del fetichismo de la Constitución” (BASCHET, 2017, p. 64). Portanto, a busca pela autonomia consiste na elevação do espírito inquieto, na permanente insatisfação, na constante vigilância frente aos erros e incansáveis esforços para retificá-los. Trata-se de uma experimentação que busca seu caminho, caminhando.
Em suma, o autogoverno zapatista não é mais que uma expressão da capacidade coletiva de organizar-se e afirmar formas de vidas próprias aos avanços da coletividade e dignidade compartilhada. Muito mais do que uma utopia, a autonomia mostra-se como uma arma de resistência, como uma “potência destituinte” (BASCHET, 2017), como um caminho em busca da emancipação abarcado por uma dupla dimensão: destruição-negação do mundo capitalista que ameaça a vida indígena; e construção-afirmação de uma nova sociabilidade possível. A experiência zapatista extrapola os limites das simplistas interpretações da autonomia, nos propõe novos modelos de espacialidades e nos faz repensar as sociabilidades regidas por um Estado heterônomo: valorosas contribuições em tempos de crises políticas no Brasil, na América-Latina e no mundo.
Rodrigo de Morais Guerra Mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Natal, RN – BRASIL. E-mail: rodrigo.morais.guerra@gmail.com.
Ditadura e Democracia: legados da memória – RAIMUNDO (RTA)
RAIMUNDO, Filipa. Ditadura e Democracia: legados da memória. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. Resenha de: SILVA, Paulo Renato da. Os “cravos” da memória: democracia e passado autoritário em Portugal. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.28, p.546-552. set./dez., 2019.
Ditadura e Democracia: legados da memória, da socióloga Filipa Raimundo, foi publicado em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro é o 87o da coleção “Ensaios da Fundação”, uma das mais importantes coleções portuguesas tendo em vista a publicação de títulos que superem o meio acadêmico.
Escrito em linguagem acessível – mas não simplista –, e bem estruturado, o livro é composto por uma introdução, quatro capítulos e uma conclusão. Na introdução, De que é que trata este livro?, a autora evidencia o propósito do livro, a análise “(…) da relação da democracia portuguesa com o seu passado autoritário e dos elementos que têm contribuído para a construção da memória deste período (…)” (p. 9). No caso de Portugal, o passado autoritário se refere ao Estado Novo (1933-1974), período marcado pelo governo de António de Oliveira Salazar (1889-1970), Presidente do Conselho de Ministros entre 1932 e 1968, quando sofreu um acidente e foi afastado de suas funções. A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, representou o fim da ditadura do Estado Novo1. Para leitores que não sejam de Portugal, é importante acrescentar que o primeiro governo constitucional eleito depois da ditadura se estabeleceu apenas em julho de 1976, informação que ajudará a compreender alguns elementos tratados no livro e críticas feitas à condução da Revolução dos Cravos por diferentes grupos políticos portugueses.
O capítulo 1, Democracia e passado autoritário, destaca como as democracias de cada país se relacionam de modo diferente com os seus respectivos passados autoritários. “A decisão de punir ou não os responsáveis pelo regime deposto é, em larga medida, um produto das condições políticas existentes durante a mudança de regime. (…). Mais tarde, só conjunturas críticas permitem mudar a relação entre um povo e o seu passado autoritário” (p. 17). No capítulo 2, Ajustar contas com o passado, Raimundo passa a focar no caso português; analisa como alguns nomes ligados ao Estado Novo sofreram sanções institucionais e políticas depois da queda da ditadura e como outros foram processados criminalmente pelos atos cometidos. O capítulo 3, Romper com o passado, mas sem o apagar, analisa as novas narrativas sobre o passado promovidas a partir da Revolução dos Cravos, “(…) acções no plano simbólico e museológico [que] permitiram que a democracia se legitimasse tanto por oposição como por rejeição ao regime anterior, mesmo que ela nem sempre tenha sido tão profunda quanto a narrativa revolucionária faria supor” (p. 55). No capítulo 4, O antifascismo como imagem de marca, a autora investiga o tema das reparações econômicas e simbólicas aos perseguidos pela ditadura até os dias atuais. No início, as associações de perseguidos tinham o principal objetivo de libertar os presos políticos e “(…) sua existência foi relativamente efémera, tendo em conta a relativa rapidez com que os presos políticos foram libertados” (p. 77). Atualmente, poucas associações reuniriam ex-membros da oposição e da resistência e as atuais propostas de reconhecimento estariam muito concentradas nas mãos dos partidos políticos. Enquanto as associações primariam pelo reconhecimento simbólico, dos partidos políticos viriam as principais propostas de compensação financeira aos perseguidos. “(…) os beneficiários desses mecanismos parecem ser, em grande medida, os militares e simpatizantes dos partidos que lideram as propostas legislativas” (p. 78). De acordo com Raimundo, a reunião das iniciativas de sucessivos governos e dos principais partidos, sobretudo de esquerda, “(…) mais do que dar resposta a (…) certos sectores da sociedade, poderá ser encarada (…) como uma forma de cultivar uma imagem de marca através da qual podem reforçar as suas credenciais democráticas e chamar a si a herança da luta pela democracia e contra o autoritarismo” (p. 78). Na Conclusão, a autora faz um balanço do tratado em todo o livro e aponta aquilo que ficou de fora2.
Os méritos do livro começam pela própria temática, pois a memória de um passado autoritário é sempre um tema complexo e controverso. Ao abordar o tema, Raimundo sistematiza e analisa as principais ações quanto a esse passado3, destacando as contribuições, limites e contradições das medidas adotadas por governos, partidos e associações de perseguidos pela ditadura. Além disso, a autora evidencia as relações entre esse passado e a política portuguesa contemporânea, indicando como os usos dessa memória variam entre governos e partidos de diferentes vertentes políticas. Já comentamos que, segundo o livro, os usos desse passado estariam relacionados à construção de “credenciais democráticas” para os partidos e governos e a maioria das propostas de reconhecimento dos perseguidos partiria de governos e partidos de esquerda. Entretanto, ainda que não haja reivindicação do passado autoritário pelos atuais partidos portugueses, a autora demonstra que existem divergências sobre o reconhecimento aos perseguidos e a condução do processo revolucionário, o que aponta para diferentes concepções de democracia em Portugal após a Revolução dos Cravos. Para mencionar apenas um exemplo tratado no livro, além de indicar divergências existentes entre os próprios partidos de esquerda, Ditadura e Democracia mostra como o CDS, partido conservador português, procurou estender uma lei que beneficiava os perseguidos pela ditadura aos que sofreram sanções pelo processo revolucionário iniciado em abril de 1974, o qual teria cometido abusos semelhantes aos da ditadura:
Como mostram os registros da Assembleia da República, duas semanas depois da aprovação da Lei 20/97, aquele partido [CDS] apresentou uma proposta de alteração da lei que se baseava no facto de muitos portugueses terem sido “perseguidos e vítimas de repressão em virtude das suas convicções democráticas e anticomunistas [grifo meu]. Foram deste modo prejudicados no exercício das suas profissões, afastados ou saneados dos cargos e funções que desempenhavam, impedidos de ensinar, obrigados a recorrer à clandestinidade ou ao exílio, tendo em alguns casos sido presos por longos períodos. (p. 91) Se na Assembleia existem tensões sobre o tema, na sociedade portuguesa não poderia ser diferente. Raimundo destaca várias reivindicações de António de Oliveira Salazar em Santa Comba Dão, terra natal do ditador, e na imprensa, como o caso do documentário da RTP – uma das principais redes de televisão de Portugal – que apresentou Salazar como o expoente do século XX português (p. 10-14). “Tendo já superado a longevidade do regime autoritário, a democracia portuguesa dificilmente poderá continuar a ser apelidada de ‘jovem’. Ainda assim, estes temas surgem no debate com relativa frequência (…)” (p. 14). Ao apontar para as divergências existentes na Assembleia e na sociedade portuguesa – ainda que pontuais, esporádicas e minoritárias –, o livro nos leva a considerar que existem elementos que poderiam mudar a relação dos portugueses com seu passado autoritário diante de eventuais “conjunturas críticas”, conforme a autora defende no início de Ditadura e Democracia sem mencionar especificamente o caso português.
Ainda sobre a sistematização das ações e medidas tomadas em relação ao passado autoritário português, o livro se destaca pela comparação com o ocorrido em outros países europeus, africanos e latino-americanos, destacando convergências e divergências em relação a Portugal. A autora defende que “(…) o conhecimento sobre a forma como se ajustou contas com o passado noutros países poderá contribuir para mitigar a avaliação negativa que os portugueses fazem do seu próprio processo de ajuste de contas (…)” (p. 53). Raimundo apresenta dados de uma pesquisa que coordenou, na qual 95% de 131 perseguidos pela ditadura responderam que não teria ocorrido justiça no caso português (p. 51). A autora cita que nos casos de Espanha e Brasil, por exemplo, a opção punitiva não esteve nem sequer à disposição da elite política (p. 53). Além desse esforço de História Comparada, é necessário valorizar, ainda, o diálogo multi e interdisciplinar apresentado pelo livro entre áreas como História, Direito, Ciência Política e Sociologia.
Quanto às polêmicas suscitadas pelo livro, uma delas se refere ao termo “ajuste de contas” para se referir às sanções e processos sofridos por nomes ligados ao Estado Novo depois da Revolução dos Cravos. A polêmica, por exemplo, apareceu em 21 de setembro de 2018 no lançamento do livro no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, uma das principais referências quanto à memória do Estado Novo português. O lançamento no Museu do Aljube contou com comentários de Fernando Rosas e Riccardo Marchi. Rosas foi enfático na crítica ao termo “ajuste de contas”: “Ajuste de contas ou responsabilização cívica e criminal de responsáveis da ditadura e dos seus crimes? Ajuste de contas tem um subtexto. É o subtexto da vingança. Não se trata bem de um ajuste de contas. Trata-se de justiça.” (2018, 17m30s).
Para leitores da maioria dos países latino-americanos e em particular do Brasil, como é o caso do que aqui escreve, o livro pode soar deveras crítico quanto à forma como a Revolução dos Cravos lidou e como os governos constitucionais têm lidado com a memória do passado autoritário português. Deveras crítico, pois muitos de nós ainda esperamos ansiosamente por um “ajuste de contas”, ainda que limitado e com imperfeições. Assim, para muitos de nós latino-americanos, ler o livro é experimentar um choque entre a nossa temporalidade e a portuguesa no que se refere à relação com o passado autoritário. Só é possível criticar o “ajuste” com o passado quando o processo foi feito ou pelo menos tentaram fazê-lo.
A crítica feita por Ditadura e Democracia é necessária e muito bem-vinda. Serve de experiência e referência àqueles que ainda esperam por um “ajuste” com o passado. Entretanto, faltou ampliar a contextualização das limitações e contradições apresentadas no caso português. Ressaltamos: os excessos cometidos no pós-25 de Abril de 1974 devem ser lembrados e criticados para (des)construir e historicizar os discursos políticos em Portugal desde então. Devem ser lembrados e criticados, pois, em alguns casos, foram muito graves e resultaram em “(…) diversas prisões arbitrárias, uso de tortura e violenta agressão física” (p. 99-100), conforme apontou comissão constituída para averiguar os excessos. Contudo, esses excessos também estão profundamente relacionados a um estrangulamento do espaço público promovido por décadas pelo Estado Novo. O (re)estabelecimento de princípios legais e constitucionais depois de períodos autoritários não é um processo simples. Por sua vez, que os excessos de Abril sejam “esquecidos” ou silenciados por forças políticas que outrora os promoveram ou defenderam (p. 99-101) também deve ser analisado como um sinal de revisão do passado revolucionário por essas forças e de seu alinhamento – ou submissão – a valores presentes na sociedade portuguesa contemporânea ou em setores expressivos dela. Para além dos interesses imediatos, presentes nos usos que os partidos e governos fazem do passado autoritário, caberia apontar como a experiência democrática transformou as forças políticas portuguesas e provocou mudanças na forma de lidar com a memória da ditadura e da Revolução dos Cravos. Em outras palavras, o “esquecimento” ou o silenciamento dos excessos cometidos por Abril talvez indiquem um aprendizado maior com a democracia do que reivindicações de Salazar em sua terra natal ou em programas de televisão de grande alcance. Enfim, faltou ao livro um equilíbrio entre a crítica à memória de Abril e os legados que a Revolução dos Cravos deixou para a democracia portuguesa, o que implica conceber a democracia para além do seu aspecto institucional.
Em tempos nos quais o passado autoritário brasileiro é minimizado ou mesmo negado por expoentes e setores de nossa política e sociedade – o que se verifica com variações em outros países latino-americanos –, a leitura de Ditadura e Democracia nos conecta com experiências históricas vividas pelos portugueses desde a queda da ditadura. Ajuda-nos a pensar nas particularidades de cada processo, mas também nos problemas e dilemas em comum deixados por governos autoritários e ditatoriais. Quanto às críticas que Filipa Raimundo faz aos usos da memória do passado autoritário português e da Revolução dos Cravos, estas nos servem, sobretudo, para que a sociedade civil seja a grande promotora de nosso “ajuste” e, assim, não fiquemos à mercê das instabilidades que marcam a política partidária e institucional. 1 Entre 1968, quando Salazar se acidentou, e 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, a presidência do Conselho de Ministros foi exercida por Marcello Caetano. 2 “Este livro não teve a pretensão de apresentar uma análise exaustiva das ferramentas e mecanismos usados para lidar com o passado em Portugal. (…). Ficaram de fora desta análise muitos outros aspectos, tais como: o exílio forçado da cúpula do regime, a punição dos funcionários da Legião Portuguesa, o Tribunal Cívico Humberto Delgado, a mudança na toponímia, a proibição de constituição de partidos fascistas, a amnistia aos desertores e refractários, entre outros temas (…)” (p. 98). 3 No que se refere à sistematização, são dignas de nota as tabelas 1 “Funções abrangidas pela restrição de direitos políticos em 1975-76” (p. 31) e 2 “Temas, conteúdos e principais conclusões dos 25 relatórios publicados pelo Livro Negro” (p. 65). O Livro Negro foi uma proposta iniciada em 1977 pelo primeiro governo constitucional depois da queda da ditadura e teve o objetivo de reunir documentos sobre o autoritarismo e a repressão durante o Estado Novo.
Paulo Renato da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foz do Iguaçu, PR – BRASIL. E-mail: paulo.silva@unila.edu.br.
Golpes na história e na escola: o Brasil e América Latina nos séculos XX e XXI – MACHADO; TOLEDO (Topoi)
MACHADO, André Roberto de Arruda; TOLEDO, Maria Rita de Almeida. Golpes na história e na escola: o Brasil e América Latina nos séculos XX e XXI. São Paulo: Cortez Editora, ANPUH-SP, 2017. Resenha de: GENARI, Elton Rigoto. Na trincheira das conquistas democráticas: o ensino de história como alvo de ataques e resistência ativa. Topoi v.20 n.42 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2019.
Em 1940, sob a sombria República de Vichy, Marc Bloch se entregou à tarefa de refletir sobre a derrota francesa diante do nazismo, num esforço de compreender tal processo. Escrito em três meses, A estranha derrota é testamento do significado que articular historicamente o passado tinha para Bloch: uma tarefa que exige crítica, observação e honestidade nos estudos, bem como interesse consciente em relação ao seu próprio presente. A história do tempo presente e do tempo imediato sempre apresenta complicações particulares, não apenas pelo alto grau de divergência entre interpretações e pela fugacidade do conhecimento produzido, mas também por, tantas vezes, estar ligada a eventos desestabilizadores. Dificuldade que é também a própria exigência de sua escrita – é a desorientação que leva à busca de meios para agir com mais clareza no calor dos acontecimentos.
Politicamente engajado, Golpes na história e na escola nasce também sob o signo de tempos conturbados, sendo o golpe de Estado de 2016 no Brasil o ponto de partida para sua produção. Com o comprometimento de situar os acontecimentos numa perspectiva histórica, os autores elaboraram reflexões capazes de conectá-los a processos políticos e sociais mais amplos. O livro aponta diversas experiências históricas, formando uma malha de narrativas ligadas pela demanda ética de viabilizar, como afirmou Circe Bittencourt na apresentação da obra, “uma memória social em oposição àquela construída pelos atuais donos dos Três Poderes” (p. 5). E, ao longo da empreitada, fica evidente a conexão entre a política institucional e o conhecimento produzido e circulado nos universos acadêmico e escolar, com ênfase no conhecimento histórico.
A coletânea foi, primeiramente, concebida como um dossiê de revista acadêmica, aprofundando debates iniciados em Historiadores pela democracia1 – obra lançada por um grupo de pesquisadores que se posicionaram em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff, apontando as irregularidades e os interesses subjacentes ao processo de impeachment levado a cabo contra ela. A proposta inicial tomou o formato de livro com o apoio recebido da seção São Paulo da Associação Nacional de História (ANPUH-SP) e tem, em seu âmago, a preocupação com o recrudescimento das disputas políticas no país, compreendido como uma ameaça não apenas à democracia brasileira, mas à própria concepção de História como área do conhecimento (p. 8). Dessa maneira, o livro se configura também como uma defesa do ofício de historiador, bem como do ensino de história.
O livro foi organizado por Maria Rita de Almeida Toledo (Unifesp) e André Roberto de Arruda Machado (Unifesp), respectivamente, pesquisadora do ensino de história e da formação de docentes, e estudioso da formação do Estado brasileiro. Traz artigos produzidos por historiadoras e historiadores de diferentes nacionalidades e divide-se em duas partes. A primeira engloba reflexões sobre as diversas tensões e interesses em disputa no Brasil nos contextos de golpe e exceção durante a chamada Quarta República, sobretudo o golpe civil-militar ocorrido em 1964, lançando também um breve olhar para o caso da ditadura argentina. A segunda parte trata das recentes tentativas de usurpar ou monopolizar a educação, discutindo os processos de formação da escola pública no Brasil e também na Colômbia, tendo como norte um debate sobre a liberdade de ensino e os projetos de sociedade que pautam diferentes perspectivas sobre a função social da escola.
A introdução avulta-se por articular as especialidades de Toledo e Machado numa reflexão historiográfica que, além de apresentar os trabalhos desenvolvidos em cada capítulo, chama a atenção para os embates entre diferentes sujeitos que permeiam os processos históricos e para o fato de que a sua escrita e seu ensino constituem ferramentas de poder e, em decorrência disso, campos de disputa. Junto disso, o texto apresenta um panorama do processo de despolitização da escola, identificado na própria constituição do sistema escolar brasileiro nos anos 1930 (p. 21-23).
Outro aspecto interessante é a coesão da coletânea, resultado do esforço em estabelecer diálogos entre as produções: os capítulos, mesmo sendo frutos de trabalhos prévios independentes sobre diferentes assuntos e temporalidades, possuem conexões claras. A obra abre espaço para analisar as articulações entre produção historiográfica, prática docente, educação básica e políticas educacionais, o que lhe confere um caráter politizado e colaborativo. Entretanto, nenhum artigo traz proposições ou experiências diretas de professores atuantes no Ensino Básico, o que poderia ter contribuído para fomentar mais diálogo entre o mundo escolar e o acadêmico.
Os primeiros quatro capítulos da Parte 1 se voltam para os atores políticos em contextos de golpe no Brasil, seus objetivos e atuação. O capítulo de abertura é de James Green, que se dedica a pesquisas sobre o Brasil e a América Latina na Brown University e investiga o papel dos Estados Unidos na construção da legitimidade dos processos que levaram às deposições de João Goulart, em 1964, e Dilma Rousseff, em 2016.
Os dois capítulos seguintes tratam do jogo de forças entre os atores nos três poderes. Em Crises políticas e o “golpismo atávico” na história recente do Brasil (1954-2016), Marcos Napolitano, professor da USP, e David Ribeiro percorrem as crises de 1954 e 2016, lançando o foco sobre o caráter desestabilizador que o desgaste das relações entre os poderes Executivo e Legislativo exerce sobre o sistema político. O texto de Napolitano e Ribeiro dialoga diretamente com o trabalho de Marco Aurélio Vannuchi que constitui o terceiro capítulo da coletânea, em que o autor apresenta uma análise sobre a atuação de juristas em oposição a Jango na década de 1960 e as correlações que ela carrega com a contemporaneidade, capaz também de problematizar a visão generalizada sobre a OAB como opositora do regime ditatorial desde a sua instauração.
O quarto capítulo, elaborado por Joana Monteleone, historiadora que pesquisa o apoio civil ao regime militar, em coautoria com o jornalista Haroldo Ceravolo Sereza, demonstra o protagonismo da Fiesp, especialmente através do Grupo Permanente de Mobilização Industrial, na articulação do golpe que derrubou João Goulart. Além de o estudo identificar de modo interessante a lógica da Doutrina de Segurança Nacional nas ações e planejamentos de grupos empresariais, o texto traz a reprodução de parte das fontes analisadas, permitindo seu uso em atividades escolares.
Os três últimos capítulos da primeira parte tratam da atuação de sujeitos na contramão dos regimes autoritários, a começar pelas comparações de Janaína de Almeida Teles entre os casos brasileiro e argentino no enfrentamento dos dilemas das reaberturas políticas, sobretudo ligadas ao direito à memória e à verdade. Em que pese o posicionamento crítico de Teles em relação às notórias limitações da atuação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, o artigo teria se beneficiado de um olhar mais matizado sobre o caso argentino para evitar dar a impressão de que esse teria obtido êxito completo. Ainda assim, Teles oferece uma perspectiva interessante para compreendermos a gênese das Comissões da Verdade e as dificuldades que envolvem a justiça de transição.
O sexto e sétimo capítulos dão enfoque ao protagonismo de movimentos sociais na luta pela democracia. Enquanto Claudia Moraes de Souza demonstra, em seu texto, o papel do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco no fortalecimento da luta por Direitos Humanos, o artigo de Petrônio Domingues e Flávio Gomes traz um importante panorama sobre as batalhas em torno dos usos de símbolos ligados a culturas de matriz africana. Além de apresentarem as distinções entre os movimentos organizados e as comunidades quilombolas, nos permitem enxergar suas estratégias, formas de atuação e seu papel fundamental, junto de esforços no ambiente acadêmico, no fortalecimento da luta contra o racismo, sobretudo ligadas ao reconhecimento dessas identidades e comunidades ao longo da Ditadura Civil-Militar. Nesse sentido, os três autores identificam, nas ações desses movimentos, um caráter de resistência e oposição aberta ao regime autoritário.
Em consonância com a primeira, a segunda parte do livro também fornece subsídios para o trabalho docente, com panoramas historiográficos, reflexões inovadoras e material para refletir sobre práticas e abordagens na escola, bem como uso de excertos em atividades educacionais. Esse mérito parece vir do entendimento de que a distinção entre bacharéis e licenciados foi constituída também em processos históricos cheios de tensões, conflitos e interesses políticos. É justamente esse o problema tratado pela co-organizadora Maria Rita de Almeida Toledo, no capítulo inicial da Parte 2. Uma contribuição importante do trabalho é inserir as disputas em torno de reformas educacionais da atualidade num contexto mais amplo, evidenciando continuidades que permitem ver, com mais clareza, a relação desses embates com diferentes projetos de sociedade.
Diante desses enfrentamentos, o capítulo de Fernando Seffner, coordenador da área de Ensino de História da UFRGS, aparece como uma resposta qualificada contra as iniciativas de estabelecimento de um ensino conformador de pensamento. De longe, é o mais voltado ao debate teórico sobre a ação docente, sua dimensão política e sua relação com o ferramental crítico atribuído ao fazer historiográfico. O texto de Seffner pondera sobre os limites, potencialidades e desafios para o ensino de história pensada não apenas como uma disciplina curricular isolada, mas como componente de um quadro mais amplo de saberes escolares fundamentais à construção de uma sociedade democrática. Na segunda parte do texto, Seffner avalia tentativas específicas de controlar e cercear a liberdade de ensinar e aprender, como projetos alterando a LDBEN (1996) e a Escola Sem Partido, também analisados nos capítulos finais.
Em Ideología de género: semblanza de um debate pospuesto, a professora do Centro Nacional de Memoria Histórica da Colombia, Nancy Prada Prada apresenta uma genealogia do conceito-espantalho “ideologia de gênero” nos debates políticos da Colômbia, bem como as finalidades de seu uso. Além de colaborar com a construção de uma crítica consistente às pautas dos grupos políticos que fazem uso do termo, seu trabalho nos ajuda a perceber que muitas convulsões sociais e enfrentamentos políticos de nosso cotidiano estão longe de ser um dilema exclusivamente brasileiro.
À luz de Seffner e Prada, os capítulos seguintes ficam ainda mais esclarecedores. Do arco-íris à monocromia: o Movimento Escola Sem Partido e as reações ao debate sobre gênero nas escolas, de Stella Maris Scatena Franco (USP), traz um histórico do próprio debate sobre gênero das últimas décadas, apontando para uma característica de movimentos como o Escola Sem Partido, a saber, a total recusa a ceder direitos. Nisso reside o elo com o trabalho seguinte, de Fernando de Araújo Penna, coordenador do Laboratório de Ensino de História da UFF, que observa as concepções do Movimento Escola Sem Partido sobre educação e, através das suas representações e discursos sobre o mundo escolar, chama a atenção para seu baixo apreço pela democracia e seus esforços em abolir o próprio caráter educacional da escola.
Esse tema se conecta às análises empreendidas por Antonio Simplicio de Almeida Neto e Diana Mendes Machado da Silva. Atuando na formação de professores e na pesquisa ligada ao ensino, os autores avaliam o papel da escola democrática diante de iniciativas de cerceamento da liberdade e dos ataques à educação de forma geral. Com isso, apontam os riscos que tais iniciativas reacionárias representam e o papel dos professores na defesa da escola e, consequentemente, da democracia.
Ao abrir mão de um fio condutor voltado ao aprofundamento de um único campo em prol de questões políticas do tempo imediato, Golpes na história e na escola traz as temáticas para o presente, demonstrando com clareza de que modos configuram campos de batalha na contemporaneidade. Interessa a uma série geral de pesquisadores por suas reflexões sobre a condição da profissão do estudioso em História, tanto na pesquisa acadêmica quanto na docência. Ao demonstrar a relação entre ensino e pesquisa, nos chama a refletir sobre os problemas ao subestimá-la. Simultaneamente, a obra nos permite compreender fatores que colaboraram para a construção da dicotomia ensino-pesquisa e, assim, percebemos como nossa herança do período ditatorial compõe um quadro mais complexo e multifacetado. De fato, é fundamental que pesquisadores reflitam sobre como suas pesquisas podem romper as barreiras do espaço acadêmico e alcançar a sociedade civil de modo amplo, trazendo a dimensão da educação para seus estudos, ao passo que educadores devem adotar a postura de pesquisadores na formulação e condução das aulas.
Outro aspecto de destaque é que a educação, ao longo das décadas, foi, ao mesmo tempo, campo de batalha e fortaleza sitiada nas disputas por hegemonia política no Brasil, alvo de uma série de discursos e dispositivos de poder em busca de sua instrumentalização. Por essa razão, o livro teria se beneficiado de contribuições que trouxessem experiências de profissionais que atuam no front. Professores que, em seu cotidiano nas escolas e nas pesquisas, produzem importantes análises para o enriquecimento da produção historiográfica e do ensino, não só permitindo um olhar mais esclarecido sobre as disputas em questão, como também caminhos para a superação de preconceitos que conservam uma relação dicotômica entre Universidade e Ensino Básico.
Por outro lado, essa limitação da coletânea apenas evidencia a dificuldade estrutural em aproximar a produção acadêmica da produção escolar, de modo que essa vigore como mais que mero objeto daquela. Atesta, desse modo, a importância das considerações propostas no livro e de ações institucionais que reconheçam a docência no ambiente escolar como prática incessante de pesquisa e não como conhecimento de segunda ordem. Isso é especialmente urgente em tempos em que a memória e o patrimônio nacionais são apagados por incêndios e iniciativas de censura, decorrentes de ações estratégicas e do próprio descaso do Poder Público. Assim, esse reconhecimento é fundamental a qualquer prática intelectual que busque defender e reforçar os alicerces e pilares de nossa jovem democracia, para que não seja necessário resgatar seus restos entre escombros.
Referências
Machado, André Roberto de Arruda; toledo, Maria Rita de Almeida . Golpes na história e na escola: o Brasil e América Latina nos séculos XX e XXI. São Paulo: Cortez Editora / ANPUH-SP, 2017. [ Links ]
MATTOS, Hebe; BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, Beatriz G. Historiadores pela democracia: o golpe de 2016 e a força do passado. Alameda, 2016. [ Links ]
1 MATTOS, Hebe; BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, Beatriz G. Historiadores pela democracia: o golpe de 2016 e a força do passado. Alameda, 2016.
Elton Rigotto Genari – Mestre em Ensino de História pela Universidade Estadual de Campinas / Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Departamento de História, Campinas/SP – Brasil. E-mail: eltonrigotto@gmail.com.
Caribbean Revolutions. Cold war armed movements.
MAY, Rachel; SCHNEIDER, Alejandro; GONZALEZ, Roberto. Caribbean Revolutions. Cold war armed movements. Cambridge University Press, 2018. 165P. Resenha de: GIRALDO, Fernando. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.39, set./dez., 2019.
Este libro se propone brindar elementos de análisis para una mejor comprensión del origen y la evolución de los movimientos armados en El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Puerto Rico durante los años de la llamada Guerra Fría, desde una perspectiva comparada. A fin de cumplir este propósito se analiza el carácter jerárquico de sus estructuras, sus alianzas, patrones de movilización y bases ideológicas, continuando el análisis de trabajos clásicos como el de Timothy Wickham: Crowley Guerrillas and Revolutions, publicado en 1991.
Según los autores, la ocupación norteamericana tanto en México, Cuba y Nicaragua, contribuyó a que sus procesos revolucionarios fueran a su vez de liberación nacional, en los cuales hasta las élites tuvieron interés y participación en su lucha contra Gobiernos militares que les habían cerrado espacios de gobernabilidad. También la capacidad de convocatoria de los movimientos guerrilleros, por ejemplo en Cuba y Nicaragua, hizo posible la vinculación de fuerzas obreras, campesinas, estudiantiles e incluso religiosas. A ello habrá que agregar que la comunidad internacional fue solidaria con las luchas contra estas dictaduras y en casi todo el continente se celebró luego el advenimiento de la democracia a estos países.
May, Schneider y González sostienen que tanto en México como en Cuba y Nicaragua se registraron intervenciones militares y despojos territoriales de los Estados Unidos. Recordemos, en el caso de México, la pérdida de Texas, Nuevo México y California (en 1847); la intervención en Nicaragua del filibustero William Walker y el precio que tuvo que pagar Cuba por la injerencia de los Estados Unidos en su independencia de España.
Se aborda la excepcionalidad del respaldo ciudadano en Colombia al M-19 -en contraste a otros grupos armados como las FARC o el ELN- porque fue una guerrilla muy pluralista e incluyente que no aparecía como un movimiento dogmático y, por lo tanto, las clases medias, la juventud, la intelectualidad simpatizaban con sus luchas y sus operaciones muy mediáticas. Ello explica el hecho de que luego de su desmovilización (ocurrida el 9 de marzo de 1990) recibió un amplio apoyo ciudadano representado en varias votaciones para cargos de elección popular.
Hubiera sido interesante en el libro que se incluyeran las perspectivas actuales de esas guerrillas, sobre todo en aquellos países donde hoy son partido de gobierno como en El Salvador o Nicaragua, pero quizá esto rebasa el periodo de estudio.
Resulta de mucha vigencia la lectura de esta obra dado que existe un gran desconocimiento de la naturaleza, características y particularidades de la historia política más reciente de América Latina y el Caribe, máxime por parte del púbico angloparlante. También cabe destacar que el caso de la guerrilla puertorriqueña ha sido poco estudiado por parte de la literatura más clásica sobre estos temas, lo cual sin duda es un aporte de este libro.
Resulta interesante el trabajo colaborativo de académicos de la Universidad del Sur de la Florida (USF), la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Norte, autores de esta publicación.
Fernando Giraldo – Ph. D., profesor titular, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad del Norte.
[IF]
Da senzala ao palco: canção escrava e racismo nas Américas/1870-1930 | Martha Abreu
APRESENTAÇÃO: DIÁLOGOS EM DELAY
Tomo emprestada a expressão “diálogos em delay” das reflexões de Julio Groppa Aquino, que nos fala de diálogos que entrecruzam temporalidades e nos deslocam do tempo linear da cronologia: Leia Mais
An Archaeology of the Political: Regimes of Power from the Seventeenth Century to the Present / Elías J. Palti
As is generally known, things turned out differently. The binary scheme of the twentieth century3 did not dissolve into the unambiguity of a market‐liberal world domination, but led to a new obscurity.4 The political proved to be very resistant to politics. It was obviously not finished with a bored administration of what had been achieved. Rather, the space of the political, in which the formations and institutions of collectives are disputed, proved to be still unfinished and inconclusive. The lines of conflict have multiplied and changed constantly since the end of the Cold War. The world appeared to be confused by the resurrection of actors long believed to have been overcome, who suddenly populated the field of politics again: Nationalisms, fundamentalisms, and populisms have since experienced an unforeseen renaissance, even though not only the teachings of the Enlightenment, but also the dialectics of the Enlightenment5 had promised that all this would finally be overcome.
Since the end of the twentieth century, one can continue to wonder how lively, tricky, and imaginative the political is. Neither political nor historical analysis has stopped asserting that atavistic elements could reappear, that historical backwardness could creep into our present, or that a relapse into the Middle Ages could be observed (quite apart from the fact that this would be an insult to the Middle Ages). Donald Trump, Jair Bolsonaro, Brexit, nationalist governments in Hungary, Poland, Austria, Italy, or talk of a struggle between believers and unbelievers—all these phenomena are not simply undead from the past who do not want to disappear. Instead, we are dealing with a new constitution of the political, for the appropriate description of which we do not yet seem to have the right language.
Against this background, it is only too understandable to ask the question of what this political could be in a historical and theoretical sense, this political in which fundamental questions of collectives are disputed. The Argentine historian Elías José Palti chooses a double approach in his “archaeology of the political.” He doubts the existence of a quasi time‐independent essence of the political and tries to emphasize its historical emergence. He recognizes three decisive phases in the history of the political that can be roughly discerned in the seventeenth century, around 1800, and in the twentieth century. In addition to the historical description, Palti also undertakes a theoretical reflection, beginning with the almost classical starting point of Carl Schmitt, followed by the discussion as it has developed in particular since the late twentieth century with the participation of Lefort, Rancière, Badiou, Agamben, Mouffe, Laclau, and others. One cannot claim that since then it has really been clarified what exactly this substantiated adjective “the political” is supposed to address. But that is probably what makes this concept so attractive (for me as well), that, unlike “politics,” it does not pretend to be clearly definable. It is precisely blurriness and flexibility that characterize the political.
Palti wants to nail this jelly to the wall with historical tools. He marks the beginning of the political in the seventeenth century:
The opening up of the horizon of the political is the result of a crucial inflection that was produced in the West in the seventeenth century as a consequence of a series of changes in the regimes of exercise of power brought about by the affirmation of absolute monarchies. It is at this point that the series of dualisms articulating the horizon of the political emerged, giving rise to the play of immanence and transcendence hitherto unknown. (xviii)
Even though I have great sympathy for a privileging of the seventeenth century due to my own research focus, I am not sure whether this setting is convincing. Especially in the world of (formerly) Roman Catholic Christendom after the Reformation, one can certainly find many reasons to let the political begin in this constellation. But to identify the “absolutist monarchies” as a starting point then runs the risk of appearing a little too Hegelian (for it was Hegelianism that contributed decisively to the establishment of the concept of “absolutism,” because it regarded it as a necessary step in the establishment of the “modern state”).6
Why should the political have become relevant only in absolutism? One can hardly imagine a form of human cooperation and opposition in which the political should not have been important. Let’s take the fresco cycle by Ambrogio Lorenzetti from the fourteenth century about good and bad government in the Palazzo Pubblico of Siena, a popular example to illustrate medieval understandings of politics—but also an example of a problematization of the political.7 Or let us take the even more well‐known metaphor of the king’s two bodies.8 In my opinion, both examples could serve to explain Palti’s central concern, namely the relationship between immanence and transcendence. It is their mediation that for him is at the center of the question of the political, namely how the meaning and goal of the political can be justified with a view to a superordinate context (whatever name it may answer to). Palti calls this connection the “justice effect.” But this question also arose before the seventeenth century, albeit perhaps in the opposite direction: it was not so much the transcendent that was in question, but the immanent that had to prove itself in the name of the transcendent.
Palti has this connection in mind. The first chapter of his book is devoted to the “theological genesis of the political.” In it he explicitly poses the question of how the political has developed out of the theological, namely in clear demarcation from this precursor model. For Palti, the political is thus fundamentally new and fundamentally different from the theological attempt to determine the relationship between transcendence and immanence. Thus, he distinguishes himself from Giorgio Agamben, who in The Kingdom and the Glory9 emphasized the continuity between the two discourses. Palti even understands his entire argumentation as a reply to Agamben, whose argument he wants to refute (184).
If it were up to me to choose between Palti and Agamben, I would vote for Agamben. In the context of this review, this will lead me to disagree with some of Palti’s arguments. These responses do not mean, however, that this is a bad book. On the contrary, I would strongly recommend reading it for thematic, methodological, and theoretical reasons. However, my view of the problems presented here is partly different.
Let us begin with some methodological considerations: Palti presents a conceptual history with which he explicitly wants to set himself apart from a history of ideas. For quite understandable reasons, he considers the history of ideas to be anachronistic because it transfers current ideas to past conditions and examines their occurrence there.
One may, however, suspect that his conceptual history does not escape anachronism either. For example, if Palti (in parallel to Koselleck’s “Sattelzeit”10) identifies a “Schwellenzeit” (threshold time) between 1550 and 1650 in which the political gradually detached itself from the theological—isn’t that already an anachronistic statement? Doesn’t one have to know already that one has crossed a threshold before one can state that there was a corresponding threshold time? Isn’t it fundamentally anachronistic to have information at one’s disposal of which past contemporaries could not yet know anything, namely that their approach to the questions of transcendence and immanence could still be relevant in the early twenty‐first century?
In other words, can there be any historical approach at all that is free of anachronism? And by that I don’t mean the case of chronologically wrong classification, of manual error. I mean the mixing of times: Historical questioning must be anachronistic insofar as it brings times that are not simultaneous into contact with one another—and this happens in a highly productive way.
Another difficulty with conceptual history arises from Palti’s claim not to want to rely on ideas alone, like the history of ideas (whatever might be meant by “ideas”). He aims rather at “analyzing how the terrain within which those options could take shape was historically articulated” (28). However, if you look at the terrain that is being paced here, it turns out to be rather sparsely populated. Palti bases his argumentation on a few selected examples whose representativeness is not always plausible. He analyzes extensively Greco’s painting The Burial of the Count of Orgaz, the writing “Defensio fidei” by Francisco Suarez, plays by Shakespeare, Calderón, Racine, and Lope de Vega, the essay by the Capuchin monk Joaquin de Finestrad entitled “El vasallo instruido” from the late eighteenth century, examples from serial music, as well as political and legal theoretical treatises by Carl Schmitt and Hans Kelsen. This is not a complete enumeration, but these are the essential examples that Palti refers to in order to prove the conceptual development of the political over three centuries. Why these persons and artifacts should be representative for the corresponding development is not always clear. One could well have imagined a different selection—above all, a selection that could have illustrated completely different paths of development.
I would like to explain this by using the example of the discussion about absolutism. Palti assumes that absolutism, with the changed position of the monarch, also fundamentally changed the constitution of the political. One can see it that way. This has often been done in traditional historiography on this subject. But what Palti completely ignores are the other stories that can be told about the European seventeenth century and about absolutism.
Doubts about the model of absolutism have been expressed for decades. They condensed into an international debate in 1992, when Nicholas Henshall’s book The Myth of Absolutism was published.11 Since then, the general assessment has been that although there was a political theory of absolutism in the seventeenth century, in practice it permanently failed and reached its limits. This can be well substantiated for the supposed prime example of absolutism, the French monarchy.
Now the debate about whether absolutism has functioned as political practice or not would not have to play a major role for Palti’s conceptual history—because he does not care about the question of actual implementation. What is striking, however, is the limitation that Palti imposes in his description of absolutism and the seventeenth century. He describes this period at least with a view to the political as if absolutism had been the clearly dominant model. And that is not the case. There have been numerous other strands of discussion and practices in which the political has become relevant in this period: republicanism, utopias, communalism, resistance theory, uprisings, revolutions. With reduction and unification, however, Palti’s conceptual history, which claims to take the historical contexts into account, falls into a similar imbalance as the history of ideas itself, from which he wants to distinguish himself.
The reductionism Palti applies is ultimately intended to illustrate the break that he needs in the history of the political in order to make his thesis plausible. He superimposes his idea of the birth of the political in absolutism with a secularization thesis à la Max Weber: the disenchantment of the world. Now, in absolutism, the monarch has the task of creating the unity that no longer goes without saying. I would rather say: Absolutism brings with it (on the theoretical level) a shift in the political discussion, but does not represent a discursive rupture. The theological does not disappear. It moves to new places.
An essential concern of Palti’s becomes clear with this supposed break caused by absolutism—as well as a clear difference from Agamben’s argumentation in The Kingdom and the Glory. Whereas Agamben emphasizes the continuity that exists between theological and secular justifications of the political, Palti emphasizes the break. The political, which raises its head in the seventeenth century, represents something fundamentally new for him.
I, too, would rather emphasize continuity—and this with examples that are in part quite similar to those of Palti. It is therefore less a matter of diametrical views, but of different interpretations of quite similar facts.
What is connected with this is not least the question of the historical location and the essential characteristics of modernity. If one emphasizes with Palti a break in the seventeenth century (the otherwise classic historical site of modern self‐affirmation, the Enlightenment of the eighteenth century, plays a rather minor role in its depiction), then one first identifies ex negativo a period that is characterized above all by not yet being like “the present” and by not yet living in the circumstances that “we” do. Those in the present can constitute themselves by distinguishing themselves from the premodern (living in a different time or a different space).
If one understands, as already said, the political (in contrast to politics) as the unfinished and unclosable space in which questions of the organization of collectives are negotiated, then Palti is certainly right when he states that something not insignificant changed in this space in the seventeenth century. But is it a clear rupture?
I would rather say it is a reversal of the signs while retaining the basic problem—and in this respect I also distrust the self‐description of modernity. The problem of the political is shifting into transcendence. Although until the seventeenth century, the afterlife could be regarded as a fixed point and the here and now an uncertain problem zone, the transcendent increasingly became a problem in the wake of the Reformation. In this world one had to come to other forms of (self‐)insurance.12 And in this immanent world, other (modern) forms of transcendentally oriented ways of faith were developed, which structurally had (and have) similarities with the supposedly premodern ones: the belief in growth, progress, nation, subject, and so on.13
With the help of Niklas Luhmann, the question could be raised as to how system–environment relations were redesigned and which boundaries were actually used to enable the distinction between immanence and transcendence.14 One could then probably conclude that in the seventeenth century this distinction underwent a new shaping. The question now gradually became conceivable whether God makes decisions for the world, or whether transcendent connections must be created from immanent processes. Legitimation, one could say with Luhmann, succeeded now less and less with an otherworldly God, but had to be achieved with worldly procedures.15
The question now, however, is whether with this shift a new epoch dawned, even a new world arose in which the political, which had never existed before, first came to light.
Starting from the break with absolutism, Palti’s depiction takes further steps in chronological order. One chapter is devoted to the late eighteenth and early nineteenth centuries and the emergence of democracy. It refers to Latin America, and more specifically to the political theory of Joaquín de Finestrad. Also in this historical context, which is usually identified with the code “French Revolution,” the argumentation continues: How can a new transcendence be founded from immanence?
Around 1800, this question arises in the context of the emergence of the nation. Here, with “history,” another God‐substitute is used to answer the question of transcendence. With the help of “history,” the nation is detached from the political and becomes naturalized (103). And in such procedures I see more continuities than Palti does, because there are structural similarities between the functions that “God” and “history” take over.
Palti then describes the twentieth century in the sense of a return to the Baroque—on the one hand. For as in the seventeenth century, dualisms break open, reason and history, truth and knowledge, politics and society fall apart. On the other hand, however, in the twentieth century (unlike in the Baroque) transcendence no longer holds the promise of an all‐encompassing unity. Rather, it is the source of contingency that causes systems and orders to falter. To explain this development with the help of serial music, as Palti does, is possible, but not immediately comprehensible. Palti at least claims that the fundamental matrix that can be observed in serial music is underpinned by contemporary thinking about the political. In spite of sympathy for twentieth‐century new music, this connection is not immediately obvious to me. Here a little more argumentative reasoning would have been necessary.16
Palti summarizes the developments of the twentieth century as an age of form in which the historical and evolutionary of the nineteenth century were replaced by the discontinuous. Every new form (and serial music is an example of this) is made possible by a comprehensive reconfiguration of the system (125–126).
Finally, Palti identifies three epochs in his archaeology of the political: the epochs of representation (Baroque), of history (around 1800), and of form (twentieth century). In each of these epochs, the question of the relationship between transcendence and immanence is clarified in different ways.
If we move from Palti’s analysis further into our own present in the early twenty‐first century, we might conclude that, after the three phases of the constitution of the political that Palti introduced, we now find ourselves in the already implied situation of exuberant complexity of the political, precisely because coordinates believed to be certain have been lost, and established strategies no longer seem to function. The closer Palti moves to the early twenty‐first century, the more important emptiness becomes in describing the political. He identifies the concept of the subject as an empty signifier (51, 142) and treats paintings by Kazimir Malevich and Robert Rauschenberg that deal with the emptying of the picture surface (172–176).
In this very emptiness, I would also like to identify the culmination point that is constitutive for discussions about the political. Because the unfinished and unclosable space of the political has no ultimate anchor point, some collectives are quite desperately busy setting such a point. In the afterlife, in the origin, in the telos—wherever it may be found, sooner or later it turns out to be a void. And it is precisely with such empty spaces that collectives seem to have problems. Therefore, I consider postfundamentalist theories (also treated by Palti) to be very helpful in tackling this problem.17
Palti seems to me, however, to meet the problem of the empty foundation of the political only halfway, because he names and describes it, but immediately encloses it again in a historical representation including an epoch model. So Palti’s three phases are too simple. They are too simple because there are only three, and they are too simple because they are too clear. Palti is thus stymied in the interpretation he analyzed for the nineteenth century, the epoch of history. The linear sequence of the models of the political in his argument ultimately becomes the foundation of the political par excellence: the political exists because there is the specific history of the political. This entails the danger that everything is subject to the historical—with the exception of history itself.
Palti’s epochalization of the political thus goes hand in hand with the danger of fundamentalization. Each epoch designation carries the message that, thanks to it, one has found out what a certain time now really “is.” However, the critic of the “jargon of authenticity,” Theodor W. Adorno, has already stated (and explicitly with respect to the Baroque) that epoch designations are incapable of expressing historical complexity. They grasp only mediocrity, but could hardly cover anything that was not subordinate to this average.18 The same must be said of Palti’s Archaeology of the Political: an instructive, scholarly book that offers many insights, but which, with its epochalization, does not do justice to the complexity that arises in the dynamics between the temporal and the political. For these dynamics we probably need a new language, new forms of description, which are not yet available to us as a matter of course.
How about taking seriously the offers of avant‐garde painting that Palti quotes toward the end of his book? What if the white surface of a painting by Malevitch or the erased drawings of a Rauschenberg were taken as an opportunity to reflect more closely on questions of emptiness, negation, representability, and unrepresentability, especially in the historiographical context? Then it would not only be a matter of the possibilities of describing the political, but also of the possibilities of depicting the historical.
It is here that a problem with Palti reveals itself, which seems to me worth discussing about his approach. He relies too much on the historical as the backbone of his argumentation and presentation. For as right and important as it is to question the constitution of the political, it must seem strange to use the historical as its unquestioned support.
It would have been interesting to see how Palti’s argumentation would have changed if he had not relied on the linear logic of chronology, but had made even clearer the respective references and actualizations over time. His view from the seventeenth century to the present would have offered some clues, because it was not by chance that the Baroque was revalued by the discussions about postmodernism and that philosophers such as Spinoza, Pascal, or Leibniz have received much more attention since the end of the twentieth century.
The subject of the political would thus enable the investigation of the folds of time that become relevant when presences refer to absent times. These references are indeed not always linear, but much more creative and complex than the idea of the timeline suggests. Another history of the political would arise in this way. But it, too, would show (in another way) what Palti had intended in his book: that the political is not time‐independent in character.
Notes
1. Jean François Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).
2. Lutz Niethammer, Posthistoire: Has History Come to an End? (New York: Verso, 1992); Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).
3. Alain Badiou, The Century (New York: Polity Press, 2007).
4. Jürgen Habermas, “The New Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies,” Philosophy & Social Criticism 11, no. 2 (1986), 1–18.
5. Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment [1947] (Stanford: Stanford University Press, 2002).
6. Reinhard Blänkner, “Absolutismus”: Eine begriffsgeschichtliche Studie zur politischen Theorie und zur Geschichtswissenschaft in Deutschland, 1830–1870 (Frankfurt am Main: Lang, 2011).
7. Quentin Skinner, “Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher,” in Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit: die Argumentation der Bilder, ed. H. Belting and D. Blume (Munich: Hirmer, 1989), 85–103.
8. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology (Princeton: Princeton University Press, 1957).
9. Giorgio Agamben, The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Stanford: Stanford University Press, 2011).
10. Reinhart Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time (Cambridge, MA: MIT Press, 1985).
11. Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy (London: Longman, 1992).
12. The sociologist Elena Esposito has convincingly described this process with respect to the seventeenth century insofar as she has shown the new possibilities of designing other realities by means of probability calculus and fictional literature: Elena Esposito, Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007).
13. Karl Löwith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History (Chicago: University of Chicago Press, 1949).
14. Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000).
15. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren (Neuwied and Berlin: Luchterhand, 1969).
16. For another description of the connection between politics and New Music, see Alex Ross, The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century (New York: Picador, 2007).
17. Oliver Marchart, Post‐foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007). Similar arguments can be found in a still very current book by Leo Shestov, All Things Are Possible (New York: R. M. McBride & Co., 1920).
18. Theodor W. Adorno, “Der mißbrauchte Barock,” in Gesammelte Schriften, vol. 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 401–422.
Achim Landweh
PALTI, Elías José. An Archaeology of the Political: Regimes of Power from the Seventeenth Century to the Present. New York: Columbia University. Press, 2017. 235p. Resenha de: LANDWEH, Achim. The (dis)continuous history of the political. History and Theory. Middletown, v.58, n. 3, p.451-459, sept. 2019. Acessar publicação original [IF].
Virginia Artigas. Histórias de arte e política | Rosa Artigas
Quando brumas caem sobre a cena pública e a polarização político-ideológica persiste, animada por grosserias, agressões e arroubos retóricos vindos de cima, é hora de valorizar a cultura e resistir aos que tentam criminalizá-la.
Na cultura repousa o que identifica uma nação e faz uma população se reconhecer como parte de uma coletividade. De norte a sul, de leste a oeste, nas grandes cidades e nas mais recônditas localidades do Brasil profundo, é a posse de uma mesma língua, de hábitos enraizados, de símbolos, de maneiras de pensar, sentir e fazer que dá ao brasileiro a percepção de que, na vida, há algo além da sua pessoa e do lugar geográfico. Por brotar da experiência, a cultura não pode ser capturada pelo Estado, muito menos pelos governos de plantão. Continua a pulsar, sempre. Leia Mais
Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas – AMADO; SARAMAGO (A-EN)
AMADO, Jorge; SARAMAGO, José. Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas. Seleção, organização e notas de Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel, São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de NOGUEIRA, Carlos. Correspondence Jorge Amado / José Saramago: the supreme delicacy that is friendship. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
O título deste livro, que os organizadores foram buscar em uma das cartas que José Saramago enviou a Jorge Amado, indica, com precisão e expressividade, as circunstâncias que desencadeiam a correspondência trocada pelos dois escritores entre 1992 e 1998: quer a imensa distância física que os separava, quer as inúmeras solicitações que, muitas vezes, não permitiram que eles se encontrassem. O subtítulo, também muito sugestivo, resume bem a grande motivação destas mensagens: a amizade entre Amado e Saramago, que nasceu quando “os dois já iam maduros nos anos e na carreira literária”, como se lê na contracapa, na qual se reproduz uma fotografia dos dois, sentados lado a lado. Nesta amizade participaram igualmente, e para ela muito contribuíram, as companheiras de cada um deles: Zélia Gattai e Pilar del Río.
Em forma de carta, bilhete, cartão ou fax, esta correspondência traduza profunda admiração que Jorge Amado e José Saramago sentiam um pelo outro enquanto pessoas e escritores. A vivacidade do estilo confere a estes textos tão pessoais uma noção de conjunto que se soma ao quadro completo da vida humana inscrito em obras que pertencem, de pleno direito, à melhor literatura universal, tanto no aspeto doméstico e individual como no coletivo e heroico.
Em diversas ocasiões, Pilar del Río disse acreditar que a divulgação destas cartas favorece a aproximação dos leitores à obra de dois escritores cuja maneira de ser, estar e pensar se vê, em larga medida, nestes textos breves ou muito breves, que não foram escritos com intenções de publicação. São documentos preciosos para o conhecimento da intimidade e da cumplicidade que unia Jorge Amado e Saramago, que o mesmo é dizer: textos valiosos para a compreensão da biografia e da personalidade de ambos. Esta correspondência revela-nos o quotidiano de dois homens – comprometidos com a escrita e a vida, as sociedades portuguesa, espanhola, brasileira e o mundo – que haveriam de se encontrar em Paris, Roma, Madrid, Lisboa, Brasília e na Bahia. É mais correto dizer que este comprometimento com a vida é extensível aos dois membros dos dois casais, uma vez que Zélia Gattai e Pilar del Río são sempre destinatárias explícitas e agentes do que se conta e anuncia, nomeadas quase sempre no vocativo inicial, que inclui o adjetivo “queridos” (ou “querida”, como em “Querida Zélia, querido Jorge”), ora a qualificar os amigos sem os nomear (“Queridos amigos”), ora a nomeá-los (“Queridos Pilar e José”), ora num misto destas duas formas, como em “Zélia, Jorge, queridos amigos”.
Poder-se-á pensar que os livros de cartas, especialmente aqueles que reúnem textos curtos ou muito curtos, têm uma vida e um interesse limitados. Não é assim, nesta coletânea, como não o é sempre que estão envolvidas obras (e vidas) cuja grandeza admite pouca ou nenhuma discussão. As palavras de Jorge Amado e José Saramago bastariam para garantir a importância deste livro, que está enriquecido com fotografias e textos que, relacionados com as cartas ou diretamente com Jorge Amado (como a propósito da morte deste escritor), Saramago escreveu e, na sua grande maioria, publicou nos Cadernos de Lanzarote. Os organizadores decidiram ainda incluir uma carta de Pilar, dirigida ao casal amigo, que sintetiza bem o tema que, ao lado dos temas da amizade e da saudade, mais é discutido na correspondência entre os dois amigos: os prêmios literários, sobretudo o Nobel da Literatura.
A autoria das cartas, dizia, seria suficiente para distinguir este livro de outros do mesmo gênero que vão sendo publicados um pouco por todo o mundo. Convém, todavia, fundamentar bem esta nossa afirmação. Com o Mar Por Meio testemunha uma amizade que surge quando os dois escritores tinham já uma idade avançada e um considerável reconhecimento literário e social. Não é uma fatalidade, mas sabemos como entre os escritores (maiores e menores) são frequentes as desavenças, as invejas e os ódios mais ou menos confessados. Entre Jorge Amado e Saramago não há o menor indício de rivalidade, nem o mais tênue ressentimento pelo sucesso do outro. Muito pelo contrário, cada um defende veementemente a qualidade da escrita do amigo e a justiça da atribuição de mais prêmios ao outro e à língua portuguesa. Os dois lamentam também o que consideram as injustiças e as provocações que várias academias e certos júris têm cometido em relação a cada um deles. É neste contexto que Saramago declara: “Finalmente o Camões para quem tão esplendidamente tem servido a língua dele! Será preciso dizer que nesta casa se sentiu como coisa nossa esse prémio? Que pessoalmente me sinto orgulhoso do comportamento dos portugueses que passaram pelos júris, e em especial os de agora? Sirva isto de compensação para as decepções e as amarguras que outros causaram a Jorge” (p. 85).
Numa das cartas mais longas e ricas de Com o Mar por Meio, a que acima já aludi, Pilar del Río ajuda-nos a enquadrar e a compreender as ideias e as atitudes de Jorge Amado e de José Saramago relativamente aos prêmios literários em geral e ao Prêmio Camões e ao Nobel, em particular, por cuja “concessão” a um autor de língua portuguesa os dois muito lutaram. A autora, numa linguagem não menos exata e apelativa do que a dos dois escritores, elogia a obra e a personalidade de Jorge Amado, ao mesmo tempo que retira aos prêmios literários a autoridade e a gravidade que, regra geral, lhes atribui: “Lo que has hecho con el portugués y por el portugués, la luminosidad que has añadido a esa lengua y al hermoso acto de novelar, merece todoelreconocimiento. No digo el Nobel, porque cuando se habla de Literatura (así con mayúscula), me parece una ordinariez citar un premio, aunque sea el premio de los premios” (sublinhado no original; p. 58). A apreensão que os prêmios literários merecem a Pilar del Río é inversamente proporcional à sua confiança na literatura de Jorge Amado, cuja leitura nos dá a satisfação e o poder “de ser más hondos y más universales. En definitiva, de ser más humanos por ser más inteligentes” (p. 58). Com perspicácia e ironia fina, a autora, confiante no bom senso dos “senõres de Estocolmo” (p. 58), inverte os termos da equação: “Por supuesto, si además, te dan el Nobel, como parece tan probable, mejor que mejor. No te añadirá ni un ápice de honra o de gloria, que de eso estás servido con tu obra, pero honrarás al premio” (p. 58).
Não numa carta, mas num texto do seu diário, publicado nos Cadernos de Lanzarote, é dentro desta linha de pensamento e com sentimentos que parecem ser muito semelhantes aos de Pilar del Río que o escritor português comenta os prêmios literários em cujos júris participa ou que espera ganhar ou ver Jorge Amado ganhar. Com a expressividade, a clareza e a contundência que sempre incutiu às suas palavras, Saramago afirma, a propósito da atribuição do Prêmio Camões a Rachel de Queiroz: “Não discutimos os méritos da premiada, o que não entendemos é como e porquê o júri ignora ostensivamente (quase apeteceria dizer: provocadoramente) a obra de Jorge Amado. Esse prémio nasceu mal e vai vivendo pior. E os ódios são velhos e não cansam” (p. 24). Sobre o Nobel, no mesmo tom direto, Saramago comenta as informações segundo as quais o prémio de 1994 seria para António Lobo Antunes. Com ironia, o escritor português argumenta: “Já sabemos que em Estocolmo tudo pode acontecer, como o demonstra a história do prémio desde que o ganhou Sully Prudhomme estando vivos Tolstói e Zola” (p. 51). Aquilo que José Saramago escreve a seguir, dentro de regras de boa educação e honestidade intelectual, não poderia ser mais frontal: “Quanto a mim, de Lobo Antunes, só posso dizer isto: é verdade que não o aprecio como escritor, mas o pior de tudo é não poder respeitá-lo como pessoa” (p. 51). A concluir este texto, Saramago confessa, com autoironia, o desejo de se deixar de preocupar com o Nobel, que é, como ele diria numa carta escrita quatro dias depois daquele texto do diário, “uma invenção diabólica” (p. 53). “Como não há mal que um bem não traga, ficarei eu, se se confirmar o vaticínio do jornalista, com o alívio de não ter de pensar mais no Nobel até ao fim da vida” (p. 51).
A incomodidade e os conflitos interiores trazidos aos dois escritores pela obrigatoriedade de conviverem com o tema dos prêmios literários e de quererem conquistá-los para si tiveram como reverso, felizmente, a alegria de se sentirem reconhecidos e de poderem dirigir palavras de apreço um ao outro (Jorge Amado com o Prémio Camões, Saramago com o Nobel). Deste sentimento é sintomática a atitude inesperada e improvável de Jorge Amado, que, apesar de muito doente, ao ouvir da boca de Zélia Gattai que Saramago fora distinguido com o Nobel, “pulou do cadeirão, chamou Paloma, pediu que se sentasse no computador que ele iria ditar de imediato, uma nota para a imprensa” (p. 113), telefonou ao irmão, festejou (o possível) com a mulher e a filha, “Foi dormir contente” (p. 113). Contudo, “No dia seguinte, não quis mais abrir os olhos” (p. 113).
A questão dos prêmios literários, cuja discussão neste livro é preciosa para o conhecimento da personalidade e da vida de dois dos mais importantes escritores de língua portuguesa, justifica, por si só, a leitura atenta desta correspondência. Mas ao tema polêmico e complexo dos prêmios acresce o tom e o estilo das cartas. Nelas, a linguagem direta, a concisão e a secura das frases não são incompatíveis nem com a sinceridade dos sentimentos e das emoções nem com a profundidade do tratamento dos temas e assuntos (fala-se também da participação dos dois em júris e academias, de questões políticas e sociais, de saúde, etc.). Essa naturalidade e essa força veem-se em formulações, muito próprias tanto de Jorge Amado como de Saramago, que lembram máximas e pensamentos burilados pela tradição, como: “Espero que, ao menos, o trabalho me ocupe esses dias de velhice – velhice não é coisa que preste” (Jorge Amado p. 89); “[…] desejamos que haja mais ocasiões para estarmos juntos e partilhar do manjar supremo que é a amizade” (José Saramago, p. 107).
Para os leitores destas cartas, fica claro que Jorge Amado e José Saramago sempre pensaram a literatura e as literaturas em língua portuguesa não como existências isoladas, mas como forças centrais no jogo das energias e das construções tanto individuais como históricas, culturais e políticas.
Referências
AMADO, Jorge; SARAMAGO, José. Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas. Seleção, organização e notas de Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
GOULART, Rosa Maria. O Trabalho da Prosa: Narrativa, Ensaio, Epistolografia. Coimbra: Angelus Novus, 1997. [ Links ]
LEMOS, Ester. “Epistolografia (em Portugal)”. In: COELHO, Jacinto do Prado (dir.). Dicionário de Literatura. 4a. ed. Porto: Mário Figueirinhas Editor, 1997, p. 295-298. [ Links ]
ROCHA, Andrée. A Epistolografia em Portugal. Coimbra: Livraria Almedina, 1965. [ Links ]
*Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do Centro de Estudos em Letras (referência UID/LIN/00707/2019) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.
Carlos Nogueira. É co-titular da Cátedra José Saramago da Universidade de Vigo (Galiza, Espanha). Doutorou-se em Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2008), onde também fez um mestrado em Estudos Portugueses e Brasileiros (1999) e se licenciou em Línguas e Literaturas Modernas (1994). Realizou um pós-doutoramento em Literatura Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa (2014). O seu trabalho de investigação mais recente tem-se centrado sobretudo nas relações entre a Literatura, a Filosofia e o Direito. E-mail: carlosnogueira@uvigo.es
[IF]A vida invisível de Eurídice Gusmão – BATALHA (A-EN)
BATALHA, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de BERNED, Zilá. O extremo contemporâneo na literatura brasileira. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
L´extrême contemporain,
c´est mettre tous les siècles ensemble.
(Michel Chaillou apud Dominique Viart, 2008, p. 20)
Dominique Viart, em livro de 2008, estabelece distinções no âmbito das literaturas contemporâneas, afirmando que existem três tipos de literatura: as de consentimento (consentantes), ou seja, aquelas que não contestam a sociedade e que se constituem como a “arte da aprovação”, em que os escritores escrevem para o grande público, tornando-se muitas vezes bestsellers; as conciliatórias (concertantes), que fazem coro aos clichês e que se resumem a reconduzir a doxa, harmonizando as opiniões gerais; e, por fim, as literaturas desconcertantes (déconcertantes), que seriam aquelas que deslocam as expectativas da maioria dos leitores, deixando de reproduzir as velhas receitas literárias e passando a exercer uma atividade crítica que se desvia de significações pré-concebidas, levando os leitores a reavaliarem seus conceitos e sua consciência de estar no mundo. Essas literaturas desconcertantes, que incomodam pela crueza como desvendam e denunciam preconceitos ou visões estratificadas da sociedade, é que caracterizam o “extremo contemporâneo”.
Na mesma direção, em livro recente de 2018, o polêmico Johan Faeber, introduz o conceito de “après-littérature” ou literatura do “depois” (evitando o já desgastado conceito de pós-literatura ou pós-moderno), que seria a que se propõe a escrever “a contra-história de nosso tempo”. Afirma também que é esse tipo de romance que dará uma sobrevida à literatura, representando a sua revivescência. No momento em que se pensa que tudo já foi escrito e que, portanto, pode-se antever a morte da literatura, surgem os escritos do extremo contemporâneo. Para defini-lo o autor vale-se de uma expressão de Giorgio Agamben que afirma que “ser contemporâneo significa voltar a um presente onde nunca estivemos”, isto é, a um presente do qual não participamos e sobre o qual não interferimos. Um presente revisitado.
Torna-se oportuno introduzir a questão de um fenômeno que está acontecendo na cena literária brasileira dos últimos dez anos, talvez vinte anos: o surgimento de uma escritura feminina “desconcertante”, manifestando uma urgência de escrever para denunciar a invisibilidade e a inaudibilidade de toda uma geração de mulheres que a precedeu e que não teve voz nem vez na cena pública brasileira.
Trata-se de autoras jovens, quase todas escrevendo entre os 35 e os 50 anos, a maioria detentoras de diplomas universitários e teses de mestrado e/ou doutorado, e que vêm revolucionando a cena literária em nosso país. Entre elas, Carola Saavedra, Aline Bei, Eliane Brum, Conceição Evaristo, Martha Batalha, Tatiana Salem Levy, Adriana Lisboa, Paloma Vidal, Ana Maria Gonçalves, Leticia Wierzchowski, Cíntia Moscovich, Maria da Graça Rodrigues, entre tantas outras. É interessante consultar a antologia organizada por Luiz Ruffato: 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2004). O organizador da antologia sentiu também a necessidade de abordar o advento de uma nouvelle vague literária no feminino cujas obras, escapando ao “prêt-à-penser” cultural, ou seja, recusando-se a repetir velhas e desgastadas fórmulas romanescas, desconcertam os leitores ao desnudar histórias de vida que permitem a suas narradoras/protagonistas, através da recuperação da memória de suas antepassadas (mães e/ou avós) e de sua ressignificação no presente, entender em que medida sentem-se (ou não) herdeiras desse passado.
Importa, em especial, falar do livro de Martha Batalha (nascida em 1973), A vida invisível de Eurídice Gusmão (São Paulo: Companhia das Letras, 2016), que desvenda a invisibilidade da protagonista – Eurídice Gusmão -, a quem nomeia no título, para convocá-la à existência apontando suas tentativas de se emancipar, todas elas frustradas pelo marido. O livro transforma-se em um verdadeiro inventário de ausências na vida de Eurídice Gusmão, típica dona de casa do Rio de Janeiro, dos anos 1940, quando a mulher da classe média que trabalhasse fora do lar representava o fracasso do marido em sustentar a família.
Inventário das coisas ausentes é o título de um livro de Carola Saavedra (Cia. das Letras, 2014), remetendo igualmente às ausências, às faltas na vida das mulheres no Brasil e à necessidade de inventariá-las, uma vez que só após o inventário se reparte a herança, e que só depois de recebido o legado é possível transmiti-lo. As memórias só se constituem plenamente pela transmissão. A transmissão, no dizer de Paul Ricoeur, é geradora de sentido. Por isso nunca se viu tantas mulheres escrevendo romances verdadeiramente “desconcertantes” no Brasil: eles são necessários para realizar o inventário das ausências e transmiti-las através da escritura, gerando sentido e restaurando memórias feridas.
Patrick Chamoiseau escreveu um livro intitulado La matière de l´Absence (SEUIL, 2016), no qual reconhece que as literaturas das Américas vem sendo construídas com “a matéria da ausência”, ou seja sobre camadas de esquecimento e denegação de elementos culturais indígenas e africanos cuja transmissão não foi efetivada porque houve rejeição dessa herança pelos herdeiros ou porque tais tradições não foram consideradas quando da construção das identidades nacionais. Podemos pensar em algo semelhante diante do silenciamento imposto às mulheres às quais não se concediam o direito à alfabetização e, posteriormente, à frequentação de universidades.
Pois foi esse silêncio, essa ausência que tornou as mulheres e os papéis que desempenhavam invisíveis. Martha Batalha aponta em seu livro as diferentes tentativas de sua heroína de sair da invisibilidade, inicialmente organizando um livro de receitas, depois das bem-sucedidas experimentações que realizava em sua cozinha. O que poderia ter sido um bestseller pelo talento de Eurídice Gusmão foi jogado no lixo pelo marido que não podia admitir tamanha audácia por parte da esposa, que – segundo ele – deveria se contentar com a repercussão familiar das receitas. A nova tentativa de desenvolver seus dotes artísticos através da costura foi igualmente castrada pelo todo poderoso marido, pois o que haveriam de pensar os vizinhos diante do fato de a esposa “costurar para fora”. Assim vai se desperdiçando a vida da personagem até os filhos não precisarem mais de sua dedicação: é quando percebe que na estante da sala de sua casa havia livros e que livros poderiam ser lidos, passando a devorar os livros da estante assim como os da biblioteca pública. O passo seguinte foi a compra da máquina de escrever, a mudança da casa velha para o novo bairro que estava surgindo à beira-mar: para Ipanema. “Mudar-se para Ipanema no início dos anos 60 não era apenas transferir a mobília alguns quilômetros adiante. Era atravessar os portões do tempo, para viver num lugar que fazia o resto do Rio se parecer com o passado” (2016, p. 169). Os tec, tec, tec da máquina foram ouvidos com mais insistência do que na antiga casa da Tijuca, embora ninguém se preocupasse com o que teria para escrever uma dona de casa. Embora os jornais não tenham aceitado seus textos nem ninguém na casa manifestasse o mínimo interesse por eles, foi através primeiro da leitura e depois da escritura que Eurídice Gusmão se viu face a face com a invisibilidade que lhe foi imposta pelo marido.
Embora o livro traga as marcas de um feminismo incipiente em que o homem (marido) é o inimigo, ele aporta frescor ao feminismo atual pelo fato da emancipação não passar por grupos, mas pela afirmação de si mesma, através do florescer de preocupações intelectuais e pelo ato de criação literária.
A personagem se liberta pela escritura, e a autora constrói um romance com base em uma personagem feminina subjugada que lentamente sai de sua invisibilidade e sobretudo de sua inaudibilidade, sem cair em narrativas piegas, ou na criação de uma escritura à l´eau de rose, como dizem os franceses. Ambas escrevem para se conhecerem através da escritura, compondo obras que desconcertam pela crueza das descrições e por chegarem, como afirma Viart: là où on ne les attend pas. Elles échappent aux significations preconçues, au prêt-à-penser culturel. (2008. p. 13)1
Nessa medida, Martha Batalha desenvolve uma escrita crítica e ao mesmo tempo cheia de humor e de leveza, rompendo cordões de isolamento, deslocando ideias e recriando fórmulas narrativas inéditas. De modo semelhante, autoras de sua mesma geração, como as citadas acima, cada uma escolhendo um objeto do deslocamento, vêm criando o que Luiz Ruffato chama de “Nova literatura brasileira”: Aline Bei aborda, em O peso do pássaro morto (2018), a ainda impronunciável questão do estupro; Eliane Brum, em Uma duas (2018), traz à baila as relações deterioradas entre mãe e filha e temas como a automutilação; Conceição Evaristo, em Olhos d´água (2015), descreve a infância de crianças negras em uma favela e a busca por saber a cor dos olhos da mãe; e Carola Saavedra, em Com armas sonolentas (2018), enfrenta o duríssimo tema da maternidade indesejada e dos desencontros de separações entre mães e filhos, tudo embalado pelo canto “sonolento” de Soror Juana Inés de la Cruz. Enfim, soberbas lições trazidas por esses romances desconcertantes, por vezes penosos para o leitor, mas que certamente não sai o mesmo depois de acabada a leitura. Trata-se de uma literatura que renuncia a trilhar caminhos conhecidos e a reproduzir o que Dominique Viart chama de “o depósito cultural dos séculos e das civilizações” (2008, p. 20).
O belíssimo inventário de perdas realizado por Martha Batalha em A vida invisível de Eurídice Gusmão passou ao cinema tendo sido recentemente apresentado no Festival de Cannes, onde foi premiado na mostra Un certain regard. O melodrama de Karim Aïmouz contou, em seu elenco, com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier e com a participação de Fernanda Montenegro. O filme será lançado em setembro no Brasil.
Até lá, ler o livro é uma prazerosa e “desconcertante” urgência. O leitor/a estará trilhando os caminhos do extremo contemporâneo ou, no dizer de Johan Faeber, entrando em contato com uma literatura que surge quando se pensa que tudo já foi escrito e que nada mais de novo haveria para ser contado, correspondendo ao que o autor chama de “après littératures”, ou seja, aquelas que representam uma revivescência do fato literário.
Referências
BATALHA, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. [ Links ]
FAEBER, Johan. Après la littérature: écrire le contemporain. Paris: PUF, 2018. [ Links ]
RUFFATO, Luiz. 25 mullheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2004. [ Links ]
VIART, Dominique; VERCIER, Bruno. La littérature française au présent. 2a. ed. Paris: Bordas, 2008. [ Links ]
Notas
1Lá onde não as esperamos. Elas escapam às significações pré-concebidas, ao pronto-para-pensar cultural.
Zilá Bernd é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professora permanente do PPG-Memória Social e Bens Culturais do UNILASALLE/Brasil. É bolsista de pesquisa 1B CNPq. Foi uma das primeiras presidentes da ABECAN (Associação Brasileira de Estudos Canadenses) e presidente do ICCS-CIEC (International Council for Canadian Studies). Foi a fundadora e primeira editora da Revista Interfaces Brasil-Canadá. É Officier des Palmes Académiques e Officier de l´Ordre National du Québec. É autora de dezenas de artigos publicados em revistas do Brasil, do Canadá e da França, e de vários livros – sendo o último A persistência da memória; romances da anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional. Porto Alegre: Besouro Box, 2018. O mesmo teve versão em língua francesa: La persistance de la mémoire: romans de l´antériorité et leurs modes de transmission intergénérationnelle. Paris : Société des écrivains, 2018. E-mail: zilabster@gmail.com
[IF]
El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente – ARIZA (A-EN)
ARIZA, Julio. El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente. Rosario: Beatriz Viterbo, 2018. Resenha de MUSITANO, Julia. Cuando el amor termina, la ficción comienza. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec. 2019.
La revista Anfibia publicó a principios de este año un número en papel sobre el amor: relatos de escritores y críticos literarios argentinos sobre amor. En todos sus colores y formas, cada página derrocha ternura, felicidad y tristeza como despliegues del mismo tema. El tema del amor: encuentro y reencuentro infinito, desencuentros inapelables, cuerpos hastiados, incertidumbre desafiante, pasión y frialdad, virtualidad y realidad. Me alegró mucho ver un número entero dedicado al tema, y más me alegró cuando la editorial Beatriz Viterbo me acercó un libro publicado este mismo año para reseñar: El abandono de Julio Ariza. Embarcada en el tren de los encuentros amorosos, me escapé por el vagón trasero del desengaño, de la crisis, de la vulnerabilidad del abandono.
Podríamos decir que el amor es el gran tema de la novela, en principio, y después agregar que de la literatura en general. Podríamos también preguntarnos si la literatura argentina se ha dedicado a escribir sobre amor, ¿cuáles son los textos canónicos que lo sondean, que, al menos, lo miran de refilón? Y responder que los contamos con los dedos de una mano. ¿Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, Manuel Puig? A pesar de eso, Ariza pudo armar una serie literaria con un solo casillero del calendario amoroso: el del abandonado.
Escribir de o sobre el amor pone en escena la experiencia amorosa, pero la diferencia reside en que uno cuenta como clase y el otro se despliega en una serie. Esa es la gran propuesta de Ariza: entrar a la literatura de una serie de escritores actuales de la literatura argentina (Daniel Link, Alan Pauls, Gabriela Massuh, Juan José Becerra, Mariano Siskind, Daniel Guebel y María Fasce) una vez que la escena amorosa ha llegado a su fin, pero la estela que deja consta de varias figuras y de unas cuantas sensaciones. Por eso, además de interesarle a Ariza la figura del abandonado, le importan sus despliegues y contagios, como el ser que emigra (el que se va porque quiere), el que es arrojado fuera del sistema (el que se va porque lo echan), el que intenta construir un nuevo modo de mirar el futuro (cómo sobrevivir a una catástrofe), y el abandono como ética artística (cómo seguir escribiendo). Para esto, Ariza se apoya en un aparato teórico (Agamben, Blanchot, Barthes, Badiou, Benjamin y Bergson) que construye con precisión, rigurosidad y claridad, y que le sirve para sostener hipótesis contundentes.
La serie se arma porque se trata de novelas sobre el amor, porque todos los protagonistas fueron expulsados de la escena amorosa, porque todos son varones abandonados y porque son novelas escritas después de la gran crisis que azotó a la Argentina en 2001. Amor, crisis y abandono es la fórmula que se despliega para armar serie, para entablar lazos entre una generación de escritores que quizás se unen también por otros motivos. Aquí se muestra el momento exacto del desmoronamiento: ha sucedido una catástrofe y veamos qué hacer con los restos. El crack up lo llama Fitzgerald, el mal de tiempo le dice Alan Pauls en el prólogo a las obras de Fitzgerald. Hay alguien que no da más, que se desmorona, incapaz de pensar y hacer, exhausto, inerte, insensible, como congelado por una especie de estupor que lo invade todo. Gilles Deleuze se pregunta ¿qué pasó? ¿cómo llegué hasta acá? ¿quién me trajo? Esta es la escena que uno presencia cuando Ariza lee el abandono en esta serie de novelas. El abandono como catástrofe social y personal, como estructura frágil y vulnerable, como sacrificio, como escape y apuesta política, como debacle temporal y como ruina.
Dos son las figuras que entran en juego en una relación asimétrica: el abandonante que toma la decisión de irse, decisión inapelable e irreversible, y el abandonado que queda inmovilizado (Ariza lo define desde la etimología de la palabra amurar) en un espacio tiempo de ansiedad. Ha sucedido un evento catastrófico que viene de afuera, que sorprende, que irrumpe en el contexto amoroso para desestabilizar. Ese evento dura en el tiempo, un tiempo congelado que parece no pasar, pero que hay que dejarlo pasar. “Es imposible volver al pasado, es imposible salir del pasado.” ¿Cómo sobrevivir al abismo temporal del silencio que provoca el estallido? “No hay escapatoria del amor.”
Los abandonados literarios se colocan en el umbral de la vida, entre el presente y el futuro, se quedan quietos pero desesperados. No hay proporción que pueda medir la desazón. Hay que soportar, y para hacerlo, Ariza entiende que hay que inventar. En el mal de tiempo, hay una ansiedad de relato que intenta llenar el vacío. “El abandonado recrea constantemente las historias de un pasado que sólo a él le pertenecen.” La incertidumbre temporal deviene ansia de creación, le otorga espacio a la ficción. Si el tiempo no se mueve, que se mueva el relato. Las ficciones con las que Ariza arma una topología amorosa articulan lo íntimo y lo social a través de ciertos principios éticos que ponen en juego un modo de definir lo literario. En algunas, el abismo amoroso toma el calibre del terror a la página en blanco, la renuncia al amor es la renuncia a poder/seguir escribiendo. En otras, el abandono se escenifica en final apocalíptico en el que se representa el fin de lo conocido hasta hoy. En otras, el vivir sin amor se equipara al vivir sin estado, al desamparo y la intemperie como experiencias de un afuera total; o recurren al exilio, al irse para volverse imperceptible en una metamorfosis disolutoria. También algunos personajes ingresan al juego de conectarse con la propia vulnerabilidad hasta fragilizarse como ejercicio consciente de autoanálisis en el marco de las escrituras del yo.
El abandono cambia de forma, pero sus vestigios mantienen la potencia ética de semejante figura. Me interesa la lucidez de Ariza para definirla a través de una selección impecable de novelas. Me interesa mucho más que en el análisis específico de cada texto en particular, la literatura renueva su fuerza para seguir diciendo. Quiero decir que Ariza sale airoso del riesgo inminente de toda lectura de corpus en la que los textos quedan reducidos al problema tratado o a una red de similitudes. En este libro, la fórmula amor, crisis y abandono se sostiene teóricamente y es la literatura la que la hace subsistir. El foco está en la figura doliente, pero los textos continúan hablando por sí solos, constituyendo problemas propios y resaltando las más íntimas ambigüedades.
Referências
ARIZA, Julio. El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente, Rosario: Beatriz Viterbo, 2018. [ Links ]
DELEUZE, Gilles. “Porcelana y volcán”. In: La lógica del sentido. Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 162-169. [ Links ]
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, “Tres novelas cortas o qué ha pasado”. In: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 2006, p. 197-211. [ Links ]
FITZGERALD, Scott. El crack up. Trad. Marcelo Cohen. Buenos Aires: Crackup, 2011. [ Links ]
PAULS, Alan. El mal de tiempo. In: FITZGERALD, Scott. El crack up. Trad. Marcelo Cohen. Buenos Aires: Crackup , 2011, p. 9-22. [ Links ]
Julia Musitano. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesora auxiliar de Análisis y Crítica II en la Universidad Nacional de Rosario y directora de la Revista Badebec. Publicó Ruinas de la memoria. Autoficción y melancolía en la narrativa de Fernando Vallejo, Un arte vulnerable. La biografía como forma junto a Nora Avaro y a Judith Podlubne, y ensayos en diversas revistas especializadas. E-mail: musitanoj@gmail.com
[IF]
Montaigne – JOUANNA (A-EN)
JOUANNA, Arlette. Montaigne. Paris: Gallimard, 2017. Resenha de FAVERI, Claudia Borges de. Os fios que moviam Michel de Montaigne. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
Nos últimos dias de 2018, uma notícia atraiu os olhares do mundo intelectual e jornalístico do mundo todo. Tudo indicava que, finalmente, após quase 500 anos, os restos mortais de Michel de Montaigne teriam sido descobertos no subsolo do Museu da Aquitânia, em Bordeaux, oeste da França. As investigações continuam e ainda não se tem certeza se o que se pôde ver – um caixão em madeira, ossos humanos e uma placa em bronze dourado com o nome de Michel de Montaigne -, através de dois pequenos orifícios feitos nas grossas paredes do subsolo, tem de fato alguma relação com o filósofo e escritor renascentista. Tudo leva a crer que, desde sua morte em 1592, os restos mortais de Montaigne tenham errado de sepultura em sepultura até chegar, não se sabe ainda quando, a este museu em Bordeaux. Bordeaux, que Montaigne administrou entre 1581 e 1585 por dois mandatos consecutivos, e que, graças à sua capacidade de negociação e moderação, foi por ele mantida a salvo das pertubações e desordens das guerras de religião que devastavam então a França.
Por que tanto barulho a respeito dos restos mortais de um filósofo e escritor que, sem que se negue sua importância, viveu há mais de quatro séculos? A resposta talvez seja simples, embora pareça impertinente: é porque é Montaigne. Resposta que aqui parodia enviesadamente a famosa fórmula do próprio, em seu famoso ensaio 27 do livro I, ‘Da Amizade’, ao tentar explicar sua ligação com Etienne de La Boétie: “[…] porque era ele, porque era eu”1. Montaigne, cuja obra maior, quase única, na verdade – Os Ensaios (1580-1582) -, vem sendo traduzida e reeditada mundo afora há quatro séculos. Montaigne, que parece obstinar-se em se manter atual. Suas primeiras traduções no Brasil datam do início do século XX, mas na Inglaterra, por exemplo, a primeira tradução é de 1603, realizada por John Florio (1553-1625), escritor, lexicógrafo e professor inglês, poucos anos após a edição original em francês.
Montaigne influenciou todos os grandes nomes depois dele, de Shakespeare a Nietzsche, de Bacon a Pascal, e suscita, ainda hoje, importantes pesquisas sobretudo nas áreas da Filosofia e da Educação. No que concerne ao Brasil, Sérgio Cardoso (2017, p. 19) ressalta que nosso país está certamente entre aqueles que mais produziram trabalhos acadêmicos sobre o autor renascentista na área da Filosofia nos últimos vinte anos. De Machado a Oswald de Andrade, passando por Ciro dos Anjos, a influência de Montaigne em nossas letras é também inegável.
Essa vitalidade do autor de Os Ensaios revela-se não só pelas constantes reedições e retraduções de sua obra maior, mas curiosamente também pelo crescente número de biografias a seu respeito, das mais variadas faturas, que têm vindo à luz nos últimos anos. Algumas dessas, surpreendentemente, tornaram-se campeãs de venda, como é o caso de duas delas, a saber: Como Viver, de Sarah Bakewell, e Uma temporada com Montaigne, de Antoine Compagnon. Ambas já lançadas no Brasil, respectivamente, pela Objetiva, em 2012, com tradução de Clóvis Marques, e pela WMF Martins Fontes, em 2015, com tradução de Rosemary Abílio.
Restringindo-nos tão somente ao gênero biografia e ao período compreendido entre 2000 e 2019, no Brasil, além dessas duas citadas acima, temos ainda o Montaigne de Peter Burke, lançado pela Editora Loyola em 2006, com tradução de Jaimir Conte, e, finalmente, em 2016, o Montaigne do filósofo marroquino radicado na França Ali Benmakhlouf, com tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira, pela Estação Liberdade. Se abrirmos ainda mais o leque, considerando estudos de cunho filosófico, o leitor brasileiro pode ter acesso a uma fortuna crítica razoável sobre o filósofo renascentista2.
Mas, voltando às biografias, a mais recente delas, ainda sem tradução ao português, que também tem por título Montaigne, veio à luz em fins de 2017, publicada pela Gallimard na coleção NRF Biographies. São 460 páginas nas quais a autora Arlette Jouanna, professora emérita da Universidade Paul Valéry de Montpellier e especialista em história social e política do século XVI francês, tenta trazer a seu leitor um retrato acurado do cultuado autor dos Ensaios. Mas o que traz de novo mais uma biografia de Montaigne em um universo em que as biografias existentes já conquistaram inúmeros leitores em todo o mundo? A própria autora não deixa de citar ao menos seis outras que lhe precedem, sublinhando a vocação e utilidade de cada uma delas. O fato é que, paradoxalmente, a vida de Montaigne é muito pouco conhecida, muito do que se sabe dele é por sua própria pena, mormente em seus Ensaios.
Para Jouanna, compreender e conhecer Montaigne exige ultrapassar o mito, e enraizá-lo, na medida do possível, em seu tempo. Destarte, ela não se contenta em repetir ou pouco acrescentar à imensa literatura já existente sobre o filósofo renascentista. Com seu olhar de especialista em século XVI, o que ela nos oferece é uma visão bem particular, do ponto de vista historiográfico, ao mesmo tempo em que se revela uma leitora apaixonada dos Ensaios, sem que por isso deixe de ser consequente.
A Introdução fornece-nos o plano do livro, que se desenrola ao longo de doze capítulos e revela as inúmeras facetas de Montaigne. A autora faz questão de nos lembrar (p. 17) o que o próprio Montaigne escreve em ‘Da Vaidade’, Ensaio 9 do Livro III: “eu voltaria de bom grado do outro mundo para desmentir quem me pintasse diferente do que sou, mesmo que fosse para me louvar”3. Parece levar a sério tal aviso ao enfatizar que são raras as fontes dos arquivos históricos acessíveis ao pesquisador. É com grande prudência, portanto, que avança hipóteses, atendo-se em grande medida ao estritamente factual. Nesse sentido, é preciso renunciar, afirma, a um conhecimento exaustivo do que viveu Montaigne. Suas fontes, tanto as manuscritas quanto as já publicadas, são cuidadosamente repertoriadas ao fim do livro (p. 421), assim como as obras de e sobre Montaigne que utilizou em sua pesquisa.
Ainda na Introdução, Jouanna escolhe começar sua narrativa em 1571, ano em que Montaigne completa 38 anos, data emblemática de sua famosa retirada das coisas mundanas. Segundo a autora, o momento fundador do Montaigne que passará à posteridade. E é por esse momento, a entrada no processo de escrita dos Ensaios, que o relato de Jouanna entra na vida de seu autor, momento que ela descreve assim (JOUANNA, 2017, p. 13):
Trata-se aqui, com efeito, de uma ruptura com relação aos ideais mundanos comuns, de uma reviravolta que o faz verdadeiramente nascer para si mesmo. Tudo o que aconteceu antes foi tão somente a lenta liberação do condicionamento familiar e social imposto por seu meio, de pessoas importantes socialmente e que haviam ascendido à nobreza há pouco tempo, e depois a progressiva liberação das servidões de uma carreira que ele não havia escolhido.4
Em seguida, o primeiro capítulo que a autora escolheu chamar de (p. 21) “Um lento nascimento de si mesmo”, aborda os 38 primeiros anos de Montaigne, de 1533 a 1571, antes que começasse a aventura de escrita de seus ensaios. Aqui são apresentados aspectos e fatos da vida de Montaigne relacionados ao condicionamento social e familiar, tais como o enobrecimento da família, o apego ao título e à terra – sendo, no século XVI, esta última a garantia do primeiro -, a infância, as relações familiares e os anos de formação.
Os capítulos se sucedem seguindo uma organização temático-cronológica que apresenta as várias faces de Montaigne, dentre as quais a de jurista, ou funcionário do parlamento, a de pensador inquieto, cujo encontro com La Boétie e com os canibais do Brasil alimenta uma reflexão surpreendentemente moderna sobre as éticas da diferença e as liberdades civis, e a de senhor de terras, vinhas e campos, às voltas com as vicissitudes próprias a um nobre do século XVI. Mas ele é também um ator político importante no contexto de uma França devastada pelas guerras de religião (1562-1598) que opõem católicos a protestantes.
O leitor de Jouanna encontra também o Montaigne viajante, autor de um diário de viagem pela Alemanha, Suíça e Itália (ainda sem tradução ao português), e o prefeito de Bordeaux duas vezes eleito (1581-1585), que consegue manter a cidade a salvo da guerra, mas não da peste que vitima, de junho a dezembro de 1585, algo em torno de quatorze mil pessoas. Montaigne é também o estudioso, o escritor, que dedica a segunda metade de sua vida, a partir de 1571, a ler e escrever e, por fim, em 1580, a publicar seus Ensaios. Conhecendo a notoriedade em vida como escritor e pensador, ele é um autor dedicado que vai corrigir e alterar os três volumes de sua obra (pouco mais de 1000 páginas) até sua morte em 1593. Por fim, a imagem que talvez seja a mais conhecida do renascentista: o pensador retirado em sua torre-biblioteca circular, cercado de livros da Antiguidade e de máximas em latim que ele mandou pintar nas vigas do teto.
Como historiadora, especialista do período renascentista, é um homem do Renascimento que Jouanna descreve; as passagens nas quais a autora mais destaca – capítulos VI, VIII, IX e X – são justamente aquelas relacionadas a seu campo de especialidade. Assim, o leitor pode compreender Montaigne, e também sua obra, a partir da explicitação de aspectos como os laços de fidelidade que uniam necessariamente os membros da classe nobre, laços esses complexificados pelas guerras de religião. É também possível apreciar a posição delicada de Montaigne como católico moderado em um contexto de radicalizações. E ainda seu amor à liberdade, muito embora apegado à nobreza há pouco tempo conquistada por seus ancestrais. São aspectos que, sob o pano de fundo renascentista que Jouanna tão bem conhece, contribuem para uma melhor compreensão da obra como expressão de um pensamento político dividido entre humanismo, dever de fidelidade e descrença na razoabilidade dos homens. É um olhar novo, assim, que a historiadora propicia ao leitor dos Ensaios.
É preciso dizer, no entanto, que o leitor que busque um maior aprofundamento dos aspectos propriamente literários e filosóficos da vida de Montaigne, e suas relações com os grandes nomes do humanismo, corre o risco de se decepcionar, pois tais pontos não estão no centro das preocupações de Jouanna. Ocupa-a preferencialmente aspectos historiográficos, sobretudo no que concerne à gênese do Estado moderno. As várias faces de Montaigne que nos apresenta Jouanna dialogam, portanto, muito mais com a historiografia do que com a literatura ou a filosofia. E isso pode ser visto como um defeito, ou uma lacuna, por aqueles que busquem o Montaigne escritor, imbuído de cultura da Antiguidade, leitor disciplinado e interlocutor dos grandes nomes da época.
Montaigne, segundo Jouanna, não se deixa reduzir a definições simplistas. Seu pensamento sempre mutante, variegado, multifacetado, presta-se a múltiplas abordagens e análises. Ela sublinha ademais a influência que ele exerce ainda em nossos dias. Para a historiadora, não só como especialista, mas também como leitora apaixonada dos Ensaios, a explicação para essa inusitada permanência reside no que une o autor renascentista ao homem contemporâneo. Como nós, ele viveu em tempos difíceis, de futuro incerto, marcados pelo enfraquecimento das crenças, a perda de referências, a contestação das estruturas políticas e a violência dos radicalismos. Montaigne nos acena, segundo a autora, com uma possibilidade de sobreviver a todas as incertezas com dignidade interior, fazendo prevalecer a ironia, e mesmo o riso, sobre a angústia. Seus Ensaios são o palco onde evolui um homem que tenta ver claro em si e em seu entorno, com lucidez e ironia desconcertantes.
Referências
CARDOSO, Sérgio. Montaigne filósofo. Cult, n. 221, São Paulo, p. 18-19, 2017. [ Links ]
JOUANNA, Arlette. Montaigne. Paris: Gallimard, 2017. [ Links ]
MONTAIGNE, Michel de. Essais I. Paris: Pernon Éditions, 2008 [ Links ]
1 “Si on insiste pour me faire dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant: parce que c’était lui, parce que c’était moi” (MONTAIGNE, 2008, p. 276). Todas as traduções ao português constantes desta resenha são de minha autoria.
2 Tais informações encontram-se esparsas. Para remediar tal situação, estamos preparando uma bibliografia comentada dos estudos de Montaigne no Brasil, a ser publicada em breve.
3 “Je reviendrais volontiers de l’autre monde pour démentir celui qui me formerait autre que je n’étais, fût-ce pour m’honorer” (MONTAIGNE, 2004, apudJOUANNA, 2017, p. 17).
4 “Il s’agit bien là, en effet, d’une rupture avec les idéaux mondains ordinaires, d’un retournement qui le fait naître véritablement à lui-même. Tout ce qui s’est passé auparavant n’aura été que la lente libération du conditionnement familial et social imposé par son milieu de notables tout juste agrégés à la noblesse, puis le progressif arrachement aux servitudes d’une carrière de magistrat qu’il n’a pas choisie” (JOUANNA, 2017, p. 13).
Claudia Borges de Faveri. Professora titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua na área de língua e literaturas de expressão francesa e tradução literária. É doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade de Nice-Sophia Antipolis, França. Em 2018-2019, realizou seu segundo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa dedicada à recepção, permanência e tradução da obra de Michel de Montaigne no Brasil. E-mail: cbfaveri@gmail.com
Acessar publicação original
[IF]
As histórias coletadas de Machado de Assis – ASSIS (MAEL)
ASSIS, Machado de. As histórias coletadas de Machado de Assis. Margaret Jull Costa; Robin Patterson. Nova York: Liveright, 2018. 934 pp. Resenha de: THOMSON-DEVEAUX, Flora. Machado Assis Linha v.12 n.28 São Paulo set./ dez. 2019.
Por qualquer medida, as histórias coletadas de Machado de Assis ( ASSIS, 2018) é uma adição bem-vinda à família de traduções machadianas. Margaret Jull Costa e Robin Patterson da antologia, de longe, o maior volume em Inglês de histórias Machado à data, e de um alto perfil editora-inclui todas as histórias publicadas em forma de livro durante a vida do autor. Das mais de 200 histórias que Machado publicou ao longo de sua vida, tanto em periódicos quanto em antologias, esta coleção inclui 76, das quais dez aparecem em inglês pela primeira vez: “Luís Soares”, “Linha reto e linha curva “(Linha reta, linha curva),” Luís Duarte “(casamento de Luís Duarte),” Ernesto de Tal “,” Ernesto Qual é o nome dele), “Aurora sem dia” (muito calor, pouca luz), “Dona Benedita, “” O segredo do bonzo “,”1
Isso por si só representa um ganho significativo. Embora a primeira tradução em inglês de um dos contos de Machado tenha chegado um século antes, os esforços editoriais subsequentes tendiam a favorecer uma gama bastante limitada de narrativas, apenas se ramificando em uma enxurrada de antologias na última meia década. Em um artigo de 2015, Luana Ferreira de Freitas e Cynthia Beatriz Costa pesquisados traduções em língua Inglês de histórias de Machado e observou que essas publicações tendem a privilegiar o trabalho mais tarde do autor (como com as novelas, a primeira das quais para entrar Inglês foi Memórias póstumas de Brás Cubas , em 1952, e o último foi Ressurreição, em 2013). “O Enfermeiro”, “O Alienista” e “A Cartomante” foram as peças mais implacavelmente traduzidas, a ponto de os autores do estudo se referirem a elas brincando como inclusões “obrigatórias” em qualquer coleção de histórias de Machado em língua inglesa. Freitas e Costa (2015 ) contaram um total de 82 histórias traduzidas no início de 2015; quando adicionamos as sete novas traduções de Miss Dollar: Stories de Machado de Assis ( ASSIS, 2016 ) e as dez das Collected Stories, isso nos leva a 99. Esse total, basta dizer, é responsável por quase todas as histórias com as quais a maioria dos leitores casuais ou menos casuais de Machado estaria familiarizada; Entre as centenas de narrativas que aguardam tradução estão “Nem uma nem outra”, “O óculos de Pedro Antão” e “Pobre Cardeal!”
Enquanto muitas publicações anteriores dos contos de Machado optaram por destacar uma das obras mais conhecidas em seus títulos (“A missa do galo”, “O alienista” e “A igreja do diabo” emprestaram seus nomes a algumas), a estrutura cronológica das histórias coletadas significa que os falantes de inglês que procuram uma introdução a Machado de Assis começarão não com os “maiores sucessos”, mas com os únicos que foram traduzidos tardiamente em 1870 Contos Fluminensese, gradualmente, abrem caminho para narrativas mais conhecidas. Embora lógico, isso representa uma novidade para os anglófonos, permitindo que os leitores acompanhem o desenvolvimento de Machado como escritor de contos ao longo de duas décadas. De acordo com essa decisão de preservar a estrutura de cada coleção de histórias, a presença de Jull Costa e Patterson é geralmente discreta. Eles não forneceram nenhum prefácio e evitam notas – não uma decisão óbvia, pois as histórias fazem referência a incidentes e conceitos que podem ser remotos, mesmo para muitos leitores brasileiros.
Embora, como observado, a grande maioria das histórias nesta antologia tenha sido traduzida anteriormente (algumas estreando em inglês apenas alguns anos atrás), a repetição não é redundância; cada nova tradução dessas narrativas notáveis enriquece nossas leituras delas. A análise comparativa das traduções pode lançar luz sobre a experiência do leitor – as divergências das traduções que revelam os pontos em que o texto força o leitor / tradutor a suportar a maior carga interpretativa – e vamos ver o original de novo. Neste espírito, eu gostaria de avaliar as histórias recolhidasobservando como a antologia aborda um dos contos mais traduzidos de Machado (“O alienista”) e um de seus contos menos traduzidos (“O relógio de ouro”, publicado apenas uma vez antes, em um e-book em 2014 [ ASSIS, 2014 ]). No último caso, um conto aparentemente ingênuo revela complexidade insuspeita quando se ramifica na tradução. No caso de “O alienista”, uma leitura comparativa das traduções existentes pode nos ajudar a vislumbrar os padrões de tomada de decisão de Jull Costa e Patterson, bem como a esclarecer casos em que Machado engenhosamente tece referências de maneiras que até agora frustrou todos os cantos.
“O alienista”, a saga do ambicioso e fatalmente praticante de saúde mental Simão Bacamarte, foi publicado pela primeira vez em inglês em 1963, traduzido por William Grossman como “O Psiquiatra” ( ASSIS, 1963 ). Foi seguido pela tradução de Rhett McNeil de 2014. o mesmo título, bem como versões por John Chasteen em 2013 e Jull Costa e Patterson em 2018, ambos intitulados “o Alienista”. (O título anterior foi criticado como anacrônico; a tradução de Grossman foi posteriormente levemente editada e relançada como “The Alienist”.)
Esse intervalo de versões do mesmo texto fornece uma base rica para comparação. Para julgar a natureza de uma tradução e chegar a um sentido mais específico dos padrões que ela exibe, geralmente é mais produtivo lê-la contra interpretações existentes no mesmo idioma do que mantê-la no padrão virtualmente impossível do idioma de origem. Ao estabelecer o lado de quatro tradutores a lado, podemos examinar manifestações do estilo e filosofia por trás de cada uma de suas traduções, bem como as formas em que eles iluminam as possibilidades inerentes a fonte de texto ou, conforme o caso, visivelmente executado contra suas dificuldades. Aqui, por uma questão de brevidade, examinaremos apenas o primeiro capítulo da história.
Como a tradução de Jull Costa e Patterson é o objeto de interesse aqui, tenho observações privilegiadas sobre seu estilo. A dicção de seus bobs tradução e tece para caber tom flutuante de Machado, passando de informalidade de “meteu-se em Itaguaí” ( ASSIS, 1979 , p. 253), ou “tomou-se fora de Itaguaí” ( ASSIS, 2018 , p . 315), a referência do Bacamarte para “louros imarcescíveis” ( ASSIS, 1979 , p. 254), ou “louros cada vez mais duradoura” ( ASSIS, 2018 , p. 316). Isso fica mais claro ao contrário, como Grossman, Chasteen, e McNeil adotar soluções mais formais para o primeiro exemplo ( “passou a residir” [ ASSIS, 1963 , p. 1] para o primeiro e “voltou a” [ ASSIS,ASSIS, 2013a , p. 1] para os dois últimos), dificultando a detecção de uma diferença de tom em relação ao segundo. A dupla parece ter um cuidado especial em não procurar equivalentes fáceis, preferindo “cantos e recantos” ( ASSIS, 2018 , p. 316) a “esquina” ao traduzir a frase “recanto psíquico” ( ASSIS, 1979 , p. 254) . Quando confrontados com “O escrivão perdido nos cálculos aritméticos” ( ASSIS, 1979 , p. 255), Grossman e Chasteen relatam que o funcionário público se “perdeu” em seus cálculos ( ASSIS, 1963 , p. 3; ASSIS, 2013b , np), enquanto nas histórias coletadas e na tradução de McNeil ele teria entrado em “p. 317) e “confundidos” ( ASSIS, 2013a , p. 4), respectivamente. A dupla também encontra uma solução elegante para o paralelismo da descrição de Machado dos lunáticos locais como “não curado, mas descurado” ( ASSIS, 1979 , 254), em “não curado e não tratado” ( ASSIS, 2018 , p. 316).
Essas comparações quase impressionistas; mas um elemento que influencia a subjetividade é o tratamento de termos culturais e historicamente específicos. Neste trecho, a equipe de tradutores geralmente os preserva; considerando que, em 1963, Grossman traduziu “Rua Nova” como “Rua Nova” e encobriu dois “tostões” como “um imposto de valor determinado” ( ASSIS, 1963 , p. 3) Jull Costa e Patterson preservam os termos em português ( ASSIS, 2018 , p. 317). No binário implacável entre domesticação e exteriorização, isso os colocaria mais perto do segundo extremo, esperando que os leitores pudessem navegar por esses sistemas presumivelmente desconhecidos de nomenclatura e moeda de rua. Chasteen e McNeil dividiram a diferença, mantendo a “Rua Nova”, mas brilhando “ASSIS, 2013b , np) e “dois níquel” ( ASSIS, 2013a , p. 4), respectivamente.
No geral, percebe-se uma mudança de paradigma entre a primeira tradução e o resto, sem surpresa à luz do meio século que as separa. Grossman, como em sua tradução de Memórias póstumas de Brás Cubas , intervém muito mais ativamente do que seus colegas do século XXI em termos de alteração da estrutura e ênfase das frases. Por exemplo, sua descrição de Dona Evarista, que “possuía um rosto composto por feições nem individualmente bonitas nem mutuamente compatíveis” ( ASSIS, 1963 , p. 1) é, embora certamente divertida, muito menos discreta do que “D. Evarista era mal composta de feições “( ASSIS, 1979p. 253) Todos os tradutores subsequentes são mais inclinados a seguir a estrutura das frases de Machado, embora Jull Costa ea versão de Patterson, talvez involuntariamente, omite a frase que começa “A IDEIA de metros loucos OS NA MESMA Casa, Vivendo em Comum […]” ( ASSIS , 1979 , p. 254).
Além de ajudar a sistematizar as observações sobre os estilos dos tradutores, essas comparações geralmente revelam pontos de dificuldade inflexíveis colocados pelo original. De fato, o primeiro capítulo de “O Alienista” também inclui uma frase cuja pura peculiaridade é sistematicamente diluída na tradução. Após o casamento de Simão Bacamarte com a desajeitada Dona Evarista, seu tio se sente obrigado a comentar a improvável partida. Nesse contexto, Machado descreve o tio da seguinte forma: “caçador de pacas diante do eterno, e não menos franco” ( ASSIS, 1979 , p. 254). Grossman e Chasteen descrever a tio como “francos” ( ASSIS, 1963 , p. 1) e “romba” ( ASSIS, 2013b ,np), respectivamente, simplesmente traduzindo “franco” e deixando de fora o resto; enquanto Jull Costa e Patterson o caracterizam como “um intrometido inveterado nos assuntos dos outros” ( ASSIS, 2018 , p. 315). McNeil, entretanto, o vê como “um homem incorrigível conhecido por sua franqueza” ( ASSIS, 2013a , p. 1), interpretando as “pacas” como mulheres, presumivelmente mais convencionalmente atraentes que Dona Evarista.
A construção “caçador perante o Eterno” é uma referência bíblica ao rei Nimrod, tradicionalmente reproduzida em Inglês como “um poderoso caçador diante do Senhor”, com uma paca largeish -a, manchado do Sul e da América Central roedor-imprensado nele. Na minha interpretação, que parece ser compartilhada por Jull Costa e Patterson, essa combinação transmite tanto o senso de auto-importância do tio (caçador poderoso) quanto a verdadeira escala de suas atividades (na forma da humilde paca ). Pode-se considerar substituir o animal por outro roedor que daria aos leitores de língua inglesa a tarefa inglória de caçá-lo – talvez “poderoso caçador de esquilos diante do Senhor”. 2Independentemente da solução, essa onda, muitas vezes suavizada na tradução, pode nos apontar para a estranheza muitas vezes negligenciada das mudanças de expressão de Machado. Acredito que este seja particularmente emblemático por sua combinação indiferente de cores locais e referências canônicas, produzindo uma síntese que até agora se perdeu na paráfrase.
De “O Alienista”, podemos recorrer a uma narrativa muito menos lida e, portanto, muito menos traduzida. Eu li a tradução de Jull Costa e Patterson de “O Relógio de ouro” com alguma curiosidade, como eu já havia traduzido um trecho do que para o livro de João Cezar de Castro da Rocha Machado de Assis: Rumo a uma poética da emulação . É assim, na minha tradução, como ele apresenta o trecho da história:
“O relógio de ouro”, publicado no Jornal das Famílias em abril e maio de 1873 e reproduzido no mesmo ano no Midnight Stories , apresenta uma anedota simples que serve para anunciar a complexidade de abordagens futuras sobre o assunto. . Tudo gira em torno de uma suspeita inocente, que é resolvida facilmente: o relógio do homem encontrado pelo zeloso Luís Negreiros não era prova de infidelidade, mas um presente de aniversário da própria esposa. ( ROCHA, 2015 , p. 32)
Guiado por essa interpretação, traduzi o final da história, em que a esposa de Luís Negreiros, Clarinha, apresenta a ele o cartão que acompanha o relógio, como segue:
Luís Negreiros recebeu uma carta, Chegou-se à Lamparina e leu estupefato estas Linhas:
“Meu nhonhô. Se amanhã o que faz anos; mando-te esta lembrança.
Tua Iaiá “( ASSIS, 1979 , p. 240)
Luís Negreiros pegou a carta, levou-a para a lâmpada e leu estas linhas com total estupefação:
Meu querido marido. Eu sei que seu aniversário é amanhã; Enviei-lhe este presente.
Sua esposa. ( ROCHA, 2015 , p. 33)
Eu achava que a parte mais complicada dessa passagem era lidar com o nhonhô e o iaiá – um desafio lingüístico que eu finalmente evitei, usando a leitura de Castro Rocha para decodificar esses nomes de animais historicamente carregados em “marido” e “esposa”. Quando li a tradução de Jull Costa e Patterson, fiquei surpreso. Deles foram os seguintes:
Luís Negreiros pegou a carta, foi até o abajur e ficou surpreso ao ler estas palavras:
Meu querido jovem mestre. Sei que amanhã é seu aniversário e por isso estou lhe enviando este pequeno presente.
Babá. ( ASSIS, 2018 , p. 290)
Onde eu tinha lido marido e mulher, meus colegas decodificaram nhonhô e iaiá como outro relacionamento inteiramente. Em uma versão publicada eletronicamente da história traduzida por Juan LePuen em 2014, a nota aparece da seguinte forma:
Luís Negreiros pegou a carta, foi até o abajur e, impressionado, leu estas linhas:
Meu nhonhô . Eu sei que é seu aniversário amanhã; Estou lhe enviando este presente.
– tia Iaiá. ( ASSIS, 2014 , p.) 3
Essa nova divergência me levou a consultar o final da história, que foi publicada no Jornal das Famílias em 1873. Nesta versão anterior, a nota foi assinada por uma Zepherina, e a narrativa concluída da seguinte forma:
“Meu bebê. Sei que amanhã faz anos; mando-te esta lembrança.
– Tua Zepherina . ”
Imagine o leitor ou pasmo, uma vírgula, ou remorso de Luiz Negreiros, admirar uma constância de Clarinha e uma vingança que tomára, e nenhum modo última hora em uma boa Zepherina, que estava totalmente esquecida, sendo perdoado Luiz Negreiros, e tendo Meirelles ou gosto de jantar com a filha e o genro no dia seguinte. ( ASSIS, 1873 , p. 132)
De repente, a história fez mais sentido: indignação silenciosa de Clarinha quando seu marido acreditava que o relógio ter sido um presente dela, quando ela sabia que era sua amante. Quando fui encarregado de entrevistar Jull Costa e Patterson sobre sua tradução para o Suplemento Pernambuco em 2018, escrevi para dizer que achava que todos nós erramos: nem a própria esposa, nem a babá, nem a tia, nem Iaiá poderia ter sido. a outra mulher. “Machado parece ter mudado para nhonhô / iaiá para manter o final deliberadamente indeterminado”, comentei, “o que nenhum de nós fez!” Em sua resposta, Jull Costa (2018) argumentou: “Eu li o final atual como Luís ter destruído um casamento anteriormente feliz por seu ciúme sem sentido.”
Embora possamos debater a probabilidade relativa de uma amante da classe alta versus uma babá poder comprar um relógio de ouro como presente, pode-se dizer de Luís Negreiros o que Antonio Candido escreveu sobre Dom Casmurro: “não importa muito que a convicção de Bento seja falsa ou verdadeira, porque a consequência é exatamente a mesma nos dois casos: imaginária ou real, ela destrói sua casa e sua vida “( CANDIDO, 1970p. 25) A revisão de Machado da história não apenas remove o autor inequívoco da carta, mas também remove o final feliz. Quem quer que o doador do sexo feminino do relógio, podemos estar certos da fúria do marido e silêncio gelado da esposa, nem apagado tão facilmente. Além disso, e talvez mais importante, essa persistente divergência entre tradutores e leitores em relação a uma narrativa aparentemente “simples” é uma demonstração impressionante de como a linguagem ambígua de Machado se encaixa nas complexidades culturais do português brasileiro para criar “nós” interpretativos.
Estes são alguns exemplos extraídos das quase mil páginas das histórias coletadas . Para os estudiosos, a antologia pode dar origem a muito mais novas apreciações de Machado através das lentes do inglês, dadas as novas traduções e reinterpretações que apresenta. Para os amigos de Machado em língua inglesa, a amplitude e o destaque da coleção por si só seriam uma contribuição valiosa por si só, mas as leituras cuidadosas de Jull Costa e Patterson reforçam esse esforço.
Referências
ASSIS, JM Machado de. O relógio de ouro. Jornal das Famílias, Rio de Janeiro, n. 4-5, 1873, p. 117-120; p. 129-132. [ Links ]
______. O psiquiatra e outras histórias. Trans. William L. Grossman e Helen Caldwell. Berkeley: University of California Press, 1963. [ Links ]
______. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979. v. II. [ Links ]
______. Histórias. Ed. e trans. Rhett McNeil. Campo: Dalkey, 2013a. [ Links ]
______. O alienista e outras histórias do Brasil do século XIX. Ed. e trans. John Charles Chasteen. Indianapolis: Hackett, 2013b. [ Links ]
______. Missa da meia-noite e outras histórias. Trans. Juan LePuen. Fario, 2014. ______. Miss Dollar: Histórias de Machado de Assis. Ed. Glenn Alan Cheney. Trans. Greicy P. Bellin e Ana Lessa-Schmidt. Hanover: New London Librarium, 2016. [ links ]
______. Miss Dollar: Histórias de Machado de Assis. Ed. Glenn Alan Cheney. Trans. Greicy P. Bellin e Ana Lessa-Schmidt. Hanover: New London Librarium, 2016. [ Links ]
______. As histórias coletadas de Machado de Assis. Trans. Margaret Jull Costa e Robin Patterson. Nova York: Liveright, 2018. [ Links ]
CANDIDO, Antonio. Esquema de Machado de Assis. No: ______. Vários escritos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1970. [ Links ]
FREITAS, Luana Ferreira de; COSTA, Cynthia Beatrice. Machado contista em antologias de língua inglesa. Cadernos de Tradução, Florianópolis, v. 35, n. 1, p. 69-85, jan-jun 2015. [ links ]
JULL COSTA, Margaret. [Correspondência]. Destinatário: Flora Thomson-DeVeaux. 5 set 2018. E-mail pessoal. [ Links ]
ROCHA, João Cezar de Castro. Machado de Assis: Por uma poética da emulação. Trans. Flora Thomson-DeVeaux. East Lansing, MI: Imprensa da Universidade Estadual de Michigan, 2015. [ Links ]
1 Dizem que a coleção de Jull Costa e Patterson inclui 12 traduções pioneiras; Acredito que isso não consiga explicar “O relógio de ouro” e “Ponto de vista”, que foram traduzidos por Juan LePuen no e-book 2014 Midnight Mass and Other Stories ( ASSIS, 2014 ).
2 Entre os desafios que os leigos podem não estar à espera dos tradutores de Machado de Assis, está decidindo qual roedor é mais engraçado: esquilos, esquilos, ratos ou esquilos? Além disso, seria biologicamente permissível trocar um roedor por um marsupial em nome de trazer a frase “poderoso caçador de gambás diante do Senhor” para o inglês?
3 A tradução de LePuen não indica qual texto fonte ele usou para suas traduções; essa decisão interpretativa pode ter sido informada pela versão da matéria fornecida em dominiopublico.gov.br, na qual a assinatura na nota é transcrita incorretamente como ” Tia Iaiá”.
Flora Thomson-Deveaux – É escritora e tradutora, doutora em Estudos Portugueses e Brasileiros pela Brown University. Ela publicou ensaios como “Nota sobre o calabouço” (piauí_140) e “#charlottesville” (piauí_132), e traduções, mais recentemente As Outras Raízes: Origens Errante de Pedro Meira Monteiro: Origens Errante nas Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda e os Impasses do Modernidade na Ibero-América (Notre Dame, 2017); A aquisição da política social por financeirização de Lena Lavinas: o paradoxo brasileiro (Palgrave, 2017); e Machado de Assis, de João Cezar de Castro Rocha: Por uma poética da emulação (Michigan, 2015). https://orcid.org/0000-0003-2634-7945. E-mail: flora.td@gmail.com.
Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais – SARAIVA; ZILBERMAN (MAEL)
SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina. Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos, 2019. 208 pp. Resenha de: KRAUSE, James Remington. Machado Assis Linha v.12 n.28 São Paulo Sept./Dec. 2019.
Organizado por duas machadianas renomadas, Juracy Assmann Saraiva e Regina Zilberman, Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais “é resultado de investigações dos membros dos grupos de pesquisa ‘Ficção de Machado de Assis: sistema poético e contexto'” (SARAIVA; ZILBERMAN, 2019, p. 7). Como explicam as organizadoras na introdução, o livro “atende a um amplo escopo de leitores, que encontram em Machado de Assis motivação para aprofundar seu conhecimento sobre a literatura e sobre os imponderáveis da natureza humana” (SARAIVA; ZILBERMAN, 2019, p. 12). Com esse fim, reúne-se uma dúzia de artigos de temas abrangentes de críticos já estabelecidos e emergentes. Apesar de seu enfoque, todo leitor crítico de Machado irá achar algo de grande valor nesse conjunto de ensaios.
No seu ensaio “O estranho narrador de Quincas Borba e o problema do realismo”, Antônio Marcos Vieira Sanseverino problematiza a “instabilidade de posição do narrador”. Por um lado, o narrador externo e heterodiegético tende a reforçar a “objetividade realista” oitocentista do cotidiano brasileiro, sob a ótica do período escravista (SANSEVERINO, 2019, p. 15). Por outro lado, ele “faz questão de interromper o fluxo narrativo para comentar, desqualificar [e] rebaixar” o protagonista Rubião (SANSEVERINO, 2019, p. 35). Através de uma análise nítida e meticulosa dos comentários sardônicos do narrador, Sanseverino (2019, p. 29; p. 36) demonstra que ele “é um cidadão culto, erudito, da elite letrada brasileira que olha para Rubião com desprezo”, e por extensão para o leitor, “mostrando que ambos são incapazes de compreender os acontecimentos narrados”.
Atílio Bergamini, em “Machado marmota: os primeiros anos do contista”, oferece uma análise dos primeiros contos de Machado “como um todo”. Ele focaliza em alguns topoi unificadores, como “a viagem, a negociação, a traição e o engano” nos seguintes contos: “Três tesouros perdidos”, “O país das quimeras: conto fantástico”, “Frei Simão”, “Virginius: narrativa de um advogado”, “O anjo das donzelas”, “Casada e viúva”, “Questão de vaidade” e “Confissões de uma viúva moça” (BERGAMINI, 2019, p. 50). Segundo Bergamini (2019, p. 53), ao longo dos anos, houve um deslocamento na perspectiva de Machado de um “encadeamento ‘externo’ de ações limitadas” a um “encadeamento ‘interno’, em que a consciência e personagens se torn[ou] o foco do interesse”. Outrossim, “o objeto dos modos de ler se tornou o sujeito da análise, com vistas a uma crítica do sujeito dos modos de ler” (BERGAMINI, 2019, p. 53). Desde o início é possível traçar esse percurso que iria caracterizar a ficção do período maduro do autor.
Em “Costura entre moda e literatura, em Dom Casmurro“, Cátia Silene Kupssinskü analisa a moda como mais um sistema simbólico de significação no romance machadiano. A moda parisiense na burguesia carioca oitocentista representava a modernização e civilização presentes do Brasil. Dentro desse sistema, os comentários de Bento Santiago sobre a moda servem predominantemente para assinalar diferenças de classe social, sobretudo dos personagens de José Dias e Capitu. Assim, Machado “oferece ao leitor a oportunidade de preencher lacunas propostas pelo jogo literário, questão que se dá por meio da apreensão dos significados sociais inerentes à moda” (KUPSSINSKÜ, 2019, p. 69).
Em seu ensaio “A mulher negra e a mestiça em obras de Machado de Assis”, Cláudia Santos Duarte e Marinês Andrea Kunz (2019, p. 75) analisam a presença de “mulheres negras escravizadas”, e até certo ponto “as mulheres livres das camadas mais pobres” no romance Esaú e Jacó, no poema “Sabina”, e nos contos “Mariana” e “O caso da vara”. Segundo afirmam as autoras, Machado “[descreve] suas personagens com seus anseios, suas paixões, as violações, a objetificação, as condutas e a situação periférica que instauraram na mulher negra uma história de abusos, de superação e, principalmente, de resistência” (DUARTE; KUNZ, 2019, p. 80).
Pisando em território familiar, Débora Bender analisa as alusões a peças teatrais em “Cultura dramática em Dom Casmurro“. Bender focaliza principalmente a intertextualidade entre Dom Casmurro e Fausto de Goethe e Otelo e Macbeth de Shakespeare, chamando o romance “um misto” dessas três peças, sobretudo na sua capacidade de “revelar e problematizar a essência humana” (BENDER, 2019, p. 93). No final das contas, a arte, para Machado, “tem a função de educar seus receptores e de denunciar mazelas sociais, daí ser um púlpito e uma tribuna” (BENDER, 2019, p. 93), o que sua inspiração em consagradas obras dramáticas providencia.
Em “‘A causa secreta’ sob a luz da semiótica: um estudo do limiar”, Ernani Mügge analisa o conto desde um olhar narratológico, segundo conceitos semióticos de Dino del Pino. Mügge divide o conto em três segmentos. Segmento 1, o limiar de entrada, consiste nos primeiros dois parágrafos do conto, nos quais se apresentam os personagens com um tom inquietante. O Núcleo Diegético apresenta-se em analepse, narrando os eventos desde os primeiros encontros entre Garcia e Fortunato até o clímax e o começo do dénouement, isso é, o momento de abertura do conto. Segmento 2, o limiar de saída, é o desfecho propriamente dito – a doença e morte de Maria Luísa, o beijo de Garcia no seu cadáver e os soluços sadomasoquistas de Fortunato. Neste enquadramento, Mügge analisa os posicionamentos relacionais entre sujeito e objeto através de estímulos distais e proximais. Uma vez que o narrador se situa fora do espaço-tempo diegético, o leitor também usufrui de uma focalização externa ao texto e assim presencia o universo artístico machadiano.
Juracy Assmann Saraiva estuda a importância de espaços festivos em “Reflexão estética e manifestações populares em Memórias póstumas de Brás Cubas“. Por um lado, os “leitores ilustrados”, com um conhecimento dos textos consagrados do cânone, podiam apreciar a intertextualidade que Machado tentava criar através das alusões (SARAIVA, 2019, p. 111). Por outro lado, os leitores contemporâneos de Machado também reconheciam as múltiplas referências a “aspectos da sociedade carioca” daquela época como “ritos de integração no espaço familiar, festas cívicas e religiosas, normas de ordenamento social, superstições ou crendices, a medicina popular [e] formas de lazer” (SARAIVA, 2019, p. 128; p. 112). Ao decifrarem as referências implícitas e explícitas aos dois âmbitos – o erudito e o cotidiano – os leitores, como assinala Saraiva (2019, p. 127), conseguem “compreender não só a metabiografia do autor-defunto, mas também aquilatar posicionamentos do escritor diante do texto que produz”.
Kenneth David Jackson (2019, p. 131), em “A miscelânea machadiana: os estranhos objetos e as criaturas das fábulas morais”, analisa como Machado segue e desenvolve a tradição de fabulista ao personificar uma porção de “objetos esdrúxulos”. Machado apresenta esses “agentes independentes e inusitados” como sinédoques ou metonímias, convertendo-os em fetiches que “afastam os tabus ao dizer de outra maneira o que não pode ser dito [e que] servem de referência irônica e satírica à melancólica humanidade” (JACKSON, 2019, p. 133). Os leitores que desenredam a “retórica de dissimulação e de substituição” conseguirão “perceb[er] e particip[ar] da estratégia sutil do jogo, armado por um autor que fala por inferências, subentendidos e alusões, inventando novos contextos para fábulas sobre o comportamento e a sabedoria humanos” (JACKSON, 2019, p. 140).
Marcelo Diego começa seu artigo, “A obra de arte total de Machado de Assis”, delineando as influências principais no desenvolvimento do romance brasileiro: o romance europeu setecentista, o romance-folhetim, as narrativas de viagem, os tratados naturais e a ópera. Diego (2019, p. 148) alega que a ópera europeia “teve um impacto maior sobre a literatura brasileira do que sobre a ópera brasileira”. Ele observa que “espacialmente, a cultura da ópera e a cultura do romance floresceram em um mesmo ambiente, junto a um mesmo público” (DIEGO, 2019, p. 149). O compositor alemão Richard Wagner desenvolveu seu conceito de ópera total que possibilitava a imersão total do espectador em todas as formas de arte (literatura, teatro, música, artes visuais). Do mesmo modo, Machado procurava uma totalidade mergulhadora no romance. Se Wagner “buscava o sentido de totalidade ao aproximar ao máximo o espectador da ação de suas óperas, Machado buscava esse mesmo sentido ao afastar o leitor da ação dos seus romances, chamando atenção para a natureza ficcional deles” (DIEGO, 2019, p. 149).
Em “‘Capítulo dos chapéus’: uma epopeia invertida”, Paul Dixon analisa várias alusões a poemas épicos em alguns dos mais célebres textos machadianos. Depois de apresentar exemplos do tropo machadiano (Quincas Borba e a Odisseia; Dom Casmurro e Os Lusíadas), Dixon faz uma leitura comparada – mas, como o título indica, invertida – entre A Ilíada, o épico clássico de Homero, e o conto “Capítulo dos chapéus”. Ao trocar papéis e características dos personagens (Mariana por Aquiles e Conrado por Agamenão), Dixon oferece uma interpretação do “desfecho um pouco indefinido” que também é uma reviravolta. Em vez de ver Mariana como “uma pessoa débil, sem estômago para escaramuças na guerra dos sexos, [ela] é uma pessoa com uma consciência mais aguda das posições autênticas de uma pessoa justa e livre (DIXON, 2019, p. 159).
Em “‘A Sereníssima República’ – ética e política na última década da monarquia brasileira”, Regina Zilberman (2019, p. 164) alega que na década de 1880 foi através do conto que Machado divulgava “suas preocupações estéticas e políticas”. O conto, segundo uma nota do autor, aborda o tema de “nossas alternativas eleitorais […] através da forma alegórica” (ZILBERMAN, 2019, p. 164). Zilberman (2019, p. 164) explica que Machado se referia à Lei Saraiva que “instituiu a eleição direta para todos os cargos do império e o uso do título de eleitor, documento que habilitava à participação no pleito”. Para poder votar, ela explica, “cada cidadão deveria ser alfabetizado e comprovar” que possuía certo valor de renda líquida, “o que restringiu drasticamente o número de eleitores no país” (ZILBERMAN, 2019, p. 164-165). Se há uma moral na alegoria sobre a república das aranhas, segundo Zilberman (2019, p. 175), “não se trata de escolher entre monarquia e república, voto direto ou sorteio, mas de honestidade eleitoral, ausente nos pleitos”. Para Machado, “não era a forma de governo que fazia a diferença, e sim a ação das pessoas que almejavam o poder e utilizavam os mecanismos legais disponíveis para obtê-lo” (ZILBERMAN, 2019, p. 175).
Em “Também se goza por influxo dos lábios que narram: Dom Casmurro e o ensino de Literatura”, Tatiane Kaspari apresenta um roteiro de leitura do romance machadiano baseado nas teorias de recepção (Jauss e Iser) e performance (Zumthor). A abordagem pedagógica, alicerçando-se nos princípios de roteiros de leitura estabelecidos por Juracy Saraiva Assmann, apresenta três etapas metodológicas: “preparação para a recepção do texto; leitura compreensiva e interpretativa; transferência e aplicação de leitura” (KASPARI, 2019, p. 183). O roteiro de leitura é dividido em nove módulos com exercícios de pré-leitura, leitura e pós-leitura, acompanhados por “comentários ao professor”. Kaspari fornece uma análise cuidadosa do texto que será de utilidade para leitores experientes e iniciantes de igual forma.
Referências
BENDER, Débora. Cultura dramática em Dom Casmurro. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos, 2019. [ Links ]
BERGAMINI, Atílio. Machado marmota: os primeiros anos do contista. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
DIEGO, Marcelo. A obra de arte total de Machado de Assis. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
DIXON, Paul. ‘Capítulo dos chapéus’: uma epopeia invertida. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
DUARTE, Cláudia Santos; KUNZ, Marinês Andrea. A mulher negra e a mestiça em obras de Machado de Assis. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
JACKSON, Kenneth David. A miscelânea machadiana: os estranhos objetos e as criaturas das fábulas morais. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
KASPARI, Tatiane. Também se goza por influxo dos lábios que narram: Dom Casmurro e o ensino de Literatura. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
KUPSSINSKÜ, Cátia Silene. Costura entre moda e literatura, em Dom Casmurro. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
SANSEVERINO, Antônio Marcos Vieira. O estranho narrador de Quincas Borba e o problema do realismo. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
SARAIVA, Juracy Assmann. Reflexão estética e manifestações populares em Memórias póstumas de Brás Cubas. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
______; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos, 2019. [ Links ]
ZILBERMAN, Regina. ‘A Sereníssima República’ – ética e política na última década da monarquia brasileira. In: SARAIVA, Juracy Assmann; ZILBERMAN, Regina (Orgs). Machado de Assis em perspectiva: ficção, história e manifestações sociais. São Leopoldo: Oikos , 2019. [ Links ]
James Remington Kraus – É professor adjunto na Universidade Brigham Young e já publicou diversos artigos sobre a recepção de Machado de Assis e João Guimarães Rosa em tradução inglesa e também sobre o desenvolvimento do conto fantástico brasileiro. https://orcid.org/0000-0001-8129-5389. E-mail: jameskrause@byu.edu.
African Thought in Comparative Perspective – MAZRUI (HU)
MAZRUI, Ali. African Thought in Comparative Perspective. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013. 369 p. OLIVEIRA, Silvia. Pensamento africano em perspectiva comparada. História Unisinos, 23(3):475-477, Setembro/Dezembro 2019.
Assente no profissionalismo e na crítica científica, a presente obra traz a público, num único volume, uma coletânea de artigos publicados por Ali Mazrui ao longo da sua carreira, onde apresenta não só os resultados das suas pesquisas enquanto historiador, pesquisador, professor, analista e cientista político, mas igualmente as suas ideias e convicções enquanto cidadão africano, como o mesmo faz questão de se identificar. Apesar de ser pouco abordado no espaço lusófono, a sua experiência, o seu intelecto, o seu carisma, a sua defesa do pan-africanismo e a sua dedicação à causa africana fazem dele um “dos mais prolíficos escritores africanos do nosso tempo” (p. xi), assim como uma referência na produção de conhecimento sobre África, nas suas múltiplas dimensões, com destaque para a pesquisa sobre o Islão e os estudos pós-coloniais.
African Thought é um livro realista e, ao mesmo tempo, apaixonante na medida em que, ao lermos, vemos o cenário de África ser descortinado, ampliando, desse modo, a compreensão do leitor em relação ao continente e aos africanos, de um modo geral, mostrando igualmente que, ao contrário da “irrelevância histórica para a qual foi relegado” (Mazrui, 2013, p. 10), este é detentor de um “repertório intelectual riquíssimo” (Mazrui, 2013, p. XII) que precisa de ser explorado, compreendido, explicado e valorizado. A riqueza das temáticas abordadas e analisadas, que vão desde o “legado dos movimentos de libertação, a convergência e a divergência africana, o pensamento islâmico e ocidental, ideologias nacionalistas, o papel da religião na política africana e o impacto da filosofia clássica grega na contemporaneidade” (Mazrui, 2013, p. XI), visa precisamente cumprir estes pressupostos. Dada a complexidade do objeto de estudo, os editores organizaram este volume em cinco secções autónomas, cada uma delas dividida em capítulos.
A primeira secção – Africanidade comparada: identidade e intelecto – apresenta as teorias e os preconceitos “meio-diabólicos” (Mazrui, 2013, p. 4) que alimentaram, durante séculos, a exploração e a colonização do continente e dos africanos, caracterizados como “crianças imaturas” (Mazrui, 2013, p. 5), “pré-históricos” (Mazrui, 2013, p. 8), “cultural e geneticamente retardados” (Mazrui, 2013, p. 10), posicionados como os menos civilizados na escala evolutiva estabelecida pelo próprio ocidente, catalogações que serviram de pretexto e justificativa para o tráfico de escravos e alimentaram ideias e teorias como o darwinismo social e as conhecidas teorias da modernização e da dependência. Segue-se uma abordagem sobre a legitimação e reconhecimento da filosofia africana enquanto fonte de sabedoria, sendo identificadas três escolas filosóficas, nomeadamente a) escola cultural, também conhecida como etnofilosofia, que assenta na tradição oral e é classificada pelo autor como uma escola de massas, abrangendo os períodos pré-colonial, colonial e pós-colonial; b) ideológica, que reúne as ideias dos ativistas políticos e seus líderes, abrangendo sobretudo o período colonial e pós-colonial, cuja caraterística principal passa pela utilização das línguas ocidentais, sendo por isso considerada mais elitista; c) crítica ou racionalista, composta essencialmente pelos filósofos académicos, enquadrados nas universidades.
Posteriormente, Mazrui identifica as cinco maiores tradições do pensamento político em África, nomeadamente, a) conservadora, ou solidariedade tribal, assente na continuidade (da tradição) em detrimento da mudança. Esta engloba três subtradições: the elder tradition (o respeito pelos mais velhos), the warrior tradition (a tradição dos guerreiros) e the sage tradition (a sabedoria); b) nacionalista, que surge parcialmente como resposta à arrogância da colonização branca, podendo assumir diferentes dimensões, nomeadamente, nacionalismo linguístico, religioso, rácico, pan-africanismo, etnicidade (unidade tribal), nacionalismo civilizacional; c) liberal-capitalista, com ênfase no individualismo económico, na iniciativa privada, assim como na liberdade civil; d) socialista, e) internacional ou não alinhamento. O autor salienta ainda o papel e a importância da memória coletiva identificando, para o efeito, quatro funções da mesma, nomeadamente: preservação, seleção, eliminação e invenção, bem como a questão dos arquivos africanos que assentam sobretudo na tradição oral.
Ao alertar para a necessidade de compreensão e distinção entre relativismo histórico (diferença entre épocas históricas) e relativismo cultural (diferença em termos de valores entre sociedades) no início da segunda secção, o autor introduz a temática sobre a presença do Islão no mundo e em África, constituindo este, a par da africanidade e da influência ocidental, uma das suas heranças, denominada pelo autor de triple heritage (tripla herança). Posteriormente, Mazrui apresenta a sua teoria sobre a existência de cinco níveis de pan-africanismo: 1) Subsariano, que congrega a união dos povos negros ao sul do Sara; 2) Trans-Subsariano, a unidade do continente como um todo, tanto ao norte como ao sul do Sara; 3) Transatlântico, que engloba igualmente a sua diáspora pelo mundo; 4) Hemisfério Ocidental, união dos povos descendentes de africanos e que se encontram no ocidente; 5) Global, a conexão de todos os negros e africanos pelo mundo. É feita ainda referência à Negritude como movimento cultural, no qual o autor distingue duas categorias, nomeadamente: a literária, que inclui não só a literatura criativa, mas igualmente aspetos da esfera política e social, e a antropológica que corresponde a um estudo romantizado de uma comunidade tribal africana por um etnógrafo africano.
É a partir da filosofia e da construção do conhecimento que Mazrui reflete sobre a influência que a filosofia ocidental exerce(u) sobre os africanos, sobretudo sobre os nacionalistas. Composta por seis capítulos, a terceira secção é dedicada à construção do nacionalismo africano e às suas diferentes manifestações. O autor defende que a herança greco-romana foi utilizada pelo ocidente com propósitos sombrios, servindo como justificação para a colonização, sendo o exemplo belga na República Democrática do Congo (RDC) o mais pragmático de todos. Assim sendo, o autor defende que a Negritude não é mais do que “a resposta do homem negro à mística greco-romana” (Mazrui, 2013,p. 146). Mas é igualmente essa mesma filosofia que influencia o pensamento africano, em particular os nacionalistas, tornando-se eles próprios, de certa maneira, filósofos, ao beberem e defenderem, posteriormente, as teorias de Hobbes, Rousseau e Lénin, entre outros autores, que estarão na base da luta pela igualdade e libertação do continente, constituindo por isso três formas de resistência, nomeadamente, 1) tradição guerreira: assente na cultura indígena; 2) resistência passiva: técnica utilizada por Gandhi; 3) revolução marxista, tendo como exemplo os casos das ex-colónias portuguesas, nomeadamente, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.
No entanto, a luta não se circunscreveu às fronteiras do continente, sendo que a diáspora também arregaçou as mangas e deu o seu contributo; exemplos dessa luta são Frederick Douglas e Du Bois. Outros aspetos igualmente importantes para a compreensão da dinâmica política contemporânea do continente prendem-se com a questão do religioso, da tradição, da cultura e, consequentemente, da ética, na análise dessas temáticas. E o autor chama a atenção para a sua importância na quarta secção, a mais curta de todas as secções. De uma forma bastante simples, porém, completa, são-nos apresentadas as características do religioso em África, nomeadamente, a) étnicas, b) não expansionistas, c) universalistas, d) ausência das sagradas escrituras, tendo como base a tradição oral, e) língua nacional, f) não separação dos assuntos terrenos e espirituais, ou seja, não se assentam na fé. Outras peculiaridades culturais que fazem do continente aquilo que ele é, como o casamento, os casamentos inter-raciais, a poligamia, entre outras, são igualmente analisadas por Mazrui, que alerta para a exercem no quotidiano dos africanos ainda na contemporaneidade e pelo fato de nos ajudarem a perceber a atual situação do continente, funcionando igualmente como pressupostos de análise do pós-colonial.
Nos seis capítulos que compõem os Ensaios Conclusivos, o autor traz a debate temáticas mais contemporâneas, que têm levado a uma continuidade da ideia periférica que se construiu e se continua a construir sobre o continente, nomeadamente, pós-colonialismo, multiculturalismo, modernidade, democracia, globalização, entre outras. Ao alertar para a necessidade de pensarmos e debatermos o pós-colonial ou o que “Said chamou de orientalismo e Mudimbe chamou otherness” (Mazrui, 2013, p. 287), Mazrui relembra a tripla herança africana e aponta para os diferentes instrumentos de que o ocidente tem feito uso para manipular o discurso que vai contra a visão do mundo implantada pelo próprio ocidente, monopolizando e perpetuando, deste modo, os seus próprios paradigmas em relação ao “Outro” (Mazrui, 2013, p. 288), numa tentativa de continuar a dominar, mostrando a sua supremacia, da qual a globalização se apresenta como o exemplo mais flagrante.
Apesar da obra estar disponível apenas em língua inglesa, o que constitui uma condicionante para os não falantes dessa língua, não podemos deixar de realçar que, pela riqueza de informações e pela crítica científica que serve de base para a sua análise, estamos em presença de material de consulta obrigatória para qualquer ramo do saber, não só direcionado para a área dos estudos sobre África, mas igualmente sobre a temática da produção do conhecimento sobre o pós-colonial, numa perspetiva macro. Com efeito, uma das suas inovações é precisamente a transdisciplinaridade do autor na análise dos diferentes temas com destaque para a sistematização teórica do pensamento político africano, a sociedade africana, filosofia, multiculturalismo, globalização, bem como a visão global que emprega nessa análise, levantando mais questões do que dando respostas às interrogações iniciais. Por outro lado, a sua riqueza bibliográfica dá-nos igualmente pistas para futuras leituras e pesquisas sobre as diferentes temáticas, alimentando desse modo o debate científico e abrindo caminhos futuros de pesquisa.
Pela sua importância, não podemos igualmente deixar de referir aspetos que a podem fragilizar, como o fato do autor não aprofundar o debate sobre a responsabilidade das elites africanas pela atual situação em que se encontra o continente, as falhas no processo de construção da democracia, assim como em relação à realidade que enfrentam os africanos na contemporaneidade, os desafios e expectativas em relação ao futuro. Talvez seja esse o propósito, ou seja, despertar em cada um dos leitores outras interrogações que conduzam à produção de mais conhecimento sobre o continente, desmistificando, deste modo, a ideia preconcebida e obscura que se foi construindo ao longo dos séculos.
Notas
2 A partir dessa parte da resenha, os trechos em itálico são grifos presentes no livro.
Silvia Oliveira – Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Assis, Avenida Dom Antonio, 2100 – Parque Universitário, 19.806-900 Assis, São Paulo, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: slviadeoliveira9@gmail.com.
Base Nacional Comum Curricular: Dilemas e perspectivas – CURY; ZANARDI (REC)
CURY, Roberto Jamil; REIS, Magali; ZANARDI, Teodoro Adriano. Base Nacional Comum Curricular: Dilemas e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2018. Resenha de: CASTRO, Luzia de Marilac; PEREIRA, Sandra Márcia Campos. Base Nacional Comum Curricular: é currículo prescrito ou documento norteador? Revista Espaço do Currículo, João Pessoa, v.12, n.3, p. 431-433, set/dez. 2019.
Na obra Base Nacional Comum Curricular: dilemas e perspectivas, os autores trazem uma discussão sobre as bases legais que deram sustentação à elaboração de um currículo nacional, fazem um recorte temporal das legislações que tratam de currículo desde o ano de 1823 aos dias atuais, trazem para o debate conceitos que estão na base e problematizam-os à luz de teóricos que discutem currículo.O livro está organizado em cinco capítulos que podem ser lidos e discutidos separadamente, mapeia várias publicações relativas à BNCC logo na apresentação da obra. Além da referência da obra, também há uma referência exclusiva de publicações referentes a Base com autores conceituados, como: Alice Casimiro Lopes, Elizabeth Macedo, Inês Barbosa Oliveira, Ana Maria Saul, entre outros. O livro resenhado é uma importante ferramenta no âmbito das discussões curriculares, pois traz aspectos históricos para entendermos como no passado esse assunto foi tratado e traz o panorama atual do debate em torno da BNCC.
Cury tem pós doutorado em Direito pela USP, é professor titular (aposentado) da Faculdade de Educação da UFMG, da qual é professor emérito. Reis é doutora e pós doutora em educação, na área de concentração: Sociedade e Cultura, pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, é Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da PUC- Minas. E Zanardi possui doutorado em Educação (Currículo) pela PUC de São Paulo, é Professor Adjunto IV do Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Na parte de apresentação do livro, que recebe o título Debates em torno da Base Nacional Comum Curricular, os autores fogem do formato padrão de apresentar os capítulos que compõem a obra. Eles fazem um apanhado de publicações e debates em torno da Base Nacional Comum Curricular a partir do ano de 2012. Citam dossiês e revistas que fomentaram essas discussões a partir desse período até o ano de 2018. Numa espécie de estado da arte, apresentam as discussões relativas à BNCC. Algumas publicações ficaram de fora, certamente, mas o levantamento feito na apresentação do livro subsidia os pesquisadores e estudiosos da área de currículo.
O primeiro capítulo, Por uma BNCC democrática, federativa e diferenciada, tem como objetivo identificar como o ordenamento educacional formulou a constituição de currículos escolares por meio dos principais documentos normativos, desde a Constituição de 1823 até o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014. Os autores estabelecem uma relação entre currículo nacional e o conceito de cidadania, contextualizam suas falas com trechos dos documentos normativos desse período e finalizam conclamando esforços, clareza de posições, com estudos sólidos para que aconteça de fato o diálogo que a Constituição chama de regime de colaboração entre os entes federados.
Problematizar criticamente a proposta da BNCC levando em consideração o contexto normativo em que foi gestada como também suas as bases conceituais é o objetivo do 2º capítulo, que traz o título BNCC e a universalização do conhecimento. Os autores afirmam que a Base traz o sonho iluminista de resolver os problemas da desigualdade de acesso ao conhecimento por meio da educação escolarizada e dizem ser necessário pontuar os caminhos normativos e conceituais para compreender a proposta da Base. Para tal empreitada, analisam os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB) e no Plano Nacional de Educação. Finalizam citando a atuação da Fundação Lemann na defesa da BNCC, exemplificando esse interesse através da conhecida pesquisa publicada pela fundação em 2015.
Base Nacional Comum Curricular é Currículo? É o título e a pergunta central que direciona todo o debate do 3º capítulo. Os autores asseveram que a BNCC, como está sendo posta, é sim currículo. Traz conceitos de currículo na concepção de Sacristán, Roberto Macedo e Ana Saul e dizem que a Base se aproxima dos conceitos dos dois primeiros autores citados. Falam do processo de disputa de posicionamentos de setores empresariais e comunidade científica no processo de elaboração das três versões da BNCC. Para discutir o conceito de currículo comum, refletem sobre os estudos de Michel Young e Demerval Saviani trançando um paralelo de pontos comuns e divergentes entre os dois, mas frisam que ambos defendem a viabilidade de um currículo comum. Por fim, trazem as críticas das associações de pesquisa acadêmicas mostrando que estas são contrárias a uma ideia de currículo nacional.
As questões relativas ao currículo para a educação da infância são tratadas no 4º capítulo do livro, BNCC e Educação das Novas Gerações: Limites Conceituais, os autores advogam que o currículo da educação infantil tem sido um campo de disputas e que isso tem reflexos em três temas significativos no campo do currículo: conteúdo, coerência e acompanhamento. E que esses três temas são vistos de maneiras diferentes e até opostas por teorias educacionais e pelas políticas públicas. Debatem o conceito de experiência, que na BNCC vem como campos de experiência. Na visão dos autores, o conceito de experiência na Base é lacunar. Para fundamentar a discussão, trazem os estudos de Walter Benjamim para se pensar os conceitos de experiência e fundamentos da educação de crianças pequenas.
As contribuições de Paulo Freire, para discussão do currículo comum, vem no 5º e último capítulo, Habermus Base, mas Habermus Freire. O capítulo traz várias considerações sobre a BNCC, relacionando-as com as contribuições de Freire. Os autores reconhecem que o patrono da educação brasileira não se debruçou diretamente sobre uma teoria curricular, mas inegável são as suas contribuições em relação ao saberes e conhecimentos. Advogam que Freire não despreza os conhecimentos acumulados historicamente, mas que é preciso problematizá-los. Os autores defendem a ideia de que as escolas não devem abraçar a BNCC como currículo prescrito, que o momento é oportuno para renovar a proposta emancipatória de Paulo Freire. Concluem: “Desvelar a BNCC se constitui em obrigação dos educadores para a compreensão dos projetos que se colocam em disputa no sociedade e no interior da escola.” (130)
É imprescindível a leitura e discussão da obra aqui resenhada, tendo em vista o momento atual em que todas as escolas da rede pública e privada estão em processo de (re)elaboração curricular. A obra traz aspectos relevantes que suscitam o debate em torno da Base Nacional Comum Curricular. Os capítulos da obra, cada um com sua especificidade, atendem todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio. Quando o livro foi publicado ainda não tínhamos a aprovação da Base do Ensino médio, mas as discussões aqui trazidas servem também para repensar o currículo da última etapa da educação básica. A obra serve como referência para todos os educadores da educação básica e para pesquisadores do campo do currículo.
Referências
SIMIANO, Luciane Pandini; SIMÃO, Márcia Buss. Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil: entre desafios e possibilidades dos campos de experiência educativa. EccoS – Rev. Cient., São Paulo, n. 41, p. 77-90, set./dez. 2016.
IHU- INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Base Nacional Comum Curricular: O futuro da educação brasileira. São Leopoldo: RS. Nº 516, ano XVII, 4/12/2017.
SAVIANI, D. Da nova LDB ao plano nacional de educação.3.ed.rev.Campinas: Autores Associados,2000. (Educação contemporânea).
Luzia de Marilac Pereira Castro – Mestranda em Ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB e Coordenadora Pedagógica na Educação Infantil. E-mail: ns3ead@yahoo.com.br.
Sandra Márcia Campos Pereira – Professora titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: sandra.campos@uesb.edu.br.
Para conhecer semântica – MENDES et. al. (A-RL)
Luciana Sanchez Mendes / www.gepex.org
 GOMES, Angela.; MENDES, L.. Para conhecer semântica. São Paulo: Contexto, 2018. 208p. Resenha de: PESSOTO, Ana Lúcia. O incentivo à prática científica por meio da análise semântica do português brasileiro. Alfa – Revista de Linguística, São José Rio Preto, v.63 n.3 São Paulo, Sept./Dec. 2019. Angela Gomes, Luciana Sanges Mendes
GOMES, Angela.; MENDES, L.. Para conhecer semântica. São Paulo: Contexto, 2018. 208p. Resenha de: PESSOTO, Ana Lúcia. O incentivo à prática científica por meio da análise semântica do português brasileiro. Alfa – Revista de Linguística, São José Rio Preto, v.63 n.3 São Paulo, Sept./Dec. 2019. Angela Gomes, Luciana Sanges Mendes
Ainda que a inauguração da Semântica Formal no Brasil remonte à década de 1970 (BORGES NETO; MULLER; PIRES DE OLIVEIRA, 2012), foi a partir dos anos 2000 que a bibliografia de interesse, antes restrita à pós-graduação, passou a ganhar volumes de introdução voltados a estudantes de graduação em Letras, na intenção de preparar e conquistar futuros pesquisadores semanticistas (ILARI, 2001; PIRES DE OLIVEIRA, 2001; CANÇADO, 2012; FERRAREZI JUNIOR; BASSO, 2013). Neste cenário, Para Conhecer Semântica (Editora Contexto, 2018), escrito pelas linguistas Ana Paula Quadros Gomes (UFRJ) e Luciana Sanchez Mendes (UFF), toma lugar na bibliografia introdutória sobre Semântica Formal produzida em Português. A partir de propostas internacionalmente reconhecidas que buscam formular explicações de aplicação universal, as autoras analisam fenômenos do Português Brasileiro (PB), com exemplos atuais e linguagem jovial. O livro não só traz conceitos teóricos fundamentais para a área, como também reflete em sua organização desenvolvimentos importantes na pesquisa em Semântica nos últimos anos, como o tratamento das estruturas nominais e das expressões modificadoras, para o que a pesquisa das próprias autoras vem contribuindo com destaque.
Assim como o pioneiro Semântica Formal: uma breve introdução, de Roberta Pires de Oliveira (2001), o atual Para conhecer Semântica é um manual introdutório de Semântica Formal. Não aborda outras perspectivas de Semântica, como é o caso do também referenciado Manual de Semântica: noções básicas e exercícios, de Márcia Cançado (2012), e de Semântica, Semânticas: uma introdução, de Ferrarezi Jr. e Basso (2013). O diferencial de Para conhecer Semântica está na sua organização e, principalmente, na atualidade dos dados discutidos e das abordagens escolhidas, o que aparece na seleção dos fenômenos enfocados e no modo como são tratados. Parte-se de análises clássicas, de conhecimento obrigatório para qualquer semanticista, e chega-se à apresentação dos desenvolvimentos recentes na área, em que o conhecimento é atualizado constantemente e reformulações se tornam necessárias para dar conta dos dados empíricos.
O objetivo das autoras com Para conhecer Semântica é apresentar a Semântica como uma ciência formal, que busca explicações gerais, econômicas e lógicas, a partir de hipóteses que podem ser confirmadas ou falseadas pelos dados. Desse modo, a Semântica visa a descrever uma parte fundamental do conhecimento linguístico humano, qual seja, “[…] como qualquer falante nativo produz sentenças com significado e compreende sentenças formadas na sua língua.” (p.9). As autoras, então, promovem o pensamento científico usando, como objeto de investigação, o significado linguístico.
O livro é organizado em 4 capítulos que contemplam, nas palavras das autoras, “as três maiores fatias de uma língua natural”, que são o sintagma nominal, o sintagma verbal e a modificação. Cada parte é introduzida com os objetivos do capítulo e encerrada com indicações de leituras complementares e exercícios, seguindo o formato da coleção Para conhecer, da Editora Contexto. O primeiro capítulo introduz o campo da Semântica, seu objeto, e delimita a discussão do livro ao significado no nível da sentença. O objetivo é determinar as condições de verdade da proposição expressa pela sentença a partir do significado de suas partes, definindo-se, assim, a perspectiva vericondicional e composicional da Semântica assumida no livro. São analisados, então, fenômenos clássicos na investigação do significado, de interesse para qualquer perspectiva Semântica, como a ambiguidade, a anomalia, a pressuposição e, sob o inteligente rótulo de nexos lógicos, as relações de acarretamento, contradição, sinonímia e verdade contingente. Esses fenômenos evidenciam uma parte fundamental do nosso conhecimento semântico, que é a capacidade de relacionar significados e deduzir uma proposição a partir de outra. Por exemplo, como sabemos que, se a proposição ‘João viajou ontem’ é verdadeira, necessariamente ‘João viajou’ também será, mas o contrário não acontece? Dizemos, então, que ‘João viajou ontem’ acarreta que ‘João viajou’, mas ‘João viajou’ não acarreta que João tenha viajado ontem (pode ter sido em qualquer momento no passado). Ademais, como sabemos que, para que ‘Dom Casmurro parou de confiar na Capitu’ faça sentido, é preciso que ‘Dom Casmurro confiava na Capitu’ seja verdade? As autoras mostram como essas operações, que realizamos intuitivamente, relacionam-se e ampliam nosso conhecimento de mundo, e apresentam os mecanismos e estratégias sintático-semânticas que engatilham tais operações, introduzindo o ferramental matemático básico para formalizar a explicação.
As duas últimas seções da primeira parte tratam do Sentido e da Referência de uma expressão, da predicação e da composicionalidade, noções herdadas da Filosofia a partir dos trabalhos de Frege (1978) e que são pressupostos teóricos sobre os quais se assenta a Semântica Formal. Tais noções foram um salto na compreensão sobre como relacionamos termos da língua com as ‘coisas do mundo’, e como calculamos a verdade de uma proposição, em uma época em que o significado de um termo era entendido como o seu referente. Por exemplo, como falamos sobre o que não existe, como ‘Pégaso’ e ‘Papai Noel’? E qual seria o referente de abstratos, como ‘amor’, ‘cansaço’, ‘liberdade’? Frege propôs que a relação entre o termo e sua referência não era direta, mas mediada pelo sentido, o pensamento expresso pelo termo. Interpretamos termos que nomeiam objetos inexistentes ou abstratos pois conhecemos seu sentido, e saber mais de um sentido para a mesma referência é saber mais sobre o mundo.
Já o valor de verdade da proposição era ainda calculado de forma aristotélica, como composto de um particular e uma categoria. Assim, ‘Bob Dylan é mortal’ seria verdadeira se o particular ‘Bob Dylan’ pertencesse à categoria ‘mortal’. Para Frege, essa maneira de analisar o significado não contemplava sentenças transitivas como ‘Bob Dylan escreveu Blowing in the Wind’. O que seria o particular e o que seria a categoria nesta sentença mais complexa? A saída fregeana foi tratar verbos como predicados – expressões insaturadas, mas com sentido – e seus complementos como argumentos – expressões saturadas que geram a expressão saturada chamada sentença quando compostas com o predicado. Formalmente, os predicados passaram a ser vistos como relações entre conjuntos. O predicado ‘escrever’ é uma função que toma dois argumentos: ‘Bob Dylan’ do conjunto dos escritores, e ‘Blowing in the Wind’ do conjunto das coisas escritas, e retorna a sentença ‘Bob Dylan escreveu Blowing in the Wind’ a qual expressa uma proposição que podemos, então, avaliar como verdadeira ou falsa. A solução trazida com a predicação e a composicionalidade foi desafiada por sentenças como ‘Maria pensa que Bob Dylan vem ao Brasil’, em que saber a referência da proposição encaixada não contribui para calcular o valor de verdade da proposição toda. Se ‘Bob Dylan vem ao Brasil’ for falsa, não decorre que ‘Maria pensa que Bob Dylan vem ao Brasil’ seja também falsa, pois Maria pode pensar algo que não é verdade. Anos mais tarde, essa observação de Frege culminou no conceito de intensionalidade, em que o significado é ainda calculado composicionalmente, mas não conforme a sua extensão (ou referência), e sim conforme o seu sentido, sua intensão. Retoma-se essa questão no capítulo 3, dedicado à análise do sintagma verbal. Com essa introdução sobre conceitos-chave da Semântica Formal, Gomes e Mendes ilustram um fator fundamental do fazer científico, que é confrontar os dados empíricos com as previsões teóricas, para então reformular hipóteses e refinar a teoria de modo que explique cada vez melhor os dados.
O segundo capítulo trata do sintagma nominal (SN), tema de grande destaque nas pesquisas em Semântica nos últimos anos por contribuir, entre outras questões, para a compreensão das diferenças entre PB e Português Europeu (PE). O capítulo apresenta os tipos de SN, discutindo as diferenças entre nome nu e sintagma determinante, tanto na posição de sujeito como na posição de complemento; entre nomes massivos e nomes contáveis; e sintagma definido e indefinido. As autoras analisam tais fenômenos mostrando como dados de PB desafiam descrições tradicionais, e introduzem ferramentas formais de análise, como noções de atomicidade e cumulatividade, pluralidade e conjuntística. Nesse capítulo, as autoras analisam, por exemplo, dados como ‘Comprei revista domingo’ e ‘Comprei uma revista domingo’, e mostram que ambas são aceitas no PB, porém com intepretações diferentes, enquanto no PE apenas a segunda sentença é bem aceita, e a primeira é anômala. Analisam também diferença entre nominais que denotam objetos contáveis, como ‘maçã’, e objetos massivos, como ‘areia’, apontando a relevância de se descrever as características semânticas de cada tipo para então podermos explicar porquê podemos dizer com naturalidade ‘Duas maçãs caíram no chão’, mas não ‘Duas areias caíram no chão’. Relacionado a esses fenômenos são tratados, no mesmo capítulo, a semântica do plural, da definitude e dos quantificadores generalizados e sua interações de escopo entre si e outros operadores.
O sintagma verbal é tema do Capítulo 3, onde se discorre sobre seleção argumental e papéis temáticos; a expressão do tempo e do aspecto; e a expressão do modo e da modalidade. São tratadas a natureza impessoal de alguns verbos, a expressão da existencialidade, e a possibilidade de um dos argumentos selecionados pelo verbo ser uma expressão que denota, não um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, mas um evento. Esses temas evidenciam a relação entre a natureza do verbo e como ele seleciona seus argumentos, o que é visto a partir da noção de papeis temáticos, hierarquia temática e alternância verbal. O ferramental teórico introduzido por Gomes e Mendes para o tratamento das questões de tempo e aspecto são as propostas de Reichenbach (2011) e Vendler (1957) e, para a modalidade, assume-se a proposta standard de Kratzer (2012), clássicos utilizados para a explicação de como somos capazes de falar sobre situações que não são o aqui e o agora. Entram nesse leque a expressão do passado, do futuro, de situações inferidas, possíveis, necessárias ou hipotéticas, que requerem considerar estados de coisas alternativos. Neste capítulo, entra em cena de modo mais proeminente uma noção cara à análise semântica no nível sentencial, e que figura como uma reformulação importante da teoria semântica para dar conta de dados empíricos que, a princípio, desafiaram a teoria. Esta noção é o contexto.
A visão relativa de tempo, de Reichenbach (2011), busca desfazer a trivialidade de sentenças como ‘João tomou banho’. Essa sentença só é adequada se estiver sendo avaliada em algum tempo relevante, que de alguma forma se relacione com o tempo atual, pois é trivialmente esperado que João tenha tomado banho alguma vez no passado. O fenômeno é conhecido também por ter sido tratado por Partee (2004) no seu famoso exemplo ‘I didn’t turn off the stove’ (‘Eu não desliguei o fogão’), onde a autora, sob a ótica de tempo dêitico e relativo, propõe analisar o tempo como análogo a um pronome, cujo valor é fornecido pelo contexto. Quanto ao aspecto, além do aspecto gramatical expresso pela morfologia, as autoras tratam do aspecto lexical mostrando como os verbos podem ser classificados semanticamente conforme as classes acionais, assim como são classificados sintaticamente conforme sua transitividade. Seguindo Vendler (1957) as autoras mostram como uma classificação semântica contribui não só para a categorização dos verbos, como também para explicar fenômenos como a distribuição de certos adjuntos e a validade de argumentos. Por exemplo, por que podemos dizer ‘João correu por duas horas’, mas não ‘*João correu em duas horas’? Ou então, por que ‘João estava correndo’ acarreta que ‘João correu’, mas ‘João estava atravessando a rua’ não acarreta ‘João atravessou a rua’?
Ao final do Capítulo 3 as autoras apresentam o modo como uma marca sentencial que indica a expressão da modalidade. Traça-se o limite entre modalidade como uma atitude do falante, e a acepção formal, em que a modalidade é estritamente a expressão da possibilidade e da necessidade. Em outras palavras, diferenciam a visão subjetiva da visão proposicional de modalidade. Seguindo a visão proposicional, as autoras analisam sentenças modais no PB conforme a perspectiva formal standard, de Kratzer (2012), em que modais são operadores sobre conjuntos de mundos possíveis, estes restritos por informações contextuais que determinam a interpretação do modal na sentença. Uma sentença como ‘João pode nadar’ expressa “vários tipos” de possibilidade: João pode nadar porque lhe foi permitido; João pode nadar porque tem habilidade; João pode nadar pois, baseado no que se sabe, ‘pode ser que ele nade’. Cada sentido é uma proposição diferente, pois expressa um pensamento diferente. O que define a interpretação adequada são proposições fornecidas pelo contexto, formalizadas como conjuntos de mundos possíveis. Nessas bases, na interpretação ‘João pode nadar porque lhe é permitido’, o auxiliar ‘pode’ é um quantificador existencial sobre o conjunto de mundos em que João atende as permissões que lhes são concedidas.
Na análise da modalidade, as autoras retomam a noção de intensionalidade e de nexos entre sentenças ao mostrarem que uma sentença como ‘João pode nadar’ especula sobre a possibilidade de o evento de João nadar ser confirmado, mas não o garante como fato, evidência de que uma análise composicional extencional não é suficiente. A proposição modal, sendo verdadeira, não garante a verdade da proposição encaixada, tanto que mesmo que João nunca nade, a proposição modal continua podendo ser verdadeira. Para que a análise composicional seja possível é preciso recorrer não à referência da proposição encaixada – sua extensão, seu valor de verdade – mas ao seu sentido – sua intensão, o pensamento que expressa –, formulada como um conjunto de mundos possíveis.
No quarto e último capítulo, o contexto também é ingrediente fundamental na análise da terceira grande fatia da língua natural, a modificação, onde são tratados adjetivos, advérbios e intensificadores. Destaca-se a abordagem dos adjetivos e os desafios que trazem a uma análise composicional unificadora, devido à variedade de leituras que recebem conforme a posição em que aparecem. Adjetivos que podem aparecer tanto em uma posição atributiva canônica como também antes do nome, variando sua leitura entre intersectiva e intensional, trazem esse desafio. Por exemplo, um adjetivo como ‘pobre’ tem uma leitura intersectiva em posição atributiva canônica– ‘O menino pobre fugiu’ – e em posição predicativa – ‘O menino é pobre’; mas uma leitura intensional em ‘O pobre menino fugiu’. Para este problema, as autoras mostram como a observação dos adjetivos de grau como ‘alto’ em ‘João é alto’, e da interação desse tipo de adjetivo com intensificadores, como ‘muito’, e com construção comparativas, traz à analise dos adjetivos a ferramenta da dependência contextual. Com o contexto, podemos explicar como podemos dizer que João, com 1,80m, é um homem alto para um jóquei, mas baixo para um jogador de basquete; ou, ainda, como podemos dizer que João é bom, profissionalmente falando, a partir da informação de que João é um bom médico. Mostra-se, assim, um tratamento unificado: essa classe de adjetivos é intersectiva quando levamos em conta a informação fornecida pelo contexto.
Gomes e Mendes encerram o último capítulo com os advérbios, tradicionalmente definidos como expressões que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, mas que compõe uma categoria bastante diversificada. Há os que modificam eventos – como em ‘Maria cozinha bem’ –; que indicam modo, tempo e lugar – ‘João chegou em casa às 5h’ – ou modificam a proposição inteira – ‘Infelizmente, o produto se esgotou’. Alguns intensificam – ‘Maria cozinha muito bem’ – , outros quantificam – ‘Maria sempre/às vezes/nunca cozinha bem’ – e outros são modais – ‘Maria possivelmente cozinha’. Alguns operam nas condições de verdade, como em ‘Maria cozinha bem’ (ou seja, ela não cozinha mal). Já outros expressam atos de fala, como em ‘Sinceramente, pra mim é melhor estar sem Neymar no time’ (p.181), e não interferem nas condições de verdade. As autoras, portanto, tratam os advérbios e adjetivos conforme tipo de operação que realizam na sentença, mostrando que vão além de expressar qualidades. Admitem que é um fenômeno linguístico – se não o mais – difícil de formular teoricamente, devido à riqueza do léxico envolvido, à diversidade de operações que realizam e sua forte dependência do contexto.
A atualidade dos exemplos usados para análise é destaque de Para conhecer semântica, alguns deles extraídos de memes conhecidos nas redes sociais, o que revigora a análise até mesmo para quem já está familiarizado com os temas. Por exemplo, a famigerada sentença “O bêbado bateu na velha de bengala”, tradicionalmente usada como exemplo para a análise da ambiguidade estrutural, é substituída pela lúdica “Seu cachorro corre atrás das pessoas de bicicleta”, contextualizada em um diálogo ao que o dono do cachorro responde “Mentira, meu cachorro não tem bicicleta”. O arranjo traz o elemento cativante da surpresa ao evidenciar a interpretação inesperada, porém, possível, dada a estrutura da sentença. Toda a introdução às formalizações é apresentada com ilustrações, bem como conceitos chave aparecem em quadros de destaque.
Com uma escrita acessível e espirituosa, as autoras partem de análises tradicionais para as reformulações teóricas que se fizeram necessárias quando os estudiosos enfrentam dados que desafiaram a teoria. Um ingrediente importante dessas reformulações apontado pelas autoras, e que lança bases para a reinterpretação do campo, é a formalização da contribuição contextual na semântica. Superficialmente definida como a área que estuda o significado fora de contexto (a Pragmática se encarregaria de considerar o contexto na análise), a Semântica Formal apresenta sim ferramentas para formalizar a contribuição do contexto na interpretação, sem o qual, como bem mostrado ao longo do livro, sentenças corriqueiras como ‘João pode correr amanhã’ (tem permissão? Tem capacidade física? Ou pode ser que ele corra?), ou ‘João é alto’ (muito alto comparado a quem?), não poderiam ser plenamente interpretadas.
A intenção expressa pelas autoras nas considerações finais em conquistar o leitor iniciante para a análise semântica é cumprida ao longo do livro. Apresentam-se os fenômenos quase que informalmente e introduzem-se lentamente aspectos da formalização lógica, mas por meio de uma ferramenta poderosa, que é a análise de dados da língua acessível à intuição de qualquer falante. Sendo assim, o conteúdo do livro, na maneira como os fenômenos e análises dos dados são apresentados, tem a função de levar o leitor a perceber que ele tem em si um linguista em potencial, em princípio, por possuir a ferramenta essencial para qualquer análise linguística: a sua intuição de falante.
A contribuição das autoras se encerra com uma rica lista de referências bibliográficas, que reúne desde textos seminais sobre os fenômenos abordados, até as produções mais recentes em que se basearam as análises apresentadas no livro, tanto de pesquisadoras e pesquisadores nacionais quanto estrangeiros. Dessa forma, Para conhecer Semântica toma lugar entre a bibliografia essencial para todo iniciante interessado em Semântica, bem como um potencial guia para educadores na área.
Referências
BORGES NETO, J.; MULLER, A. L.; PIRES DE OLIVEIRA, R. A semântica formal das línguas naturais: histórias e desafios. Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v.20, n.1, p.119-148, jan./jun. 2012. [ Links ]
CANÇADO, M. Manual de semântica: noções básicas e exercícios. São Paulo: Contexto, 2012. [ Links ]
FERRAREZI JUNIOR, C.; BASSO, R. Semântica, semânticas: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2013. [ Links ]
FREGE, G. Lógica e filosofia da linguagem. São Paulo: Cultrix, 1978. [ Links ]
ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001. [ Links ]
KRATZER, A. Modals and conditionals. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. [ Links ]
PARTEE, B. H. Reflections of a formal semanticist. In: PARTEE, B. H. (sel.). Compositionality in formal semantics. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. p.1-25. [ Links ]
PIRES DE OLIVEIRA, R. Semântica formal: uma breve introdução. Campinas: Mercado das Letras, 2001. [ Links ]
REICHENBACH, H. The tenses of verbs. In: MEINSTER, J.; SCHERNUS, W. Time from concept to narrative construct: a reader. Berlin; New York: De Gruyter, 2011. p.1-12. [ Links ]
VENDLER, Z. Verbs and times. The Philosophical Review, Ithaca, v.66, n.2, p.143-160, 1957. [ Links ]
Ana Lúcia Pessotto – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Faculdade de Letras. Rio de Janeiro – RJ – Brasil. anapessotto@gmail.com.
Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX) – MAGALHÃES (RHHE)
MAGALHÃES, Justino. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Lisboa: Educa; Unidade de I&D de Ciências da Educação, 2010. 644p. Resenha de: CARVALHO, Bruno Bernardes. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Revista de História e Historiografia da Educação, Curitiba, Brasil, v. 3, n. 9, p. 198-204, setembro/dezembro de 2019.
A obra “Da Cadeira ao Banco: Escola e Modernização (Séculos XVIII – XX)”, de autoria de Justino Magalhães, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é leitura essencial aos pesquisadores da História da Educação. Partindo da metáfora que dá título ao livro, o autor faz uma incursão pelos séculos XVIII ao XX, munido pela erudição que lhe é peculiar. Além do profundo trabalho de pesquisa, o autor nos oferece uma visão sobre a “história da longa duração”, isto é, o processo histórico de constituição da escola e da educação escolar enquanto instituintes e institutos da Modernidade na Europa. Adotando a perspectiva da síntese historiográfica, pela visão ampliada do processo de escolarização, o conjunto de análises e reflexões apresentadas na obra são importantes contribuições à historiografia educacional, pois faz emergir categorias de análise, que servem de aporte para outras investigações, como por exemplo: estatalização; nacionalização; governamentação; regimentação; cultura escrita; e munícipio pedagógico, discutidas em artigos e livros anteriores por Justino Magalhães.
O livro divide-se em três partes: Questões Introdutórias; Parte I – História do Educacional Escolar Português; e Parte II – Da Cadeira ao Banco. A primeira é composta por ensaios que versam sobre a História da Educação, enquanto área de pesquisa, e a escola como objeto historiográfico. Magalhães (2010) ressalta o vínculo existente entre história e educação, e entre educação e sociedade. Coloca em relevo a educação e o educacional escolar como elementos basilares da Modernidade, aqui entendida como o longo ciclo histórico que abrange os séculos XVIII a XX. Também destaca que a escola e a cultura escolar, no desenvolvimento histórico, tornaram-se constitutivas e instituintes da Modernidade, desempenhando papel de relevo na modernização da sociedade e no processo de constituição dos estados nacionais. Nesse âmbito, a educação, e mais especificamente a educação escolar, mediante a generalização da cultura escrita, forneceu as bases de legitimação para constituição e afirmação do Estado em relação à sociedade. Pensada e institucionalizada como forma de regenerar a sociedade via consecução da cidadania, a escola evoluiu assentada no paradoxo modernização-tradição, de preparar o futuro pela reafirmação do passado. Questões que ele procura demonstrar tomando por mote a análise do caso português, objeto do capítulo seguinte. Além deste argumento central, o tópico introdutório contém reflexões sobre a História, a prática historiográfica e a pesquisa em História da Educação, sendo que o autor defende uma perspectiva epistemológica que perpasse diferentes dimensões espaço-temporais: curta, média e longa duração; local, regional e nacional; em escalas micro, meso e macro.
Já na Parte I, História do Educacional Escolar Português, Magalhães procura “reconstituir” a gênese e desenvolvimento da escola em Portugal, buscando estabelecer a cronologia desenvolvimento do sistema educativo português, tomando sempre em consideração o educacional escolar, como resultante da relação escola-sociedade. O período analisado (séculos XVIII – XX) é caracterizado por ciclos: es-tatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Progressivos e integrativos, cumulativa e lentamente resultaram na institucionalização da escola em Portugal, numa perspectiva da História enquanto processo.
A estatalização compreende o período que vai de 1752 quando Marquês de Pombal assume o poder, até 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Compreende, assim, o seguinte feixe de características e processos: a ênfase da escrita como elemento de estruturação e organização do social; a escolarização do ensino e da cultura escrita; a escrita e a escola enquanto condição e instância de civilidade, ou seja, a emergência de “um proto-sistema escolar”, conforme nominado pelo autor, pois com esta estrutura “embrionária” se estabelece o “Subsídio Literário”. Neste cenário a instrução adquiriu centralidade, tornando-se matéria de interesse público, desígnio a ser assumido pelo Estado. Iniciava-se a transfiguração da educação em tecnologia do social, como meio de racionalização da sociedade e do estado nacional.
A partir da implantação do liberalismo em Portugal (1820), o desenvolvimento histórico educacional português promove um processo de nacionalização, já que a ênfase passa a recair na consolidação da nacionalidade portuguesa. A instrução pública acena com centralidade na construção de uma identidade pátria, a escola e a cultura escolar são nacionalizadas, mediante alguns processos a se destacar: a nacionalização curricular; a burocratização da estrutura escolar; a normalização pedagógica; protagonismos das instâncias locais, em especial as paróquias e municípios; adoção e reforço da língua vernácula como base da cultura escrita e da cultura escolar. Escola e nacionalidade caminharam associadas no período em questão, valorizando-se o nacional, as tradições e os valores pátrios, visando a construção de uma portugalidade.
O terceiro período histórico do desenvolvimento educacional português, trabalhado por Magalhães, século XIX, é caracterizado como ciclo em que a educação escolar se estrutura num sentido de maior organização e burocratização. Para Magalhães a escola nacional, além de reconfigurar o sentido do escolar, instala a governamentação, ou a burocratização do educacional escolar, com vistas a modernizar a escola e, por conseguinte, transformar a sociedade. O Estado português assume maior protagonismo na organização da escola, instituindo normas de escrituração escolar, uniformizando o currículo, criando órgãos de governo para inspeção do ensino, ampliando o aparelho pedagógico-administrativo, profissionalizando o magistério, enfim, variadas ações no sentido de conferir uma racionalidade burocrática à educação. Organizando a escola, pretendia-se o ordenamento e a regeneração da sociedade.
Há que se destacar também neste ciclo de governamentação, o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução em Portugal. Muito embora as ações empreendidas pelo governo português indiquem uma centralidade, com o estado nacional promovendo a normatização do escolar, os municípios portugueses contavam com certa porção de autonomia, resultado da descentralização administrativa, constituindo-se como “municípios pedagógicos”, espaços não somente de ação e decisão política, mas territórios essencialmente pedagógicos, educacionais, envolvendo-se diretamente na organização da instrução em seus domínios. É possível afirmar que exista uma autonomia regulada, ou seja, uma descentralização normatizada, em que as instâncias locais contavam com certo grau de autonomia, ao passo que o estado nacional, sobretudo, por meio da inspeção de ensino, normatizava e conferia uma racionalidade burocrática a educação escolar.
Por fim, o quarto ciclo histórico caracterizado pelo autor, a regimentação, define um período de vínculo e condicionamento entre escola e regime político. Trata-se de uma aproximação, ou mesmo de uma fusão entre os ideais do regime político instituído e a educação, entre a escola e o Estado. A escola é literalmente regimentalizada, ou nas palavras de Magalhães (2010), tem-se a “prevalência do Estado, arrastando e arrestando a escola para si” (p.349), uma aliança entre escola e regime com vista ao progresso do país. O período de regimen-tação abrange tanto a República quanto o Estado Novo em Portugal1. Durante o período republicano a tônica recai em republicanizar a escola, a fim de se republicanizar o país. Fundem-se neste sentido os ideais de cidadania, republicanismo, nacionalismo, patriotismo. A escola republicana objetivava formar o cidadão republicano, o homem novo. A escola emerge neste período consolidada enquanto tecnologia do social, como meio de ordenação e progresso da sociedade. pela via da escolarização pretendia-se a regeneração do social. E no que se refere ao chamado Estado Novo em Portugal, tais concepções são ainda mais acentuadas durante a administração salazarista: reforça-se a ideologização do ensino, com forte apelo cívico-nacionalista. Conforme metáfora do autor, “do velho se fez novo”, o Estado Novo se apropria da regimentação do educacional republicana, reincidindo sobre o teor nacionalista.
Na Parte II da obra, “Da Cadeira ao Banco”, o autor retoma os quatro ciclos históricos apresentados na seção anterior, agora tomando por argumento central a cultura escolar e seu processo histórico de constituição. Somente aí temos claramente apresentado o conceito presente na metáfora da “Da cadeira ao Banco”: assim como a criança, que ao entrar na escola levava consigo sua própria cadeira, e ao passo de seu desenvolvimento intelectual ascendia à bancada e à mesa central, a escola enquanto instituição social, também pode ser entendida metaforizada num processo de crescimento, que perpassa segundo o autor, dois séculos de história. Nesta parte da obra a cronologia não é mais o ponto principal da análise, mas sim os aspectos gerais e mais profundos que caracterizam o desenvolvimento da escola em sua relação intrínseca com a sociedade. Magalhães destaca que: “O processo de passagem da cadeira ao banco/ bancada espelha a evolução da instituição escolar, no plano interno e na sua relação com a sociedade (…)” (p. 414).
Da cultura escolar em Portugal, instituída historicamente e instituinte do social, são indicados os vetores centrais do processo de constituição do escolar em Portugal: a universalização da escola e da cultura escrita ao longo destes dois séculos; a escola concebida como como tecnologia do social, via de legitimação e consolidação do Estado-Nação; o paradoxo escolar de construção do futuro pela preservação da tradição, ou em outras palavras, a contradição escolar de pretensamente fornecer os meios de regeneração e progresso da sociedade, mediante a reafirmação de valores pátrios e da tradição; o crescente processo de regulamentação e burocratização do educacional escolar, aliado as ideologias dos regimes políticos; o caráter essencialmente educacional da Modernidade, na estreita e complexa relação existente entre modernidade, cultura escrita, escola, cidadania e estado-nação. Em linhas gerais, esta segunda parte da obra cristaliza a concepção de que a cultura escrita como meio, e a escola como centro, caracterizam a Modernidade enquanto processo civilizacional, destacando a relevância e o significado histórico do processo de escolarização como instância de modernização da sociedade portuguesa.
Importante mencionar que o autor dedica um capítulo especial para análise da realidade educacional brasileira, demonstrando inclusive diálogo fértil com pesquisadores brasileiros. Empreendendo uma análise comparada, analisa os ciclos históricos do educacional no Brasil, tomando por base as mesmas categorias do caso português: estatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Dentre outras questões, Magalhães (2010) destaca o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução primária brasileira, apontando para uma municipalização da instrução.
Numa inapropriada síntese, dada a complexidade e profundidade da obra em tela, aos que se interessarem pela leitura e pelo vai-vém “Da Cadeira ao Banco”, será possível ter uma melhor compreensão da relação existente entre escola, sociedade e Modernidade. Enquanto tecnologia do social a escola é instituto e instituinte, fator de modernização. À imagem da criança que adentra à escola com sua cadeira, somos conduzidos pelo autor, que espelhando a ação do mestre nos insta a aprofundar nosso entendimento sobre o processo de escolarização, tomando nosso lugar na bancada ao centro da sala.
Notas
1 A implantação da República em Portugal data de 1910, enquanto o Estado Novo tem sua origem em 1926, perdurando até 1974, sendo também este último período denominado de salazarismo.
Bruno Bernardes Carvalho – Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (Brasil). Contato: brunobernardes@iftm.edu.br.
Fronteras urbanas: los mundos sociales de la torres de Buenos Aires – ELGUEZABAL; ZAPPA (EURE)
ELGUEZABAL, Eleonora; ZAPPA G. Fronteras urbanas: los mundos sociales de la torres de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Café de las Ciudades (col. Sociología), 2018. 298 pp. Resenha de: NOVICK, Alicia. Fronteras urbanas: los mundos sociales de la torres de Buenos Aires. EURE (Santiago) v.45 n.136 Santiago set. 2019.
El título del libro, Fronteras urbanas, es provocativo, pues podría suponerse que se trata de un libro más de la amplia serie de trabajos sobre segregación y fragmentación urbana y social. Estas investigaciones ponen en general el foco en las urbanizaciones cerradas que reconfiguran la expansión metropolitana o en los edificios enclave que reorganizan el espacio de la ciudad consolidada, a los cuales examinan críticamente en tanto contracara de la integración e interacción social propias de las ciudades. En general, las fronteras materiales y los dispositivos tales como rejas, garitas, cámaras y otros mecanismos de vigilancia de esas gated communities son visualizados como dispositivos de autosegregación, condensadores de una creciente diferenciación entre ricos y pobres. Este texto retoma esas consideraciones –muchas de ellas ya casi lugares comunes– para iluminar matices e intersticios, cambiando la escala y los procedimientos de observación, haciendo visible lo invisible y proponiendo interpretaciones que obligan a desandar el camino de lo ya conocido.
El libro de Eleonora Elguezabal, traducción de una primera versión en francés (Elguezabal, 2015), que fue a su vez reformulación de una tesis de doctorado defendida y premiada en l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en 2011, sostiene que las fronteras urbana, vistas desde los “mundos sociales” presentes en las torres de Buenos Aires, no son rígidas. La investigación muestra que se trata de delimitaciones móviles, inestables –tal como se desarrolla en la primera parte del libro, titulada “Labilidades”– y susceptibles de ser atravesadas, tal como se desarrolla en la segunda y última parte del mismo, titulada “Porosidades”. El terreno del estudio está constituido por las torres, “palabra que se usa de manera corriente para nombrar edificios residenciales de categoría cuya construcción conoció un auge muy marcado en Buenos Aires desde los años noventa”, tomando en cuenta los múltiples actores que participan de su producción. Conceptualmente, en un contexto de amplias referencias teóricas, la investigación se funda en los “mundos sociales” de Howard Becker (1982, 2006) y en las linked ecologies de Andrew Abbot (2005), procesados mediante los procedimientos de una “microsociología de inspiración etnográfica” y el recorrido de una sociología reflexiva, precisada como tal en el prefacio –una maravillosa reseña del trabajo– por Christian Topalov, su director de tesis.
¿Qué son las torres? La argumentación no se apoya en las tipologías arquitectónicas –edificios exentos, en altura, o de otra morfología edilicia precisa– sino en la pluralidad de voces presentes en la constitución de su objeto de estudio, tales como la publicidad de los agentes inmobiliarios, los discursos de los movimientos sociales barriales que protestan en contra de los edificios en altura, de los habitantes, así como las designaciones populares y académicas, que en sus superposiciones, diálogos y pugnas revelan lo que está en juego. El procedimiento es tributario, indudablemente, del trabajo sobre las palabras desarrollado por los programas de estudio liderados por Christian Topalov (2010). Sobre esas huellas, más que un “estado de la cuestión” que da cuenta de la bibliografía sobre la problemática, se trata de una historia de la palabra torre, en sus usos situados, que la autora utiliza para dar cuenta del conflictivo terreno de estudio que está construyendo y de su inestabilidad. Es particularmente interesante seguir la lectura minuciosa de las acepciones eruditas: “torres amuralladas”, “torres jardín”, “torres country” –versión urbana de los countries de la suburbanización de Buenos Aire– en sus diversas explicaciones e interpretaciones. Elguezabal logra restituir esta amplia gama de textos dentro de una doble conversación: la que se establece con la comunidad académica internacional en torno de la fragmentación urbana, y la que remite a las posiciones críticas que se gestan en la coyuntura política argentina de fines del siglo xx e inicios del siglo xxi, mostrando además que, después de esa fecha, las torres fueron desapareciendo de las investigaciones locales. En esa operación, logra dar cuenta de las condiciones de producción del discurso experto, mostrando que los investigadores estigmatizan el fenómeno que intentan interpretar al ponderar las formas de esos enclaves desde factores globales, o tomando al pie de la letra las estrategias de diferenciación de los habitantes y promotores inmobiliarios, soslayando de ese modo las grietas e inconsistencias que se visualizan al contemplar las variadas escalas.
Al considerar la heterogeneidad de trayectorias habitacionales y las estrategias de distinción de quienes las habitan, la inestabilidad del objeto torre se hace extensiva a las afirmaciones acerca de la existencia de enclaves de ricos y de procesos de autosegregación. Las diferencias que resultan de las localizaciones urbanas, pero sobre todo los conflictos que se dirimen dentro de los edificios, pues “proximidad espacial no es proximidad social”, dan cuentan de que no siempre viven allí “los que ganan”. ¿Qué forma toman las desigualdades sociales observadas desde el interior de esos espacios cerrados?, se pregunta la autora. Para responder a ese interrogante revisa las identidades, prácticas e interacciones de quienes se ocupan del “trabajo de enclave”. Además de promotores, arquitectos, cientistas sociales y habitantes, la autora examina el rol de los administradores –inscritos en un registro público que controla la actividad–, pero también de quienes participan de la gestión, el mantenimiento, la seguridad y la limpieza y, por ende, de la producción material y simbólica de los inmuebles. Dicho de otro modo, las torres son visualizadas como espacios de trabajo. Desde esa perspectiva, como se recuerda en el libro, la calificación simbólica de un espacio –en este caso, de un inmueble residencial– no resulta directamente del proyecto de sus promotores o sus arquitectos. El juego de clasificaciones que comienza con la promoción inmobiliaria, la comercialización y la ocupación de los habitantes, se continúa en la puesta en funcionamiento de los inmuebles, en los cuales se cristalizan las disposiciones de los habitantes respecto a sus viviendas y a su posición de clase vis-à-vis las de los empleados, que, a su vez, intervienen y contribuyen con su trabajo a hacer realidad o a poner en cuestión las pretensiones de los copropietarios.
Es precisamente en ese análisis donde se visualiza la productividad empírica de los “mundos sociales” de Becker, que subrayan la importancia de considerar a todos aquellos que participan en una actividad. “La naturaleza de esas relaciones entre la gente no está dada, no es algo que pueda establecerse a priori o resulte de una definición. Se trata de algo que resulta de observarlos en acción, mirando qué es lo que ellos hacen”. Como precisa Becker, en ese análisis es posible ver “qué es lo que hacen”, “si están en conflicto”, “si trabajan en conjunto y están a la vez en conflicto”. (Becker & Pessin, 2006). En la investigación de Elguezabal, ese procedimiento de observar “en acción” requirió de un fino trabajo etnográfico en el terreno, de la realización de más de 120 entrevistas, con resultados triangulados con otros materiales, tal como se consigna en el Anexo del libro. La diferenciación de “los intendentes” del resto de los empleados, los alcances de vigilancia –que se presenta como un signo de “prestigio” y de “estatus” de estos edificios, pero opera más en el control interno que en la seguridad exterior–, las “changas” –que establecen redes de relaciones entre el personal y los habitantes– iluminan una fina y controvertida red de relaciones entre los habitantes y el personal, en sus diferentes estatutos y jerarquías. Como se afirma, lo que está en juego no es tanto diferenciar el afuera y el adentro –mediante porteros y televisores, rejas u otros dispositivos–, pues prevalecen estrategias que apuntan a reforzar las fronteras internas que separan a los propietarios entre sí, iluminando así los conflictos y desajustes en los procesos de segregación. Generalmente los enclaves no son, como dice la autora, de exclusión, sino de disimulación. Una revisión de la sociología clásica de las profesiones, desde las miradas renovadas de Abbot (2005), le permite tejer esa espesa tela donde se juegan los roles de los trabajadores sindicalizados, los tercerizados, los precarios, considerando los procesos y las relaciones internas y externas que dan lugar a una reclasificación permanente.
Más que certezas, el itinerario que nos propone Elguezabal pone el énfasis en las incertidumbres, revisitando las grandes categorías e ideas establecidas, mostrando las grietas en esas fronteras urbanas mediante una reflexividad que, como señala Topalov en el prefacio, es resultado de un camino de investigación que, a partir de la “observación de las pequeñas cosas”, es capaz de poner de manifiesto la fragilidad de los conceptos más firmes. Se trata de un sendero que no parte de problemáticas, objetos de estudio o procedimientos establecidos a priori, sino que se va construyendo a lo largo de un itinerario “sin mapa, pero con brújula”. Esa fascinante práctica de investigación de la autora entra en consonancia con la operación de traducción que efectúa entre muy diversas disciplinas: entre los aportes de la etnografía, la sociología del trabajo y la teoría de la organización, la sociología urbana, la arquitectura y el urbanismo. Reflejo de lo anterior, los cinco jurados de su tesis de doctorado fueron un antropólogo, un etnógrafo, un sociólogo, un economista y un arquitecto. Todos ellos coincidieron en elogiar las competencias de Elguezabal para dar cuenta de las problemáticas que se planteó resolver, respetando las matrices de las diferentes disciplinas. Por detrás de esa capacidad de articulación se perfila el itinerario de una autora argentina con estudios en Francia y pasantías de investigación en Londres y Chicago, que desarrolló así una gran capacidad para desempeñarse con solvencia entre países, idiomas y culturas académicas.
Es indudable el aporte conceptual, metodológico y empírico de su investigación. Tal vez, desde la dimensión territorial, en la acepción de territorio de la geografía humana y desde los estudios urbanos hubiera sido interesante sumar reflexiones sobre la espacialidad y la historicidad de los objetos estudiados, tomando en cuenta lógicas de localización, la materialidad de los dispositivos y sus diferencias con los edificios tradicionales, sobre todo en una ciudad sedimentada como Buenos Aires. Sin embargo, esta observación acerca de la consideración de los espacios y los tiempos no remite a carencias del trabajo realizado; más bien, apunta a identificar algunas de las muchas pistas que se abren para ser desarrolladas en futuras investigaciones.
El texto es excelente. Se trata de un libro que es producto de una investigación relevante y original, que desafía muchos de los presupuestos de la literatura académica. Más ampliamente, el trabajo interpela un modo de hacer investigación que nos recuerda que, para dar cuenta de la complejidad, es necesario revisar lo grande y lo pequeño, lo singular y la norma; y recurrir a la articulación de actores, escalas y perspectivas de análisis para hacer visible lo invisible y, sobre todo, para poder decir, como en este libro, algo que aún no había sido dicho.
Referências
Abbot, A. (2005). Linked ecologies: States and universities as environments for professions. Sociological Theory, 23(3), 245-274. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2005.00253.x [ Links ]
Becker, H. (1982). Arts Worlds. Berkeley, ca: University of California Press. [ Links ]
Becker, H. & Pessin, A. (2006). Howard S. Becker et Alain Pessin : Dialogue sur les notions de monde et de champ. Sociologie de l’Art, 2006/1 (OPuS 8), 163-180. https://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art-2006-1-page-163.htm [ Links ]
Elguezabal, E. (2011). La production des frontières urbaines. Les mondes sociaux des “copropriétés fermées” à Buenos Aires. Tesis doctoral. École des Hautes Études en Sciences Sociales (ehess) París. [ Links ]
Elguezabal, E. (2015). Frontières urbaines. Les mondes sociaux des copropriétés fermées. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, coll. Géographie sociale. [ Links ]
Topalov, Ch., Coudroy de Lille, L., Depaule, J-C. & Marin, B. (2010). L’Aventure des mots de la ville: A travers le temps, les langues les sociétés. París: Robert Laffont. [ Links ]
Alicia Novick – Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. E-mail:alicianovick09@gmail.com.
Neil Brenner. Teoría urbana crítica y políticas de escala- BUITRAGO (EURE)
BUITRAGO, Álvaro Sevilla. Neil Brenner. Teoría urbana crítica y políticas de escala. Barcelona: Icaria. Col. Espacios Críticos. v. 9, 2017. 296 pp. Resenha de: LETELIER, Luis-Francisco. Neil Brenner. Teoría urbana crítica y políticas de escala. EURE (Santiago) v.45 n.136 Santiago set. 2019.
Se suele reconocer y compilar el trabajo académico de una persona cuando su carrera o está bien avanzada o ha terminado. El primer mérito de este libro es ir contra esta corriente. Neil Brenner es un intelectual nacido en 1969, está en plena actividad y su pensamiento sigue en continuo despliegue y cambio. Es, por tanto, la revisión de una obra que está en transformación. El segundo aspecto que destaca en este trabajo es la simbiosis entre biografía y obra. Como lo hacen todos los libros de la colección “Espacios críticos” de la editorial Icaria, aquí también se sitúa al pensador en su contexto y se revelan relaciones, acontecimientos y giros metodológicos que permitieron y estimularon los viajes y virajes del pensamiento y de la obra. Un tercer aspecto destacable es que el libro no es una mera antología. Está construido en diálogo entre editor y ‘personaje’. El mismo Brenner contribuye con textos inéditos y narra episodios de su vida personal y académica a través de una extensa entrevista; al mismo tiempo, Álvaro Sevilla Buitrago (el editor) propone lecturas del trabajo de Brenner a partir de su participación en grupos de investigación dirigidos por él. Estos tres aspectos –reconocer a un intelectual en plena producción, poner al autor en contexto, e ir más allá la idea de antología– contribuyen a dar coherencia y marco al foco principal del texto: la trayectoria del pensamiento del autor acerca de la cuestión urbana.
El libro dibuja la trayectoria del pensamiento de Brenner en dos momentos. El primero, y más extenso, es la preocupación por las formas escalares de los procesos de acumulación capitalista, y el rol del Estado, en tanto que institucionalización de proyectos y estrategias, en la producción de esas escalaridades. El segundo momento se inicia problematizando dos nociones básicas del primer momento: la escala y la ciudad. A la primera se le quita su lugar como único principio organizador de la espacialidad. A la segunda se le desconoce su capacidad para describir lo urbano en un contexto de cambios espaciales acelerados. A partir de esta problematización se inicia la exploración de las formas y procesos de la urbanización planetaria, segundo momento del pensamiento de Brenner.
Respecto a las espacialidades estatales, una piedra angular es la crítica que hace Brenner a la visión dominante de la disolución del poder de los Estados nacionales, a la cual contrapone la idea de reestructuraciones de la espacialidad estatal. La hipótesis central de esta etapa es que “la fase actual de reestructuración global ha reconfigurado radicalmente la organización escalar de los procesos de territorialización bajo el capitalismo, relativizando la primacía de la escala nacional y, simultáneamente, reforzando el rol de las escalas supranacionales y subnacionales en esos procesos” (Brenner, 2004, p. 44).
En este contexto, la globalización es vista como una fase que busca un nuevo arreglo espacial y escalar que estabilice un marco institucional y geográfico para asegurar la acumulación del capital. El espacio fordistakeynesiano, integrado en la escala nacional y sostenido en políticas redistributivas y de cohesión social, se derrumba en la segunda mitad de los años 1960, producto de una disminución de la tasa de acumulación, y ve surgir el nuevo arreglo globalneoliberal, en el que las espacialidades estatales se conforman a partir de procesos de descentralización y disgregación de la gobernanza en diversas escalas, y unas políticas que apuntan ya no a la cohesión, sino a la competitividad territorial.
No se trata, entonces, de la disolución de la estatalidad, sino de su reestructuración en nuevas escalas y formas de gobernanza, las cuales –según Brenner– no pueden estudiarse en abstracto, sino atendiendo a: i) los marcos regulatorios y los acuerdos políticos que prevalecieron durante el periodo fordistakeynesiano; ii) los patrones históricos de formación de crisis, de desarrollo desigual y de protesta sociopolítica; iii) la interacción de las iniciativas neoliberales con los marcos regulatorios, patrones de desarrollo territorial y alianzas sociopolíticas de la etapa anterior; y iv) la evolución de las agendas políticas neoliberales en su interacción conflictiva con condiciones económico-políticas, disposiciones regulatorias y geometrías de poder contextualmente específicas.
En la construcción de estos nuevos arreglos institucionales, las ciudades se consolidan como nuevos escenarios-escalas que permiten conformar una geografía ‘glocalizada’ de los procesos de acumulación de capital. En este contexto, las ciudades actúan como incubadoras para las principales estrategias políticas e ideológicas que permiten la continuidad del dominio neoliberal (Smith, 2002). El empresarialismo urbano y las ciudades empresarializadas serán la forma clave para la producción de nuevas geografías glocalizadas del poder estatal nacional y de una nueva espacialidad de acumulación.
Junto con poner énfasis en los procesos de espacialidad estatal que acompañan la implantación del neoliberalismo, Brenner destaca que esta espacialidad es un terreno político institucional en disputa. Sobre él actúan diversas fuerzas sociales que tratan de incidir en las geografías de la actividad estatal. En este contexto se insiste en que la escala no es una realidad objetiva, sino un medio de lucha política por el control del espacio y del proceso de acumulación.
La transición al segundo momento se inicia con dos capítulos: “Mil hojas” y “¿Qué es la teoría urbana crítica?”. El primero retoma la idea lefebvriana del espacio social polimórfico. El espacio no puede entenderse con referencia a un único principio o patrón omnicomprensivo. En su lugar pueden distinguirse diversas dimensiones imbricadas, aunque analíticamente distintas: el lugar, donde tienen un papel central los actores, las identidades y las resistencias; el territorio, espacio en el que se toma control y se establecen límites; las redes, ámbito de interacciones transversales entre localización y unidades organizadas y geográficamente dispersas. Lo anterior implica que más que hablar de una economía política de la escala, hay que hablar de las ‘economías políticas escaladas’; y que, para comprenderlas, es necesario observar el modo en que actúan conjuntamente todos los principios de organización antes mencionados. En “¿Qué es la teoría urbana crítica?”, Brenner, para quien la teoría crítica debe estar siempre observando el horizonte de lo posible para identificar alternativas emancipadoras, se pregunta cómo influyen los cambios actuales en los horizontes de la emancipación. Su respuesta es que las nuevas dinámicas espaciales vinculadas a una urbanización planetaria cambian el modo en que debemos estudiar lo urbano. La urbanización ya no se refiere solo a la expansión de las grandes ciudades: estamos asistiendo a la intensificación y extensión del proceso de urbanización a todas las escalas espaciales y en toda la superficie del espacio planetario (Lefebvre, 2003 [1970]; Schmid, 2005). En este contexto, la teoría urbana crítica debe tener un lugar central en la teoría crítica general: se requiere una reorientación urbanística de la teoría crítica.
Se introducen así dos ideas que abren un nuevo ciclo de pensamiento. Primero, la configuración de las espacialidades del capitalismo y de las estatalidades no se juega solo en torno a las escalas; operan también otros principios que es necesario considerar: el lugar, el territorio y, sobre todo, la red. Esto obliga a entender el espacio urbano no como una jerarquía de escalas, sino como un entramado complejo y polimórfico. Segundo, la idea de la urbanización planetaria. Esta nueva realidad implica la necesidad de producir cambios epistémicos y teóricos profundos en la manera en que nos aproximamos y describimos lo urbano. Se entra de lleno al segundo momento con “La era de la urbanización planetaria”. En este artículo, Brenner critica la epistemología de los estudios urbanos que conciben como objeto único la ciudad, distinto de lo suburbano o lo rural. Propone reemplazar este modelo dicotómico por conceptualizaciones multiescalares, territorialmente diferenciales, morfológicamente variadas y rigurosamente procesuales, donde no cabría la división urbanorural, sino más bien distintas expresiones de lo urbano. La ciudad sería el objeto, y lo urbano la condición que realmente habría que estudiar. En un segundo artículo, “Nuevos horizontes: hacia la investigación de la urbanización planetaria”, Álvaro Sevilla Buitrago, a partir de su participación en el Urban Theory Lab (utl), profundiza en el trabajo que realizan Brenner y sus colaboradores en orden a explorar las transformaciones conceptuales de la teoría urbana contemporánea y poner en tensión la hipótesis de la urbanización planetaria, al extremo de buscar evidencias de procesos de urbanización en lugares como el Amazonas, el Océano Pacífico o la atmósfera.
Pese a insistir en su carácter total, Sevilla Buitrago, siguiendo trabajos recientes de Brenner, hace hincapié en que la urbanización planetaria no es uniforme; por el contrario, señala, “la urbanización planetaria conserva los rasgos fundamentales de territorialización capitalista en el sentido de promover patrones de desarrollo espacial desigual que acentúa los contrastes entre los diversos enclaves y modos de urbanización” (p. 276).
En orden a dar cuenta de la nueva realidad urbana planetaria y heterogénea, Brenner y sus colaboradores proponen un nuevo repertorio de conceptos. Se proponen tres categorías para tipificar los procesos de urbanización, los que corresponden a momentos dialécticamente conectados: i) urbanización concentrada, el momento que entendemos como ciudades o áreas metropolitanas; ii) urbanización extendida, territorios funcionales a los procesos de aglomeración, que por más lejanos que se encuentren están siempre vinculados al desarrollo de las actividades diarias de las aglomeraciones; y iii) urbanización diferencial, en tanto momento de destrucción y creación de nuevas formas de urbanización a partir de urbanizaciones concentradas o extendidas. Para Sevilla Buitrago, sin embargo, la urbanización diferencial se entiende mejor como totalidad que agrupa los momentos anteriores antes que como un tercer momento en iguales términos.
Junto a estas categorías y en una nueva reelaboración de Lefebvre, Brenner y Schmid distinguen tres dimensiones de urbanización: prácticas espaciales, regulación territorial y vida cotidiana, equivalentes a las nociones lefebvrianas de prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación, y destacan la necesidad de explorar las conexiones entre los distintos momentos y dimensiones de urbanización en una perspectiva histórica (Brenner & Schmid, 2015).
Este segundo momento del pensamiento de Brenner se caracteriza por un trabajo investigativo más colectivo y flexible, organizado en núcleos de investigación en distintos países que conforman una red transdiciplinaria en la que se cruzan las perspectivas de la geografía crítica y los estudios urbanos, la economía política, las ciencias ambientales y el diseño. Este empeño se caracteriza, además, por la producción de visualizaciones de los procesos de urbanización descritos, en un esfuerzo de síntesis cuasi diagramático.
Neil Brenner. Teoría urbana crítica y políticas de escala es un libro polifacético y dinámico, pero a la vez exhaustivo y completo. Permite una visión panorámica del pensamiento de uno de los teóricos urbanos más reconocidos de nuestro tiempo, pero, al mismo tiempo, ayuda a generar un cuadro de la discusión urbana actual relevando cuestiones centrales, tales como la relación entre neoliberalismo y estatalidad; proceso de acumulación y espacialidades; la articulación entre lo global y lo local en el marco del capitalismo actual; y la distinción, –crucial según mi punto de vista– de la idea de ciudad como objeto, y de lo urbano como condición.
Referências
Brenner, N. (2001). Entrepreneurial cites, ‘glocalizing’ states and the new politics of scale: Rethinking the political geographies of urban governance in Western Europe. Working Paper 76a/76b. Cambridge, ma: Center for European Studies, Harvard University. [ Links ]
Brenner, N. (2004). New State Spaces: Urban governance and rescaling of statehood. Nueva York: Oxford University Press. [ Links ]
Brenner, N. & Schmid, C. (2015). Towards a new epistemology of the urban? City, 19(2-3), 151-182. http://dx.doi.org/10.1080/13604813.2015.1014712 [ Links ]
Lefebvre, H. (2003 [1970]). The urban revolution. Minneapolis: University of Minnesota Press [trad. cast.: La revolución urbana, Madrid: Alianza Editorial, 1972]. [ Links ]
Schmid, C. (2005). Theory. En R. Diener, J. Herzog, M. Meili, P. de Meuron & C. Schmid, Switzerland: An urban portrait (pp. 163-224). Basel: Birkhäuser Verlag. [ Links ]
Sevilla A. (2017). Nuevos horizontes: hacia una investigación de la urbanización planetaria. En Á. Sevilla (ed.), Neil Brenner. Teoría urbana crítica y políticas de escala. Barcelona: Icaria (col. Espacios Críticos, 9). [ Links ]
Smith, N. (2002). New globalism, new urbanism: Gentrification as a global urban strategy. Antipode, 34(3), 427-450. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00249 [ Links ]
Luis-Francisco Letelier – Universidad Católica Del Maule, Talca, Chile. E -mail: fletelier@ucm.cl.
Noites circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no século XIX – DUARTE (RBH)
A segunda edição de Noites Circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no século XIX, de Regina Horta Duarte, chegou aos leitores em 2018. Na sua primeira edição (Campinas: Ed. Unicamp, 1995), o livro foi saudado como trabalho muito bem escrito e cativante (Mello e Souza, 1996) e considerado referência para estudos sobre teatro e circo no Brasil (Silva, 1996). Os que lerem a nova edição constatarão que a obra não envelheceu e continua digna desses elogios. Leia Mais
Un arte vulnerable: la biografia como forma | Nora Avaro, Julia Musitano e Judith Podlubne
A obra Un arte vulnerable é resultado de um colóquio homônimo sobre escrita biográfica. O evento foi idealizado e organizado pelas autoras do livro na Faculdade de Humanidades e Arte, na cidade de Rosario, Argentina, entre os dias 11 e 12 de novembro de 2016. As organizadoras se mostram convictas de que não há teoria biográfica que possa suplantar a derivada da atividade própria de cada experiência narrativa de uma vida. Vale notar que tal convicção, mola propulsora para o evento acadêmico, é perceptível nos textos que compõem o livro. Os artigos reunidos são reescritas das apresentações dos convidados para o colóquio, com acréscimos advindos de discussões suscitadas durante o encontro acadêmico.[1]
A obra conta com dezoito capítulos distribuídos em quatro seções temáticas, que não são estanques, mas comunicam-se na medida em que a leitura flui. A primeira parte intitulada “Teorias em ato”, [2] apresenta uma gama variada de discussões como a questão da onisciência do biógrafo nas formas tradicionais de narrativas de vida; as possibilidades uma escrita biográfica com fronteiras permeáveis a infiltrações de incursões autobiográficas; o fetiche referencial; as ligações entre vida e obra; o método biográfico; o dispositivo da escrita; as conexões entre a biografia e o ensaio.
Antonio Marcos Pereira é autor do primeiro ensaio e toma Flaubert’s Parrot, de Julian Barnes, como linha de partida para questionar os limites entre biografia e ficção em uma rica abordagem sobre duas veredas metodológicas: a biografia canônica e a biografia processual. A primeira obedece à tradição de manter o máximo possível o biógrafo invisível na construção do texto. Já na biografia processual, o biógrafo deixa transparecer seu trabalho investigativo, as dificuldades de pesquisa, as disputas de memória. Enquanto a biografia canônica valoriza uma narrativa neutra, isenta de lacunas, a biografia como processo procura demonstrar os limites enfrentados pelo autor, as versões contraditórias. Antonio Marcos Pereira opta pelo segundo caminho, pois, para ele, as narrativas mais profundas seriam aquelas que possibilitam um estreitamento nos laços entre um leitor, o biógrafo e o biografado; o biografado e sua obra.
O que torna uma vida digna de ser narrada? É em reposta a esse questionamento que Carlos Surghi escreve o seu artigo valendo-se da hermenêutica de Wilhelm Dilthey para não só abordar de forma crítica os modelos biográficos que narram vidas teleobjetivadas como também as relações entre vida e obra. A análise instiga-nos a pensar sobre a “fascinação biográfica”, conceito que permite avaliar o rompimento com aquilo que Antonio Marcos Pereira já havia identificado no capítulo anterior como biografia canônica. O texto é um convite para deter-se em reflexões acerca da subjetividade do biógrafo: a faina investigativa, que gera uma obsessão incontrolável, um completar-se a si mesmo na medida em que se escreve sobre o outro.
O gênero biográfico, recorrentemente é ancorado numa aporia: ou se faz biografia ou se faz história. Há, portanto, uma tentativa, sempre frustrada, de se medir o teor biográfico e o ficcional de uma narrativa biográfica, na visão de Aldo Mazzucchelli. Em ritmo de ensaio e dotado de erudição, o autor realiza um exame das diferenças entre as concepções positivistas sobre documento e verdade em contraposição a ilusão do “texto puro”, livre de qualquer referência, conforme alguns modelos pós-estruturalistas. O texto apresenta ainda uma interessante discussão sobre a questão do chamado “retorno do autor” e, valendo-se de ideias de Heidegger sobre o papel social da escrita, reflete sobre os avanços tecnológicos e os seus efeitos nos processos de subjetivação do autor.
Na sequência, Julieta Yelin parte de uma provocação: existem biografias de animais? A autora nega a possibilidade de tal empreendimento, e, para justificar, estabelece relações entre o pensamento de Foucault e Heidegger no que concerne a questão da linguagem como prova do mundo, como efeito da bios. A zoografia se encontra perante um entrave: os animais não falam e a exigência vocal do biografado é inegociável. Assim, a possibilidade de se escrever uma zoografia seria mediante uma linguagem adequada para se falar de outras linguagens e outras formas de vida.
Lorena Amaro Castro fecha o bloco teórico com uma análise enriquecedora das contribuições de Virgínia Woolf no tocante à biografia e autobiografia. É destacado o papel da biógrafa inglesa na quebra de paradigmas ao realizar experiências profícuas com o referencial e o ficcional. “Flush: uma autobiografia” seria um ótimo exemplo desse rompimento com os rígidos modelos pré-estabelecidos, já que Woolf, de uma só tacada, escreve uma autoficção sob o ponto de vista de um animal de estimação, no caso um cocker spaniel e ainda, se lança em um terreno dominado pelos homens, questionando, portanto, as normatizações sociais sobre gênero e hierarquia familiar.
“O romance do biógrafo”, título da segunda seção, reúne textos de autores que publicaram biografias e aproveitam o espaço para compartilharem as experiências acumuladas ao longo desse processo. A ligação entre esse segundo bloco de textos e o primeiro é estabelecido por Irene Chikiar Bauer, biógrafa de Virgínia Woolf. O artigo expõe elementos da escrita biográfica de Bauer, como o uso da cronologia a fim de fugir das limitações temáticas que envolvem a biografada atendo-se ao seu fluxo de vida. Além da questão metodológica, é compartilhado com o leitor os desafios da pesquisa, da tarefa hercúlea de dar conta do enorme corpus documental e a difícil tarefa, autoimposta pela biógrafa, de se manter a distância da protagonista, a fim de não se envolver com a personagem cuja vida narrava.
Ana Inés Larres Borges relata a experiência de escrever a biografia da poetisa Idea Vilariño. Partindo do ceticismo de Jorge Luis Borges quanto às possibilidades de se efetivar os vínculos entre vida e obra, o texto problematiza não só esses limites, mas também a hegemonia estruturalista em sua faina antibiográfica. O mote do artigo em questão é pensar os dilemas e tensões entre vida e obra na junção de escrita da vida privada e da trajetória de um autor, ou seja, ponderar a velha demanda sobre a necessidade de se conhecer a vida para compreender a obra.
Carlos María Domínguez deixa claro que seu texto é muito mais uma reflexão sobre a experiência de escrever três biografias do que tratar de teorias sobre o gênero. São relatados os desafios inerentes, principalmente, à coleta de depoimentos. Diante das lacunas, das inconsistências e das contradições, o biógrafo se viu forçado a conjeturar a fim de não cometer enganos, propositais ou não. Cada uma das biografias apresentou desafios próprios que foram vencidos ou contornados por estratégias específicas para cada caso.
Osvaldo Baigorria encerra a segunda divisão da obra com o relato de como escreveu a biografia de Néstor Sánchez. O biografado desafiava uma narrativa de sua vida uma vez que o período mais importante de sua trajetória era envolto por em um breu de informações desencontradas ou faltantes. A saída, ao invés de romancear, foi elaborar uma narrativa conjetural, ou como o próprio autor classifica, uma “pós-autobiografia”. O texto é um relato saboroso, permeado pelas confissões de subjetivação do biógrafo, que, na execução do projeto, pegou-se indagando sobre si mesmo. A experiência de subjetividade acabou gerando não um livro sobre Sánchez, mas com Sánchez, resultando em uma “ilusão referencial” ou “superstição realista”.
A terceira seção do livro, “A vida em obra”, é a reunião de leituras críticas sobre biógrafos e biografados. Nessa etapa do trabalho, os autores procuram refletir sobre as escolhas metodológicas e teóricas, sobre as estratégias narrativas, sobre as motivações dos biógrafos e os comportamentos de determinados biografados. É outra visão da operação biográfica, [3] não mais sob o ângulo da subjetividade de quem escreveu uma história de vida, mas de quem analisa os modos pelos quais a vida de alguém foi colocada em forma escrita.
O elo entre a terceira subdivisão e a anterior é uma nova aparição de Osvaldo Baigorria. Todavia, não como autor de texto, mas como objeto de análise de Julia Musitano que se debruça sobre a biografia de Néstor Sánches. A pergunta seminal de Musitano é: o que levou o biógrafo a se interessar pelo biografado? Provavelmente, segundo o texto, porque Baigorria seria alguém fascinado pelo indivíduo nômade, aquele que prefere não pertencer a um só lugar. Assim, o biógrafo realiza com o biografado uma fusão, não autorizada, do seu eu com o outro, ou seja, aquilo que o próprio Baigorria admite ser uma pós-autobiografia.
Em seguida, Nieves Battistoni elege a biografia de Osvaldo Lamborghini escrita por Ricardo Strafacce para ser analisada. O curioso desse caso seria que Strafacce, com uma carreira dedicada ao exercício da advocacia, nunca havia escrito um livro até publicar a vida de Lamborghini. Apesar de o texto da biografia ser coordenado por uma cronologia rígida, há concessões narrativas que dão dinâmica ao texto, como flashbacks e fordwards, que geram tensão dramática e expectativa nas passagens de um capítulo para o outro. O uso da cronologia rígida teria como objetivo contrastar com a vida descontínua e nômade do personagem retratado, a fim de refutar os mitos de uma vida errática. Assim como ocorre com Baigorria, ocorre também uma síntese entre biógrafo e biografado, ou seja, uma narrativa com aspectos autobiográficos.
Patrício Fontana inicia o seu texto com uma reflexão sobre a ideia do “retorno do autor” e do sujeito nas últimas décadas para depois analisar a biografia de Silvina Ocampo de autoria de Mariana Enríquez. Questões importantes são levantadas sobre os limites entre perfil biográfico e uma biografia propriamente dita. O “perfil” seria uma forma de se esquivar de dar conta de uma biografia “total”? Quanto de totalidade seria necessário para que um texto seja considerado biografia e não um perfil biográfico? Patricio Fontana responde não só a essas indagações como também sobre as relações da biógrafa com o seu texto e sobre os limites e as características do gênero em si.
Analía Capdevila analisa a biografia escrita por César Aira sobre a vida de Alejandra Pizarnik cuja espinha dorsal é o estabelecimento das vinculações entre vida e obra da biografada. São expostas as dificuldades do biógrafo em romper com os clichês, mitificações e estereótipos que cercam a biografada. Para tanto, a trama é conduzida por um narrador sempre cauteloso, que prefere expressões como “pode ter sido” ou “deve ser assim” do que uma afirmação categórica.
Judith Podlubne se encarrega de perscrutar a biografia de Oscar Masotta assinada por Carlos Correa, amigo do biografado, que confessa não ser guiado por nenhum método de escrita de vida. São convidadas para o texto análises da crítica literária em articulação com concepções de Virgínia Woolf, David Hume, George Luckács e Theodor Adorno no tocante a temas relacionados ao fazer biográfico, aos entrecruzamentos entre biografia e ensaio, ensaio e retrato, a fim de concluir que o estudo de caso apresentado evidencia a maneira como a escrita de uma vida afeta o biógrafo.
A terceira etapa do livro é encerrada com um artigo de Marcela Zanin sobre a biografia de Rúben Darío escrita por Vargas Vila. Diferentemente de alguns biógrafos que desejam explicar a obra a partir da vida, Vila se propõe a estabelecer os vínculos entre obra e vida, às vezes, para constatar a dissonância entre ambas. Trata-se de uma biografia com mesclas de autobiografia em razão das relações, nem sempre harmoniosas, que o biografado manteve com o biógrafo. Segundo Zanin, mais do que mesclar a própria vida com a do biografado, Vila quer viver paralelamente a vida de Darío.
Em “Cenas biográficas”, derradeira seção da obra, biógrafos contam suas vivências no exercício de suas atividades: as viagens para pesquisa de campo, os locais visitados em busca de inspiração ou coleta de documentos, arquivos e depoimentos, os pontos de partida e de chegada, os altos e baixos na experiência de narrar a história da vida de determinado personagem.
Mónica Szurmuk é biógrafa de Alberto Gerchunoff e usa o artigo para dar vazão à sua subjetividade com matizes de confissão, como ter aprendido a escrever biografia escrevendo uma biografia e também com base na leitura de outras histórias de vida; a forma como o desconhecimento e inexperiência com o gênero causou atrasos e grandes dificuldades na escrita que, por sinal, não estava sujeita a contratos, prazos; não sabia se a obra seria, inclusive, publicada ou se fosse, em qual língua, inglesa ou espanhola. O texto de Szurmuk permite, mais uma vez, evidenciar-se que o contato entre biógrafo e biografado acaba por levar a experiências de subjetivação.
Na sequência, Nora Avaro elabora um texto em que traz para a reflexão análises de autores que lhe fazem companhia em Un arte vulnerable como Irene Bauer, Antonio Marcos Pereira, Aldo Mazzucchelli e Ana Larre Borges. Nora Avaro mescla as análises desses autores com a sua própria experiência de biografar Adolfo Pietro, com considerações acerca dos métodos de escrita utilizados: uma combinação antagonista de exaustividade monumental e liberdades interpretativas. A biógrafa encerra com reflexões sobre a escrita biográfica e os processos de subjetivação do biógrafo que acaba se fundindo à narrativa da vida que elegeu para contar.
Martín Pietro fecha a coletânea com um texto dividido em subtítulos que funcionam como placas indicativas do percurso realizado pelo biógrafo em sua empreitada de escrever a vida de Juan José Saer: pesquisa, levantamento de dados, arquivos, documentação, entrevistas e viagens para pesquisa de campo. É possível acompanhar não só as etapas preliminares para a escrita, mas as concepções do biógrafo sobre o gênero: necessidade do uso maciço de documentação e pesquisa, a importância atribuída ao contexto e às redes de sociabilidade do protagonista, e, por fim, a valorização de se estabelecer os vínculos entre a vida e a obra do biografado.
Un arte vulnerable descortina um panorama rico de questões e abordagens no tocante à biografia e autobiografia no espaço latino-americano. A contribuição da obra é no sentido de oferecer reflexões sobre essas formas de escrita e suas peculiaridades, como a de alimentar-se da literatura e ao mesmo tempo impor a barreira documental como forma de legitimar o seu discurso. É justamente esse caráter híbrido da (auto)biografia que lhe confere, a um só tempo, vulnerabilidade, insipiência, vigor e movimento. [4]
Cabe ressaltar que os artigos que compõem a coletânea não devem ser tomados como conjuntos estanques. De fato, os textos convidam a imaginar outros arranjos e articulações possíveis. A título de exemplo, Nora Avaro estabelece relações com autores que assinam textos presentes na obra a fim de evidenciar as relações entre teoria e prática na escrita biográfica.
O livro apresenta importantes análises sobre temas candentes no tocante ao biografismo. 5 Essa publicação evidencia a complexidade de tomadas de posição sobre relações entre vida e obra, as fronteiras entre literatura e biografia, a problemática da subjetivação do biógrafo, os vínculos entre biógrafo e biografado, os usos do arquivo, dos documentos e das entrevistas, os desafios da pesquisa e da escrita da vida de um personagem. Trata-se de uma obra essencial para quem estuda a escrita biográfica e autobiográfica, seus limites e as suas possibilidades.
Notas
1. Ao todo, são dezoito autores que assinam os artigos, por economia optamos por não comentar dados básicos sobre formação, vínculos institucionais e linhas de pesquisa de cada um, por sinal, algo que poderia estar presente no livro. Em linhas gerais, a obra tem o mérito de reunir biógrafos e pesquisadores latino-americanos oriundos de Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, que concentram seus estudos e atuações em áreas tais como literatura, ensaísmo, crítica literária, teoria literária e escrita biográfica.
2. Serão realizadas traduções livres tanto de expressões como de trechos da obra na medida em se fizerem presentes no texto desta resenha.
3. O conceito de operação biográfica procura realizar uma releitura da operação historiográfica de Certeau (CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982), mas a partir das demandas do gênero biográfico. Sobre o conceito de operação biográfica, ver: MUNIZ JUNIOR, João. Biografia e história em Raimundo Magalhães Junior: narrativas de panteonização e iconoclastia. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2017, p. 105.
4. Sobre a questão do hibridismo, ver: DOSSE, François. O Desafio Biográfico: escrever uma vida. São Paulo: EdUSP, 2009.
5 Sobre a noção de biografismo, ver: SILVA, Wilton C. L. Para além da ego-história: memoriais acadêmicos como fontes de pesquisa autobiográfica. Patrimônio e Memória, São Paulo, Unesp, v. 11, n. 1, p. 71-95, jan.-jun. 2015.
João Muniz Junior – Doutorando em História, com bolsa da CAPES, pela Universidade Estadual Paulista – Campus Assis (UNESP/Assis). Mestre e graduado em História pela UNESP/Assis. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E-mail: joaomuniz_jr@hotmail.com CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/6369667028646263
AVARO, Nora; MUSITANO, Julia; PODLUBNE, Judith (Orgs.). Un arte vulnerable: la biografia como forma. Rosario: Nube Negra, 2018. Resenha de: MUNIZ JUNIOR, João. Os caminhos da biografia: teorias, métodos, experiências e possibilidades. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n. 22, p. 224-230, set./dez. 2019. Acessar publicação original [DR]
Pas de Politique Mariô!: Mário Pedrosa e a política | Dainis Karepovs
Em artigo publicado na década passada, Dainis Karepovs ofereceu uma imagem para a historiografia dos instrumentos de luta da classe operária no Brasil. Segundo ele, a escrita da história dos organismos políticos de esquerda construiu um edifício, bem estruturado em alguns pontos e com lacunas a preencher em outros. A história do trotskismo no Brasil seria um “cômodo” da construção.1 Seguindo a imagem proposta por Karepovs, podemos dizer que o prédio e o cômodo destinado à história do trotskismo – que não é encerrado em si mesmo, estando interligado com os demais espaços da edificação – ganharam mais um ajuste com a publicação de Pas de Politique Mariô!: Mário Pedrosa e a política, obra que aborda a trajetória de atuação daquele que estava presente em Paris, em 1938, na conferência que fundou a IV Internacional, mas que também percorreu outros caminhos de elaboração e atuação política.
Dainis Karepovs já se encontrou antes com a figura de Mário Pedrosa. É dele – e de Fulvio Abramo – a organização do livro Na Contracorrente da História: Documentos da Liga Comunista Internacionalista (1930-1933), obra fundamental para os estudos posteriores acerca dos grupamentos de oposição de esquerda no Brasil, por publicar documentos que dão acesso às formulações políticas de sujeitos e organizações ligados ao pensamento dissidente. É lá que se encontra o clássico texto “Esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil”, produção que deu as bases teóricas e conceituais da Oposição de Esquerda no Brasil. A autoria é de Mário Pedrosa e Lívio Xavier, com os pseudônimos de M. Camboa e L. Lyon.2
Em Pas de Politique Mariô!, a escolha teórico-metodológica é a abordagem biográfica, na tentativa de compor uma “biografia política” de Mário Pedrosa. Desse modo, o período tratado no livro vai da década de 1920, com destaque para o ano de 1925, quando Pedrosa ingressa no Partido Comunista do Brasil (PCB), até 1980, ano de sua morte e de seu último ato de militância política, com a filiação ao Partido dos Trabalhadores em seu encontro fundacional.
Mário Pedrosa, nascido em 1900, era um estudante de Direito no Rio de Janeiro quando se aproximou dos comunistas. Leitor de publicações estrangeiras, sobretudo a revista francesa Clarté, Pedrosa adere às ideias de Leon Trotski e constrói uma Oposição de Esquerda no Brasil, junto de outros militantes comunistas como Lívio Xavier. Sua vinculação direta com o trotskismo vai até 1940, quando rompe com a IV Internacional diante da divergência acerca da caracterização da União Soviética como Estado Operário a ser defendido na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, Pedrosa alinha-se aos norte-americanos na posição de considerar a URSS como Estado imperialista, tal qual as potências ocidentais sobreviventes ao conflito. As fontes utilizadas por Karepovs para apresentar a militância de Pedrosa na Oposição de Esquerda são de vários tipos. O autor utiliza a correspondência entre Pedrosa e Lívio Xavier, as publicações dos diversos organismos políticos trotskistas da década de 1930 e material da imprensa carioca.
O autor procura não tornar os momentos posteriores à militância de Pedrosa junto aos trotskistas como desdobramentos sucessivos de uma identidade política. Da mesma forma, a ruptura não é a extinção de qualquer relação com os sujeitos e as ideias que compunham a sua experiência nos anos 1930.
Após a ruptura com o trotskismo, Pedrosa engaja-se na construção da União Socialista Popular (USP), grupamento que levantava a bandeira da superação da ditadura de Vargas e visava a construção de um partido político socialista no país. Em 1945, a USP apoiou Eduardo Gomes para a presidência da República. No entanto, a tarefa principal de sua militância na década de 1940 foi a publicação de Vanguarda Socialista, jornal que apresentava-se como um órgão não submetido a nenhuma disciplina partidária, embora fosse construído por um grupo de pessoas com base intelectual comum. Karepovs destaca o papel do periódico como difusor de textos de autores marxistas de épocas e posições políticas distintas como Rosa Luxemburgo, Bukharin, Kautsky, Trotski, Karl Korsch e Julius Martov.
O autor chama a atenção para algo que se apresenta relevante: o trabalho intelectual como característica de um programa político. Mário Pedrosa, nos anos 1930, esteve à frente de um projeto editorial, capitaneado pela Editora Unitas, para pôr em circulação obras de autores marxistas. Nos grupamentos trotskistas dos quais fez parte, a educação política dos trabalhadores também possuía centralidade na atuação dos militantes. Isso leva a uma reflexão sobre a crença no poder da palavra, do estudo e da erudição como característica comum a um determinado grupo de militantes que se forjaram na Oposição de Esquerda na mesma década que Pedrosa, como Lívio Xavier e Edmundo Moniz.
O momento em que Pedrosa busca integrar Vanguarda Socialista à construção do Partido Socialista Brasileiro, ao lado da Esquerda Democrática, se apresenta como uma das contribuições mais inovadoras do livro. Filiado ao PSB a partir da segunda metade da década de 1940, Pedrosa desenvolve intensa oposição ao que considerava ser o varguismo e suas ramificações. Diante do suicídio de Vargas, reage com frieza, vendo aquele momento como oportunidade de libertação das massas frente às lideranças populistas. Tal oposição ao getulismo leva ao ponto alto de sua crítica, quando, após a vitória de Juscelino Kubitschek sobre Juarez Távora, Pedrosa questiona a legitimidade da votação do candidato vencedor. Tal posição o aproximava do udenismo, mas a retórica e as preocupações de Pedrosa mantém-se no campo da defesa do que imaginava ser os interesses do operariado brasileiro. As críticas ao presidente JK seriam amenizadas no fim da década, em um gesto de deslocamento de posições.
Outras elaborações relevantes são acompanhadas de perto pelo autor. Pedrosa, diante do golpe que depôs João Goulart, procura interpretar os motivos e os percursos do desenvolvimento da economia brasileira. Um militante, Pedrosa vai para o MDB e chega a se aproximar da Frente Ampla, mas sem participação efetiva. Busca reforçar as suas concepções ligadas à análise do “terceiro mundo” e se tornava cada vez mais próximo das ideias de Rosa Luxemburgo acerca do caráter da revolução e das organizações de trabalhadores. A “biografia política” se encerra com a morte de Pedrosa em um momento no qual ainda houve tempo de participar da construção do Partido dos Trabalhadores.
Karepovs destina uma segunda parte do livro à publicação de textos de excompanheiros de militância e atividade intelectual, publicados na imprensa partidária e comercial. O autor também apresenta anexos à obra. Lista os livros que compunham o programa editorial Biblioteca Socialista, a ser lançado pela Editora Unitas; relação dos artigos publicados em Vanguarda Socialista; inventário de textos, apresentações, prefácios e livros escritos por Mário Pedrosa. O autor oferece uma obra que realiza uma análise menos fragmentada da trajetória do biografado, demonstra como a identidade destinada à Mário Pedrosa como um trotskista se associou a um conjunto de elaborações muito distintas e conflitantes. Ao mesmo tempo, Karepovs realiza também um trabalho para o futuro, indicando fontes e contribuindo com pesquisas que virão.
Destaca-se o material presente no Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa – CEMAP, acervo que hoje encontra-se sob guarda do Centro de Documentação e Memória – CEDEM, da Universidade Estadual Paulista. Por fim, gostaria de citar uma lembrança curiosa. Ao visitar o arquivo em questão – no qual Karepovs teve papel destacado em sua criação – acessei um documento no qual estava uma relação de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos pelos membros do CEMAP durante a segunda metade da década de 1980. Um dos projetos listados é a construção de um “Dicionário Biográfico” de militantes do movimento operário. No rol dos biografados, estão Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Hílcar Leite, Edmundo Moniz, entre outros. Aparentemente, o projeto vai se realizando, por outras formas, caminhos e ritmos.
Notas
1. KAREPOVS, Dainis. O Arquivo Edgard Leuenroth e a pesquisa sobre o trotskismo no Brasil. Cadernos AEL, v. 12, n. 22/23, p. 267-280, 2005.
2. ABRAMO, Fulvio; KAREPOVS, Dainis (orgs.). Na Contracorrente da História: Documentos da Liga Comunista Internacionalista (1930-1933). São Paulo: Brasiliense, 1987.
Victor Emmanuel Farias Gomes – Doutorando no Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil. Mestre em História pela Universidade Federal do Ceará; graduado em História pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: victor.emmanuelfarias@gmail.com ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1654-673X CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/5047979239664818
KAREPOVS, Dainis. Pas de Politique Mariô!: Mário Pedrosa e a política. Cotia, SP; São Paulo: Ateliê Editorial; Fundação Perseu Abramo, 2017. Resenha de: GOMES, Victor Emmanuel Farias. A opção intelectual: Mário Pedrosa e a política. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n. 22, p. 235-238, set./dez. 2019. Acessar publicação original [DR]
Octavio, o civil entre os 18 do Forte de Copacabana | Afonso Licks
A presente obra foi escrita por Roberto Licks, nascido em Montenegro, Rio Grande do Sul, em 1953. O autor é advogado, jornalista, com atuação em rádio, jornal, TV, revista e agência de notícias. O escritor traz a público um trabalho inédito, contribuindo para a história do Brasil República, a respeito de Octavio Augusto da Cunha Corrêa, apelidado de Moreno Corrêa, o único civil morto entre os Dezoito do Forte de Copacabana, em 1922, no Rio de Janeiro.
Licks, mesmo não sendo historiador, realiza um trabalho com farta investigação em documentos escassos, livros, jornais e em depoimentos, com a intenção de desvendar a vida daquele que foi o único civil a participar da última marcha para a morte em 1922, vindo a falecer aos 36 anos e que até então não havia despertado interesse pela historiografia brasileira. Cabe ressaltarmos que a imagem dos Dezoito do Forte de Copacabana, após o episódio, foi elevada a exemplo patriótico, seus participantes foram vistos como heróis, tendo seus nomes atribuídos a praças e ruas pelo país.
Para Licks, Corrêa, nascido em Quaraí, Rio Grande do Sul, sequer tem o nome grafado de forma correta nas placas que o homenageiam. Sua imagem acabou desaparecendo, os registros comuns se referem a ele como um engenheiro, advogado, um capitalista, um maluco que surgiu do nada para ir morrer num combate que não era seu.
Em 1922, a Revolta tenentista, ocorrida na tarde de 6 de julho, reuniu um grupo de jovens tenentes que não tinham um plano político claro, diferente, por exemplo, do movimento tenentista posterior, que ocorreu em 1924, em São Paulo. Com duração de apenas um dia, o movimento tenentista de 1922 tinha o intuito de modernizar o Brasil, lutar pelo fim da corrupção governista, combater as desigualdades sociais e enfrentar a concentração de poder em prejuízo das imensas maiorias do povo.
Um dos principais motivos que fizeram a Revolta ocorrer foi o episódio das cartas falsas que acabou cumprindo o seu papel de lançar as Forças Armadas contra a candidatura à Presidência da República do mineiro Artur Bernardes, representante das mazelas da política do café com leite. Neste conflito, antes de Bernardes assumir, o presidente Epitácio Pessoa saiu vitorioso, foi decretado o mais longo período de estado de sítio que o país foi submetido, encobrindo perseguições políticas a qualquer indivíduo que simpatizasse com os revolucionários.
No que diz respeito ao personagem principal desta história, o autor nos revela alguns fatos muito interessantes de Côrrea, como por exemplo, seu envolvimento com líderes tenentistas, bem antes do confronto final.
Em meio a organização do movimento revolucionário, no dia 4 de julho de 1922, os revolucionários perceberam que alguns conspiradores foram identificados após contato pelo telefone com o Forte de Copacabana. Assim, o comandante Euclydes Hermes, suspeitando de que a linha estava sob escuta da Polícia Política, foi convencido pelo tenente Siqueira Campos a aceitar a sugestão de Corrêa, de puxar diretamente um par de fios como extensão do telefone do cabaré Mère Louise, que ficava próximo ao Forte de Copacabana, até a sala de comando do mesmo, sendo que a linha do Forte sob escuta deveria ser evitada.
Por meio da obra, percebemos que o personagem se sentia à vontade no Rio de Janeiro, gostando muito de frequentar o Mère Louise, sentando sempre em uma mesa na varanda do cabaré, de frente para o mar de Copacabana. Era uma pessoa muita generosa, insistindo sempre em pagar a parte maior da conta. Corrêa também era muito querido pelos oficiais que frequentavam a boate, pois tinha bom humor, conhecimento de música e contava muitas histórias de aventura, apesar das provocações políticas. Devido a tais provocações, Euclydes Hermes da Fonseca havia proibido seus homens das discussões políticas no cabaré.
Um fato curioso, é que de todos os militares, o comandante do Forte de Copacabana era o que conhecia Corrêa há mais tempo e foi quem o apresentou aos oficiais, ressaltando sobre sua lealdade. Eles não se conheceram no Mère Louise e sim bem antes, devido ao relacionamento entre seus pais, o marechal Hermes e Carlos Alberto Corrêa, que conviveram como amigos gaúchos do senador Pinheiro Machado.
Corrêa era um homem muito rico, gostava de contar histórias sobre sua família e de como havia conquistado sua fortuna. Tinha decidido não se casar para não acabar cedendo à pressão do pai que o queria no campo, trabalhando como cabanheiro. Buscava diversão e mulheres, gastando e aproveitando o conforto.
Sua mãe se chamava Leopoldina, apelidada de Dona Pudica, sempre educando seus filhos de forma muito rígida. Côrrea também tinha quatro irmãos, o mais velho era chamado de Joca, tinha estudado em Pelotas com os jesuítas da escola São Luís Gonzaga. Gregório, outro irmão, foi para o Colégio Anchieta, na capital.
Com relação ao personagem, aos dez anos de idade foi enviado para a fronteiriça Quaraí à cidade de São Leopoldo, para estudar como interno no Colégio de Nossa Senhora da Conceição, onde acabou pegando gosto por Francês, Matemática e Música. Habilitou-se em Francês no terceiro ano da Escola Brasileira, na Rua Duque de Caxias, número 229, em Porto Alegre. Também estudavam nessa escola, os seus irmãos Adalberto e Carlos Zaccharias, além do amigo Getúlio Vargas.
Com relação aos principais acontecimentos da sublevação de 1922, Côrrea, no dia 6 de julho, por volta das 11 horas, do telefone do cabaré ligou para o Forte para saber o que estava acontecendo. Do outro lado da linha, o tenente Mário Carpenter atendeu e informou que havia uma trégua, tendo o comandante saído para negociar as condições de armistício com o ministro da Guerra. Carpenter pediu a Corrêa que o telefone ficasse livre, pois estavam aguardando as notícias que o capitão mandaria do Catete.
No final da manhã, Corrêa foi até o Forte de Copacabana, o tenente Newton Prado deixou o civil entrar, após os cumprimentos pela coragem, Siqueira Campos chamou Corrêa para ficar ao seu lado. Antes de sair do Forte, foi feita a contagem dos revolucionários, totalizando 28, contando com o civil.
Com o objetivo de aliviar a tensão, o tenente Carpenter riscou as paredes internas do Forte com pregos e baionetas para registrar os nomes dos que permaneceram. Havia no Forte de Copacabana uma bandeira do Brasil que foi cortada em 28 pedaços e entregue a cada membro que lá haviam ficado. Ao mesmo tempo, Corrêa recebeu de Siqueira Campos o pedaço da bandeira do Brasil destinado ao capitão Euclydes, que a esta altura já se encontrava preso. Ao sair do Forte, os 28 combatentes se reduziram para 18, depois, ao marcharem na altura da Praça Serzedelo, reduziram-se para 12.
Ao marchar junto com os tenentes pela calçada ondulada de Copacabana, Corrêa vestia um paletó e levava um fuzil Mauser na mão. Durante a troca de tiros, conseguiu acertar alguns adversários das tropas do governo, entre eles o sargento Narciso Baptista, até que um projétil de fuzil lhe atingiu o peito, levando-o a cair no mesmo instante. Segundo Licks o civil foi conduzido vivo ao hospital militar, resistindo até às 19 horas, quando veio a falecer de hemorragia.
Analisando a obra em si, observamos que ela apresenta um conteúdo inédito sobre a vida de Corrêa. Contudo, Licks tenta construir uma biografia heroica do personagem, destacando que desde criança já era uma pessoa diferenciada, como se seu destino já tivesse predestinado. Outra crítica que pode ser feito a obra é que o autor mescla um pouco de fato histórico e ficção, o que às vezes deixa a obra a desejar. Todavia, o livro é importante pelo fato de revelar outras facetas da insurreição tenentista de 1922, pois o que sabíamos até então, era que Corrêa foi apenas um civil que aceitou participar de última hora da marcha para a morte na calçada de Copacabana. Assim, a obra revela mais do que isso e nos mostra que o personagem já tinha uma relação com os principais tenentes e inclusive os auxiliaram nos preparativos para a Revolta. Além do mais, o livro é um atrativo para os historiadores que desejam realizar um futuro trabalho sobre a trajetória do personagem.
Lucas Godoy Stringuett – Doutorando em História e Sociedade, com bolsa da CAPES, Pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual Paulista, Campus Assis (UNESP/Assis). Mestre em História e Sociedade pela UNESP/Assis; graduado em História pela UNESP/Assis. ORDCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9683-7873 CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4402566368145163 . O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Ele configura-se, igualmente, como complemento aos requisitos necessários à escrita da Tese de Doutorado em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista, Campus de Assis.
LICKS, Afonso. Octavio, o civil entre os 18 do Forte de Copacabana. Porto Alegre: Quattro Projetos, 2016. Resenha de: STRINGUETT, Lucas Godoy. A participação de Octavio Corrêa na Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n. 22, p. 239-242, set./dez. 2019. Acessar publicação original [DR]
As obras de Isidoro de Sevilha e a questão judaica: perspectivas da unidade político-religiosa no reino hispano visigodo de Toledo
Na busca pela compreensão de um período histórico limítrofe e no desvelar de seus valores políticos e religiosos, torna-se necessário lançar mão de fontes históricas à luz da mesma época. Tal apreensão se avoluma quando temos como ponto de partida os escritos de uma personalidade marcante para sua época e para tempos vindouros, posto que acaba por representar um ideal de sociedade. Assim, As obras de Isidoro de Sevilha e a questão judaica: perspectivas da unidade político- -religiosa no reino hispano visigodo de Toledo, de Sergio Feldman, traz Isidoro de Sevilha como seu marco de reflexão, especialmente por ele ter empreitado a unidade política, religiosa e social no reino hispano-visigodo de Toledo, as relações no âmbito do poder temporal e clerical e o conflito entre cristianismo e judaísmo no século VII.
Fruto de seu doutoramento, o livro propõe a discussão acerca da relação entre monarquia visigótica e seus súditos judeus. Ao longo da obra, o autor chama a atenção para o conflito teológico com o judaísmo desenvolvido pelos primeiros padres da Igreja e como esses, sobretudo Agostinho de Hipona, influenciam aspectos da visão de mundo isidoriana. Todavia, não perde de vista que o judeu tinha um importante papel na escatologia cristã. Dessa forma, como lidar com as minorias judaicas presentes no reino? Mais do que isso, como tolerar e explicar a funcionalidade judaica em meio a políticas reprimendas, uma vez que a política bebia do fundamento religioso? Essas questões são vigas mestras da obra e revisitadas em todos os capítulos. Leia Mais
El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX – KOLAR (VH)
KOLAR, Fabio; MÜCKE, Ulrich. El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2019. 362 p. LVOVICH, Daniel. Conservadores y derechistas en Iberoamérica en los últimos dos siglos. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 69, Set./ Dez. 2019.
Los textos que componen El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX, volumen compilado por Fabio Kolar y Ulrich Mücke son resultado de las ponencias presentadas originalmente en un simposio que se realizó en Hamburgo en 2016. Se trata de un libro ambicioso en sus alcances geográficos y temporales, ya que incluye textos sobre distintos, países latinoamericanos, España y Portugal, desde comienzos del siglo XIX hasta fines del siglo XX.
En la introducción del texto, a cargo de Kolar y Mücke, se destacan las dificultades que supuso para el estudio de esta tradición el uso poco preciso y en ocasiones arbitrario de conceptos como derecha y conservador. Los compiladores asimismo señalan la necesidad de articular, en el plano temporal, los elementos heredados de las tradiciones políticas conservadoras con las novedades propias del siglo XX; y en el plano de las escalas la combinación entre las historias políticas e intelectuales nacionales con los elementos propios de una historia regional o global, para dar cuenta de la especificidad de cada caso en el marco de sus conexiones transnacionales (KOLAR; MÜCKE, 2019, p.7-36).
Los temas que los compiladores eligen presentar como ejes para el análisis de la tradición derechista y conservadora en sus continuidades y rupturas son los de la soberanía y la revolución, la Iglesia y la religión, las mujeres y el género, las masas y las élites, la circulación de lecturas y el problema del anticomunismo, el fascismo y las dictaduras.
No todos los textos que integran la compilación responden del mismo modo a las aspiraciones de renovación historiográfica expuestos en la introducción – como el empleo de las herramientas de la historia intelectual y la combinación de escalas de análisis – aunque todos ellos son sólidos y bien fundamentados. De hecho, es perceptible una distancia entre la tradición cultural en que se insertan y la biblioteca en que se respaldan los compiladores y las de los autores, de modo que su articulación no resulta siempre sencilla.
Varios trabajos abordan el temprano siglo XIX. Lucia Pereira das Neves estudia los lenguajes políticos de conservadores y lliberales en la época de la independencia del Imperio de Brasil, mostrando los modos en que más allá de la implantación de algunos principios liberales, la vida pública no se extendió más allá de la elite. Víctor Peralta Ruiz analiza el pensamiento político del realismo antiliberal en Perú en los años de las guerras de independencia, al que considera un movimiento reactivo y reacio al liberalismo español, estudiando para ello tres momentos relevantes de esa tradición conservadora.
En una mirada de largo plazo sobre el siglo XIX, Marta García Ugarte destaca la centralidad política y la heterogeneidad del catolicismo mexicano, proponiendo como clave interpretativa que la modernidad resulto connatural a la catolicidad. Por su parte, Benjamin de Losada estudia el pensamiento de Pedro Gual y Pujadas, franciscano español que expresó el pensamiento ultramontano en el Perú de la segunda mitad del siglo XIX. El análisis en el marco de una “cultura atlántica de la confrontación” permite al autor mostrar las peculiaridades del vínculo entre catolicismo y republicanismo en América del Sur. Tributario de la perspectiva de Quentin Skinner, el aporte de Erika Pani analiza las formulaciones conservadoras sobre el pueblo en el marco de la Guerra de Reforma mexicana, mostrando los modos en que el conflicto funcionó como un límite a la hora de desarrollar iniciativas que consideraran de un modo efectivo la soberanía popular.
Eduardo González Calleja expone en su trabajo la larga y heterogénea tradición conservadora española de defensa armada de un orden social al que se consideraba amenazado, desde la década de 1840 hasta la conformación del Somatén Nacional, entendido como un eslabón intermedio entre las formas tradicionales de movilización reactiva y las modalidades de radicalización de las derechas.
Ricardo Arias Trujillo discute las visiones tradicionales sobre el conservatismo colombiano entre 1880 y 1930 proponiendo una visión de esta tradición que – más allá de su relación intrínseca con el catolicismo – resultó sumamente heterogénea, de manera que su consideración como una fuerza reaccionaria ha impedido dar cuenta de la existencia en su seno de sectores que defendieron la democracia y el laicismo.
Entrando de lleno en la historia del siglo XX, dos trabajos examinan en particular la problemática de la historia de las mujeres. Para el caso portugués bajo el salazarismo, Irene Flusner Pimentel da cuenta de la situación de subordinación femenina en el Estado Novo, lo que no impidió la movilización política de las mujeres ni la tardía formación de una elite femenina en el seno del régimen. Por su parte, Margaret Power, a través del análisis del caso de la movilización de las mujeres anticomunistas contra Goulart en Brasil y contra Allende en Chile muestra – apelando al análisis transnacional y comparado – la coexistencia en su discursividad de tópicos en común, propios del anticomunismo global de la época de la guerra fría, conviviendo con otros enraizados nacionalmente, como la importancia diferencial de la apelación al catolicismo en cada caso.
Un enfoque igualmente trasnacional y comparado se encuentra en el trabajo de Ernesto Bohoslavsky, Magdalena Broquetas y Gabriela Gomes dedicado al estudio de organizaciones juveniles conservadoras en Argentina, Chile y Uruguay entre 1958 y 1973. Atentos al impacto común del discurso anticomunista trasnacional, y a las redes que lo sostenían, cuanto a los rasgos que particularizan cada experiencia nacional, el articulo sostiene que las diferencias ideológicas entre estos grupos y los propios de la derecha revolucionaria no ocluye la existencia de un repertorio de acciones violentas y de un enemigo definido de manera similar que los emparenta.
El aporte de João Fabio Bertonha se ubica en un estilo de reflexión conceptual. Partiendo de la constatación de que existieron múltiples conexiones entre las derechas latinoamericanas de entreguerras y los fascismos, el autor sostiene que existió un fascismo latinoamericano con rasgos diferenciales respecto a sus coetáneos europeos, y propone – sin llegar a una conclusión definitiva – discutir y evaluar la utilidad del concepto de fascismo ibérico. Por último, Riccardo Marchi estudia el tránsito de una elite universitaria identificada con el nacionalismo revolucionario en los años finales del Estado Novo portugués hacia el liberal-conservadurismo, en un proceso que es explicado por el anacronismo de su lenguaje original ante el fin del imperio colonial, y por la incorporación del lenguaje político predominante en Europa y Norteamérica en los años setenta y ochenta como parte de homogenización política e ideológica del período.
Más allá de la marcada heterogeneidad de las contribuciones que constituyen esta obra, Conservadores y derechistas es una valorable contribución a un campo en expansión, y un libro que instiga a los historiadores de América Latina y Europa a profundizar el diálogo, así como un instrumento que nos ayude a pensar en la génesis del fenómeno de las derechas y su radicalización en nuestros días y a pensar claves analíticas para su comprensión.
Referências
Kolar, Fabio y Mücke, Ulrich (eds.). El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2019. [ Links ]
Daniel Lvovich – Instituto del Desarrollo Humano Universidad Nacional de General Sarmiento – CONICET Juan María Gutiérrez, 1150, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. daniel.lvovich@gmail.com.
Speaking of Spain: the Evolution of Race and Nation in the Hispanic World – FEROS (VH)
FEROS, Antonio. Speaking of Spain: the Evolution of Race and Nation in the Hispanic World. Cambridge: Harvard University press, 2017. 367 p. BILBAO, Julian Abascal Sguizzardi. Raça, nação e pátria: A espanholidade em movimento. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 69, Set./ Dez. 2019.
O livro Speaking of Spain de Antonio Feros se insere em um contexto historiográfico no qual o pretenso vínculo entre o estabelecimento de um Estado-nação e a união dinástica das Coroas de Castela e Aragão (1479) já fora pertinentemente criticado por autores como Vicens Vives (1960), John Elliott (2010; 2018) e Bartolomé Clavero (1981). Após o impacto dessa crítica, as relações entre nação, pátria – e também raça – passaram a ser entendidas como não-evidentes e tornaram-se matéria de amplo debate.
O principal objetivo do livro é discutir os deslocamentos semânticos e controvérsias em torno dos conceitos de raça, nação e pátria entre o século XVI e princípio do XIX no contexto imperial hispânico. No que diz respeito às fontes, o autor recolhe narrativas variadas (crônicas, discursos, tratados e legislação) que desenvolveram à sua maneira os supracitados conceitos dentro do recorte estipulado, privilegiando os discursos próprios dos “espanhóis” (Feros, 2017, p.11).
A despeito das dificuldades impostas pela amplitude do arco espaço-temporal, a problemática é clara e o autor realiza um trabalho historiográfico pertinente. A leitura é fluída, sendo relevante tanto para especialistas, quanto para um público mais amplo. Inclusive, poderia ser adotado como ponto de partida para a aproximação da história do Império Hispânico pelo público brasileiro. O livro é de interesse para aqueles que estudam História Ibérica, mas também, para os que se dedicam a assuntos relacionados à América Colonial e à independência da América, pois demonstra como a estrutura das sociedades coloniais ensejaram questões acerca da significação da espanholidade (Spanishness).
Como o texto cobre um amplo recorte, a bibliografia utilizada é igualmente vasta. Em um primeiro momento, poderíamos destacar o diálogo com Tamar Herzog (2003), Pablo Fernández Albaladejo (2007) e Mateo Ballester Rodríguez (2010), autores que trabalham as complexas relações entre escalas identitárias no contexto hispânico. É interessante o destaque de Feros para as relações de tensão entre a Catalunha e a Monarquia, apontando para comparações com os conflitos no seio da monarquia britânica moderna. No ano seguinte a Speaking of Spain, Elliott publicou Scots and Catalans (2018), que discutiu muitas das questões levantadas pelo livro em questão.
Nos quatro primeiros capítulos, Feros aborda a relação entre nação, raça e pátria nos séculos XVI & XVII. O contexto inicial é o da Espanha de Isabel e Fernando – marcada pela conquista de Granada, pela expulsão dos Judeus e pelo início da exploração colonial – havendo um impulso para a criação político-discursiva de uma comunidade monárquica exclusivamente católica. Nesse quadro, eruditos formularam ideias acerca da história e da concepção de Espanha e espanholidade. O sentimento de lealdade ao local de nascimento, ou seja, à pátria (Catalunha, Biscaia, Andaluzia, etc) e a pluralidade jurídica das diversas partes da Monarquia desestabilizavam a ideia de nação como um conjunto unitário de língua, leis e povo (Feros, 2017, p.48). Apesar disso, havia um esforço para pensar o que existia de comum aos espanhóis: constituiu-se a ideia de que estavam ligados pela descendência cristã antiga, cujo patriarca era um dos netos de Noé, Tubal (considerando a narrativa bíblica de que toda humanidade proviria de sua linhagem após o dilúvio). Em uma sociedade em que havia sujeitos recentemente convertidos ao catolicismo, cuja ascendência era judaica e muçulmana, a construção de uma identidade baseada na antiguidade cristã era um fator de exclusão das chamadas linhagens conversas (que não poderiam assumir determinados cargos administrativos e religiosos), portanto criava-se a ideia de uma “pureza de sangue” dos cristãos velhos.
Outro problema em voga nos séculos XVI e XVII está evidenciado no seguinte trecho: “Eram os descendentes de espanhóis, estabelecidos em regiões não-europeias, especialmente nas Américas, espanhóis genuínos?” (Feros, 2017, p.65). O debate, originado desta indagação, girava em torno de alguns eixos centrais: qual o impacto do clima no caráter dos espanhóis nascidos na América [criollos]? Quais eram os efeitos da mistura “sanguínea” entre os descendentes de europeus, os nativos e os africanos na colônia? Nesse sentido, Feros excede a discussão da limpieza de sangre no contexto peninsular, traçando pontes com os territórios do ultramar, enfatizando como a realidade colonial também compôs esse campo problemático.
Os quatro últimos capítulos discutem as relações entre nação, raça e pátria ao longo do século XVIII e início do XIX. Nesse momento, a sociedade hispânica sofreu transformações causadas pela guerra de sucessão do início do século XVIII, levando ao trono a casa Bourbon. Os monarcas dessa dinastia possuíam um projeto de enfraquecimento das instituições regionais, especialmente no que diz respeito às regiões historicamente pertencentes à Coroa de Aragão. Nesse quadro, intelectuais reforçam que a lealdade deveria ser endereçada à pátria comum (Espanha) e não às pátrias locais. Isso indica um movimento tendencial ao longo do século XVIII de coincidência entre o conceito de pátria e nação, uma novidade no campo semântico.
Na Europa, surgiam novas teorias de hierarquização racial, e os espanhóis passavam a ser diretamente questionados sobre a histórica presença de judeus e muçulmanos em seu território, colocando em xeque seu pertencimento à raça “branca”. A visão de decadência do Império Hispânico era muito difundida, por isso os peninsulares formularam discursos de diferenciação entre eles e os criollos, sobre os quais pairava a suspeita de misturas consideradas espúrias com indígenas e africanos escravizados. As bases discursivas da limpieza de sangre, constituída por meio da elisão de hibridações étnicas, são ressignificadas no contexto do “racismo científico” para reforçar hierarquias. Alguns peninsulares apostaram no “melhoramento” das populações nativas e africanas pelo branqueamento, discurso rechaçado, via de regra, pelos criollos, os quais visavam afirmar sua posição social através de uma aparência europeizada – esses debates implicaram fissuras na noção de espanholidade.
O livro fecha com a emergência da Constituição liberal de Cádiz (1812) no contexto pós napoleônico. Nesse momento, houve um direcionamento para a construção de um Estado-nação espanhol que substituiria o sistema imperial de outrora: “A força de ligação entre os habitantes da Monarquia Hispânica deixaria de ser a partilha de uma mesma linhagem ou da mesma raça, e passaria a ser uma paixão compartilhada por sua nação e pátria” (Feros, 2017, p.252). Nesse sentido, houve um esforço para a inclusão dos territórios americanos, entretanto, durante as sessões das cortes, os criollos se sentiram marginalizados pelos peninsulares. Cabe notar a tentativa de integração dos indígenas como cidadãos, o que, segundo o autor, foi feito com o intuito de marcar o sucesso de sua assimilação pelo processo de colonização. Já os descendentes de africanos livres, foram considerados espanhóis, mas não cidadãos de pleno direito (conforme o artigo 22 de Cádiz).
Speaking of Spain é uma leitura altamente recomendada, levando em conta as bem-sucedidas articulações entre a realidade peninsular e colonial. O autor cumpre com seu objetivo de estudar os deslocamentos dos conceitos de nação, raça e pátria entre os séculos XVI e XIX, demostrando sua relação intrínseca com as mudanças político-sociais no Império Hispânico ao longo do tempo.
1No original: “Were the descendants of Spaniards who settled in non-European regions, and specially Americas, genuine Spaniards?”
2No original: “The binding force for inhabitants of the Spanish monarchy would no longer be membership in the same linage or the same race but a shared passion for one’s nation and patria.”
Referências
BALLESTER RODRÍGUEZ, Mateo. La identidad española en la edad moderna (1556-1665): discursos, símbolos y mitos. Madrid: Tecnos, 2010. [ Links ]
CLAVERO, Bartolomé. Institución Política y Derecho: acerca del Concepto Historiográfico de ‘Estado Moderno’. Revista de Estudios Políticos (Nueva Era), n. 19, Enero-Febrero, 1981. [ Links ]
ELIOTT, John. Una Europa de Monarquías Compuestas. In: ELLIOTT, John. España, Europa y El mundo de ultramar [1500-1800]. Madrid: Taurus, 2010. [ Links ]
ELIOTT, John. Scots and Catalans: Union and Disunion. New Haven: Yale University Press, 2018. [ Links ]
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo. Materia de España: cultura política e identidad en la España moderna. Madrid: Marcial Pons, 2007. [ Links ]
FEROS, Antonio. Speaking of Spain: the Evolution of Race and Nation in the Hispanic World. Cambridge: Harvard University Press, 2017. [ Links ]
HERZOG, Tamar. Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America. New Haven: Yale University Press, 2003. [ Links ]
VICENS VIVES, Jaume. A estrutura administrativa e estadual nos séculos XVI e XVII (Extraído de XIe Congrès des Sciences Historiques, 1960. Rapports IV: Histoire Moderne, Stockhom, Almqvisq & Wiskell, 1960, p.1-24). In: HESPANHA, Antonio Manuel (Org.). Poder e instituições na Europa do antigo regime: coletânea de textos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, [1960], 1984. [ Links ]
Julian Abascal Sguizzardi Bilbao – Programa de Pós-Graduação em História Universidade de São Paulo Av. Prof. Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, São Paulo, SP, 05.508-900, Brasil. julianbilbao25@gmail.com.
Juca Paranhos: o Barão do Rio Branco – SANTOS (Tempo)
Luís Cláudio Villafañe / luisclaudiovillafanegsantos.wordpress.com
SANTOS, Luís Cláudio Villafañe G. Juca Paranhos: o Barão do Rio Branco. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Resenha de: SOARES, Rodrigo Govena. Tempo, v.25 n.3 Niterói set./dez. 2019.
Não são poucas as anedotas que fizeram de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco (1845-1912), um personagem festejado de maneira praticamente unânime pela historiografia. Feito raro para um diplomata, a considerar que seus homólogos de maior prestígio – tais como Duarte da Ponte Ribeiro (1795-1878) e Paulino José Soares de Sousa (1807-1866), à época do Império; ou Oswaldo Aranha (1894-1960), San Tiago Dantas (1911-1964) e Azeredo da Silveira (1917-1990), na República – costumam figurar apenas tangencialmente na história dos grandes acontecimentos nacionais. Estudioso compulsivo da formação lindeira do Brasil, o barão do Rio Branco, pelo que conta a história, tinha nos mapas um pêndulo que ritmava sua vida política e biológica. Quando já velho e debilitado pelo consumo exagerado de tabaco e por uma alimentação tanto desequilibrada quanto irregular, era surpreendido por rotineiras visitas médicas, adormecendo nos volumes cartográficos que, pelo resto, consolidavam sua glória. “Ontem à noite, quis examinar mais de perto os pormenores de um mapa que desenrolei no chão e acabei por dormir em cima dele” (apud Lins, 1945, p. 622), teria dito o paciente, ainda despertando, a um médico cada vez mais preocupado.
No cotidiano das ruas, o barão teria gozado de igual prestígio. Não há capital brasileira que não carregue ao menos uma avenida, rua ou beco com o nome de Rio Branco. Quiçá de forma ainda mais expressiva, não houve presidente qualquer capaz de demover o povo brasileiro de sua principal celebração nacional, qual seja, o carnaval. Sequer nos difíceis anos de Arthur Bernardes (1922-1926), do Estado Novo (1937-1945) ou da ditadura escancarada (1968-1974) a proeza foi alcançada. Nisso Paranhos também teve êxito. Ou quase, porque, embora sua morte, em fevereiro de 1912, tenha levado o governo de Hermes da Fonseca (1910-1914) a postergar o reinado de Momo para meados do ano como manifestação de pesar nacional, a população não resistiu, e dois carnavais foram comemorados em um semestre apenas. De todas as formas, o quase feito terminou sendo um duplo feito.
A biografia de Paranhos escrita pelo diplomata e historiador Luís Cláudio Villafañe G. Santos apresenta um personagem diferente. Sem minimizar a importância do barão para a política externa brasileira, emerge das páginas de Villafañe um Rio Branco múltiplo, porque a um só tempo Juca, José Maria, Paranhos, Júnior e Barão. A enumeração de nomes ou apelidos não se presta apenas no sentido das fases biológicas do personagem, que o fizeram transitar de um Juca boêmio para um José Maria bacharel, a um Paranhos deputado e, em seguida, Júnior, porque agora diplomata, porém sob a silhueta de seu pai, o visconde do Rio Branco (1819-1880), para final e paradoxalmente ser um barão na República. Quando assumiu em 1902 a chancelaria, que ganhara havia pouco o nome de Itamaraty em referência ao palácio que passou a albergá-la, Rio Branco acumulava vasta experiência. Nesse sentido, a narrativa fundamentalmente cronológica de Villafañe, permeada por um ou outro flashforward cinematográfico, expressa, antes de mais nada, uma acumulação de práticas e saberes do biografado, não sem as respectivas contradições, hesitações e sombras do passado. A divisão da obra em três partes – “Juca Paranhos na sombra do pai (1845-1876)”, “A redenção do boêmio (1876-1902)” e “Um saquarema no Itamaraty (1902-1912)” – sugere esse acúmulo linear somente em aparência. Dá-se, então, um barão mais incoerente, vaidoso, obsessivo, ansioso e por vezes cabeça-dura do que aquele dos textos largamente mais hagiográficos de Álvaro Lins (1945) e de Luís Viana Filho (1959).
Afora a revisão sobre a personalidade do barão, as principais contribuições historiográficas – discutidas na terceira e última parte da obra – dizem respeito ao tempo do barão na chefia do Ministério das Relações Exteriores. Villafañe concede especial ênfase a três temas: a interdependência entre política interna e externa, o estabelecimento de uma – suposta – aliança não escrita com os Estados Unidos e a resolução pacífica das disputas lindeiras. São essas as discussões que nos interessam sobremaneira nesta resenha.
Em vez de insistir na oposição entre políticas interna e externa, Villafañe funde-as, vislumbrando a ação diplomática como política pública, cujos entrelaçamentos com os eventos domésticos a explicam, causam e condicionam. De entrada, portanto, há uma revisão pela forma e pelo conteúdo da historiografia diplomática, que, a maneira de textos clássicos, como o de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2008) ou do mais antigo Delgado de Carvalho (1959), tende a isolar o Itamaraty das tensões políticas internas. Nisso, Villafañe assemelha-se à posição de Rubens Ricupero, marginalmente na rápida biografia do barão que este também escreveu e substancialmente na recente obra sobre o lugar da diplomacia na formação nacional (Ricupero, 2000, 2017). Assim, e para citar apenas alguns exemplos, o barão de Villafañe não conduziu um Itamaraty ausente dos traumas causados pela campanha civilista de Rui Barbosa (1909-1910) ou pela Revolta da Chibata (1910), e foi ativo, em uma chave mais propositiva do que reativa, em seu relacionamento com chefes partidários de magnitude nacional, como Pinheiro Machado.
Se não há negação ontológica entre políticas externa e interna, tampouco haveria, nas ponderações de Villafañe, um Itamaraty autônomo em relação ao governo. O espírito corporativo do ministério, malgrado sua irrefutabilidade, não o tornaria responsável somente perante suas idiossincrasias. Pelo contrário, e em especial na gestão Rodrigues Alves (1902-1906), o barão esteve longe de ter independência decisória na condução da política externa, inclusive no que se refere a assuntos burocráticos do ministério. Particularmente problemática foi a condução das negociações de limites com a Bolívia, que resultou na assinatura do Tratado de Petrópolis (1903). As concessões feitas pelo barão – nomeadamente, o pagamento de 2 milhões de libras, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a cessão de pequena parcela territorial -, de forma a angariar a posse de um território também disputado, pelo menos em parte, pelo Peru, teriam sido excessivas no olhar de seus principais desafetos. O tratado, ao qual o barão vinculou, mais à frente, uma áurea de completa vitória, poderia ter ido a pique caso a negociação com o Peru não tivesse sido exitosa. As tratativas com Lima tardaram pouco mais de cinco anos e quase empurraram o Rio de Janeiro para uma guerra de resultados incertos. Como se não bastasse, o sucesso alcançado com o Peru deveu-se a fatores exógenos ao Brasil, visto que dependia do laudo arbitral da rival Argentina sobre a fronteira entre o Peru e a Bolívia. Não à toa, a trama que conduziu à assinatura e à ratificação do Tratado de Petrópolis contemplou desentendimentos entre os negociadores brasileiros, como também resistências da imprensa e do governo ao barão do Rio Branco.
Do ponto de vista teórico, e ampliando a discussão sobre a autonomia do Itamaraty na sucessão de governos que marcou a gestão barão e sobre o lugar da chancelaria no tipo de Estado que caracterizou o Brasil da Primeira República, Villafañe não identifica Rio Branco a uma mera expressão dos interesses econômicos dominantes à época, malgrado as irrefutáveis interdependências. Para reabilitar uma antiga discussão metodológico-política da década de 1960, o autor coaduna-se com a interpretação de Nicos Poulantzas (1968), segundo a qual o Estado detém autonomia relativa, agregando-se às contradições de uma restrita pluralidade de classes ou frações de classe economicamente preponderantes, e não forçosamente sucumbindo a uma classe apenas, homogênea e hegemônica. A distinção entre governo e Estado não poderia ser mais importante nesse diapasão. O Itamaraty, indissociável do governo, somente agiria dentro de constrangimentos estruturais impostos pelo tipo de Estado oligárquico constituído especialmente com a presidência de Campos Sales (1898-1902). No concreto, o barão não teria sido um chanceler a serviço de oligarquias cafeeiras perfeitamente coerentes, mas tampouco teria atuado contrariamente a elas. Rio Branco, dito de outra maneira, não tinha margem para opor-se a uma política externa do “café”, ou, ainda, ao americanismo característico da Primeira República, mas soube negociar com os atores domésticos – e internacionais, naturalmente -, de forma a alcançar o que era possível nos limites daquele momento.
Não por acaso, o americanismo do barão ganha nova interpretação com Villafañe. Não foi o posterior patrono da diplomacia brasileira o primeiro a entabular a virada americanista, que veio com a Proclamação da República. Na mesma lógica dos constrangimentos estruturais, o plano internacional da análise biográfica ganha expressão, e a opção americanista é percebida em uma via de mão de dupla, porém assimétrica. Dada a dependência do setor cafeeiro em relação ao mercado americano – que, de resto, explica pelo menos em grande parte a insistência dos republicanos, já em 1889, pela aproximação com Washington -, a potência então ainda emergente do Norte vislumbrava no Brasil um espaço hemisférico singular para aprofundar sua corrida industrial. Ao chegar à chancelaria, o barão não rompeu com um americanismo alegadamente ingênuo dos primeiros tempos republicanos, mas o aprofundou e o matizou nos limites das estruturas internas e externas. Não há, dessa forma, oposição entre o que haveria sido pejorativamente ideológico e, com o barão, positivamente pragmático, mas uma reinterpretação que enxergava em Washington, a um só tempo, um incontornável espaço comercial e uma garantia para a segurança nacional.
Na leitura de Villafañe, o barão dava compreensão hierárquica às relações hemisféricas, e quanto a isso a proximidade com os Estados Unidos não poderia senão beneficiar o Brasil em suas rivalidades regionais, especialmente com a Argentina. Particularmente importantes, na tônica de aproximação, teriam sido as Conferências Pan-americanas do Rio de Janeiro (1906) e de Buenos Aires (1910). Na primeira – não à toa realizada no Palácio Monroe, que se erguia para a ocasião -, o Itamaraty encarregou-se de assinalar aos vizinhos do Brasil uma hipotética e irremediável aliança com os Estados Unidos; na segunda, o barão sugeriu, sem concretizá-lo, um endosso continental à Doutrina Monroe, também como forma de assinalar postura amigável em relação a Washington em um tempo de intensificação, embora relativa, das relações dos Estados Unidos com a Argentina. Malgrado ajustes interpretativos possíveis, conforme se discutirá mais adiante, Villafañe analisa acertadamente os episódios em um quadro de relações não lineares entre Washington e Rio de Janeiro, permeadas por tensões e, sobretudo, pautadas por uma assimetria favorável aos Estados Unidos.
A suposta aliança não escrita com os Estados Unidos cai então rapidamente por terra. A ideia original era de Bradford Burns e foi desenvolvida em contexto histórico de franco interesse brasileiro por uma aproximação irrestrita com Washington (Burns, 1966). Burns, oriundo da Universidade de Califórnia, veio ao Brasil logo após o golpe civil-militar de 1964 e contou com decidido apoio das autoridades nacionais, chegando inclusive a ser condecorado com a Ordem de Rio Branco. A proposta interpretativa, que emoldurava as relações entre o Brasil e os Estados Unidos em um quadro róseo, não se dispôs a elucidar do ponto de vista teórico o sentido de uma aliança não escrita, constituindo-se, pois, em uma seleção de eventos históricos que legitimariam os laços atávicos entre os dois países. Villafañe refuta a interpretação, incluindo na análise momentos de rispidez entre o Brasil e os Estados Unidos tanto no plano bilateral – a exemplo das tensões alfandegárias – quanto no multilateral, à luz do cisma produzido na II Conferência de Paz da Haia (1907).
Integrando a sua análise, então, os momentos difíceis com os Estados Unidos, Villafañe entende que o pensamento diplomático do barão se constituía no tabuleiro complexo das relações internacionais do Brasil. Essa complexidade expressou-se, singular mas não unicamente, nas disputas lindeiras em que Rio Branco esteve envolvido – todas, praticamente, entre 1895 e 1909. Em outras palavras, e aportando documentos novos, como o tratado secreto de aliança militar com o Equador contra o Peru no caso antes referido, Villafañe interpreta as questões de fronteira, incorporando interesses cruzados de Estados direta ou indiretamente envolvidos nas disputas. Os exemplos do Amapá e do Pirara são emblemáticos nesse sentido. No primeiro caso, o litígio entre o Brasil e a França revelou-se bilateral apenas na medida da fronteira contestada e do laudo arbitral. Considerando as tensões sistêmicas próprias à era dos impérios (1870-1914), Villafañe sugere um barão atento às possibilidades de tirar proveito das rivalidades entre a França e a Inglaterra quanto às ambições territoriais desses Estados na América do Sul. O padrão interpretativo, que, em uma adaptação temporal, poderia significar, pelo menos parcialmente, a interdependência complexa de Robert Keohane e Joseph Nye (1977), vale também para o caso da Bolívia – conforme apresentado – e para o britânico; quanto ao último, teriam por demais pesado nos insucessos brasileiros na disputa pelo Pirara as pressões de Londres para que o rei da Itália, anglófilo de pulmão cheio por questões territoriais na África, fosse indicado o árbitro contra o Rio de Janeiro.
Metodologicamente rica e coerente – porque alia a nova história política às novas maneiras de biografar -, a obra de Villafañe tem tudo para demover aquela que, até agora, tinha sido a principal biografia do barão: a de Álvaro Lins. Não obstante, e da perspectiva de uma crítica interpretativa, alguns episódios poderiam estar mais aprofundados, inclusive para que o sentido geral das principais contribuições historiográficas ganhe expressividade. Penso particularmente, neste espaço restrito próprio às resenhas, em dois momentos e em uma caracterização. No que se refere ao primeiro momento, e na mesma trama dos interesses cruzados, há poucos comentários sobre o discurso de encerramento do barão na III Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro. Disse ele, ao concluir sua fala: “aos países da Europa, a que sempre nos ligaram e hão de ligar tantos laços morais e tantos interesses econômicos, só desejamos continuar a oferecer as mesmas garantias que lhes tem dado até hoje o nosso constante amor à ordem e ao progresso”.1 Em uma interpretação possível e, ao mesmo tempo, ancorada nos múltiplos tabuleiros do barão, a referência à Europa em plena conferência pan-americana poderia dar-se como sinal de contrapeso a ações imperialistas que também poderiam vir dos Estados Unidos.
O segundo momento que nos interessa, a modo de crítica, diz respeito à IV Conferência Pan-Americana de Buenos Aires. Na leitura de Villafañe, o endosso do barão à Doutrina Monroe teria origem em sua visão de mundo, segundo a qual “o poder de polícia dos Estados Unidos sobre os países instáveis do continente era não somente justificado como desejável” (Santos, 2018, p. 455). Em uma interpretação alternativa, que Villafañe descarta, a posição de Rio Branco seria uma tentativa de multilateralizar a Doutrina Monroe, de forma a ponderar, no continente, sua aplicação (Fonseca Jr., 2012). Parece-me difícil encontrar nos arquivos documento que ratifique a última interpretação; no entanto, julgo-a mais coerente com o pensamento diplomático do barão. Em outros termos, e reciprocamente ao discurso de encerramento na III Conferência, o americanismo do barão expressava-se, embora não exclusivamente, como mecanismo de compensação ao imperialismo europeu. Da mesma forma, a tentativa de construir um triângulo de paz na América do Sul – constituído pela Argentina, pelo Brasil e pelo Chile – também poderia ser vislumbrada como freio político ao vizinho do Norte. Ou, para usar a teoria das relações internacionais, como um instrumento de balancing.
Por último, refiro-me à caracterização de Rio Branco como um saquarema no Itamaraty. O termo saquarema, menos usual do que o contrário nas fontes primárias, serviu a Ilmar Rohloff de Mattos para designar não apenas o partido conservador, sobretudo nas décadas de 1840 e de 1850, mas também as dimensões sociais e culturais do tipo de Estado que esse mesmo partido havia constituído (Mattos, 1987). Filho de um conservador da segunda geração, o barão talvez tenha carregado, ainda que como contradição, o espírito saquarema que marcou sua formação intelectual. A doutrina do uti possidetis e a das fronteiras naturais, embora de origem colonial, serviram aos saquaremas do Império e ao barão também nos primórdios da República. No entanto, a segunda década republicana em pouco se pareceu ao tempo da direção saquarema (1848-1853), outra expressão de Mattos. O Brasil não tinha sequer a sombra da hegemonia que gozara no Prata; o principal eixo econômico do país havia-se deslocado para São Paulo; a mão de obra não era mais cativa; o Brasil agia multilateralmente, o que o Império abominava; e Washington tomava o posto de Londres. Certo é que o hipotético espírito saquarema do barão poderia emergir fora de seu tempo, mas tampouco é o que nos conta, no fundo, Villafañe. Pelo contrário, e acertadamente, Rio Branco figura em Villafañe como um homem de seu tempo, fazendo história nos limites estruturais do que era então possível.
Saquarema ou, quiçá, republicano malgré lui, o Rio Branco que emerge de Villafañe é, antes de mais nada, um convite aberto ao estudo da história da política externa brasileira. E isso em âmbito universitário, com o qual o autor dialoga, ou para o grande público, constante preocupação no texto agradável, bem-construído, imagético e articulado de Luís Cláudio Villafañe G. Santos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BURNS, Bradford. The unwritten alliance: Rio Branco and Brazilian-American relations. Nova York: Columbia University Press, 1966. [ Links ]
CARVALHO, Delgado de. História diplomática do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959. [ Links ]
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 2008. [ Links ]
FONSECA-JR, Gelson. Rio Branco diante do monroísmo e do pan-americanismo: anotações. In: PEREIRA, Manoel Gomes(Org.). Barão do Rio Branco: 100 anos de memória. Brasília: Funag, 2012. [ Links ]
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph S. Power and interdependence: world politics in transition. Boston: Little/Brown, 1977. [ Links ]
LINS, Álvaro. Rio Branco. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1945. [ Links ]
MATTOS, Ilmar Rohloff. O tempo saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987. [ Links ]
POULANTZAS, Nicos. Pouvoir politique et classes sociales de l’État capitaliste. Paris: François Maspero, 1968. [ Links ]
RICUPERO, Rubens. Barón de Rio Branco. Buenos Aires: Nueva Mayoría, 2000. [ Links ]
RICUPERO, Rubens. A diplomacia na construção do Brasil. Rio de Janeiro: Versal Editores, 2017. [ Links ]
VIANA FILHO, Luís. A vida do barão do Rio Branco. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1959. [ Links ]
1 Revista Kosmos, ano III, n. 8, ago. 1906.
O autor agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo no 2017/12748-0.
Rodrigo Goyena Soares
Tempo, v.25 n.3 Niterói set./dez. 2019
O Brasil Republicano (vol.5). O tempo da Nova República: da transição democrática à crise política de 2016: Quinta República (1985-2016) | Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves
É inegável que a História do Tempo Presente desponta como um dos campos que mais cresce na historiografia brasileira desde a última década. Ao contar com objetos de pesquisa até então poucos explorados e ao propor instigantes debates em torno da função social do historiador, esse campo vive um momento de intensa produção intelectual. Na sua busca por encontrar um espaço particular dentro de um campo historiográfico nacional já demarcado por correntes consolidadas, como a História Política, a História Cultural e a História Social, a História do Tempo Presente aparenta estar conquistando grande receptividade, tanto entre historiadores e historiadoras de gerações mais recentes, como entre nomes já consagrados da área que buscam tecer diálogos com essa vertente. Leia Mais
El ámbito doméstico en el Antiguo Régimen: de puertas adentro | Gloria Franco Rubio
Gloria Rubio certamente não é unanimidade entre seus estudantes na Universidad Complutense de Madrid, onde leciona desde 1980 e a partir de 2011 tornou-se catedrática de História Moderna. Facilmente se encontra na web comentários pouco elogiosos a seu estilo inusitado de conduzir as aulas, exigindo silêncio absoluto, proibindo o uso de smartphones, tablets ou notebooks pelos alunos, demandando trabalhos manuscritos, sendo pouco receptiva a questionamentos e comentários ou mesmo fornecendo um cabedal gigantesco de detalhes difíceis de serem absorvidos a cada encontro semanal. No entanto, para quem já a assistiu apresentando suas pesquisas numa conferência, palestra ou mesa-redonda, o relato de tais idiossincrasias por seus ex-alunos parece só agregar certa peculiaridade a uma historiadora que prima pela análise aprofundada e arguta de seus temas de interesse, esmiuçando fontes e desvendando as relações subjacentes à superfície daquilo que, usualmente, se fazia mais perceptível no cotidiano ao longo da Idade Moderna europeia.
O presente livro é resultado de dois extensos projetos de pesquisa coordenados pela docente madrilena entre 2000 e 2008, ambos tratando da vida cotidiana na Espanha da Modernidade e financiados pela UCM e pelo governo espanhol1. Se em Cultura y mentalidad en la Edad Moderna, livro que publicou ainda em 1998, a pretensão de Rubio era construir um amplo panorama sobre a Europa ocidental entre os séculos XV e XVIII, a partir de enfoques da História Cultural e da análise da Cultura Material, a virada do século XX para o XXI levou-a a voltar o seu olhar cada vez mais para o ambiente doméstico e para o papel das mulheres neste espaço. Para aqueles que já conhecem os escritos da autora, fica fácil perceber essa trajetória em diversos de seus artigos e capítulos2 ou mesmo nos números temáticos (RUBIO, 2002; RUBIO, 2015) que organizou nos Anejos dos Cuadernos de Historia Moderna, periódico especializado que dirige há vários anos. Leia Mais
Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città – ALLEN (CN)
ALLEN, Williams S. Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città. Torino: Einaudi, 2005. (Ristampa a cura di L. Gallino). Resenha de: ORI, Giada. Clio’92, 7 ago. 2019.
ll titolo del libro di Allen di primo acchito ci comunica gli elementi caratterizzanti del libro:
- salta subito all’occhio che Allen vuole spiegarci il processo attraverso il quale i tedeschi di una piccola città diventarono seguaci del nazismo;
- il periodo storico è ben delineato, si tratta del breve sessennio dal 1930 al 1935;
- il territorio di cui parla il libro è molto delimitato, si tratta infatti di una piccola città da lui chiamata Thalburg (in realtà Nordheim nell’Hannover)
Allen tenta col suo libro di metterci in condizione di capire come sia stato possibile che un partito quasi inesistente, in poco tempo sia divenuto il primo e successivamente l’unico di tutto il territorio. Prende in considerazione una piccola città come studio di caso per rendere più comprensibile il mutamento avvenuto in quegli anni in tutta la Germania, dall’arrivo dei nazisti sino alla loro salita al potere.
Il libro di Allen presenta sia una introduzione di Luciano Gallino, sia una prefazione dell’autore. Nella prefazione l’autore ci spiega che ha preso in considerazione una città piccola della Germania per il semplice motivo che mai nessuno si era occupato di una situazione locale per parlare del nazismo, precisando che le città piccole hanno come caratteristica la scarsa riservatezza e molti pettegolezzi.
Afferma che la città di Thalburg aveva una buona dose di documenti da poter consultare e ci mette a parte che molti cittadini si lasciarono intervistare con la promessa dell’anonimato anche della città stessa (ecco spiegato, quindi, il motivo del perché la città di Thalburg è inesistente sulle cartine).
Dunque, una molteplicità di fonti — tra cui quelle di memoria — è messa a frutto dallo storico statunitense.
L’introduzione invece ci riassume in poche pagine il ruolo della NSDAP (Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi) e dell’SPD (Partito Socialisti di Germania) nella città di Thalburg: di come NSDAP si sia fatto strada tra i cittadini privando l’SPD di moltissimi voti lavorando sulla preoccupazione che i cittadini avevano del comunismo, di come il partito nazista abbia manifestato contro il trattato di Versailles colpendo nel vivo i cittadini che non si erano ancora ripresi da quella umiliazione, come l’SPD non abbia fatto nulla per cercare di fermare l’avanzata del partito hitleriano nella città.
L’autore, a questo proposito, alla fine del libro, analizza i vari dati raccolti nelle sue ricerche organizzandoli in tabelle statistiche e in grafici, rendendo possibile, attraverso la loro lettura, la comprensione immediata delle situazioni e dei processi, anche senza aver prima letto l’intero libro.
Grafici e tabelle esplicano perfettamente i dati riguardanti la disoccupazione, le elezioni e le frequenze delle riunioni dei vari partiti a Thalburg negli anni che il libro prende in considerazione.
Allen non propone una periodizzazione ragionata dei sei anni analizzati. Ma all’interno del suo libro, la si può trovare schematizzata nell’indice. Dapprima suddivide i sei anni da lui presi in considerazione in due parti: dal gennaio 1930 al gennaio 1933, poi dal gennaio 1933 a quello del 1935. All’interno delle due parti i capitoli creano un’ulteriore periodizzazione suddivisa in stagioni.
Allen articola il libro in due parti: la morte della democrazia, dal gennaio 1930 al gennaio 1933, e introduzione alla dittatura, dal gennaio 1933 al gennaio 1935.
La prima parte inizia col darci alcune informazioni sulla città: dov’era collocata, più o meno, sulla cartina, com’era “fisicamente”, quali erano le sue condizioni durante la depressione, quale il grado di disoccupazione, quali i lavori svolti dagli abitanti, quale il ruolo delle industrie. Il terzo capitolo “entrano i nazisti”, ci spiega come nel giro di pochissimi mesi, il partito NSDAP sia riuscito a diffondersi nella città in cui il partito SPD era già ben attecchito.
Da questo terzo capitolo, sino al nono, Allen ci mostra come lentamente il partito di Hitler si sia impadronito della città, sfruttando la disoccupazione dilagante, manifestando contro il trattato di Versailles, utilizzando i giornali per la loro propaganda, e facendo presente come l’SPD, iniziò a perdere voti, smettendo di lottare contro un partito antisemita, violento e rivoluzionario.
La seconda parte del libro inizia con le ultime elezioni in Germania nel 1933, anno in cui Hitler divenne cancelliere e l’NSDAP iniziò a lavorare per istaurare una dittatura.
La città da quel momento fu totalmente soggiogata al partito, con ormai pochissime persone, totalmente emarginate, che militavano ancora per l’SPD.
Il capitolo “il regime del terrore” è incentrato sul tentativo dei nazisti di evitare qualsiasi minima reazione da parte di coloro che non erano militanti di Hitler, facendo boicottare i loro negozi, proibendo le armi al privato, mettendo fuori legge il partito socialista e sciogliendo i sindacati. In questo capitolo si inizia a parlare del campo di concentramento di Dachau, in cui venivano mandati gli avversari politici, e di cui gli abitanti di Thalburg erano a conoscenza. Le accuse per cui si poteva venire arrestati erano assai labili, ma come veniva scritto anche sui giornali, quando i nazisti mettevano gli occhi su qualcuno, in un modo o in un altro, lo prendevano.
Lentamente la società di Thalburg, fino a quel momento ben organizzata, iniziò a disgregarsi. I circoli cittadini iniziarono ad essere controllati dai nazisti che non lasciarono più nulla di intentato per evitare che ideologie diverse dalle loro attecchissero all’interno della città.
Nel quindicesimo capitolo “gli aspetti positivi” Allen, per darci una visione complessiva del periodo, ci mostra l’altra faccia della medaglia, ovvero la positività del nazismo nella città. I nazisti, infatti, trovarono la soluzione alle difficoltà economiche che imperversavano a causa della depressione. I soldi nelle casse della città, e anche quelli stanziati da Hitler, permisero di far diminuire la disoccupazione già dal luglio 1933. Nel 1935 tutti i segni della depressione erano scomparsi.
Il capitolo “disgregazione della società”, tratta in primis della questione ebraica.
Allen ci spiega che a Thalburg gli ebrei erano una minoranza e che da una generazione all’altra il numero cresceva minimamente. Essi erano ben integrati nella società: difatti, gli ebrei non abitavano in un quartiere ebraico, svolgevano piccole attività commerciali e non risentivano molto dell’antisemitismo ereditato dal medioevo, poiché era poco sviluppato nella città.
Ma con la salita al potere dei nazisti la situazione cambiò: le quasi inesistenti frasi antisemite comparse nei discorsi precedenti al 1933 divennero realtà il 29 marzo di quell’anno. L’antisemitismo dei nazisti si manifestò non solo nei discorsi, ma anche con i fatti: nell’aprile di quell’anno infatti il boicottaggio degli ebrei diede il via al processo che solo dieci anni dopo terminò con le camere a gas. Questo primo attacco diede come risultato il disgregarsi del rapporto con i non ebrei dal punto di vista sociale.
Ma era, come si sa, solo il primo passo verso qualcosa di molto più ampio. Inizialmente si voleva solo evitare che i rapporti umani ostacolassero la dittatura e le idee che erano alla base di essa. Thalburg e gli ebrei non si accorsero in tempo del problema che avrebbe creato l’ideologia antisemita all’interno della città, anzi, gli ebrei li ritenevano, inizialmente, innocui.
Ma il boicottaggio fu una catastrofe per la piccola cittadina: tutti iniziarono a capire che gli ebrei erano dei reietti nel regime nazista, che erano da evitare per salvaguardare la propria incolumità, e lentamente furono messi tutti ai margini. Molti ebrei appartenevano a dei club, soprattutto i più facoltosi, come il banchiere Braun, fiducioso e tutto intenzionato a non andarsene dalla sua città, a nessun prezzo, allontanandosi dai club solo per evitare questioni spiacevoli, ma non perché credeva che quella situazione non sarebbe durata a lungo. Era un uomo fiducioso. Molto meno lo fu Gregor Rosenthal, che all’opposto del suo compaesano, si chiuse in se stesso e ruppe tutti i contatti sociali. Venne allontanato da tutte le congregazioni e il suo modo di fare inquietò così tanto i thalburghesi che crebbe in loro l’idea che fosse poco conveniente farsi vedere anche solo parlare con un ebreo. Non fu sicuramente l’unico con un tale comportamento, anzi, era molto più facile che gli ebrei si comportassero in modo schivo e quasi da invisibili che non da uomini di mondo come il banchiere. Non solo le relazioni sociali degli ebrei si rovinarono in questo periodo: in poco tempo, attraverso il controllo dei club, con la creazione di nuovi, con la fusione o lo scioglimento di altri, a causa delle tensioni e delle paure dovute alla sfiducia che tutti avevano verso il prossimo, sentimento che cresceva giorno dopo giorno, le relazioni divennero minime. Non ci si fidava più nemmeno dei proprio amici intimi, in poco tempo nessuno desiderava più riunirsi per scambiarsi opinioni o semplicemente chiacchierare, tutti temevano di dire qualcosa di sbagliato e di finire nei guai.
È molto interessante il modo con cui Allen costruisce la conoscenza di come ci si trasforma in sostenitori di un partito antidemocratico e razzista.
Egli presenta le situazioni e svolge i processi del loro mutamento perciò nel libro sono alternati blocchi testuali descrittici con quelli narrativi.
I primi due capitoli: l’ambiente e anatomia della città hanno lo scopo di farci conoscere lo stato di cose della cittadina di Thalburg nel 1930. In essi troviamo la descrizione fisica della città, del territorio regionale, della situazione demografica, del clima religioso, delle classi sociali e dei loro club.
Il capitolo sugli ebrei leggiamo prima la descrizione di come essi vivevano prima dell’avvento dei nazisti e negli anni successivi alla loro vittoria elettorale, poi i narrativi ci raccontano i giorni del boicottaggio, come certi facoltosi ebrei reagirono alle leggi antisemite di fronte agli amici e alla società e di come i cittadini si comportarono verso di loro: amichevolmente alcuni, andandoli a cercare nei loro negozi e per la strada proprio per parlarci, i socialisti in testa, oppure approfittandosi di loro, facendo spese folli nei loro negozi senza mai pagare un soldo.
Allen conclude il suo libro facendo una carrellata dei fatti successivi al 1935: di come i nazisti iniziarono a manifestare le loro vere intenzioni sulle questioni religiose, di come già nel 1937 il ritmo dell’espansione economica rallentò, di come nessuno si oppose ai nazisti nel 1938 nella “notte dei cristalli”.
Durante il 1944 i bombardieri americani colpirono in parte la città, ma in tutti i casi i cambiamenti furono rilevanti: molti profughi si trasferirono in quella cittadina per fuggire agli orrori della guerra, la popolazione aumentò esponenzialmente e all’arrivo degli alleati si sottomisero senza combattere. Nel 1950 la popolazione dell’inizio degli anni trenta era raddoppiata.
[IF]La Terra è finita. Breve storia dell’ambiente – BELIVACQUA (CN)
BEVILACQUA, Piero. La Terra è finita. Breve storia dell’ambiente. Roma-Bari: Editori Laterza, 2009. 209p. Resenha de BRIONI, Germana. Clio’92. 7 ago. 2019.
Anche in questo libro, La Terra è finita, Bevilacqua coniuga il rigore della ricerca con la disposizione intellettuale alla domanda di senso, propria di chi appartiene a una cultura civile che cerca nuove e vecchie responsabilità per evitare la ripetizione degli errori in futuro. Il suo itinerario storico è sintetizzato dalle sue stesse parole nell’introduzione: “Come siamo arrivati fin qui?” ed egli intende svolgerlo procedendo alla ricerca e alla ricostruzione di quei fenomeni che, nel passato remoto e più recente, sono stati e sono all’origine delle gravi problematiche ambientali di oggi, nell’intento di individuare le cause e i responsabili dell’attuale situazione di alterazione della natura. L’autore è consapevole che già molti studiosi, in campi disciplinari diversi, hanno fornito ipotesi interpretative alla domanda che egli ripropone: interpretazioni di tipo culturale (tra cui il concetto di natura per il cristianesimo) e di tipo economico, come l’approccio liberistico, o quello capitalistico. Di tali interpretazioni egli formula argomentate critiche, introducendo l’accenno a una posizione ambientalista che svilupperà nel prosieguo del libro. La sua dichiarazione di intenti è una ricostruzione della storia dell’ambiente rivolta al passato e nel contempo al futuro, pertanto cerca di coniugare le due diverse esigenze, e ritiene necessario considerare da un lato i danni, le distruzioni, le alterazioni che negli ultimi due secoli hanno cambiato la faccia della Terra; dall’altro le iniziative a livello politico e legislativo, congiunte ai mutamenti di sensibilità e di cultura nei riguardi dell’ambiente, che hanno contenuto i danni e cercano di impedire il peggioramento della situazione ambientale, a livello italiano, europeo e mondiale.
Bevilacqua dichiara apertamente che lo storico non deve rinunciare a giudicare, ma deve cercare la risposta al problema posto all’inizio, tenendo conto dei processi, non dei singoli fenomeni o protagonisti. Avvia perciò una accuratissima analisi di un complesso di processi storici, responsabili della degradazione dell’habitat, in primis il processo storico che si è svolto soprattutto in età contemporanea. (pag. 27)
L’oggetto primo di analisi è un tema di particolare interesse per Bevilacqua: il lungo processo che dall’agricoltura preindustriale ha portato all’agricoltura contemporanea. Mentre denomina l’agricoltura una delle attività più pericolose per la salute umana (p. 77), lo storico individua le ombre della Modernità, principalmente nello sfruttamento, da sempre presente, ma in età contemporanea divenuto abnorme, in maniera finora impensabile, di territori europei e extraeuropei, di risorse energetiche non rinnovabili; infine, ma soprattutto, nello sfruttamento delle risorse umane, cioè di quel frammento di natura che è l’uomo, dominato dalla tecnica. Processi di alterazione e contaminazione anche in passato riscontrabili a livello locale, ma che nel XX secolo, a seguito del processo di industrializzazione, a cui attribuisce la responsabilità maggiore, diventano universali. La trattazione dello storico si allarga a una visione planetaria; analizza e offre innumerevoli significativi esempi dell’accelerazione su scala globale di processi che minacciano la sopravvivenza stessa del genere umano. Egli mette continuamente a confronto la situazione della natura e dell’ambiente antropico nell’età preindustriale con la situazione dell’età industriale, in un arco temporale di due secoli. Ne coglie i più significativi fattori destabilizzanti: per il Novecento, fornendo precisi dati quantitativi e geografici risalenti al 2008, pone l’accento sull’accelerazione demografica, sull’urbanesimo vertiginoso e la formazione delle megalopoli, sulla crescita del consumo di beni alimentari. Individuando la relazione tra questi fenomeni tuttora in crescita e i trasferimenti di popolazione, introduce il concetto di “profughi ambientali”, ai nostri tempi di assoluta attualità. Profughi in fuga da fenomeni naturali antichi e nuovi, in massima parte imputabili all’uso sconsiderato del territorio. Tra i molti esempi citati di tale uso/abuso, l’erosione della Terra; il diboscamento; la presenza di rifiuti tossici; la radioattività, alterazione invisibile quanto pericolosa; la contaminazione delle campagne; la desertificazione e la perdita di terra fertile. In merito a quest’ultima, il dato totale risulta terribilmente allarmante: oggi (2008) l’area degradata dall’azione dell’uomo è calcolata in un quarto delle terre coltivate.
Le varie iniziative a scala planetaria per il contenimento e la riduzione dei danni provocati dai fenomeni ricordati, spesso non vengono rispettate: il Protocollo di Kioto del 2005, uno dei primi esempi di accordo internazionale, non viene rispettato proprio dalle potenze industriali come gli Stati Uniti, o in avanzato grado di industrializzazione, ugualmente responsabili dei danni maggiori. Lo storico compie un’analisi approfondita della situazione agricola in età contemporanea: se già a inizio Novecento l’agricoltura industrializzata presenta degli evidenti vantaggi, assicurando un enorme incremento produttivo, per lo meno nei paesi dell’Occidente, presenta anche molti limiti: infatti la trasformazione nell’uso di concimi, di risorse energetiche sprecate, di modalità di allevamento degli animali del tutto disgiunto dalla coltura del terreno provoca infiniti danni al territorio e al paesaggio.
Bevilacqua vede nell’agricoltura biologica un’alternativa indispensabile per rimediare, per mantenere la biodiversità, nella convinzione che l’agricoltura biologica rappresenta il corrispettivo agricolo di una fase superiore del processo di civilizzazione (pag. 104). Informazioni sulle iniziative legislative e su accordi a livello planetario arricchiscono il saggio: sono azioni non di facile attuazione, ma che impegnano i governi di tutto il mondo a incrementare l’uso di risorse rinnovabili, a incrementare la biodiversità, lo sfruttamento sostenibile delle acque; a limitare i prodotti ad alta tecnologia, come gli OGM, di cui lo storico vede l’inutilità, e anzi evidenzia i danni provocati dal loro uso distorto; a riciclare e a limitare gli scarti e i rifiuti inquinanti industriali, con sistemi che già oggi nuove tecnologie, intelligentemente applicate, consentono.
Dopo aver identificato i caratteri specifici dell’ambiente naturale italiano e le trasformazioni in esso avvenute, denunciando gli errati interventi del passato e del presente su paludi, laghi, habitat selvaggi, e la disordinata proliferazione urbana e industriale, come cause della degradazione dell’ambiente e del paesaggio italiano, Bevilacqua sottolinea come, da parte delle classi dirigenti, ci sia ancora scarsa percezione di quella casa comune che è l’ambiente (pag. 191) e che esso ha meno difensori che altrove. Nonostante l’amarezza suscitata dalle considerazioni precedenti, con sguardo sempre rivolto al futuro, egli sostiene un nuovo ambientalismo, come reazione di portata globale agli squilibri prodotti dall’insipienza delle azioni umane, compiute solo nella logica di puro sfruttamento economico.
Come si legge nell’introduzione a una antologia di saggi a cura di Leandra D’Antone e Marta Petrusewicz e a lui dedicati (La storia, le trasformazioni. Piero Bevilacqua e la critica del presente, Donzelli, 2015), “la storia per Bevilacqua […] è sapere che si rigenera costantemente; è coscienza critica del presente, consapevolezza del passato, immaginazione del futuro; è fertile lezione trasmessa ininterrottamente dalla generazione più anziana a quella più giovane”.
Germana Brioni
[IF]Novecento.org – (CN)
Novecento.org. Resenha de: COCILOVO, Cristina. La nuova edizione della rivista dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Clio’92, 7 ago. 2019.
Torna in veste rinnovata Novecento.org, la rivista on line di didattica della Storia dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e degli altri 68 Istituti italiani ad esso associati. È un bentornato a una rivista che ha avuto un illustre passato per il livello dei contributi e la partecipazione degli utenti, per lo più insegnanti e ricercatori, interessati ai temi della didattica della Storia del 900. Appunto per questo, nella pagina di profilo della rivista , non manca un ampio ricordo di Antonino Criscione che aveva progettato e curato la precedente versione, chiusa ormai da un decennio.
L’intenzione degli editori/autori è di continuare la tradizione, innovandola e adeguandola ai tempi. La mission della versione del 1999 è stata infatti ripresa in pieno: “L’ ambizione di questa rivista on line è quella di raccogliere, condividere e redistribuire saperi, conoscenze, risorse utili per la ricerca didattica e l’innovazione su questo terreno utilizzando a questo fine le potenzialità di Internet e stimolando la nascita e lo sviluppo della comunità virtuale degli insegnanti-ricercatori di storia.” Ma l’aggiunta di un’indicazione significativa può permettere ora di ampliare lo sguardo dei docenti, grazie alla rete di relazioni scientifiche degli Istituti: “La rivista è stata quindi pensata e progettata come uno strumento affidabile per i docenti italiani che vogliano aggiornarsi dal punto di vista storico e didattico, … un punto di riferimento[… ] su quanto avviene in Europa in questo specifico ambito di insegnamento.“
Sin dal numero 0 del giugno del 2013 la rivista si è confermata come un formidabile supporto per la didattica della Storia del ‘900, sia per le riflessioni metodologiche che per i materiali offerti e immediatamente fruibili. Ben presto ci auguriamo che diventi uno strumento indispensabile per i docenti che desiderano aggiornarsi.
Si assiste infatti da molti anni all’assenza di un serio processo di formazione pubblica degli insegnanti. Essa viene gestita, fra mille ostacoli, da associazioni disciplinari o appunto Istituti di ricerca come l’ISMLI, consapevoli di supplire a un compito fondamentale per l’educazione dei futuri cittadini.
Diretta da Antonio Brusa, colonna portante della didattica della Storia, assistito a sua volta da una redazione che raccoglie i nomi di maggior esperienza dell’ISMLI e del Landis, la rivista ha avuto il suo battesimo in un riuscito convegno, tenutosi a Piacenza nel marzo 2013, sul tema “La Storia nell’era digitale”. Introdotto da una stimolante relazione di Antonio Brusa, il convegno ha visto succedersi in due mattinate docenti e ricercatori esperti nell’utilizzo delle tecnologie digitali applicate alla storia. Nel corso del pomeriggio, tre laboratori didattici rivolti ai docenti della primaria (a cura di Paola Limone), secondaria di primo e di secondo grado (gestiti da Cristina Cocilovo e Patrizia Vajola), hanno messo a fuoco le modalità innovative di una didattica centrata sulla costruzione di conoscenze e di competenze storiche attraverso l’uso del digitale.
Gli atti del convegno sono pubblicati nella sezione “Dossier”, con la riproposizione in modo pressoché integrale di molti interventi (Brusa, Cigognetti, Ferri, Noiret, Biondi, Di Tonto, Mattozzi, Facci, Formenti), seguiti dai materiali presentati nei laboratori.
Gli atti del convegno sono pubblicati nella sezione Dossier, con la riproposizione pressoché integrale degli interventi (Antonio Brusa, Luisa Cigognetti, Paolo Ferri, Serge Noiret, Giovanni Biondi, Ivo Mattozzi, Giuseppe Di Tonto, Carlo Formenti, Michele Facci), seguiti dai materiali presentati nei laboratori.
Sarebbe opportuno guardare la sequenza degli interventi videoregistrati, sempre accompagnati da un fedele testo scritto: si affrontano temi chiave dell’uso di Internet da parte di allievi e docenti che affrontano la Storia, senza dimenticare che (citando Brusa) ” La disciplina storia è uno statuto di regolazione dei saperi, cioè un insieme di regole e operazioni da compiere per la specificità della formazione storica: la messa in prospettiva, la contestualizzazione, i lessici e le grammatiche fondamentali del sapere storico, la costruzione di grandi codici di senso.”
Il dibattito sull’uso della rete, che può essere spaesante, rischioso, e insieme un’inesauribile risorsa, ha accompagnato tutto il percorso del convegno nella consapevolezza che l’epistemologia, la grammatica e la sintassi della Storia sono da anteporre alle tecnologie, sebbene possano trarne reciproci vantaggi se messe in sinergia.
I materiali pubblicati in Laboratori – Storia e nuove tecnologie, offrono spunti per il docente che vuole affrontare la Storia secondo un approccio costruttivista, per attivare gli studenti secondo percorsi coerenti con la propria modalità cognitiva, approfittando dei vantaggi offerti dalla rete e dalle nuove tecnologie (ma fino a che punto sono nuove? Se lo domanda maliziosamente Facci).
Infine sono state attivate le altre sezioni nel Menù del sito. In Pensare la didattica viene recensito l’avvincente romanzo In territorio nemico, sulla maturazione di due giovani attraverso l’avventura partigiana. Scritto secondo il metodo di Scrittura Industriale Collettiva (SIC), offre spunti operativi alle classi che vogliono cimentarsi nella produzione di un testo storico. In Didattica in classe (un chiaro riferimento all’intenzione espressa nell’introduzione di pubblicare riflessioni teoriche e percorsi di didattica praticata) è presentato “Lettere dall’America. Una storia d’amore e di emigrazione, affinità elettive“: un epistolario di M.G. Salonna, che, oltre ad essere una lettura stimolante in sé, si accompagna ad altri materiali che lo collocano nel contesto storico del suo tempo. Il tutto infine viene impiegato in un il bellissimo laboratorio didattico che consente agli studenti di rivivere la grande Storia attraverso la storia di gente “apparentemente” comune. In Uso pubblico della storia troviamo ricche riflessioni per la valorizzazione del calendario civile, che può diventare uno strumento per il curricolo di Storia, a cominciare dalle giornate della memoria e del ricordo.
Una citazione a parte merita l’ultima sezione del Menù, Ipermuseo, dove sono pubblicate sotto forma di presentazione o slide share mostre realizzate dagli Istituti della Resistenza in anni recenti su temi caldi del ‘900: avvento del fascismo, resistenza, deportazione, la difficile convivenza sul confine orientale nell’alto Adriatico, la realizzazione dell’esperienza pedagogica innovativa nel Convitto Rinascita di Venezia. L’uso della rete rende queste mostre fruibili a distanza di tempo, ancora spunto di riflessioni e di possibili approfondimenti nelle classi.
La nuova versione del sito si presenta con una veste grafica molto lineare, ben leggibile e invogliante. La navigazione è semplice e immediata. I materiali facilmente scaricabili. Comodo poi è l’indice di ogni numero della rivista, che permette di consultarla in modo sequenziale come se fosse una pubblicazione cartacea (vedi alla voce Indici del Menù).
Un particolare prezioso: la vecchia rivista resta in consultazione ed è velocemente raggiungibile dalla pagina home d’apertura del sito. Di fatto è ancora un pozzo di informazioni. Inoltre la distanza temporale fra la vecchia e la nuova versione offre poi il vantaggio di cogliere la dimensione storico-cronologica dello sviluppo della ricerca didattica.
[IF]
Marghera 1971: l’inizio di una fine. Un anno di lotta alla Sava – PUPPINI (CN)
PUPPINI, Chiara. Marghera 1971: l’inizio di una fine. Un anno di lotta alla Sava. Portogruaro (VE): Nuova dimensione editore, 2015. 191p. Resenha de: GUANCI, Enzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
All’inizio del Novecento, cent’anni fa, il porto di Venezia era il secondo in Italia dopo quello di Genova, ma con spazi ormai insufficienti agli importanti traffici di petrolio e carbone necessari all’industria italiana da poco decollata. Di qui l’esigenza di creare un nuovo porto; si scelse l’area di Marghera. Si iniziò a scavare i canali per le navi e a costruire i collegamenti ferroviari con la vicina stazione di Mestre. Dieci anni dopo quell’area era diventata geograficamente strategica: un notevole porto industriale, con una buona rete ferroviaria e stradale alle sue spalle. Tra i protagonisti della realizzazione ci fu il conte Volpi, capitano d’industria e futuro ministro di Mussolini che nel 1926 riunì l’intero territorio nell’amministrazione comunale di Venezia. Era ormai nato quello che nel secondo dopoguerra diventerà il più grande polo industriale italiano, arrivando ad occupare, nel 1965, fino a 35 000 addetti, senza contare l’indotto. Un polo chimico integrato, ma non solo: cantieri navali, vetrerie, fabbriche per fertilizzanti e materie plastiche, l’alluminio.
Stabilimenti enormi. Tanti.
Oggi, cinquant’anni dopo, “Marghera è un enorme spazio che pare senza confini, abbandonato (in apparenza), punteggiato da impianti lontani e spenti.” (Jacopo Giliberto, Porto Marghera volta pagina. E prova a ripartire con l’industria ‘verde’, Il Sole 24ore, 8 gennaio 2015).
Qual è stato il processo che ha così trasformato questo territorio in solo mezzo secolo? Com’è successo?
Qualsiasi risposta rischia di essere semplificatoria. Chiara Puppini consegna con il suo libro l’inizio di questo processo. O meglio, uno degli inizi. E’ la crisi della Sava, un’azienda che nel 1966 produce il 36% dell’alluminio nazionale e possiede: 2 miniere di bauxite in Abruzzo e Puglia, 1 fabbrica di allumina, 2 fabbriche di alluminio, 1 centrale termoelettrica, 5 centrali idroelettriche, 3 navi da trasporto, 1 fabbrica per prodotti chimici, 50% di una fabbrica che produce polvere e pasta di alluminio, 1 istituto di ricerca.
Ebbene, nel 1971 “i dirigenti della Sava di Porto Marghera [comunicano alle organizzazioni sindacali] la decisione del Consiglio di Amministrazione della Alusuisse [proprietaria della Sava] di chiudere il 15 ottobre la fabbrica Allumina e di licenziare circa 800 lavoratori tra operai e impiegati” (p. 69) che, sommati ai 200 posti precedentemente in cassa integrazione, fanno 1000 licenziamenti!
Il libro racconta la lotta sindacale dei lavoratori per salvare l’azienda e con essa il loro posto di lavoro. La narrazione presenta gli avvenimenti attraverso le cronache giornalistiche dell’epoca, i volantini sindacali e i comunicati aziendali, le fotografie delle manifestazioni sindacali e quelle delle trattative tra sindacati e azienda, le interviste ai dirigenti aziendali e sindacali di allora. In quelle pagine si respira l’aria dell’epoca: la solidarietà operaia, la vicinanza effettiva delle istituzioni e delle forze politiche con chi lavora e produce ricchezza. Si sente – siamo agli inizi degli anni Settanta – una cultura che mette al centro il lavoro. Ciò nonostante, il 26 gennaio 1972 l’Allumina chiude. Nel 1973 l’area Sava di Marghera viene suddivisa con altre società e negli anni successivi l’intera produzione dell’alluminio a Marghera viene dismessa. Il 12 settembre 1991 ci sarà l’ultima colata di metallo.
Insomma.
“La storia della Sava è paradigmatica: il primo episodio della crisi di Porto Marghera. Assistiamo in questi anni a cambiamenti rapidissimi: all’epoca si parlava di decenni, comunque un cambiamento era ineludibile. Lo stabilimento di Allumina di Marghera veniva rifornito di bauxite che proveniva dall’Istria, dalla Puglia, tutte miniere che negli anni Settanta non avevano più senso – se si pensa come veniva estratta la bauxite in Australia a cielo aperto. Era l’inizio di un certo tipo di globalizzazione.” (p.98)
Chi parla è Giorgio Berner, allora giovane dirigente della Sava.
“Allora c’era qualcuno che pensava che Porto Marghera per i successivi cinquant’anni potesse restare sempre così, invece purtroppo la realtà è in continuo movimento. Quando l’Alusuisse ha scoperto che in Australia non era più necessario andare sottoterra a ottocento metri per cercare quel minerale dal quale poi si ricavava l’allumina, ma c’erano miniere a cielo aperto, bastava andare con i bulldozer… da lì è incominciata ad andare in crisi … Porto Marghera” (p. 101)
Chi parla è Bruno Geromin, allora segretario dei metalmeccanici CISL a Marghera.
In conclusione.
La Puppini non vuole nascondersi dietro una falsa oggettività da ricercatrice ma prova a tirare delle conclusioni per il presente e per il futuro:
“Nell’ottica delle responsabilità occorre ripensare ai doveri/diritti di ciascuno; da una parte il dovere di rispettare l’ambiente e di garantire la produttività, dall’altra – cioè dalla parte operaia – il dovere di fare bene il proprio lavoro, ma il diritto di non morire sul posto di lavoro, il diritto di vivere in un ambiente sano, i cui tempi siano modulati sull’uomo e non sulla macchina, il diritto di trovare anche soluzioni migliorative, cioè di dare il proprio contributo di esperienze per un’umanizzazione dell’organizzazione del lavoro. Questo vuol dire riappropriarsi del proprio lavoro e responsabilità per le parti che competono a ciascuno; al finanziatore, al produttore, all’esecutore, al fruitore.” (p. 125)
La nostra autrice si accorge, però, che sta chiedendo tanto, forse troppo.
“Un sogno? Alle volte sognare aiuta a cambiare la realtà, poi, però, bisogna attrezzarsi per realizzare i sogni.”
Enzo Guanci
[IF]
Storia di donne e di uomini, di acque e di terre – BELLAFRONTE (CN)
BELLAFRONTE, E. Russo. Storia di donne e di uomini, di acque e di terre. Barletta: Editrice Rotas, 2009. Resenha de: GUANCI, Vincenzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
Il sale non è solo l’ingrediente per rendere “saporita” la nostra alimentazione quotidiana. Il sale è assolutamente necessario nell’industria chimica, nella concia delle pelli e, naturalmente, per la fabbricazione dei prodotti agroalimentari. Pervade la nostra vita quotidiana. Ma non da ora; fin dal Neolitico i gruppi umani scoprirono l’importanza strategica di una materia prima necessaria all’alimentazione e che, per di più, consentiva la conservazione dei cibi. La storia dell’umanità è punteggiata da alleanze e conflitti per il controllo della produzione del sale, che, fino a pochi decenni or sono, era monopolio statale, e non solo in Italia.
Al museo della salina di Margherita di Savoia si impara la storia. La storia del sale e delle saline, la storia di Margherita di Savoia, delle sue donne, dei suoi uomini, dei suoi bambini, del loro lavoro, della loro vita.
Questo ci dicono e ci fanno capire Francesca Bellafronte ed Enzo Russo con il loro libro-catalogo del museo, Storia di donne e di uomini, di acque e di terre, editrice Rotas, Barletta, 2009.
La felice scelta degli autori è quella di dare al libro un’impostazione di tipo didattico.
Innanzitutto, la salina di Margherita di Savoia è raccontata secondo una struttura “presente-passato-presente”, che con tutta e immediata evidenza dà conto dei motivi per cui oggi valga la pena di studiare la storia di una realtà importante come la salina.
In secondo luogo, le difficoltà del testo storiografico sono stemperate attraverso l’uso della domanda e della risposta. Intendiamo dire, per esempio, che un testo descrittivo-argomentativo con un intrinseco rischio di forti asperità lessicali e concettuali, come quello sulle innovazioni tecniche nel XIX secolo, viene invece smontato, tematizzato, problematizzato e risolto con risposte relativamente brevi e piane a dieci domande:
- perché nel primo trentennio del XIX secolo prese corpo l’ipotesi di bonifica del lago Salpi?
- Quali conseguenze produsse la riduzione della profondità del lago?
- Quale problema destava più preoccupazione?
- Come si intervenne per risolvere questi problemi?
- Quale era il progetto di Afan de Rivera?
- Gli obiettivi di Afan de Rivera furono raggiunti?
- Come si presentava il nostro territorio a metà Ottocento?
- Quali erano le vie di comunicazione a metà Ottocento?
- Qual era la produzione della salina?
- Come si spiega l’incremento produttivo di inizio Novecento?
In terzo luogo, le tantissime riproduzioni di documenti d’archivio, carte topografiche, fotografie d’epoca, non svolgono una mera funzione esornativa bensì costituiscono, assieme ai testi, parte integrante del materiale per la costruzione della conoscenza storica di chi legge e studia.
Infine, due testi introduttivi e un glossario forniscono gli strumenti cognitivi e concettuali per seguire senza difficoltà, sia la visita al museo sia la sola lettura del libro.
Si inizia con la descrizione della salina oggi, all’inizio del XXI secolo: dove si trova, come funziona, con quali macchine; ci si sofferma sui procedimenti di produzione del sale, si scopre come viene impacchettato, come viene trasportato nelle varie parti d’Italia e del mondo; si arriva fino alle innovazioni più recenti, quale, per esempio, l’arricchimento con lo iodio introdotto da una legge del 2005.
La seconda parte del volume racconta il passato, la storia della salina. Si va dalla prima attestazione documentaria di una salina nella Tavola Peutingeriana, che nel XII secolo segnala la presenza di saline sulla costa adriatica già in epoca romana, fino agli anni Sessanta del Novecento. Ma alcune tracce la fanno risalire al Neolitico; si tratta delle cosiddette “vasche napoletane”. Cosa sono? Ce lo spiegano F. Bellafronte e E. Russo: “due canalette circolari, scavate su una piattaforma di pietra nell’età del Bronzo, rinvenute nei pressi del canale Carmosino. Probabilmente erano utilizzate per lo scolo dei sali di magnesio, più amari, dai cumuli di cloruro di sodio.”
La modernità irrompe nella salina in epoca illuminista con l’intervento del Vanvitelli, ingegnere e architetto, colui che aveva progettato la reggia di Caserta, chiamato dal re di Napoli, Carlo III di Borbone, ad ammodernare e riorganizzare la salina, per aumentarne la produzione. Nel XVIII secolo, ci ricordano gli autori, le “tecniche produttive erano rudimentali e basate sull’impiego di attrezzi manuali, per lo più azionati con la forza della braccia. L’energia animale era impiegata nel trasporto del sale: i cavalli trainavano i carretti carichi di sacchi di sale fino alla spiaggia, dove prendevano la via del mare. L’energia solare ed eolica, allora, come oggi, erano le principali protagoniste del processo di salinazione, attraverso l’evaporazione dell’acqua”. Vanvitelli risistemò le vasche, “attraverso l’eliminazione degli isolotti di terra, il livellamento del fondo e il consolidamento della base degli argini d’argilla, mediante l’inserimento di una fila di tufi.” Ma, naturalmente, non si limitò a questo; rese più vivibile l’ambiente, ampliò la base produttiva della salina e, soprattutto, introdusse le “coclee di Archimede”, chiamate volgarmente “trombe”, macchine che sostituivano i tradizionali “sciorni”.
Lo sciorno, ci spiegano gli autori, “consiste[va] in una specie di parallelipedo aperto su un lato, della capacità di due secchi, fissato ad un treppiede per mezzo di una fune. Veniva azionato a braccia: ci voleva un movimento continuo e ripetuto dei salinieri, per trasferire tutta l’acqua da un vaso all’altro” (cfr. illustrazione a p. 61). Le coclee di Archimede permettevano di “sollevare più facilmente l’acqua, in tempi più veloci e con minore fatica, superando i dislivelli altimetrici tra gli scaldati ed i campi” (p. 65) comportando anche una notevole riduzione di manodopera.
E così via. Il racconto del passato della salina di Margherita di Savoia viene presentato prestando sempre molta attenzione al contesto storico del tempo, spiegando le trasformazioni locali nella salina con il quadro politico, economico, sociale e culturale italiano ed europeo. Insomma, un esempio di come si può studiare la storia locale senza scadere nel localismo sterile che non ci fa capire i veri movimenti della storia.
Il libro si conclude con una bella carrellata di fotografie sulla evoluzione delle tecniche nel XX secolo rispetto alle problematiche di sempre della salina:
- raccolta e ammassamento del sale;
- pesatura e confezionamento;
L’accelerazione novecentesca appare in tutta la sua evidenza dalle fotografie degli zappasale al lavoro nei primi anni del Novecento, alla prima introduzione degli elevatori meccanici negli anni Dieci, alla velocizzazione con i nastri trasportatori negli anni Trenta, alla foto del capannone Nervi in funzione fino agli anni Settanta.
Insomma una pubblicazione di storia locale e di storia generale, di storia della tecnica e di storia sociale; una guida per una visita al museo e un percorso di educazione al patrimonio culturale. Impreziosita, tra l’altro, dall’accuratezza della grafica che rende leggibili le riproduzioni cartografiche e godibili quelle fotografiche.
Del resto già Giorgio Nebbia nella sua ricca e impegnata presentazione iniziale ci ricorda che oggi – dati del 2007 – nel mondo si producono ancora circa 250 milioni di tonnellate di sale, a testimonianza della sua importanza economica.
“Esiste tutta una economia e fiscalità del sale, una merce così importante – scrive Nebbia – che tutti i potenti ne hanno approfittato per ricavare imposte e per instaurare monopoli sul suo commercio. Salaria, Salina, Sale, Saline… sono i nomi di località e strade associate alla produzione e al commercio del sale. Plinio ricorda le saline di Taranto, di cui oggi resta traccia soltanto in un toponimo. E al sale era associato anche il nome di Salapia, Salpi, la misteriosa città che sorgeva proprio alle spalle della più grande salina del Mediterraneo, quella di Margherita di Savoia.” (p. 6).
Appunto a questa è dedicato il Museo, a parere dello stesso Nebbia di grande interesse per almeno tre motivi:
costituisce un opportuno riconoscimento dell’importanza dell’energia solare, il cui impiego nella salina di Margherita ammonta su base annua all’equivalente energetico di tre milioni e mezzo di tonnellate di prodotti petroliferi.
Mostra la lenta formazione del sale nelle saline solari, la nascita di cristalli diversi, mano a mano che con l’evaporazione si separano i vari sali. “Uno spettacolo che meriterebbe un film, tanto più che simili fenomeni si verificano nelle pentole, quando bolle l’acqua per la minestra, sulle serpentine degli scaldabagni …”
Recupera e valorizza la conoscenza di una peculiare industria chimico-mineraria, tipica del Mezzogiorno.
“Il recupero della storia e delle tecniche salinare di Margherita contribuirà – secondo Nebbia – a conservare e far crescere la conoscenza e l’orgoglio operaio e imprenditoriale proprio in Puglia, tanto più che le saline di Margherita sono state ricche di innovazioni sia meccaniche, sia chimico-industriali …”
Enzo Guanci – Membro della segreteria nazionale di Clio ’92, Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia. Ha insegnato Storia e ricoperto il ruolo di dirigente scolastico nella scuola secondaria di II grado. Recentemente ha curato, assieme a Carla Santini, il volume Capire il Novecento, FrancoAngeli editore, Milano, 2008. Svolge attività di formazione, ricerca e aggiornamento sulla didattica della storia.
[IF]
Il bisogno di pátria – BARBERIS (CN)
BARBERIS, Walter. Il bisogno di pátria. [Torino]: Einaudi, 2004 e 2010. 141p.. Resenha de: GUANCI, Vicenzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
“Come figli di una famiglia senza armonia e senza memorie, gli italiani si sono spesso cresciuti da soli, superando la solitudine con cinismo, con opportunismo, con diffidenza, talvolta con esibizionismo. Ignorando le ragioni e l’utilità di una salvaguardia dell’interesse generale. E’ così che l’idea di patria si è di volta in volta caricata di significati che invece di tendere all’unità hanno accentuato visioni faziose, volte all’esclusione.” (p.7)
Con queste parole W. Barberis ripropone la questione della patria, o meglio della mancanza di un’idea di patria per gli italiani, partendo dalla sua considerazione che tale mancanza non ha inizio, come è stato scritto, l’8 settembre 1943, ma ben più in là, almeno cinque, se non quindici, secoli or sono. Egli sviluppa le sua argomentazioni annodandole intorno a tre temi, o meglio, intorno a tre “bisogni”, a ciascuno dei quali dedica quarantadue pagine: il bisogno di Stato, il bisogno di storia, il bisogno di patria.
Quale patria?
“una patria che non disegni i confini di un’identità chiusa, esclusiva; ma che prenda valore dalla consapevolezza della pluralità storica dei suoi volti. Una patria che non dimentichi di richiedere a chi appartenga alla comunità il rispetto delle tradizionali virtù civiche: l’obbligazione fiscale, l’esercizio della giustizia, la difesa delle istituzioni dello Stato.” (p. 10)
Il libro guarda al futuro, sia pure riflettendo sul passato. Si tratta, infatti, di un libro di storia. Perché, ricorda l’autore, ” è la storia ciò di cui ha bisogno un popolo: qualcosa che rimetta in ordine, oltre lo spirito di parte, la dinamica degli avvenimenti e le loro molteplici ragioni.” La memoria ha uno sguardo parziale e, pertanto, non può nutrire che sentimenti patriottici esclusivi; memorie differenti si contendono lo spazio della patria “una” tendendo ciascuna a farsi storia. E’ proprio questa contesa che una società sana deve evitare. E la storia ha esattamente questa funzione: “affidata a protocolli riconosciuti da una comunità scientifica”, attraverso procedure di analisi e interpretazioni, ha il compito di fornire alla comunità intera uno sguardo generale. Barberis esemplifica tutto questo nelle pagine dedicate a sviluppare il tema del bisogno di storia indicando le linee per la costruzione di una “dotazione storiografica comunitaria – se vogliamo nazionale – … [uscendo] dalle contingenze e dalle urgenze della contemporaneità. L’Italia ha una storia millenaria, tutta utile alla definizione dei suoi caratteri attuali e alla possibilità di emendarli.” E qui vengono ricordati i soggetti necessari a costruire una storia d’Italia: la Chiesa innanzitutto, Roma, i municipi, il Mezzogiorno, la Repubblica, la Costituzione.
La storia ci conferma che una comunità priva di un apparato statuale efficiente e condiviso non è davvero tale, poiché ciascuno in misura più o meno grande inclina infine verso il proprio interesse privato, provocando proprio ciò che tanto spesso è stato incolpato agli italiani: opportunismo, trasformismo, dissimulazione, mancanza di senso dello Stato, appunto. Barberis mostrando la necessità di uno Stato per gli italiani ripercorre la storia della sua formazione a partire dalla risposta alla domanda: perché proprio il Piemonte (e non un altro tra gli Stati d’Italia) unificò la penisola fondando lo Stato italiano?
“Il Piemonte, selvatico e periferico, non aveva conosciuto gli splendori della civiltà comunale e signorile… La certezza delle istituzioni, la loro continuità, la prospettiva di durata della dinastia, il suo radicamento territoriale, fecero ciò che non conobbe il resto d’Italia: assicurarono i sudditi che le loro iniziative erano possibili, che avevano i requisiti minimi di riuscita, primo fra tutti il tempo, garante eccellente di ogni contratto…. non furono simpatia, garbo e cultura; ma senso dello Stato, tecnica amministrativa e militare, e anche un certo patriottismo, il bagaglio eccentrico con cui poi i piemontesi si disposero all’incontro con gli altri italiani.”(p. 21)
Il bisogno di patria, la coscienza di appartenere ad un’unica comunità, furono esigenze che si rappresentarono immediatamente dopo la fondazione dello Stato italiano e sono state preoccupazioni presenti finora nella classe dirigente per tutti i centocinquant’anni dal 1861. All’inizio fu soprattutto la letteratura a svolgere il ruolo più importante, si pensi solo alle poesie di Carducci e al Cuore di De Amicis, ma poi dopo la prova tremenda della Grande Guerra, fu il fascismo a forgiare l’idea di patria sovrapponendola alla retorica della guerra, aiutato in questo dalla letteratura futurista. Così si confuse patria con nazionalismo, aggressione e morte, con la guerra appunto.
Oggi, bisogna ricostruire per gli italiani un’idea di patria che escluda non solo guerra ma anche la sopraffazione degli altri popoli , i quali, al contrario, vanno inclusi in un’idea di patria meticciata, alla quale partecipano tutti coloro che hanno la fortuna di abitare un paesaggio unico al mondo, poiché, ricorda Berberis citando Settis, “il nostro bene culturale più prezioso è il contesto, il continuum nel quale si iscrivono monumenti, opere, musei, città e paesaggi, in un tessuto connettivo ineguagliabile… questo è il tratto identitario degli italiani” (p.111). Se questo è vero, come è vero, vuol dire che insegnare storia d’Italia significa insegnare contemporaneamente geografia d’Italia, poiché ciò che conta imparare, va ribadito, è innanzitutto il contesto, di tempo e di spazio.
[IF]Che storia! La storia italiana raccontata in modo semplice e chiaro – PALLOTTI (CN)
PALLOTTI, Gabriele; CAVADI, Giorgio. Che storia! La storia italiana raccontata in modo semplice e chiaro. Formello (Roma): Bonacci editore, 2012. Resenha de: GUANCI, Enzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
A cura di Enzo Guanci.
“Mangiare non era l’unico intrattenimento. Nel Rinascimento infatti ci si divertiva in molti modi e anche questo ci fa capire come ci si sentisse più liberi. Nel Medioevo la Chiesa controllava tutta la vita delle persone e considerava i giochi come una specie di peccato: quindi non si giocava molto e chi lo faceva doveva un po’ vergognarsi. Invece nel Rinascimento il gioco diventa una parte importante della vita: tutti, ricchi e poveri, giocano in ogni luogo, in casa, nei negozi , nelle osterie, nelle strade e nelle piazze.” (p. 86)
Questa è una notizia tratta dalle ventisette pagine dedicate al Rinascimento nella “storia italiana raccontata in modo semplice e chiaro” da Gabriele Pallotti e Giorgio Cavadi. L’informazione sui giochi si trova nella pagina dedicata al “divertirsi ” nel paragrafo “La vita nel Rinascimento”, che costituisce la parte più corposa del capitolo; gli altri paragrafi sono dedicati alla geopolitica (gli Stati nazionali; le signorie, piccoli stati regionali) e a fornire informazioni di contesto che consentano di comprendere il Rinascimento italiano nel quadro europeo. La scelta degli autori è appunto quella di incentrare il loro manuale sulle condizioni di vita, sui costumi, sulle abitudini sociali degli italiani piuttosto che sugli avvenimenti della politica nel corso dei secoli. La selezione dei contenuti quindi affranca il manuale dalla congerie dei numerosissimi eventi del tempo breve della politica, concentrandosi sulla descrizione delle strutture delle società italiane presentate in cinque “epoche”, come programmaticamente esplicitato nell’introduzione: Roma, il Medioevo, il Rinascimento, l’Ottocento, il Novecento. Ciò consente di “raccontare” l’Italia dall’VIII sec. a. C. alla fine del XX secolo in poco più di centoquaranta pagine! E per chi volesse approfondire ci sono tre pagine di riferimenti bibliografici.
In realtà, la storia non viene “raccontata”: non ci sono, per esempio, i personaggi e gli episodi che tradizionalmente punteggiano la storia d’Italia dei nostri manuali scolastici, che generalmente fanno della storia politica e delle istituzioni un genere storiografico noioso e poco comprensibile agli studenti della scuola secondaria. Gli autori segnalano fin dal titolo lo sforzo di descrivere la carrellata dei ventotto secoli di storia italiana “in modo semplice e chiaro”. Non era facile. Loro ci sono riusciti. Sulla base di due idee-forza: costruire un linguaggio piano, controllato al punto da riuscire “semplice”; costruire un affresco del passato d’Italia sulla base delle conoscenze essenziali a comprendere le trasformazioni delle società e dei popoli italiani dall’epoca romana al Novecento. E, siccome il libro è pensato per comprendere l’Italia di oggi, l’intero testo è punteggiato frequentemente da riferimenti e riflessioni sull’attualità, anche con un apposita rubrica titolata “ieri e oggi” (Per esempio, nelle pagine in cui si parla della repubblica romana e della figura istituzionale del dictator la rubrica viene usata per sollecitare una riflessione sul mondo attuale:
“Anche in tempi più recenti qualcuno ha pensato che un dittatore solo con tutto il potere riesca a governare lo Stato meglio di un’assemblea di rappresentanti. Ad esempio in Italia, durante il fascismo, Mussolini…. Uno Stato in cui decide una persona sola si chiama assoluto o autoritario. Uno Stato in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti eletti da tutti i cittadini si chiama democratico. Hai mai pensato cosa si guadagna e cosa si perde in ciascuno di questi sistemi?”).
Leggendo attentamente il libro a noi pare emerga chiara la difficoltà di raccontare la storia politica “in modo semplice e chiaro” senza cadere nella banalizzazione. Un esempio, a noi sembra, possa essere fornito dalle due-tre pagine dedicate al Risorgimento (L’Italia diventa un Paese unito, pp. 97-99) nelle quali Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi si muovono come personaggi di un “racconto” dal quale sono espunte le problematizzazioni del fenomeno risorgimentale, perché i problemi non si possono “raccontare” e se lo si fa è quasi impossibile farlo con un “linguaggio semplice e chiaro”: si rischia appunto la “banalizzazione”. I nostri autori hanno intelligentemente evitato questo rischio proponendo una storia d’Italia dal punto di vista economico e sociale, come espressamente dichiarato nell’introduzione.
Infine va anche sottolineato che il libro non dimentica la sua funzione di strumento per l’apprendimento della storia e pur non proponendo esplicitamente esercitazioni per sviluppare le abilità di base della disciplina, l’uso di linee del tempo, tabelle, cartine tematiche, illustrazioni non di carattere esornativo bensì inserite e commentate nel testo, e l’esortazione frequente a riflettere su analogie e differenze tra passato e presente (Ieri e oggi, Pensaci su) indica implicitamente a chi ha la responsabilità dell’insegnamento la strada migliore per interessare gli allievi a imparare la storia d’Italia.
Maggio 2012
[IF]Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche – BETTINI (CN)
BETTINI, Maurizio. Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche. Bologna: Il Mulino, 2014. 155p. Resenha de: GUANCI, Vicenzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
“La pluralità degli dèi non costituisce l’essenza delle religioni politeistiche, come vorrebbe farci credere il nome che le designa, ma solo la condizione necessaria affinché esse possano esplicare la virtù che meglio le caratterizza: ossia la capacità di pensare in modo plurale ciò che ci circonda e, nello stesso tempo, di fornire altrettanti modi d’azione per interpretarlo e intervenire su di esso” (pag. 111).
Maurizio Bettini, antropologo del mondo antico, ci fa conoscere in questo libro la specificità e l’originalità delle religioni politeistiche dell’antichità attraverso la costruzione della concettualizzazione di “quadro mentale” che, per capirci, è, nel nostro mondo, “quello costituito dalla convinzione profonda, e spesso talmente interiorizzata da risultare inconscia, che non possa esservi se non un solo e unico Dio.” (p. 21). Tale quadro mentale oggi connaturato a quella buona parte del pianeta che professa religioni monoteiste viene opposto a quello delle società antiche politeiste, in particolare quelle greca e romana. Beninteso, va subito sgombrato il campo da vecchie gerarchie evolutive di stampo colonialista, eurocentriche e cristianocentriche che considerano la religione greca e romana come una mitologia pagana e idolatra, “superata” dal cristianesimo unica e vera religione. “Gli dèi che furono venerati e onorati da [queste] due civiltà – ricorda Bettini – sono stati al centro di organizzazioni sociali, culturali e intellettuali molto complesse…” (p.9) che si fondavano, tra l’altro, su una concezione della cittadinanza considerata importantissima, al punto da coinvolgere perfino il mondo degli dèi. Infatti, nel quadro mentale dei Romani gli dèi di un altro popolo, amico o conquistato, venivano cooptati all’interno della civitas romana. Tutt’altra cosa dalla tolleranza alla quale siamo esortati dal migliore cristianesimo dei nostri tempi.
In fondo tutto il libro di Bettini costituisce una comparazione tra il quadro mentale delle religioni politeistiche e quello dei monoteismi ebraico-cristiano e islamico.
Innanzitutto, la questione della violenza. Se è vero che Greci e Romani hanno combattuto guerre e perpetrato massacri non hanno mai fatto guerre “per affermare una religione sull’altra, come invece hanno fatto nei secoli successivi cristiani e musulmani” (p. 43).
Il fatto è, sostiene Bettini, che il politeismo è flessibile: “la messa in valore di alcune caratteristiche proprie di ciascuna divinità (il fornire alimento, il portar semi, la stabilità) [costituiscono un] tramite cui costruire inferenze che producono di volta in volta l’identificazione con un’altra divinità” (p.69) ovvero la traduzione di una divinità da una cultura ad un’altra. Gli esempi sono molteplici: l’egizio Serapide diventa Esculapio o Iuppiter a seconda delle caratteristiche del dio, il Wotan germanico è identificato con Mercurius, ecc.
Il monoteismo, al contrario, non può che essere rigido, costruito com’è su una verità scritta direttamente da Dio: le sacre scritture.
Se è vero che la Chiesa cattolica “produce” una quantità sterminata di santi e beati, soddisfacendo le esigenze di “protezione divina” delle diverse attività umane, è vero altresì che il Catechismo della stessa Chiesa ribadisce l’esistenza di un solo “Dio unico e vero”. Con l’aggiunta che “evangelizzando senza posa gli uomini la Chiesa si adopera affinché essi possano ‘informare dello spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità’ in cui vivono” (p.45). Di qui allo Stato confessionale il passo è (è stato?) breve.
[IF]Bram Stoker e a Questão Racial. Literatura de horror e degenerescência no final do século XIX | Evander Ruthieri da Silva
Proponho analisar o livro Bram Stoker e a Questão Racial. Literatura de horror e degenerescência no final do século XIX (2017), livro de estreia do jovem historiador Evander Ruthieri da Silva, e que teve como base sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Nele Ruthieri faz um trabalho primoroso de história social dos intelectuais, nos mostrando as redes de sociabilidade em que Bram Stoker circulava, a articulação entre seu projeto literário e o seu projeto intelectual.
Queremos com essa análise colocar em evidência essas categorias (redes de sociabilidade, circulação e projeto literário), apontando como hipótese o uso intuitivo delas, em outras palavras, evidencia que seu intento será ir além das simples verbalizações que dará novas possibilidades de ver o mundo literário. Gostaríamos de apontar nesse texto os caminhos escolhido pelo autor como uma possibilidade de pensar a história dos intelectuais a partir da relação autor-obra-leitor. Isto me permitirá, com mais liberdade, imaginar e compreender as formações discursivas que circulam nesse período, bem como aferir o movimento das categorias mencionadas acima. Leia Mais
São Paulo restaurada: Administração/Economia e Sociedade numa capitania colonial (1765-1802) | Oller Mont Serrath
O livro de Pablo Oller Mont Serrath (2017), São Paulo restaurada: administração, economia e sociedade numa capitania colonial (1765-1802), com 316 páginas, publicado pela Editora Alameda, resulta da dissertação de mestrado do pesquisador, defendida em 2007 no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP).
Dividido em três partes, cada uma tratando dos aspectos indicados no subtítulo do livro, ou seja, administração, economia e sociedade, o autor discorre sobre esses temas com vistas a compreender os fundamentos da São Paulo Colonial da segunda metade do século XVIII. O recorte temporal vai do ano em que São Paulo retomou sua autonomia administrativa (1765), após 17 anos subordinada à Capitania do Rio de Janeiro, até o ano em que as reformas definidas pela Coroa Portuguesa para a capitania paulista foram finalizadas (1802). Leia Mais
The Metaphysics of Truth – EDWARDS (SY)
EDWARDS, D. The Metaphysics of Truth. New York: Oxford University Press, 2018. Resenha de: PACHECO, Gionatan Carlos. Synesis, Petrópolis, v. 10, n. 2, p. 251-254, ago./dez., 2019.
Em The Metaphysics of Truth (2018), Douglas Edwards traz uma defesa de uma metafísica da verdade e um amplo ataque aos seus algozes, nomeadamente, os deflacionistas e primitivistas. Por um lado, os deflacionistas concedem à verdade um papel lógico e de forma de expressão, mas, para além disso, pouco teríamos a falar sobre a verdade. Por outro lado, os primitivistas, com efeito, afirmam que a verdade não é um conceito aberto para definição, de modo que não caberia investigá-la. Não obstante, Edwards defende uma teoria acerca da natureza da verdade que a caracteriza como substantiva, pluralista e fundamentada em propriedades.
Os desafios para uma metafísica da verdade são postos de tal modo pelas teorias deflacionárias, que os três primeiros capítulos deste livro se ocupam de uma resposta a elas. O primeiro capítulo trata de três visões “ultra deflacionárias”, a saber, teoria da redundância, teoria performativa e prosentencialismo. Com efeito, teorias da verdade geralmente estão interessados na relação entre os domínios da linguagem (conceitos e palavras) e da realidade (objetos, propriedades e eventos). Essas três visões negam que a verdade seja um propriedade, da seguinte forma. Há um argumento, na “visão padrão”, que relaciona predicados com propriedades que, quando formulado acerca das teorias da verdade, se expressa como se segue: (1) predicados referem a propriedades, se (2) “ser verdadeiro” é um predicado, então (3) “ser verdadeiro” se refere a uma propriedade (verdade). Sem embargo, estas visões negam que a segundo premissa (2) seja válida (p. 8), ou seja, que ser verdadeiro/verdade não é um predicado, mas uma simples redundância que só afirma o que foi dito, ou que só performa uma ênfase, ou ainda uma prosentença, que meramente substitui o que foi dito antes. Deste modo, ao longo do capítulo Edwards apresenta objeções para cada uma das três teorias, se valendo de argumentos de Kunne e Strawson, e na sequência expõem as concepções de verdade como objeto (Frege) e como evento (William James), concluindo que mesmo nessas acepções “é difícil evitar” conceber a verdade como uma propriedade (p. 18).
O segundo e terceiro capítulos são dedicados às teses deflacionistas menos radicais e mais amplamente aceitas. De acordo com este espectro do deflacionismo a verdade é uma propriedade, no entanto, não é uma propriedade substancial. Aqui entra uma distinção entre propriedades esparsas e propriedades abundantes, a qual Edwards utilizará ao longo do livro. Propriedades abundantes seriam extensões dos predicados, ao passo que propriedades esparsas seriam análogas à universais objetivos que estabelecem similitudes explicativas acerca do estado de coisas. Essa distinção, além disso, é o centro do argumento contra o deflacionismo, apresentado no terceiro capítulo. Neste passo ao autor argumentará que assumir uma posição deflacionista sobre a verdade implica em assumir um deflacionismo sobre propriedades metafísicas. Contra deflacionistas como Horwich (1998) e Damnjanovic (2010), Edwards sustenta que a verdade não é uma propriedade abundante, mas sim uma propriedade esparsa que possui um papel explicativo acerca da constituição causal acerca das coisas no mundo. Nesse sentido, o deflacionismo esvazia a relação entre a linguagem e realidade (mundo).
O quarto capítulo trata em especial sobre as conexões entre linguagem e mundo, em especial, a relação dos predicados com as propriedades. A ideia é que existem diferentes tipos de predicados (morais, científicos, estéticos, sociais, etc) que desempenham papéis distintos. Sobre cada predicado podemos constatar diferentes tipos de propriedades. Ainda neste capítulo, Edwards define o que entende por domínio. Cada domínio, com efeito, possui um componente semântico (linguagem) e um componente metafísico (realidade), dos quais o primeiro é “composto pelos termos e predicados singulares” e o segundo é “composto pelos objetos e propriedades aos quais os termos e predicados singulares se referem no aspecto semântico” (p. 77, traduções nossas). Não apenas termos e predicados singulares, mas também sentenças pertenceriam a domínios particulares. Isso também abre precedente para definirmos eventos ou estados de coisas como pertencentes a domínios particulares, no entanto, segundo o autor, “é o predicado que determina o domínio” (p. 78). Este capítulo acentua que a leitura de Edwards vai para além da teoria da verdade.
No quinto capítulo a verdade volta à pauta. O discurso acerca de diversos domínios no capítulo anterior fornece terreno para estabelecer o que Edwards chama de pluralismo sobre a verdade. No sexto capítulo esse pluralismo se desenvolve como pluralismo ontológico, isto é, “a tese de que as coisas existem de maneiras diferentes” (p. 105). Aqui, o autor caracteriza uma espécie de paralelismo entre os debates acerca da verdade e acerca da existência. A concepção pluralista acerca desses dois temas se direciona a um pluralismo unificado entre realidade e linguagem, o “pluralismo global”. O capítulo sete discute uma variedade de modelos alternativos de pluralismo sobre a verdade o que, como que de forma paralela, é feito no capítulo oito, mas especificamente sobre pluralismos de existência. O pluralismo de Edwards, com efeito, é moldado em sua distinção entre propriedades abundantes e escassas.
Nos últimos capítulos, nono e décimo, é dado atenção às abordagens primitivistas que concedem poder explicativo a noção de verdade, mas negam que qualquer teoria da verdade seja de fato informativa. Os primitivistas afirmam que a verdade é uma noção primitiva e indefinível, alguns deles trabalham com a noção de veritadores (truthmakers). Com efeito, são duas as “ameaças” (p. 159) ao pluralismo da verdade que emergem da leitura primitivista. A primeira é que existem verdades para as quais não existem veritadores (cap. 9). A segunda é o compromisso com a existência de veritadores, pois uma vez que assumimos esse compromisso não precisamos nos questionar acerca da natureza da verdade (cap. 10). A primeira ameaça ao pluralismo vem de Trenton Merricks (2007), um primitivista que rejeita a teoria dos veritadores. Nesse passo, Edwards desenvolve uma argumentação onde mostra que a leitura pluralista possui recursos para evitar essa ameaça e, mais do que isso, na qual até outros partidários da teoria dos veritadores podem encontrar embasamento. Por outro lado, sobre a segunda ameaça do primitivismo, o autor afirma que os primitivistas partidários dos veritadores não podem falar de veritadores sem falar sobre a verdade, demonstrando assim a “peculiaridade da posição sustentada, na qual veritadores são doadores de papéis teóricos substanciais em um panorama no qual não há natureza substancial da verdade” (p. 176).
Em suma, o livro The Metaphysics of Truth é um livro de metafísica e epistemologia contemporânea que se esforça por resgatar um conceito de verdade que fique em pé por si só. O livro é beligerante, sempre expondo seu ponto enquanto troca golpes. Os alvos são muitos e o objetivo é original. Para além de uma teoria metafísica sobre a natureza da verdade, Edwards pretendeu estabelecer uma visão pluralista global acerca da relação entre realidade e linguagem. O autor leva a discussão sobre domínios metafísicos para diversas áreas, como moral, matemática, institucional, etc., e não se demora em áreas que muitos esperariam, devido a temática, mais atenção, como no caso da lógica e epistemologia. A brevidade da obra talvez justifique, ou talvez seu caráter de proposta monográfica a ser ainda escrutinada pela crítica.
Referências
DAMNJANOVIC, N. New Wave Deflationism. In PEDERSEN & WRIGHT (eds), New Waves in Truth. New York: Palgrave Macmillan, 2010. (pp. 45-58).
EDWARDS, D. The Metaphysics of Truth. New York: Oxford University Press, 2018.
HORWICH, P. Truth. Oxford: Oxford University Press, 1998.
MERRICKS, T. Truth and Ontology. New York: Oxford University Press. 2007.
Gionatan Carlos Pacheco – Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Doutorando em Filosofia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5505634981032665. E-mail: gionatan23@gmail.com
[DR]
The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism – CRIMMINS (SY)
CRIMMINS, James E. (Ed.). The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism. London: Bloomsbury Academic, 2013. Resenha de: TRINDAD, Gabriel Garmendia da. Synesis, Petrópolis, v. 10, n. 2, p. 244-250, ago./dez., 2019.
A filósofa espanhola María Esperanza Guisán (1940–2015) celebremente observou que a doutrina utilitarista é “uma das teorias ético-políticas pior estudadas e compreendidas ao longo do tempo”.1 Podemos elencar entre as principais causas de incompreensões e dúvidas sobre tal abordagem a constante confusão acerca do que vem a ser, de fato, o utilitarismo. Frequentemente, é possível encontrar comentadores na literatura filosófica os quais descrevem “o utilitarismo” como um sistema moral único e definido. Tais caracterizações são, todavia, bastante problemáticas. Em realidade, poder-se-ia dizer que há tantos utilitarismos quanto utilitaristas – talvez até mais, pois não é incomum pensadores revisarem e proporem variações de suas próprias perspectivas ético-utilitárias no decorrer de suas carreiras.2 A Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism (doravante, ‘BEU’) surge justamente para retificar este e muitos outros equívocos interpretativos acerca da tradição utilitarista e seus representantes.
Editada pelo cientista político inglês James E. Crimmins, a BEU é um monumento filosófico ímpar.3 As mais de seiscentas páginas desse formidável manuscrito configuram o que pode ser prontamente classificado – ao menos até o presente momento – como o compêndio definitivo sobre os estudos utilitaristas. Os leitores da obra em pauta dificilmente poderão concluir outra coisa. A razão disso é a riqueza e excelência de tal publicação. Como Crimmins faz questão de anunciar ao introduzir a BEU ao seu público alvo, esta é composta por mais de 220 verbetes elaborados por cerca de 120 pesquisadores do mais alto calibre acadêmico-científico. Tais verbetes abrangem os seguintes tópicos: figuras históricas e progenitores tardios do que viria a se tornar a filosofia utilitarista, utilitaristas clássicos e contribuintes recentes da literatura em voga, economistas políticos, scholars legais e juristas, objetores da ideologia ético-utilitária, historiadores e comentadores da tradição utilitarista, escolas de pensamento e teorias relacionadas aos frameworks utilitaristas, elementos significantes dos debates utilitaristas contemporâneos, diferentes tipos de utilitarismo, conceitos-chave, bem como problemas específicos da doutrina utilitarista – em especial, as dificuldades atinentes à avaliação e agregação das distintas manifestações da ideia de ‘utilidade’.4
Uma vez enumerados os conteúdos da BEU, Crimmins é rápido ao destacar que, a despeito da vasta constelação de assuntos ponderados, os possíveis críticos em vigília certamente questionarão a não inclusão de outras temáticas referentes ao utilitarismo. À vista disso, Crimmins esforça-se para justificar quaisquer ausências em termos de limitações de espaço – o que é compreensível. Decisões editoriais acerca daquilo que será abarcado ou deixado de lado em obras dessa magnitude são extremamente comuns. Ainda assim, levantar esse tipo de questionamento jamais poderia ser tomado como algo atípico ou desimportante. Afinal de contas, escritores utilitaristas são tradicionalmente conhecidos por empregar as suas abordagens e princípios na reflexão e tratamento filosófico das mais variadas problemáticas imagináveis. Limitar literariamente o dinamismo e versatilidade da doutrina utilitarista por intermédio de uma abundância de supressões textuais somente empobreceria o volume discutido. A construção de indagações dessa natureza deveria ser, então, fortemente encorajada – sobretudo se tivermos em mente a possibilidade de uma futura reedição do manuscrito. É precisamente por isso que a presente análise não hesitará em assinalar alguns dos temas mais relevantes que não foram incorporados nessa primeira versão da BEU. Comecemos, no entanto, pelo mais evidente acerto da publicação sob escrutínio, qual seja, o seu hábil detalhamento de múltiplas propostas morais utilitaristas.
Como mencionado há pouco, aquilo que é descrito como “o utilitarismo” deveria ser pensado, em realidade, como um vasto conjunto de abordagens ético-políticas de cunho consequencialista.5 A BEU reforça essa concepção ao trazer análises de mais de trinta subtipos diferentes de posturas utilitaristas desenvolvidas nos últimos dois séculos. Dentre as entradas com o maior número de informações e esclarecimentos, sobressaem-se as discussões sobre o utilitarismo do ato e da regra, utilitarismo ideal, utilitarismo de preferências (‘preferencialismo’), utilitarismo análogo e binário, utilitarismo expectabilista e ‘number-dampened utilitarianism’. Boa parte desses verbetes incluem investigações sobre as vantagens das vertentes utilitaristas comentadas em comparação direta a outras formas de utilitarismo e sistemas morais rivais – o que facilita significativamente a posterior construção de paralelos ainda mais aprofundados por pesquisadores. Além disso, são também consideradas variantes utilitaristas pouquíssimas vezes tratadas na literatura filosófica em pauta. Esse é o caso, por exemplo, do utilitarismo dos motivos, uma proposta esboçada, em meados da década de setenta, pelo filósofo norte-americano Robert Merrihew Adams. Tal teoria, como o seu próprio nome sugere, diz respeito à avaliação dos motivos segundo os quais as pessoas agem e como eles influenciam na determinação das condições da utilidade. Notavelmente, Gwen Bradford, autora do verbete em foco, complementa o seu exame do utilitarismo dos motivos ao abranger como essa perspectiva poderia ser retomada no cenário filosófico atual – o que demonstra, novamente, a quantidade de tópicos dignos de estudo contida nas páginas da enciclopédia.
Embora o grupo de correntes utilitaristas perscrutado na BEU seja bastante amplo, ele ainda assim acaba por não incluir diversos tipos e famílias de utilitarismos. Uma ausência particularmente questionável é a do chamado ‘utilitarismo negativo’. Utilitaristas negativos dão prioridade absoluta à minimização de experiências aversivas em contraposição à costumeira maximização de experiências agradáveis. Tal teoria foi originalmente delineada por Karl Popper em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos (1945) e duramente criticada por J. J. C. Smart.6 A despeito dos ataques de Smart, a popularidade do utilitarismo negativo e suas variações cresceu consideravelmente no decorrer das duas últimas décadas. Muito disso se deve aos esforços de autores como o filósofo britânico David Pearce que, em seu livro The Hedonistic Imperative (1995), defende uma variedade da teoria a qual toma como propósito central da moralidade a abolição do sofrimento em toda a vida senciente.7 Além de ser retratado nos escritos de Pearce, o utilitarismo negativo tem sido utilizado ao longo dos anos no tratamento de uma multiplicidade de problemas no campo da ética prática e ética populacional. Dado à contínua aplicação do utilitarismo negativo na literatura filosófica atual, a falta de uma nota específica dedicada a essa perspectiva dificilmente poderia ser vista com bons olhos.
Outro ponto nitidamente forte da BEU é a apresentação e problematização dos indivíduos que auxiliaram a moldar a doutrina utilitarista ao longo do tempo. A obra contém mais de cento e trinta entradas dedicadas, como assinalado anteriormente, a defensores, objetores, comentadores, revisores e influenciadores do pensamento e abordagens utilitaristas. Tendo observado isso, é simplesmente impraticável destacar de modo apropriado a grandeza e pluralidade desses verbetes em especial. Como os possíveis leitores da enciclopédia podem imaginar, o tratamento dispensado pela BEU aos principais representantes do utilitarismo é incomparável. Discussões acerca de pensadores clássicos e expoentes iniciais das teses utilitaristas tais como Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, William Paley e Henry Sidgwick se encontram entre as mais aprofundadas e extensas do volume inteiro. O detalhamento de contribuintes historicamente menos prestigiados também é digno de nota. Comentador algum é pequeno demais para ser ignorado por Crimmins. Mesmo John Rickards Mozley – matemático e educador inglês, cuja única contribuição aos estudos utilitaristas foi a publicação de uma breve resenha crítica de Os Métodos da Ética (1874) de Sidgwick – recebeu o seu devido lugar nas páginas da BEU. O impacto das ideias de Platão, Aristóteles, Epicuro, Hobbes, Locke e Kant sobre os valores utilitaristas é igualmente averiguado – o que resulta em uma apreciação histórica ainda mais rigorosa dessas visões na tradição filosófica ocidental.
Embora ocupem um espaço significativamente menor do que as entradas destinadas aos primeiros proponentes e opositores dos fundamentos utilitaristas, as considerações referentes a apologistas e arguidores contemporâneos (i.e., nascidos no século XX em diante) possuem grande relevância e merecem uma reflexão à parte. Os verbetes dedicados a contendedores das propostas utilitaristas são particularmente bons. Dentre esse grupo, evidenciam-se os apontamentos sobre H. L. A. Hart, John Rawls, Bernard Williams, Robert Nozick e Michel Foucault. É apenas quando examinamos o material concernente a utilitaristas contemporâneos que as coisas ficam mais complicadas.
A enciclopédia contém entradas sobre autores esperados, tais como R. M. Hare, Peter Singer, John Harsanyi e Brad Hooker. Porém, uma vez que o número de intelectuais que se identificam com as ideias utilitaristas hoje em dia é assombroso, muitos acabaram ficando fora da obra em pauta. Duas ausências em especial são simplesmente imperdoáveis. A primeira diz respeito a R. G. Frey (1941–2012). Uma figura polêmica no campo da ética aplicada, Frey foi conhecido por suas declarações incendiárias, ataques mordazes à considerabilidade moral dos animais não-humanos e por uma defesa do utilitarismo de preferências.8 A segunda tange ao filósofo sueco Torbjörn Tännsjö. Um escritor prolífico, Tännsjö tem feito importantes contribuições aos debates sobre o utilitarismo hedonista e empregado suas teorias para lidar com uma multiplicidade de temas difíceis da bioética e ética médica.9 Por enquanto, somente podemos esperar que essas e as demais ausências sejam reparadas em edições futuras da BEU.
Aqueles que optarem por consultar a BEU para alcançar uma compreensão mais diversificada do modelo utilitarista, e não apenas do seu impacto geral na literatura filosófica ocidental, não ficarão nem um pouco desapontados. Isso porque o livro é um verdadeiro poço de curiosidades acerca da doutrina estabelecida por Bentham. O volume editado por Crimmins traz, por exemplo, dados pormenorizados acerca da criação do famigerado ‘autoicon’ – o esqueleto de Bentham preservado, anexado a uma cabeça feita de cera e vestido em suas próprias roupas – que atualmente se encontra em uma pequena cabine exposta ao público na University College London. Há também comentários sobre os pensadores e publicações utilitaristas originalmente incluídos no index papal – i.e., a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Em suma, todo o tipo de informação acerca daquilo que Bentham se referia como “a seita dos utilitaristas”.10 É importante frisar, aliás, que todos os verbetes da BEU estão conectados uns aos outros por meio de um vasto índice, sugestões de leitura, bem como referências bibliográficas adicionais. Desse modo, é bastante interessante comparar, por exemplo, a entrada ‘Panopticon’ com a nota sobre Michel Foucault – autor que tomava o panóptico benthamiano como a manifestação última da sociedade de controle.11 Essa organização cuidadosa dos verbetes só vem para fortalecer ainda mais a sensação de estar lidando com uma obra dificilmente superável.
Para concluir, um breve apontamento de ordem monetária. Até muito recentemente, o maior problema da BEU era o seu custo abusivo – algo igualmente criticado por outros resenhistas do livro.12 Os atuais valores da versão em capa dura (‘Hardcover’) da antologia giram em torno de trezentas libras esterlinas (quase 1.300,00 Reais na cotação corrente). Felizmente, em 2017, a tão esperada edição em brochura do manuscrito foi enfim publicada. Esta, por sua vez, conta com um preço muito mais acessível, cerca de GBP45,00 – o equivalente a pouco mais de R$200,00. Uma transação que, muito possivelmente, paga a si mesma. Pois, aqueles que forem financeiramente afortunados para adquirir alguma das versões da BEU não levarão para casa uma mera compilação de verbetes acadêmicos, mas sim a mais completa e competente obra já publicada sobre a doutrina utilitarista desde os tempos de Bentham – o que é seguramente suficiente para estimular e nortear longos anos de pesquisa no campo da filosofia prática.
Notas
1 GUISÁN, E. Utilitarismo, justiça e felicidade. In: PELUSO, Luis Alberto (ed.). Ética & Utilitarismo. Campinas: Editora Alínea, 1998, p. 131.
2 Peter Singer, por exemplo, celebrado pela sua defesa do utilitarismo de preferências durante décadas, recentemente abandonou tal posição em prol de uma versão modificada do utilitarismo hedonista clássico de Henry Sidgwick. Tal mudança é explorada em: LAZARI-RADEK, K.; SINGER, P. The Point of View of the Universe: Sidgwick and Contemporary Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2014.
3 Crimmins é especialista no pensamento benthamiano e atualmente ocupa a posição de Professor of Political Theory no Huron University College, University of Western Ontario. Dentre as suas principais publicações, destacam-se: Secular Utilitarianism: Social Science and the Critique of Religion in the Thought of Jeremy Bentham (1990), On Bentham (2004) e Utilitarian Philosophy and Politics: Bentham’s Later Years (2011). Para uma lista detalhada dos escritos de Crimmins, visite: <https://works.bepress.com/james_e_crimmins/>. Acesso em: 04 fev. 2019.
4 CRIMMINS, James E. Preface. In: CRIMMINS, James E. (ed.). The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism. London: Bloomsbury Academic, 2013, p. x.
5 O filósofo Harlan B. Miller relata que provavelmente existe mais de uma centena de variantes distintas de perspectivas utilitaristas. Como ele salienta, “o utilitarismo possui muitas formas, o que depende de se o princípio é aplicado a escolhas de fatos ou escolhas de regras, se ‘prazer’ e ‘dor’ são compreendidos em sentido abrangente ou estritamente, se aquilo a ser maximizado é prazer ou satisfação de preferências, quão amplo é o escopo de ‘todos os seres afetados’, se trata-se de consequências atuais ou esperadas, e assim por diante. Utilitarismo em todas as suas formas é uma teoria consequencialista: o que torna um ato correto é as suas consequências.” MILLER, Harlan B. On Utilitarianism and Utilitarian Attitudes. Between the Species, v. 6, n. 3, 1990, p. 128. Traduzido livremente do inglês pelo autor.
6 Para as críticas de Smart, veja: SMART, J. J. C. Negative Utilitarianism. Mind, v. 67, n. 268, p. 542-543, 1958. SMART, J. J. C. An Outline of a System of Utilitarian Ethics. In: SMART, J. J. C.; WILLIAMS, Bernard. Utilitarianism: For & Against. Cambridge: Cambridge University Press, p. 1-74, 1973. 7 Para o manifesto escrito por Pearce, visite: https://www.hedweb.com/hedethic/tabconhi.htm. Acesso em: 04 fev. 2019.
8 O filósofo norte-americano David DeGrazia chega a declarar que Frey é um dos dois mais puros e dominantes utilitaristas contemporâneos no debate acerca do tratamento ético a ser concedido aos demais animais, o outro sendo Singer. DEGRAZIA, D. The Moral Status of Animals and Their Use in Research: A Philosophical Review. Kennedy Institute of Ethics Journal, v. 1, n. 1, 1991, p. 48.
9 Recentemente, Tännsjö esteve envolvido em uma bizarra controvérsia online. O famoso portal de notícias Vox.com decidiu por não publicar um artigo escrito pelo sueco acerca da chamada “conclusão repugnante” – a ideia de que teríamos uma obrigação moral de procriarmos, pois, supostamente, um maior número de humanos implicaria em um aumento no montante de felicidade total – devido aos seus argumentos serem demasiado provocativos. Para maiores detalhes do ocorrido, assim como o texto rejeitado, visite: <https://gawker.com/heres-the-philosophy-essay-vox-found-too-upsetting-to-p-1727243459>. Acesso em: 04 fev. 2019.
10 Certa vez, em conversa com o político britânico William Petty, 1º Marquês de Lansdowne, Bentham comentou sobre um sonho que tivera no qual se via como “um fundador de uma seita; naturalmente, uma personagem de grande santidade e importância. Chamava-se seita dos utilitaristas”. MSS disponível na ‘Bentham Collection’ (University College London, Box 169/79, “Dream”) apud Crimmins, James E. Bentham on Religion: Atheism and Secular Society. Journal of the History of Ideas, v. 47, n. 1, 1986, p. 103. Traduzido livremente do inglês pelo autor.
11 Para uma excelente avaliação sobre o panóptico benthamiano, assim como da oposição foucaultiana a este, veja: GONÇALVES, Davidson Sepini. O Panóptico de Jeremy Bentham: Por uma Leitura Utilitarista. São Paulo: Blucher Acadêmico, 2008. 12 SCHOFIELD, P. James E. Crimmins, ed., The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism. Journal of Bentham Studies, v. 16, n. 1, 2014, p. 3.
Referências
CRIMMINS, James E. Bentham on Religion: Atheism and Secular Society. Journal of the History of Ideas, v. 47, n. 1, p. 95-110, 1986.
CRIMMINS, James E. (ed.). The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism. London: Bloomsbury Academic, 2013.
DEGRAZIA, D. The Moral Status of Animals and Their Use in Research: A Philosophical Review. Kennedy Institute of Ethics Journal, v. 1, n. 1, p. 48-70, 1991. Disponível em: https://muse.jhu.edu/article/245599. Acesso em: 04 fev. 2019.
GUISÁN, E. Utilitarismo, Justiça e Felicidade. In: PELUSO, Luis Alberto (ed.). Ética & Utilitarismo. Campinas: Editora Alínea, p. 131-143, 1998.
MILLER, Harlan B. On Utilitarianism and Utilitarian Attitudes. Between the Species, v. 6, n. 3, p. 128-129, 1990. Disponível em: https://digitalcommons.calpoly.edu/bts/vol6/iss3/10/. Acesso em: 04 fev. 2019.
SCHOFIELD, P. James E. Crimmins, ed., The Bloomsbury Encyclopedia of Utilitarianism. Journal of Bentham Studies, v. 16, n. 1, p. 1-3, 2014. Disponível em: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/journal-of-bentham-studies. Acesso em: 04 fev. 2019.
Gabriel Garmendia da Trindad– University of Birmingham, United Kingdom. Doutorando em Global Ethics no Centre for the Study of Global Ethics, Department of Philosophy, University of Birmingham. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6770358458457650. E-mail: garmendia_gabriel@hotmail.com
[DR]
Da senzala aos palcos: Canções escravas e racismo nas Américas, 1870-1930 | Martha Abreu
Num formato ainda raro entre nós, este livro digital que integra a Coleção História Illustrada explora as possibilidades que esta mídia oferece de conjugação de texto, som e imagem. Além das mais de 200 fotos, ilustrações de partituras, anúncios de espetáculos, notícias de jornais – o e-book traz dezenas de fonogramas e alguns vídeos com gravações de canções e espetáculos musicais do início do século XX que permitem ao leitor/ouvinte uma extraordinária experiência de interação com as fontes que sustentam o empreendimento historiográfico. A narrativa é leve, mas muito potente, favorecendo a recepção do trabalho por um público mais amplo que o acadêmico.2
A autora é Professora Titular de História das Américas da Universidade Federal Fluminense e consagrada pesquisadora da cultura popular, música negra, memória da escravidão e relações raciais no pós-abolição nas Américas. Além de inúmeros livros e artigos, já havia produzido, também de forma pioneira, vários vídeos de pesquisa que nos fazem refletir sobre novos suportes para o discurso historiográfico e ensino de História. Leia Mais
Territórios ao Sul: escravidão, escritas e fronteiras coloniais e pós-coloniais na América | María Verónica Secreto e Flávio dos Santos Gomes
O livro Territórios ao Sul organizado por Verónica Secreto e Flávio Gomes foi criado com o propósito de conectar histórias e historiografias de africanos e afrodescendentes no Atlântico sul diante da falta de diálogo sobre a influência mútua entre os processos históricos afro-latinos americanos. Os autores discorrem acerca dos silêncios comuns sobre América negra e o quanto são necessárias colaborações intelectuais para romper com os afastamentos entre os processos históricos negros nas Américas. Além do já consagrado Gilberto Freyre que desde a década de 1930 marcou o campo de estudos com seus esforços na tentativa de comparar histórias, também podemos incluir os organizadores dessa obra enquanto autores que se dedicam a relacionar os territórios negros na América Latina.
Desde 1998 Verónica Secreto vêm pensando no mundo rural brasileiro e argentino, sob a perspectiva comparada, o que deu origem ao livro Fronteiras em movimento: História comparada – Argentina e Brasil no século XIX (SECRETO, 2012), em sua obra a autora não deixa de incluir a população negra que é abordada em um capítulo denominado “Páginas de miséria e suor” sobre a mão-de-obra usada nos campos do Oeste Paulista e de Buenos Aires. Já Flávio Gomes, em trajetória enquanto intelectual negro é um estudioso de diversas faces da história dos africanos e afrodescendentes, seja sobre mentalidades ou as diversas formas de lutas políticas e sociais para a resistência ao sistema escravista e a obtenção de igualdade e cidadania. As histórias comparadas e conectadas se incluíram nas metodologias adotadas pelo autor em suas pesquisas desde o ano de 2003, se dedicando principalmente a afro-latino-América. Dentre suas diversas publicações, gostaria de destacar seu artigo sobre a formação de mocambos como uma forma de resistência escrava no Brasil e na Guiana Francesa (GOMES, 2003). Leia Mais
Utopias e experiências operárias: ecos da greve de 1917 | Clóvis Gruner e Luiz Carlos Ribeiro
Em junho de 1917, em contexto de formação de uma cultura operária no Brasil, uma greve geral foi deflagrada, convocada e liderada principalmente por trabalhadores. O movimento paralisou, de início, a cidade de São Paulo, logo se espalhando para diversas cidades brasileiras e tornando-se, assim, o maior movimento paredista da história brasileira até aquele momento. Em 2017, no centenário da Greve, os historiadores e professores do curso de História da Universidade Federal do Paraná Clóvis Gruner e Luiz Carlos Ribeiro organizaram uma coletânea de textos escritos por diversos historiadores e sociólogos estudiosos de temas como os Mundos do Trabalho e os movimentos operários e anarquistas. Publicado em 2019 e subdividido em três partes, Utopias e experiências operárias: ecos da greve de 1917 busca explorar a experiência, as lutas e as utopias pretéritas e posteriores à Greve de 1917.
A primeira parte do livro, intitulada “Greves”, é focada diretamente nos movimentos paredistas de julho e agosto de 1917. No capítulo inicial, Christina Lopreato parte da noção, antes consolidada na historiografia, a respeito do caráter espontâneo e explosivo do movimento para explorar justamente o contrário. Em trabalho de doutorado prévio à publicação do capítulo, a autora estudara o tema e o caráter especialmente anarquista dos movimentos, que, no lugar de espontâneos e sem organização, são demonstrados enquanto planejados e frutos do intenso trabalho de duas décadas de ação direta, trabalho de base e encorajamento de autonomia e de identidade de classe no movimento operário.
Além disso, em 1917 não havia partido ou sindicato para representar os interesses dos trabalhadores, que se mobilizaram em cerca de 100 mil nas ruas de São Paulo para reivindicar melhores condições. Nessa ocasião, o sapateiro José Ineguez Martinez morreu baleado em confronto com forças policiais. O que seguiu foi aquilo que a autora chamou de vida no movimento, o qual acompanhou o cortejo fúnebre do jovem e aproveitou o momento para reivindicar liberdade pelos grevistas presos e protestar contra a violência policial. Segundo Lopreato, demonstrar solidariedade significava aderir ao movimento; daí o título e subtítulo de seu capítulo, “A greve geral anarquista de 1917: militância anarquista e redes de solidariedade”. Por fim, a autora expõe a expulsão das principais lideranças estrangeiras de forma inconstitucional e explora o legado da Greve e as rupturas e continuidades nas estratégias de auto-organização, observadas até 2017.
Já em “Greve geral 1917: organização e luta operária em Curitiba”, Luiz Carlos Ribeiro analisa, a partir de fontes historiográficas, quantitativas e de periódicos da época, o movimento grevista em Curitiba. Com alinhamento teórico marxista, o autor trabalha com os conceitos de classe e de lutas sociais para expor as condições e as práticas dos trabalhadores naquele contexto, investigando a tensão entre as classes no conflito e chegando à conclusão de que a luta se fez na negociação de interesses.
O historiador expõe uma clara participação de diferentes setores das elites, seja por motivos de ordem positivista, para imbuir o espírito civilizatório nas classes pobres, ou porque temiam sua influência e auto-organização. Embora não se deva supervalorizar o papel dessas elites, deve-se ressaltar que as vozes conservadoras tiveram papel político importante nas reivindicações por liberdade de presos e deportados em 1917. Segundo Ribeiro, é uma armadilha dizer que um ou outro grupo liderou os movimentos paredistas e resumi-los a ele. No fim das contas, houve interferência da elite e, igualmente, autonomia dos setores operários – que escolhiam ora se opor, ora não, à participação dos primeiros, já que essa era também uma forma de obter conquistas. Assim, aos poucos, o autor demonstra o esgotamento dos espaços políticos do anarquismo, que deram lugar a propostas socialistas de organização centralizada e apoio na política, enquanto do outro lado o Estado acumulava cada vez mais prerrogativas de controle social. Paradoxalmente, ele argumenta, o anarquismo fora forte enquanto predominava o modelo liberal e individualista de governo. A crise do liberalismo, para Luiz Carlos Ribeiro, foi também a do anarquismo.
A segunda parte do livro tem como objetivo tratar das experiências de grupos específicos na Greve de 1917: as mulheres, a população negra, e as crianças. Em “Silenciosas ou insurgentes? Mulheres trabalhadoras no contexto da Greve de 1917 em Curitiba”, a historiadora Roseli Boschilia procura refletir acerca do silêncio das e sobre as mulheres trabalhadoras no contexto da Greve em Curitiba. No Brasil, a mão de obra feminina esteve presente nas fábricas desde a industrialização no século XIX, um período de escassez de força laboral que abriu espaço para mulheres no ambiente fabril. Para muitas delas, o trabalho era como uma fase transitória entre o fim da escolaridade e o início do casamento, ingressando nele por volta dos 14 anos de idade e saindo aos 24.
As trabalhadoras exerciam diversas funções, geralmente as que exigissem delicadeza e atenção, nas seções de embalagem e acabamento, porém recebiam a metade do salário dos homens. Utilizando como fonte histórica jornais do período, Boschilia afirma que são raros, mas não inexistentes, os vestígios sobre a participação ou ausência das mulheres durante a Greve, destacando a crônica de Gastão Faria, publicada no Diário da Tarde. Nela, o autor narra que as telefonistas não iriam aderir à Greve pois ganhavam muito pouco e se parassem de trabalhar passariam necessidades. Dentre as pautas defendidas pelo comando de greve estava a proibição do ingresso de moças com menos de 21 anos no mercado de trabalho, sendo essa uma clara estratégia de retirá-las desse espaço. A autora finaliza seu texto questionando se o comportamento de pouca aderência ao movimento grevista pelas mulheres não foi uma forma de resistência ao poder masculino, uma vez que suas pautas eram desfavoráveis a elas.
Em “Os trabalhadores têm cor: militância operária na Curitiba do pós-abolição”, as pesquisadoras Joseli Maria Nunes Mendonça e Pamela Beltramin Fabris procuram problematizar a História do Trabalho em Curitiba do final do século XIX e início do XX, abarcando a perspectiva de raça e das experiências da escravidão. Para isso, criticam a interpretação da História do Trabalho no Brasil feita aos moldes europeus, que minimiza e desconsidera a pluralidade de experiências de trabalho e militância vivenciadas em regiões além de São Paulo e por trabalhadores que fugiam ao padrão do homem adulto, branco, predominantemente imigrante, em ambiente fabril, que se organizava em sindicatos e manifestava suas demandas por meio de greves.
Assim, as autoras destacam a importância das sociedades mutualistas do século XIX, ligadas principalmente à luta dos trabalhadores negros, como a Sociedade Protetora dos Operários e o Clube 13 de Maio. Ao trazer à tona esse associativismo, que tinha como objetivo ressignificar a presença negra na cidade a partir de experiências e expectativas dos seus próprios membros, as autoras concluem que, apesar do ocultamento da cor nos registros e interpretações historiográficas a respeito do trabalho na Primeira República, essas organizações mostram que muitos trabalhadores em Curitiba tinham cor, e ela não era branca.
Já em “Lutas sociais, trabalho infantojuvenil e direitos (Brasil, 1889-1927)”, a historiadora e docente da Universidade do Estado de Santa Catarina, Silvia Maria Fávero Arend, busca tratar a respeito da conquista dos direitos sociais na área trabalhista pelas pessoas consideradas menores de idade. Sua análise, que abarca o início da República até o ano de 1917, é centrada na legislação federal do período e nos recenseamentos populacionais de 1920 e 1940.
A questão do trabalho infantojuvenil era pauta do movimento grevista de 1917, que tinha entre as suas demandas a proibição tanto do trabalho noturno para menores de 18 anos, como do trabalho nas fábricas e oficinas para os/as menores de 14 anos. Assim, a autora faz um histórico das legislações que buscavam proteger e regulamentar o trabalho dos indivíduos menores de idade, e conclui que a legislação brasileira procurou garantir minimamente os direitos sociais para eles, porém encontrou entraves na cultura autoritária dos patrões, nas condições de pobreza dos responsáveis e na ausência de instituições estatais que aplicassem a lei.
A última parte do livro contém contribuições de quatro autores que enfocam em seus escritos principalmente as utopias e os ideais anarquistas, disseminados através de escritos e experiências. Em “Folletos anarquistas en papel veneciano”, o sociólogo argentino Christian Ferrer pauta-se em um conjunto de 14 publicações, dentre elas impressos espanhóis e argentinos de 1895 e 1896 agregados em uma brochura. Ferrer narra o conteúdo de tais livretos de forma descontínua, dividindo seu trabalho em seções. Essas expõem, para além dos ideais libertários percebidos nos escritos em questão, as relações políticas e sociais entre os escritores e seus jornais, os autores expoentes do anarquismo e suas trajetórias de vida, bem como destacam o contexto de escrita, editoração e a circulação, inclusive internacional, das obras e dos autores analisados por ele.
Ademais de levantar as ideias anarquistas presentes nesses materiais, também são apontadas as características da escrita anarquista, como o uso de pseudônimos pelos contribuintes e a importância dos impressos em seu ideal revolucionário. Ao dar enfoque ao escrito Um Episódio de Amor na Colônia Socialista Cecília, de Giovanni Rossi, que foi publicado na Argentina com cerca de 3 mil cópias, o autor expõe as tensões e contraposições entre os ideais libertários concernentes ao amor e a experiência empírica ocorrida na Colônia Cecília. Além disso, aponta para a recuperação da memória dessas experiências através de canções, peças de teatro, documentários e filmes. Aborda-se a obra memorialística de 1979 de Zélia Gattai e de seu marido Jorge Amado, autor do romance Dona Flor e seus dois maridos, que, de acordo com Ferrer, foi baseado na experiência da família de colonos anarquistas de sua esposa.
Já em “Cenas do agir anárquico”, o sociólogo Nildo Avelino defende, através de uma análise comparativa entre as greves de 1917 e 1918 e os movimentos de 2013 no Brasil, que há uma regularidade na atuação dos sujeitos desses confrontos. A performance de todos eles contribui com a ação coletiva por meio da horizontalidade, da organização anti-hierárquica por redes ou ligas e da ação direta, a última sendo um traço característico do “agir anárquico” dessas três insurreições. Baseando-se em anarquistas como Pierre-Joseph Proudhon, Émile Pouget, Piotr Alexeyevich Kropotkin e Fernand Pelloutier, o autor compreende a horizontalidade empregada nesses movimentos como alicerçada em um pensamento anarquista para se evitar a concentração do poder político. De maneira análoga, entende que a negação do princípio da legalidade – materializada pela rejeição da representação na Greve de 1917 e pela aversão às instituições nas manifestações de 2013 – foi o elemento original desses fenômenos históricos. Esses acontecimentos, segundo o autor, levaram à transformação da subjetividade desses indivíduos e de sua capacidade política, proporcionando a eles uma energia revolucionária.
Em “Um Snob anarquista: O maximalismo libertário de Lima Barreto” o historiador Clóvis Gruner aborda o modo como as críticas à República se desenvolveram para além da imprensa libertária. Isso porque caracteriza a produção ficcional de Barreto como uma literatura militante que nutre aproximações com os ideais do movimento anarquista, uma vez que estabelece críticas em sua obra à burguesia, ao Estado republicano e às desigualdades e violências perpetradas por ele. Gruner demonstra que a aproximação de Lima Barreto com as ideias libertárias não se estende à atuação militante, mas centra-se na produção intelectual, sendo esta entendida também como engajada, pois apresenta um cenário de denúncia indignada ao seu presente.
Entretanto, ele aponta que tal postura não é meramente uma resignação do autor frente à sua contemporaneidade, mas uma crítica à pretensa modernidade, que mascara uma tradição política autoritária e excludente. Gruner demonstra como Barreto compreende os acontecimentos do seu período, inclusive as greves de 1917 e 1918, por meio de críticas ao poder estatal, à polícia e à imprensa, buscando, assim, construir uma sociedade mais igualitária ao se basear na intervenção da realidade que sua escrita poderia produzir.
Em “Utopía, técnica e historia: tiempo y espacio de la división social del trabajo”, o sociólogo chileno Jorge Pavez Ojeda faz uma crítica à modernidade e às divisões do trabalho em diálogo com a teoria marxista. Quebrando as linhas temporais e espaciais, o autor parte da realidade material do Chile para expandir a reflexão a respeito da experiência operária pretérita, presente e futura, indicando como principal desafio para os movimentos que buscam a unidade, caso da Greve geral, a existência de um lumpemproletariado. Esse, ele explica, seria caracterizado por um forte apego às afinidades, em lugar das outrora importantes identidades. Em outras palavras, são pessoas integrantes da classe proletária que não se veem enquanto parte de um sistema estrutural e que, pelo contrário, pautam suas ações pelos processos políticos. Por isso, citando Fanon, aponta que sua existência contribui para a auto-organização social. De forma análoga, elas podem, como fizeram no Chile, participar de movimentos fura-greve e contribuir para a desestruturação dos movimentos militantes.
Antes de chegar a isso, Ojeda traça um longo contexto do capitalismo no Chile e estende o padrão de atuação para outras regiões colonizadas. Partindo de diferentes utopias, encontra um elemento comum: um movimento teleológico da história orientado a um futuro. Essa ideia foi questionada pelo citado Walter Benjamin, para quem o progresso histórico só deixava ruínas para trás e cuja concepção de história universal do progresso é essencialmente de uma história de catástrofes. Para o chileno, enquanto a espacialidade utópica orientou teleologicamente o processo histórico moderno, é a dimensão temporal da utopia, chamada de ucronia, que constitui o lugar onde pode-se pensar a emancipação, agora como redenção à razão instrumental moderna.
Tendo em vista a pluralidade das discussões, abordagens e visões da Greve de 1917, é evidente que a obra resenhada é de alto valor epistemológico não apenas para a História, mas para as Ciências Humanas em geral. Ao mobilizar discussões teóricas importantes e distintas entre si, o volume consegue ainda sim ser coeso e intertextual no que tange à Greve de 1917, à sua historiografia, à teoria e ao trabalho com fontes. As contribuições abordam esse fenômeno histórico apresentando recortes, interpretações e sujeitos distintos, além de ampliarem as possibilidades de trabalho com o tema. Por agregar ao seu conjunto textos de historiadores e sociólogos, alguns deles estrangeiros, a obra apresenta novas abordagens e análises, ao mesmo tempo em que estabelece diálogos com a produção de países que passaram e passam por processos históricos semelhantes aos brasileiros, o que a enriquece ainda mais. Em suma, para além da contribuição elucidada acima, os debates – que englobam estudos comparativos com outras temporalidades e movimentos insurrecionais – enriquecem o campo de pesquisa dos movimentos paredistas e as amplas possibilidades de explorá-lo.
Referência
GRUNER, Clóvis; RIBEIRO, Luiz Carlos (org.). Utopias e experiências operárias: ecos da greve de 1917. São Paulo: Intermeios, 2019. 194p.
Cassiana Sare Maciel – Estudante do 7º período do curso de História (Licenciatura e Bacharelado) na Universidade Federal do Paraná. É bolsista do grupo PET História UFPR. E-mail para contato: cassiana.maciel@gmail.com . Endereço para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3210157518477759.
Kauana Silva de Rezende – Graduada em História (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como bolsista do grupo PET História UFPR de 2018 a 2020. E-mail para contato: kauanarezende87@gmail.com . Endereço para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2149264497539586.
Mariana Mehl Gralak – Graduada em História (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como bolsista do grupo PET História UFPR de 2016 a 2020. E-mail para contato: marigralak@gmail.com . Endereço para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1555033953635717
GRUNER, Clóvis; RIBEIRO, Luiz Carlos (Org.). Utopias e experiências operárias: ecos da greve de 1917. São Paulo: Intermeios, 2019. Resenha de: MACIEL, Cassiana Sare; REZENDE, Kauana Silva de; GRALAK, Mariana Mehl. Cadernos de Clio. Curitiba, v.10, n.2, p.104-114, 2019. Acessar publicação original [DR]
História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides | Martinho T. M. Soares
Em sua tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal, Martinho Soares aborda uma lacuna relevante na história da teoria contemporânea da historiografia: o papel do paradigma historiográfico de Tucídides nas reflexões do filósofo Paul Ricoeur; o primeiro uma referência clássica que resiste pertinente e atual há milênios, o segundo talvez quem melhor sintetizou a polêmica sobre a relação entre histórica e ficção ao longo do séc. XX. O objetivo é em si problemático: Soares está ciente que Ricoeur cita Tucídides apenas em notas, não dedica nem uma página para análise específica de sua obra, e não apresenta indícios de conhece-la a fundo, para além de alguns de seus comentaristas modernos mais ilustres (SOARES, 2014, p.23). No entanto, Tucídides é um marco inaugural, exercendo inegável influência em intelectuais com quem Ricoeur dialoga, principalmente historiadores e teóricos modernos que o viam como paradigma de historiografia antiga. Se o filósofo moderno foi a pedra angular nos intensos debates do séc. XX sobre história e ficção, os estudos sobre a fortuna crítica da obra História da Guerra do Peloponeso extrapolam o próprio ambiente acadêmico, como demonstram os constantes apelos às lições tucideanas em situações geopolíticas contemporâneas2. Para cumprir tal tarefa Soares divide seu livro em duas partes: a primeira, mais longa, dedica-se exclusivamente à Ricoeur; a segunda aborda Tucídides, mas seguindo uma estrutura organizacional estabelecida com base na leitura da obra ricoeuriana.
A primeira parte é a própria sistematização da contribuição do filósofo francês que, nas palavras de Soares (2014, p.18), serviu de “pretexto para uma compilação, inédita em Portugal, de teorias (e pensadores), ora complementares ora antagônicos, sobre história e ficção”. Em quatro capítulos, Soares refaz o longo percurso da contribuição ricoeuriana: começa em Histoire et Vérité (1964) no capítulo I, passando pelos três volumes de Temps et Récit (1983- 1985) nos capítulo II e III, e finalmente se concatena em La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) no último capítulo desta primeira parte do livro de Soares.
No capítulo I são abordadas as primeiras reflexões de Ricoeur sobre objetividade e subjetividade na interpretação histórica, que desembocam no capítulo II sobre a dialética entre explicação e compreensão histórica. Este segundo capítulo refaz o percurso duplo de Ricoeur que perpassa, de um lado, o eclipse da narrativa histórica, o qual envolve tanto a historiografia francesa dos Annales quanto o modelo nomológico de língua inglesa; e de outro lado, as teses narrativistas que, oriundas da filosofia analítica e da crítica literária, focam no papel da narrativa na historiografia, cujos nomes mais conhecidos são Hayden White e Paul Veyne.
A concepção narrativista, que pode ser simplificada na máxima “narrar já é explicar”, torna opaca a fronteira entre história e ficção, o que certamente serve de gatilho para a maior parte das reflexões de Paul Ricoeur. Contra ambas tendências – rejeitar a narrativa histórica em prol de seu caráter científico ou ofuscar seu caráter veritativo por conta da sua dimensão narrativa – Ricoeur interpôs sua dialética sobre o papel da compreensão narrativa à explicação histórica, restaurando a função da ficção na configuração narrativa histórica. O saber histórico procede da compreensão narrativa, resguardando seu caráter investigativo alicerçado na interpretação dos traços do passado, prática na qual a intenção do historiador não deixa de ter sua marca subjetiva, sem negar seu caráter epistêmico (SOARES, 2014, p.53, 76). Assim, Soares revisita as teses de Ricoeur de forma a sedimentar os instrumentos de análise com o qual abordará a obra tucideana.
Se a história precisa de narrativa para ser compreendida, a última não deixa de definirse pela sua relação com o tempo. O capítulo III de Soares concentra-se no itinerário de Ricoeur sobre o tempo desde a dimensão fenomenológica (tempo vivido) até histórica (tempo histórico e narrado). Soares sintetiza ideias já conhecidas de Ricoeur sobre a distentio animi de Agostinho de Hipona, a teoria das três mimeses e as abordagens da ficção do século XX sobre as aporias do tempo vivido, de forma a desembocar no axioma de que o tempo se torna humano na medida em que é articulado de modo narrativo. Deste longo percurso, Soares retém a narrativa enquanto tríplice mimese da prefiguração ética, configuração narrativa e refiguração receptiva (ou leitura). Tal tríplice noção de narrativa organiza a leitura que Soares faz da História da Guerra do Peloponeso na segunda parte da obra. Na fase final da vida intelectual de Ricoeur, o prestígio da narrativa havia se restabelecido na historiografia francesa, devido a fatores que vão do ressurgimento da história política, e perpassa a micro-história e principalmente a predominância do conceito de representação histórica. Daí que Soares concentre-se no capítulo IV sobre os conceitos de representação e representância, especialmente se a narrativa histórica e seu encadeamento do tempo resolve (ou não) as aporias da representação mnemônica enquanto presença do ausente. A questão envolve debates éticos intensos sobre a possibilidade de representação do holocausto judeu e o risco do fortalecimento do negacionismo histórico, com as teses narrativistas que ofuscam a fronteira entre histórica e ficção. Até aqui, pode-se parabenizar a leitura industriosa que Soares faz de Paul Ricoeur, mas não sem notar o longo percurso percorrido até finalmente concatenar tais reflexões com o texto tucideano.
A segunda parte volta-se para Tucídides em dois capítulos. O primeiro se preocupa com a noção de história e verdade na obra, revisitando discussões já consagradas sobre a noção de “ktema es aei” (tesouro para sempre) e sobre o procedimento de composição dos discursos na História da Guerra do Peloponeso. O segundo capítulo se desdobra na aplicação dos três estádios ricoeurianos da operação historiográfica na obra: a fase documental (prefiguração compreendida como testemunhos, indícios e prova documental), a fase narrativa, (explicaçãocompreensão e configuração narrativa), e a fase da refiguração ou leitura, que concentra-se nas estratégias retórico-persuasivos e seus efeitos de “fazer ver” (SOARES, 2014, p.405-406). Em contraste com Heródoto, Tucídides é lacônico e reticente ao expor suas fontes e procedimentos de investigação, logo Soares admite e enfatiza as dificuldades em abordar a metodologia histórica da obra, bem como sua inadequação para os parâmetros modernos (2014, p.502-504, 545-549). A leitura de Soares, portanto, desenvolve-se melhor quando aborda as estratégias persuasivas do autor ateniense, de forma a encontrar nelas ecos das teses de Ricoeur.
O estudo é industrioso e pertinente, mas desmembrar a análise em duas partes acaba por ser simultaneamente uma qualidade e um defeito da pesquisa. Sua exposição sobre Ricoeur revela excelência e domínio das discussões, por outro lado, alonga-se demasiadamente divorciada do seu segundo objeto de pesquisa. Isto significa que não teremos notícias de Tucídides pelas 360 páginas e 4 capítulos que compõem a primeira parte da obra. Da segunda parte, somente o segundo capítulo propõe interpelação direta entre Ricoeur e Tucídides, ou seja, de um volume de 600 páginas o leitor pode esperar tal confronto apenas na última centena, e ainda assim de forma tímida, ao que se segue uma conclusão extremamente sucinta.
No entanto, as sendas abertas pela pesquisa de Soares são profícuas, por exemplo, na abordagem do método de composição de discursos de Tucídides (I. 22.1-2) à luz das teses ricoeurianas. Desde Heródoto a dramatização (no sentido de “representação da ação”) de discursos e debates oratórios são conectores de acontecimentos que conferem sentido a estes tanto progressivamente (antecipam fatos ainda não narrados) como regressivamente (julgam e explicam fatos já narrados), assim o historiador revela ao leitor as disposições dos agentes históricos frente a uma ação inacabada, bem como expectativas frustradas ou não pelos acontecimentos desenrolados (SOARES, 2014, p.454-455). Ainda que construção subjetiva, os discursos ligam-se à interpretação dos acontecimentos, na medida em que funcionam como narração-explicação do sucesso ou insucesso das ações (SOARES, 2014, p.479). Tucídides na sua escrita não procura a descrição asséptica de acontecimentos, mas enreda-os narrativamente. Tal procedimento revela ressonância evidente com a tríplice mimese ricoeriana, na medida em que exige do historiador uma prefiguração ética na avaliação e seleção das fontes e traços do passado, bem como uma configuração narrativa na forma de ação (discurso e acontecimento), e por fim, subscreve a intenção deste em elementos persuasivos que visam alcançar a refiguração do leitor capaz de reconhecer o que foi ali prefigurado e configurado.
Soares desdobra-se com competência na apresentação destas questões, no entanto, lidar simultaneamente com a tradição milenar da hermenêutica tucideana e a profundidade das discussões de Ricoeur é, de fato, muito trabalhoso, e a pertinência destas fontes acaba por ofuscar a marca autoral de Soares. O diálogo entre duas referências fundamentais para a historiografia, no qual consiste a originalidade da obra, acaba ficando frágil na separação rígida das duas partes do livro.
Soares ressalta especialmente o papel da narrativa como uma forma da história “cativar o público”, “se dar a ler” (2014, p.30), em suma, “uma forma estilizada de apresentar a verdade”, sendo esta a “tese maior” que pretende expor (2014, p.483), e defende enfaticamente a fronteira entre história e ficção, e talvez por isso privilegia a função ornamental e persuasiva da narrativa. Afirmar isto parece subestimar o papel da narrativa na configuração do tempo histórico: as reflexões de Ricoeur e a metodologia de Tucídides apontam que a ficcionalização dos fatos está para além da persuasão e do elemento imagético (ou cor local) da história: ela é a forma privilegiada de expressar o pensamento e a compreensão do historiador sobre as ações humanas no tempo, resolvendo poeticamente o embaraço da distentio animi agostiniana e a própria noção aristotélica de história enquanto narrativa episódica, sem vínculo com o provável e o necessário. Sua discussão do confronto entre a Poética aristotélica com a obra de Tucídides (2014: p.552-565) faz excelente balanço bibliográfico da questão, mas não responde se Tucídides almejava configurar um tempo histórico nos moldes ricoeurianos a partir das suas generalizações, ou se ele de fato tentava se aproximar do cronista imaginado por Aristóteles que narra indiscriminadamente o que “Alcibíades fez ou sofreu”. Soares opta por descrever Tucídides como parte poeta e parte historiador (2014, p.561-565), e por fazer eco às teses que Aristóteles não reconhecia nele um historiador, mas sim um pensador político (2014, p.552- 558).
Esta indefinição, no entanto, tem implicações. Por exemplo, Soares afirma, com base em A. W. Gomme (1954), que os contrastes dramáticos de Tucídides residem nos próprios acontecimentos que “se sucedem no tempo, sem nada de relevante entre eles” (SOARES, 2014, p.492), o que faz parecer que o historiador apenas revela os acontecimentos sem precisar configurá-los narrativamente. Isto deixa em segundo plano a configuração narrativa que Ricoeur extrai da Poética de Aristóteles (“um por causa do outro” ao invés de “um depois do outro”) e faz parecer que Tucídides seguia uma sucessão natural dos eventos, e nãos os compôs e enredou numa síntese do heterogêneo. Tucídides poderia ter apresentado outros eventos menores entre a sucessão, poderia ter-se dado às digressões tipicamente herodoteanas, mas é na disposição das ações que reside o efeito dramático alcançado, que não se pode atribuir aos próprios acontecimentos sem subestimar o papel da configuração narrativa, que Soares claramente não ignora de todo, mas ao longo do texto dá mais ênfase ao seu papel ornamental e persuasivo, especialmente na sua discussão sobre o “fazer ver” o passado, sua exposição sobre os conceitos de enargeia e ekphrasis (2014, p.582-595).
Em conclusão, Soares faz justíssima representação das teses ricoeurianas e das principais discussões em torno da obra de Tucídides, mas na hora de enredá-las em conjunto na sua própria configuração narrativa, oferece ao leitor uma interpretação que, por vezes, subestima a complexidade da configuração narrativa histórica enquanto síntese do heterogêneo e ordenador do tempo humano e histórico, ao menos no que diz respeito na sua interpelação das teses ricoerianas com o texto tucideano. Esta característica não apaga o brilho das conquistas de Soares, pois o leitor da sua obra pode esperar excelente abordagem da contribuição de Ricoeur sobre história e ficção, bem como uma expedição competente aos debates em torno da obra tucideana, cuja sombra projetou-se desde as teorias positivistas e metódicas da história do séc. XIX até as teses narrativistas que agitaram o debate historiográfico no séc. XX.
Nota
2. Para um estudo de dois casos relevantes nos quais o paradigma tucidideano foi invocado em contextos geopolíticos contemporâneos ver PIRES, Francisco Murari. “O General Marshall em Princeton, Tucídides na Guerra Fria”. História da Historiografia n. 2, 2009, pp. 101-115.
Referências
GOMME, A. W. The Greek atitude to poetry and history. Berkeley: University of California Press: 1954
RICOEUR, Paul. Histoire et Vérité. Paris: Seuil, 1964 (2003).
______. Temps et Récit – Tome I. Paris: Seuil, 1983 (2005).
______. Temps et Récit – Tome II. Paris: Seuil, 1984 (2005).
______. Temps et Récit – Tome III. Paris: Seuil, 1985 (2005).
______. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil, 2009.
SOARES, Martinho T. M. História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides. Fundação Eng. António de Almeida: Porto, 2014, 638 pp.
Denis Renan Correa – Professor Adjunto II na área de História Antiga e Medieval na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e estudante de doutoramento da Universidade de Coimbra.
SOARES, Martinho T. M. História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 2014. Resenha de: CORREA, Denis Renan. História e Ficção em Paul Ricoeur e Tucídides por Martinho Soares. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.24, p.388-393, ago., 2019.Acessar publicação original [DR]
Leandro Gomes de Barros: vida e obra | Arievaldo Vianna
No dia 19 de setembro de 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). [2] Trata-se, sem dúvida, de um importante reconhecimento do poder público dessa manifestação literária e cultural e motivo de orgulho para poetas cordelistas e amantes dessa literatura. O ano de 2018 também representa o centenário de morte daquele que é considerado o “pai da literatura de cordel” nordestina brasileira e principal influência dos poetas cordelistas: Leandro Gomes de Barros (1865-1918). Esses acontecimentos nos estimulam a fazer uma reflexão sobre a história e a trajetória da literatura de cordel no Brasil. Uma obra que trouxe contribuições importantes para essa discussão é: Leandro Gomes de Barros: vida e obra, de Arievaldo Vianna, lançada em 2014, que buscou realizar uma biografia de Leandro, o fundador desta literatura.
Arievaldo Vianna Lima é poeta cordelista, radialista, ilustrador e publicitário. Nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 1967, sendo alfabetizado por sua avó com o auxílio da literatura de cordel. Publicou mais de 70 folhetos de cordel[3] e livros. Arievaldo é também um militante pela utilização da literatura de cordel em sala de aula por meio do projeto Acorda Cordel na sala de aula, publicando em 2006 um livro homônimo [4], com diversas sugestões para os professores (LIMA, 2006, pp. 83-84). Arievaldo faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ocupando a cadeira número 40, cujo patrono é João Melquíades Ferreira [5]. Arievaldo participa de vários eventos pelo Brasil, como feiras do livro e divulga suas atividades de poeta no blog Acorda Cordel. [6]
Leandro Gomes de Barros: vida e obra é resultado de uma pesquisa de vários anos, iniciada pela aproximação de Arievaldo, com folhetos de Leandro, ainda em sua infância, como Batalha de Oliveiros com Ferrabrás, Juvenal e o Dragão, Cachorro dos mortos e Cancão de fogo. Assim, a obra é uma homenagem ao poeta que o ajudou em sua alfabetização e que continua sendo a sua principal inspiração na composição de folhetos. O livro conta com 13 capítulos, mais dois apêndices [7], e com textos de apresentação de Marco Haurélio [8] e Gilmar de Carvalho [9]
, além de ilustrações de Jô Oliveira [10].
O fato de Arievaldo não ser historiador de formação pode fazer com que alguns acadêmicos com visões mais fechadas para estudos de fora do ambiente acadêmico “torçam o nariz” e não deem o valor devido à obra. Ao contrário dessas visões hierárquicas em nosso entendimento, a aproximação de Arievaldo com a literatura de cordel traz uma sensibilidade maior ao seu trabalho de investigação, explorando nuances que os acadêmicos que apenas se ligam ao cordel por meio da pesquisa não conseguiriam identificar. Sendo poeta cordelista e militante pela causa da poesia popular, Arievaldo demonstra ser um pesquisador do cordel comprometido com o levantamento bibliográfico e análise de fontes com rigor. Dessa forma, o trabalho de Arievaldo Vianna pode ser visto como uma biografia histórica.
Segundo Mary del Priore, “a moda da biografia histórica é recente”, já que até a metade do século XX, sem ser de todo abandonada, “ela era vista como um gênero velhusco, convencional e ultrapassado por uma geração devotada a abordagens quantitativas e economicistas.” (PRIORE, 2009, p.7). Marc Ferro debitava esse desinteresse pela biografia a dois fatores: a valorização do papel das massas e a diminuição do papel dos ‘herois’ inspirada no determinismo ou no funcionalismo, das análises marxistas e estruturalistas que marcaram a produção europeia dos anos 1960(PRIORE, 2009, p.7).
Na primeira metade do século XX, vários escritores se tornaram grandes biógrafos, como Guy de Portalés, Michel de Leiris, André Maurois, Lytton Strachey, dentre outros. Mary del Priore aponta que o gênero é um “convite à viagem artificial no passado, fortemente ligada aos fatos, a maior parte das biografias era acrítica e lançava suas raízes no terreno das paixões coletivas.” (PRIORE, 2009, p.8). Um dos pioneiros em colocar as bases de uma biografia histórica renovada foi Lucien Febvre, que ao fazer as biografias de Lutero e Rabelais, “deu vida a personagens tributários de uma utensilagem mental que os ultrapassava e os permitia se situar numa dada época e sociedade.” (PRIORE, 2009, p.9). A rejeição da biografia histórica só teve fim nos anos 1970 e 1980, conforme Priore:
O fenecimento das análises marxistas e deterministas, que engessaram por décadas a produção historiográfica, permitiu dar espaço aos atores e suas contingências novamente. Foi uma verdadeira mudança de paradigmas. A explicação histórica cessava de se interessar pelas estruturas, para centrar suas análises sobre os indivíduos, suas paixões, constrangimentos e representações que pesavam sobre suas condutas. O indivíduo e suas ações situavam-se em sua relação com o ambiente social ou psicológico, sua educação, experiência profissional etc. O historiador deveria focar naquilo que os condicionava a fim de fazer reviver um mundo perdido e longínquo. Esta história “vista de baixo” dava as costas à história dos grandes homens, motores das decisões, analisadas de acordo com suas consequências e resultados, como a que se fazia no século XIX. (PRIORE, 2009, p.9).
Dessa maneira, embora não dialogue diretamente com obras do campo da biografia histórica, Arievaldo Vianna acaba por realizar um estudo biográfico com foco em Leandro Gomes de Barros sem perder de vista o contexto histórico em que o poeta viveu, além das pistas deixadas pelo próprio poeta em seus folhetos de cordel, que também trazem marcas de sua vida e que foram exaustivamente analisados por Vianna.
Em Leandro Gomes de Barros: vida e obra, o autor defende o pioneirismo de Leandro Gomes de Barros na produção de folhetos de cordel, concordando com Francisco das Chagas Batista, que já indicava isso em sua obra Cantadores e poetas populares, de 1929. Embora já existissem alguns folhetos publicados antes de Leandro, Vianna ressalta que “foi coisa esparsa, sem um programa editorial consistente” (VIANNA, 2014, p.22), diferente do que foi feito por Leandro, que produziu de forma sistemática. Vianna também aponta a originalidade do poeta paraibano na forma poética do cordel:
Leandro não se limitou a reaproveitar os temas correntes, oriundos do romanceiro medieval e dos ABCs manuscritos compostos em quadra, que já circulavam aos montes pelo Nordeste narrando a gesta do boi e do cangaceiro. Ele foi mais longe. Criou um tipo de poesia cem por cento brasileira, versejou em diversas modalidades (sextilha, setilha e martelo), utilizando a redondilha maior (sete sílabas) e o decassílabo. (VIANNA, 2014, p.20).
Utilizando fontes como certidões de nascimento, casamento, de óbito, registros de batismo, além do depoimento de Cristina da Nóbrega, sobrinha-neta de Leandro Gomes de Barros, Arievaldo conseguiu trazer à tona algumas pistas da vida de Leandro. Embora nascido em Pombal, na Paraíba, Leandro passou boa parte de sua infância e adolescência na Vila do Teixeira, também na Paraíba, sendo criado pelo seu tio materno, o Padre Vicente Xavier de Farias, pois se tornou órfão muito jovem. Esse momento foi crucial para sua formação de poeta, pois, em primeiro lugar, a Vila do Teixeira foi o berço dos grandes cantadores do passado, como Francisco Romano Caluête e o famoso glosador Agostinho Nunes da Costa. Vianna ressalta que esses poetas antigos “tinham o costume de escrever cadernos com as melhores glosas de sua produção poética.” (VIANNA, 2014, p.29). Além disso, já circulavam nessa época cópias manuscritas de poemas em quadras, como Obra de Ricarte (que deu origem ao Soldado Jogador), Rabicho da Geralda e Cantiga do Vilela (que deu origem ao folheto História do Valente Vilela) (VIANNA, 2014, p.29).
Em segundo lugar, a Vila do Teixeira foi uma terra de “grandes valentões, com destaque para os Guabirabas, família de celerados cuja bravura Leandro imortalizaria em versos, muitos anos depois.” (VIANNA, 2014, p.29). Os conflitos políticos e a presença dos cangaceiros na região estavam marcados na memória dos moradores, sendo a infância de Leandro “povoada por mirabolantes histórias de lutas, muitas delas narradas em quadras pelos cantadores do Teixeira.” (VIANNA, 2014, p.36).
Em terceiro lugar, a vida na Vila do Teixeira foi importante pela educação que Leandro recebeu do Padre Vicente Xavier de Farias [11]. Leandro teve acesso a diversas leituras, como as Escrituras Sagradas e a História de Carlos Magno e os Doze Pares de França. Além disso, várias irreverências de Leandro na juventude e seus conflitos com o Padre Vicente, que o levaram a fugir de casa, inspiraram, segundo Vianna, personagens de folhetos como Cancão de Fogo. (VIANNA, 2014, pp. 41-44).
Mudando-se para Pernambuco [12], onde passou a viver unicamente da venda de folhetos de cordel, Leandro se casou com dona Venustiniana Eulália de Sousa e teve quatro filhos: Rachel, Esaú, Julieta e Herodias. Arievaldo também identifica algumas influências do convívio familiar nos folhetos de Leandro, a exemplo da convivência com a sogra. Segundo Vianna, “uma análise da obra de Leandro demonstra a sua constante ojeriza pela figura da sogra, o que leva a crer que o poeta mantinha uma relação tumultuada com a mãe de sua esposa.” (VIANNA, 2014, pp. 47-48).
Analisando os próprios folhetos de Leandro, que trazem pistas biográficas sobre o poeta, e relatos de contemporâneos, como Eustórgio Vanderley e Câmara Cascudo; Arievaldo também identifica algumas informações importantes: Leandro era “um homem cosmopolita, pois se mudara ainda adolescente para as imediações do Recife, uma das mais prósperas capitais do Brasil”; “lia regularmente, além dos livros úteis à sua pesquisa, jornais e revistas”, “andava constantemente de trem, hospedava-se em hotéis quando viajava e andava regularmente calçado de sapatos ou botinas” (VIANNA, 2014, p.62); “tinha um espírito aventureiro, gostava de viajar sertão afora, ora em lombo de burros e cavalos, ora nos trens da Great Western, percorrendo os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte.” (VIANNA, 2014, p.65).
O pioneirismo do poeta paraibano também se deu na questão da comercialização e distribuição dos folhetos de cordel. Vianna afirma que “nada se compara ao tino comercial, ao estro prolífico e a persistência de Leandro Gomes de Barros”, que fez com que “fossem criados pontos de venda em vários Estados brasileiros, fazendo com que sua produção se espalhasse por todo o país, sobretudo nos estados do Norte-Nordeste.” (VIANNA, 2014, p.72). Além da venda direta, Leandro também utilizava os serviços do correio para venda, o que era divulgado na própria contracapa dos folhetos.
O capítulo mais polêmico é o décimo, intitulado “Leandro x Athayde”, no qual Vianna discute a apropriação que João Martins de Athayde fez das obras de Leandro. Após a morte de Leandro, em 1918 [13], Athayde adquiriu os direitos autorais sobre a obra do poeta paraibano em um negócio realizado e registrado em cartório com a viúva de Leandro. Quando Athayde passou a publicar os folhetos de Leandro, ele retirou o nome do poeta da autoria, colocando o seu próprio como editor-proprietário e, depois, como autor dos folhetos. Soma-se a isso, o fato de Athayde em alguns folhetos alterar o acróstico na última estrofe, de forma a apagar as pistas da autoria de Leandro.
Arievaldo Vianna ataca Athayde de várias formas. Primeiramente, aponta que o seu biografado tinha mais qualidade poética, afirmando que Athayde “não tinha a mesma verve criativa de Leandro”, “não tinha o senso crítico, a sátira mordaz e afiada do velho poeta de Pombal nem sua habilidade para extrair romances inéditos da própria cachola” (VIANNA, 2014, pp. 88-89). Em segundo lugar, afirma que a apropriação e a adulteração da obra de Leandro não foi algo inocente, pelo contrário, “foi um ato pensado, medido e bem calculado”, Athayde “jamais agiu dessa maneira por ingenuidade, desinformação ou desejo de preservar a sua ‘propriedade literária’”, pois, para isso, bastava colocar seu nome como Editor-Proprietário, mantendo o nome do autor e respeitando os acrósticos no final do poema (VIANNA, 2014, pp. 99-100).
Vianna também questiona alguns pesquisadores “simpatizantes do poeta João Martins de Athayde”, que tentam atribuir a ele a autoria de alguns folhetos “comprovadamente escritos e editados por Leandro, baseados em informações nebulosas, que nas mãos de um leitor mais atento e informado são facilmente dissipadas.” (VIANNA, 2014, p.93). Vianna critica autores como Umberto Peregrino, Átila de Almeida, Liêdo Maranhão de Sousa, Waldemar Valente e Mário Souto Maior. A título de exemplo, iremos apontar o comentário que ele faz a Umberto Peregrino na obra Literatura de cordel em discussão, de 1984. Peregrino, baseado em Átila de Almeida, aponta que o folheto Meia-Noite no Cabaré é de autoria de Athayde, que teria se inspirado na obra A noite na taverna, de Álvares de Azevedo. Leandro não teria sido o autor da obra porque, conforme Almeida, “jamais se daria a leituras como a de Camões ou de Álvares de Azevedo.” (VIANNA, 2014, pp. 93-95). Para rebater essa afirmação, Vianna indica que Leandro era leitor assíduo de vários livros que eram fonte de inspiração para seus folhetos, citando estofes do folheto História da Donzela Teodora, além de apontar vários outros que eram inspirados em livros: Batalha de Oliveiros com Ferrabrás, inspirado no livro Carlos Magno e os Doze Pares de França; Juvenal e o Dragão, que vem do conto “Os três cães” de Figueiredo Pimentel; A vida de Pedro Cem, que é inspirado num livro de origem lusitana; Os Martyrios de Christo, inspirado em O Mártyr de Gólgotha, do romancista espanhol Enrique Pérez Escrich; A filha do pescador, inspirado num conto das Mil e uma noites. (VIANNA, 2014, p.94). Além disso Leandro certamente frequentava a livraria de seu genro, Pedro Batista, que possuía clássicos da Literatura portuguesa e brasileira. A defesa que Arievaldo Vianna faz de seu biografado na autoria de folhetos atribuídos a Athayde é tanta que, curiosamente, ele critica até mesmo o seu irmão, o seu poeta Klévisson Viana, que teima em atribuir o romance História de Roberto do Diabo à Athayde (VIANNA, 2014, p.96).
Essa “campanha” para restituir a Leandro Gomes de Barros a autoria de folhetos identificados como sendo de Athayde também foi feita por Aderaldo Luciano em seu livro Apontamentos para uma história crítica do cordel brasileiro, de 2012 [14]. Contudo, ao contrário de Vianna, que identifica autores “simpatizantes” de Athayde, Luciano aponta que a insistência de atribuir folhetos de Leandro a Athayde são resultados de “pesquisadores e estudiosos que não têm vivência e se recusam a conhecer as nuanças, os detalhes, do cordel” (LUCIANO, 2012, p.75), da “falta de averiguação das informações recebidas por alguns pesquisadores” e, “muitas vezes, a preguiça de pesquisar de certos estudiosos” (LUCIANO, 2012, p.77).
Por fim, Arievaldo Vianna analisa uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, intitulada “Leandro, o poeta”, publicada no Jornal do Brasil em 1976; na qual Drummond elogia o poeta cordelista afirmando que ele deveria ter recebido o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, ao invés de Olavo Bilac. Este artigo, “tem sido utilizado exaustivamente pelos admiradores de Leandro como uma prova incontestável de seu talento, afinal de contas, trata-se do reconhecimento de um medalhão das nossas letras.” (VIANNA, 2014, p.113). Contudo, Vianna questiona alguns termos que Drummond utiliza para se referir a Leandro, pois este “não era totalmente ‘inculto’ e ‘iletrado’.” (VIANNA, 2014, p.117). Drummond também se equivoca, segundo Vianna, quando considera a obra de Leandro “pobre de ritmos, isenta de lavores musicais, sem apoio livresco”, pois Leandro tinha sim “métrica, ritmo, conhecimento de gramática e apoio livresco.” (VIANNA, 2014, p.120).
Logicamente, Leandro Gomes de Barros: vida e obra ainda deixa algumas lacunas acerca da vida do “pai da literatura de cordel”. A impressão que dá ao leitor é que o livro termina rápido demais comparado a outras biografias. Contudo, há de se mencionar a dificuldade no acesso às fontes. Em certo trecho, Vianna menciona que “se já era difícil” para pesquisadores como Sebastião Nunes Batista e Ruth Terra, que conviveram com descendentes diretos de Leandro, “mais difícil ainda é para o pesquisador de hoje, com poucos recursos financeiros e nenhum incentivo à sua pesquisa (VIANNA, 2014, p.27). Assim, é importante relembrarmos de Jacques Le Goff, que observa que é a documentação que dita a ambição e os limites de investigação do historiador na escrita de uma biografia histórica (LE GOFF, 1999, p.22). Diferente do romancista, por exemplo, que não raras vezes vai além do que diz as fontes e abusa da criação e da imaginação. Já o historiador deve “saber respeitar aqui as falhas, as lacunas que a documentação deixa” (LE GOFF, 1999, p.21). Assim, Arievaldo Vianna age como um verdadeiro historiador.
Ao pensar teoricamente a biografia histórica, Le Goff questiona a oposição entre o indivíduo e a sociedade. Esse é um “falso problema”, pois “o indivíduo não existe a não ser numa rede de relações sociais diversificadas”, sendo necessário o conhecimento da sociedade “para ver nela se constituir e nela viver uma personagem individual.” (LE GOFF, 1999, p.26). No caso de Leandro Gomes de Barros: vida e obra, Arievaldo Vianna consegue pensar a produção cordelística de Leandro articulada com o contexto histórico em que viveu e perscrutar a teia de relações sociais e culturais que possibilitaram o sucesso do poeta paraibano na divulgação de seus folhetos no Norte e Nordeste do Brasil no início do século XX. Em nosso entendimento, é uma obra fundamental para quem quer conhecer e se aprofundar na história da literatura de cordel no Brasil; e importante de ser retomada neste momento de festejos pelo reconhecimento do cordel como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.
Notas
1. Doutorando em História Social da Amazônia pela UFPA. Professor da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) de Belém-PA, e da Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC).
2. Ver “Literatura de cordel recebe título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro”. Portal G1 PE. 19 set. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/09/19/literatura-de-cordelrecebe-titulo-de-patrimonio-cultural-imaterial-brasileiro.ghtml. Acesso em: 20 set. 2018.
3. Dentre os folhetos, podemos citar , A mulher fofoqueira e o marido prevenido, A raposa e o Cancão, As proezas de Broca da Silveira, Atrás do pobre anda um bicho, Brasil – 500 anos de resistência popular, Encontro com a consciência, Encontro de FHC com Pedro Álvares Cabral, Galope para Patativa e Castro Alves, História da Rainha Ester, Luiz Gonzaga o rei do baião, O príncipe Natan e o cavalo mandingueiro.
4. Segundo Arievaldo Vianna Lima, “o Projeto Acorda Cordel na Sala de Aula propõe a revitalização do gênero e sua utilização como ferramenta paradidática na alfabetização de crianças, jovens e adultos e também nas classes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a partir do lançamento de uma caixa de folhetos, contendo 12 obras de diferentes autores, para ser trabalhada nas escolas acompanhadas deste livro.” (LIMA, 2006, p.14).
5. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) foi fundada no dia 7 de setembro de 1988, e tem como presidente o poeta Gonçalo Ferreira da Silva. Sua sede é no Rio de Janeiro, e possui 40 cadeiras que são ocupadas pelos “imortais”, que são poetas cordelistas ou pesquisadores do cordel. Ver Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Disponível em: http://www.ablc.com.br/ Acesso em: 20 set. 2018.
6. Ver o blog Acorda cordel. Disponível em: http://acordacordel.blogspot.com/ Acesso em: 20 set. 2018.
7. Os apêndices são: “Fatos importantes da vida de Leandro por ordem cronológica” e “Entrevista de Arievaldo Viana ao jornal Diário de Pernambuco, nos 90 anos de morte de Leandro.”
8. Marco Haurélio é poeta popular, editor e folclorista. Em cordel, tem vários títulos editados, dentre os quais: Presepadas de Chicó e Astúcias de João Grilo; História da Moura Torta e Os Três Conselhos Sagrados (Luzeiro). Possui um blog intitulado Cordel Atemporal. Disponível em: http://marcohaurelio.blogspot.com/ Acesso em: 21 set. 2018.
9. Gilmar de Carvalho é Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Autor de diversas publicações, dentre as quais destaca-se Patativa do Assaré − Uma biografia, já em terceira edição, Lyra Popular: o cordel do Juazeiro, em segunda edição, e A xilogravura de Juazeiro do Norte.
10. Jô Oliveira foi aluno da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Durante seis meses estudou desenho animado no Stúdió Pannónia, e depois frequentou a Academia Húngara de Artes Aplicadas (Magyar Iparmüvészeti Föiskola, hoje conhecida como Universidade Moholy-Nagy de Arte e Design), onde concluiu o curso de Artes Gráficas. Os seus primeiros trabalhos, livros e quadrinhos, foram impressos nos anos 70 na Itália. Publicou também livros na França e Alemanha, e seus quadrinhos tiveram edições na Espanha, Itália, Grécia, Sérvia, Dinamarca, Argentina e Brasil. Jô participou em exposições de ilustração em várias partes do mundo. Desenhista de selos postais, criou mais de 50 peças filatélicas para os Correios. Ver o site O Brasil de Jô Oliveira. Disponível em: Acesso em: https://www.obrasildejooliveira.com.br/ Acesso em: 21 set. 2018.
11. O Padre Vicente Xavier de Farias também foi um líder político influente chegando a eleger-se deputado ainda no tempo da Monarquia. Por conta disso granjeou a antipatia de alguns adversários que lhe dirigiam pesadas críticas através dos jornais da capital da Paraíba do Norte. (VIANNA, 2014, p.37).
12. Em Pernambuco, Leandro Gomes de Barros residiu em Vitória de Santo Antão, Jaboatão e em Recife.
13. Em relação à morte de Leandro, Arievaldo Vianna cita a certidão de óbito do poeta, que fora encontrado pela sua sobrinha-neta Cristina da Nóbrega nos cartórios do bairro de São José, no Recife. A morte do poeta se deu às 21:30 do dia 04 de março de 1918, tendo como causa mortis aneurisma. As informações da certidão de óbito foram prestadas por seu filho, Esaú Eloy de Barros Lima, que tinha então 17 anos. (VIANNA, 2014, p.109).
14. Para uma resenha da obra de Aderaldo Luciano, ver MENEZES NETO, Geraldo Magella de. Questionamentos à historiografia do cordel brasileiro. História da historiografia. Ouro preto, n.13, dez. 2013, p.220-225.
Referências
LE GOFF, Jacques. São Luís. Rio de Janeiro: Record, 1999. LIMA, Arievaldo Viana (org.). Acorda cordel na sala de aula. Fortaleza: Tupynanquim /Queima-Bucha, 2006.
LUCIANO, Aderaldo. Apontamentos para uma história crítica do cordel brasileiro. Rio de Janeiro; São Paulo: Edições Adaga; Luzeiro, 2012.
PRIORE, Mary del. Biografia: quando o indivíduo encontra a história. Topoi. v. 10, n.19, jul.-dez. 2009, p.7-16.
VIANNA, Arievaldo. Leandro Gomes de Barros: vida e obra. Fortaleza: Edições Fundação Sintaf/ Mossoró-RN: Queima-Bucha, 2014.
Geraldo Magella de Menezes Neto – Doutorando em História Social da Amazônia pela UFPA. Professor da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) de Belém-PA, e da Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC).
VIANNA, Arievaldo. Leandro Gomes de Barros: vida e obra. Fortaleza: Edições Fundação Sintaf. Mossoró-RN: Queima-Bucha, 2014. Resenha de: MENEZES NETO, Geraldo Magella de. Uma biografia de Leandro Gomes de Barros (1865-1918), o “pai da literatura de cordel”. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.24, p.389-399, ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Sensible Moyen Âge: une histoire des émotions dans l´Occident medieval | Damien Boquet e Piroska Nagy
Quando Gaia Ciência foi publicada pela primeira vez em 1881, Friedrich Nietzsche afirmou:
Quem quiser estudar de agora em diante as questões morais terá diante de sí um imenso trabalho. Existe toda uma série de paixões que devem ser levadas em consideração, observadas separadamente e através das épocas e dos povos nos grandes ou pequenos indivíduos, temos que lançar luz em sua forma de raciocinar, valorizar e esclarecer as coisas. Até hoje nada do que da cor a existência tem todavia sua história, pois quando foi feita uma história do amor, da ganância, da consciência, da piedade, da crueldade? (NIETZSCHE, 1981, p.25)
A citação de Nietzsche é mais que uma simples análise do campo científico ocidental. É um chamado a pensadores, filósofos e cientistas das mais diversas áreas do conhecimento para formular histórias, perguntas e questionamentos acerca dos modos de sentir dentro das questões humanas.
De certo modo, as palavras do filósofo alemão ficaram adormecidas ao longo das décadas. Isso não significou, no entanto, que as emoções não tivessem sido problematizadas nas páginas de livros de historiadores, sociólogos e antropólogos. Podemos destacar dentro desse cenário, títulos como Outono da Idade Média de Johan Huizinga (1919), Sexo e repressão na sociedade selvagem, de Bronislaw Malinowski (1927) e O processo civilizador de Norbert Elias (1939). Estas obras, no entanto, não tinham por pretensão estabelecer um campo autônomo do conhecimento que tratasse as emoções como uma propriedade e que trouxesse à luz os fenômenos culturais mais profundos, que a linguagem e os múltiplos filtros dos códigos sociais não conseguiram conter. Diferentemente do livro aqui resenhado, as emoções ainda eram pouco destacadas ou ocupavam um lugar secundário frente a outras dimensões da vida social. Sensible Moyen Âge: une histoire des émotions dans l´Occident medieval é um exercício de pesquisa histórica que tem nas emoções e suas expressões, exatamente os protagonistas do processo, de tal forma que enxergamos e compreendemos a dinâmica dos processos sociais a luz das emoções retratadas.
É na década de 1990, com o advento da neurociência, por exemplo, que as emoções são “convidadas” a ocupar um lugar de destaque nas páginas da historiografia, ao lado de conceitos como luta de classes, mentalidades, cultura etc. No campo historiográfico é impossível deixar de citar a produção dos historiadores estadunidenses, Barbara Rosenwein e William Reddy que exploram a relação entre emoção e cognição, desenvolvendo uma teoria de expressões emocionais e buscando codificar as emoções e suas manifestações. Para Rosenwein (1998), por exemplo, que cunhou o termo comunidades emocionais para estabelecer a íntima relação entre a vida social e a dimensão emocional, o historiador das emoções não deve apenas atentar para a emoção em si, mas para o produto social (discurso). Isso implica na ideia de emoção como uma ancora entre signo e o mundo, encontrando as emoções nos gestos e palavras.
Desse modo, é a partir destes marcos fundacionais que é possível situar o livro Sensible Moyen Âge: une histoire des émotions dans l’occident medieval dos medievalistas Piroska Nagy, professora da Universidade de Quebec e pesquisadora vinculada ao Centro de Excelência para a História das Emoções entre 2014-1017 e que também escreveu Le don des larmes na Moyen Âge. Un instrument spirituel in aqueleuse d’institution, Ve-XIIIe siècle (2000) e Damien Boquet, mestre de conferência da Universidade de Aix-Marseille e ex- membro do Institut Universitaire de France e coordena juntamente com Nagy o programa “EMMA” (Emoções na Idade Média).
A obra lança um olhar que se ancora dentro do desafio de apresentar e explicar o papel, as representações e especialmente a evolução das emoções, que são entendidas como processos e manifestações dentro de um dispositivo cultural. As emoções não são consideradas como inerentemente irracionais, como se não seguissem padrões racionais. Elas são demonstrativos significativos que justificam e legitimam publicamente os atos praticados. Os historiadores não negam os aspectos biológicos da dimensão emocional, mas reforçam os sentidos sociais da emoção, reforçando as mesmas como zonas de interação e conflito entre o individuo e a sociedade. Mais especificamente na obra em questão, o que chama a atenção é que a emoção é compreendida por meio de aspectos culturais e é expressa em termos de sensibilidades e afetos no interior da sociedade medieval entre os V e XV século.
A obra esta dividida em nove capítulos, com cerca de quatro a cinco subtítulos e cobrem aproximadamente os 10 séculos tidos como tradicionais da História dita Medieval. O livro está organizado tanto cronologicamente – no qual acompanhamos século a século – quanto tematicamente – pelo qual as emoções são agrupadas em temas.
Nas palavras dos autores, “este livro propõe uma história cultural da afetividade do Ocidente medieval” (BOQUET e NAGY, 2015, p.17. Tradução nossa)2. A emoção surge em imagens e textos da cultura medieval e “reside no coração da antropologia da Idade Média Ocidental” (BOQUET e NAGY, 2015, p.17. Tradução nossa) [3]. Somos convidados, nas páginas do livro, a conhecer uma história que associa processos cognitivos (imaginação, memória, etc.) e se articula com aspectos psicológicos e de uma história social.
Interessar-se pela história das emoções não significa promover uma história do indivíduo, a microscópica, uma história segmentada; pelo contrário, é uma história antropológica, no auge do homem, de todo o ser humano e de singularidades compartilhadas (BOQUET e NAGY, 2015, p.17. Tradução nossa) [4].
Uma boa parte da concepção medieval das emoções e da vida afetiva no Ocidente foi elaborada entre o século III e VI como os autores demonstram no capítulo La christianisation des affects. Os afetos são cristianizados e adquirem novas e originais concepções. Existe com o cristianismo, uma integração da alma humana, entre passio e ratio. A emoção faz parte, agora, da dimensão racional. Para os antigos, a emoção diz respeito à irracionalidade da natureza humana. Platão e Aristóteles, por exemplo, afirmavam que a emoção é um valor ontológico da natureza humana e está ligada a alma irracional. Os Estoicos assim como Santo Agostinho, veem na emoção um movimento da alma que provoca mudança corporal.
A Bíblia é um exemplo. Ela está saturada de emoções. O Antigo Testamento mostra um Deus zangado e misericordioso com seu povo e que oferece (Novo Testamento) um filho dotado de emoções virtuosas: amor, paixão e sofrimento. Deus enviou seu Cristo que sofre por amor para salvar a humanidade. Deste modo, a Bíblia não é apenas um depósito de emoções humanas, mas também de emoções que são de Deus. Desde então, a humanidade é dominada pela vida emocional e busca direciona-las ou afasta-las de Deus, na medida em que participam do sistema de vícios e virtudes que fazem parte da base da educação monástica, que compõe uma elite da sociedade cristã ideal. Converter as emoções em direção a Deus significa orientar-se para a salvação, adotando um comportamento que une uma disposição interior que está em consonância ao movimento espiritual (La cité du désir: le laboratoire monastique, capítulo II). O principal laboratório e matriz gestacional das emoções no Ocidente é o mosteiro. Os monges seguem uma orientação vertical da afetividade, controlando seus afetos e o contato com Deus substitui a solidão e instaura a amizade como um valor que produz boas emoções.
Entre os séculos V e X os textos normativos e morais escritos por monges e clérigos mapearam um processo de conversão de emoções, que foi primeiro dirigido ao mundo dos claustros, voltado para o mundo dos ambientes monásticos e posteriormente passando a ser dirigido para a sociedade laica (Des émotions pour une société chrétienne: Francie, v-x siècle, capítulo III). Um novo projeto de sociedade toma forma na base do laço social cristão por excelência, o amor da caridade e da amizade genuína, formulada no tempo de Carlos Magno e novamente na época daquilo que a historiografia convencionou chamar de Reforma Gregoriana.
No capítulo IV, L`apogée de l´affecct monastique, os autores centram suas análises no contexto da renovatio cristã para analisar o conjunto de processos que influencia a cultura emocional das sociedades do século XI. A reforma do monaquismo alimenta a possibilidade de contato direto com Deus através da expressão sincera de certas emoções.
Em estreita relação, e às vezes em conflito com a valorização religiosa do desejo e a ofensiva clerical para espiritualizar o amor conjugal e enquadrar a vida interior, uma literatura da corte em língua vernácula torna visível uma cultura complexa e refinada dos afetos, expressão dos valores e tensões que atravessam círculos aristocráticos e burgueses, como atesta o capítulo V, Éthique et esthétique des émotions aristocratiques à l´âge féodal. A partir do final do século XI, nos círculos de mosteiros e escolas urbanas, a ascensão de um espírito naturalista leva à integração de emoções na natureza humana, (La nature émotive de l´homme, capítulo VI).
Esses diferentes discursos traduzem e difundem um fenômeno de valorização crescente das emoções no final da Idade Média, cujos usos religiosos e sociais parecem mais do que nunca ricos e diversificados (Politiques des émotions princières, capítulo VII). Nós vemos isso na teoria política e nas práticas do governo principesco, que dão orgulho às emoções. As emoções, contrariando a máxima de muitos cientistas sociais que as vincula como uma dimensão irracional e universal da natureza humana apoiam-se, como vemos nesse capítulo, as estratégias de governabilidade e integram as artes de governar. O jovem príncipe deve aprender muito cedo a dominar um código de emoções – que diz respeito à expressão de raiva e tristeza – que lhe é ensinado nos Espelhos de Príncipe.
Em outro nível, a extraordinária promoção da Encarnação e da Paixão de Cristo, na Idade Média, aumenta ainda mais a eficácia emocional religiosa, ligando-a indefinidamente à sua dimensão incorporada: esses são os fundamentos do misticismo afetivo dos séculos XIII XIV, que mantém relações ambíguas com a instituição eclesiástica (La conquête mystique de l´émotion, capítulo VIII). Como atestam os autores, Francisco de Assis “inaugura por meio de seus valores e de seus atos uma nova comunicação com o sagrado, um novo paradigma religioso” (BOQUET e NAGY, 2015, pp. 268-269. Tradução nossa) [5]. O santo de Assis é no relato hagiográfico centro de uma emoção encarnada, permitindo uma nova forma de manifestar a presença divina na Terra. A emoção encarnada é constituída pela tensão entre o corpo e sua expressão emocional. Se antes a paixão era sinônimo de algo vicioso, a virada do ano 1000 a torna um auto sacrifício para seguir Deus, de forma a espiritualizar o carnal e material, tendo o afeto o veiculo de incorporação.
As emoções também têm seus ritos no campo religioso: rezar juntos, procissão, assistir a sermões, ir a peregrinações ou cruzadas, se esforçar para expiar suas faltas ou as de todos os cristãos, etc. Essas expressões, que nos parecem excessivas, não são histéricas e descontroladas. Pelo contrário, eles se expressam em rituais que visam canalizá-los. Os santos místicos foram, sem dúvida, os que impulsionaram as mais profundas explosões de emoções, ligadas a uma nova devoção à humanidade de Cristo. Eles têm visões e espasmos, choram, jejuam ou buscam se satisfazer com Deus de uma maneira bulímica, entram em êxtase, experimentam levitações, vivem uma fusão amorosa com Deus.
A característica mais marcante desse grupo místico, sem duvidas é o fato de existiram um numero considerável de mulheres, tais como freiras, leigas e membras das Terceiras Ordens Mendicantes que experimentaram fenômenos indistintamente espirituais, tanto afetivos quanto corpóreos; os efeitos textuais que fluem através das fontes, portanto, são responsáveis pela ampla circulação de modelos de várias origens. O caminho tomado por essas mulheres, às próprias modalidades de seu caminho permitem explicar não apenas o sucesso, mas também a eficácia religiosa e social da devoção emocional e incorporada. A imaginação, uma função cognitiva a meio caminho entre a inteligência racional e os sentidos corporais – em primeiro lugar, a visão – desempenha um papel muito importante na devoção emocional. Atuando diante de imagens tão onipresentes em igrejas do final da Idade Média, a imaginação atua como um trampolim poderoso na prática da piedade meditativa que recorre à afetividade, às metáforas corporais ou ao próprio uso do corpo. “As emoções engendram experiências corporais, de incorporação, de identificação ou de união dos corpos de Cristo e da Virgem ou de um santo” (BOQUET e NAGY, 2015, pp. 275. Tradução nossa) [6].
E finalmente, as fontes mais numerosas e diversificadas dos últimos séculos da Idade Média possibilitam abrir uma janela para as emoções das populações anônimas, principalmente nas cidades, ressaltando não só a diversidade das culturas emocionais, em especial as apostas do uso da cultura emocional no relacionamento social (L´émotions commune, capítulo IX).
Qual é a imagem criada da Idade Média Ocidental paginas do livro? É um período histórico marcado por uma hipersensibilidade, como atestou Huizinga? Um momento de transição marcado pelo controle das pulsões emocionais como observou Elias? A resposta dos autores é mais simples: os homens e mulheres que viveram entre os séculos V e XV construíram um modelo cristão de afetividade, que penetrou nas mais diversas camadas sociais interagiu com diferentes grupos sociais, dando origem a uma sociedade que não se situa entre dois momentos históricos diferentes, mas que reforça a própria vitalidade e força de suas particularidades.
Em um balanço geral, a obra apresenta um ponto positivo que merece ser destacado: a articulação entre a expressão emocional e os contextos sociais evidenciam os vínculos existentes entre a dimensão cognitiva e o mundo que cerca os homens. No entanto, em minha opinião, o livro possui um ponto fraco: a organização cronológica confere a obra uma visão fragmentada do todo. Existe pouca relação entre os temas dos capítulos. O conteúdo de um não comunicasse com os demais, dando a impressão e que os mesmos funcionam de forma independente. Outro ponto negativo que merece ser destacado é o fato de que para cada século analisado, existe uma expressão emocional correspondente, de forma que elas parecem hegemônicas no cenário social. Essa abordagem dos autores permite tecer algumas indagações: a sensibilidade expressa num período é hegemônica? Existem emoções “eclipsadas” no tecido social? As emoções atuam como normalizadoras da vida social, impedindo a manifestação conflitante ou não de outras emoções?
“A história das emoções nos leva a nos conscientizar da infinita maleabilidade cultural dessa estranha questão afetiva da qual somos feitos” (BOQUET e NAGY, 2015, p.347. Tradução nossa)[7]. O estudo atento das emoções medievais ajuda a compreender a constante fabricação social e a construção de identidades, fundindo o vinculo de suas expressões com Deus. As emoções agem na história em vários níveis: por sua dimensão cognitiva ou moral, por sua relação com o corpo que as impulsiona; as emoções criam linhas de força e de solidariedade. A emoção, a sensação, o pensamento e os atos manifestados criam vínculos entre os grupos e os indivíduos; a emoção modifica e participa tanto na formação quanto nas mudanças históricas.
A análise atenta das emoções como um modo de comunicação social descortina possibilidades até então pouco consideradas pelos historiadores e funciona como uma chave explicativa para as dinâmicas das relações sociais. Desse modo, o presente livro é um convite a todos aqueles – leigos ou especialistas – que se interessam sobre o tema e o resultado de um exercício criterioso e minucioso de erudição histórica.
Notas
1. Doutorando do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).
2. Tradução nossa: “Ce livre propose une histoire culturelle de l’ affectivité de l´Occident médiéval.” (BOQUET e NAGY, 2015, p.17)
3. Tradução nossa: au coeur de l´antropologique du Moyen Âge” (BOQUET e NAGY, 2015, p.17).
4. Tradução nossa: “S` intéresser à l´histoire des émotions ne veut donc pas dire promouvoir une histoire de l´individu, du microscopique, une hisire segmenté, au contraire, c´est une histoire anthropologique, à hauteur d´homme, de l´être humain entier et des singularités partagées.” (BOQUET e NAGY, 2015, p.17).
5. Tradução nossa: “François inaugure par se valeurs et ses actions um nouveau modedu communication du sacré, um nouveau paradigme religieux”(BOQUET e NAGY, 2015, pp. 268-269).
6. Tradução nossa: “Ces émotions engendrent à leur tour des expériences corporeççes, sinon des expériences d´incorporation, d´identification ou d´union au corps du Christ, de la Vierge ou d´um saint” (BOQUET e NAGY, 2015, pp. 275).
7. Tradução nossa: “L´histoire des émotions nous conduit à prendre conscience de l´infinie malléabilité culturelle de cette étrange matière affective dont nous sommes faits.” (BOQUET e NAGY, 2015, p.347).
Referências
MALINOWSKI, Bronilaw. Sexo e repressão na sociedade selvagem. Petrópolis: Editora Vozes, 1973.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990.
HUIZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Hemus, 1981.
REDDY, William M. Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in the Era of the French Revolution. In: The Journal of Modern History, 72, march 2000.
ROSENWEIN, B. H (Ed). Anger’s past: the social uses of an emotion in the Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 1998.
Douglas de Freitas Almeida Martins – Doutorando do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).
BOQUET, Damien; NAGY, Piroska. Sensible Moyen Âge: une histoire des émotions dans l´Occident medieval. Paris: Éd. Le Seuil, 2015. Resenha de: MARTINS, Douglas de Freitas Almeida. Por uma antropologia do afeto: emoções, afetos e Idade Média. Aedos. Porto Alegre, v.11, n.24, p.400-407, ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
O Estado na teoria política clássica: Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas | Doacir Gonçalves de Quadros
Doacir Gonçalves de Quadros tem graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Política e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atualmente é professor do Centro Universitário Internacional (UNINTER) nos cursos de Ciência Política, Relações Internacionais, Direito, Comunicação Social e Secretariado Executivo. Como pesquisador atua nos seguintes temas: Teoria Política, Estado, Sociologia Política.
A obra intitulada O Estado na teoria política clássica: Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas, contendo 139 páginas, se divide em três capítulos. O primeiro, nomeado O Estado na teoria política grega clássica, se fixa em levantar os pressupostos iniciais para pensar o Estado. Para tanto, retorna-se às formas de governo aplicadas pelas propostas dos filósofos Platão e Aristóteles, abordando de início a obra A república de Platão, em que são examinados os contornos de sua teoria e a posterior classificação das formas de governo. Leia Mais
La enseñanza de la historia: Entre viejos y nuevos paradigmas: el estudio de los movimientos sociales desde el Siglo XX como “procesos de construcción social de la realidade” – BRUÑAS; CEJAS (REH)
Detalhe do Mural “Del Porfirismo a la Revolución” (1957-1966), de David Alfaro Siqueiros. http://mediateca.inah.gob.mx/
 BRUÑAS, Ana Maria; CEJAS, Elvira Isabel Cejas (Editoras). La enseñanza de la historia: Entre viejos y nuevos paradigmas: el estudio de los movimientos sociales desde el Siglo XX como “procesos de construcción social de la realidade”.[Sn.]: APEHUN, 2019, 240p. Resenha de: PARRA, Erwin. Reseñas de Enseñanza de la Historia, n.17, p.207-214, ago. 2019.
BRUÑAS, Ana Maria; CEJAS, Elvira Isabel Cejas (Editoras). La enseñanza de la historia: Entre viejos y nuevos paradigmas: el estudio de los movimientos sociales desde el Siglo XX como “procesos de construcción social de la realidade”.[Sn.]: APEHUN, 2019, 240p. Resenha de: PARRA, Erwin. Reseñas de Enseñanza de la Historia, n.17, p.207-214, ago. 2019.
Promediando la segunda década del siglo XXI, aparecen en la escena pública una serie de demandas que se van visibilizando a partir de la ocupación de los espacios públicos. ¿Son nuevos movimientos sociales? o son ¿Nuevas demandas en donde se recuperan los antiguos repertorios de protesta? Sin dudas son interrogantes que penetran en las aulas de historia y que necesitan ser abordadas como objeto de enseñanza. Este desafío es recuperado por APEHUN que nos presenta en este libro una serie de trabajos para su abordaje desde la didáctica de la historia.
Abordar desde la enseñanza de la historia a los movimientos sociales del siglo XX y XXI considerando los aportes de la historiografía, permite trabajar en las aulas de las escuelas secundarias la realidad social. Por su polisemia y sus propias lógicas se transforman en una fuente inagotable de herramientas para el abordaje de la historia escolar, posibilitando al estudiantado pensar en futuros posibles de ser construidos. Es a partir de este desafío que los miembros de la asociación se movilizan para ofrecer una serie de herramientas para el profesorado que permita recuperar las demandas del estudiantado que se ve interpelado en la construcción de sus propias ciudadanías.
Este libro invita a sus lectores a pensar el presente desde una perspectiva de la movilización social y hacia lo conquista de derechos. Se presentan propuestas, ensayos y narrativas que dan cuanta de los fenómenos sociales de repercusión nacional y de movilizaciones em las provincias del interior del país, algunas de ellas poco conocidas y que se pierden en los avatares de la historia Argentina.
En la primera parte del libro el lector se encontrará con tres ensayos que abordan diferentes temáticas sobre la movilización de la sociedad en Argentina. El primero de ellos aborda el conflicto de los pueblos originarios y su demanda por una educación que respete su propia cultura. El segundo ensayo busca dar cuenta de la movilización social a partir de la década de los noventa y los conflictos sociales que se producen, haciendo hincapié en las dinámicas propias de cada uno de estos movimientos para dar cuenta de posibles cambios y continuidades. Por último se podrá leer en la sección de ensayos reflexiones sobre la crisis institucional que se produce a partir del 2001 y las posibles salidas institucionales que se presentan en particular en la ciudad de Río Cuarto.
La segunda parte del libro plantea dos narrativas que recuperan propuestas de enseñanza presentadas en 2017 y 2018 respectivamente.
En la primera de ellas se plantea a la reforma universitaria como contenido a enseñar, recuperando tensiones y conflictos al momento de pensar en la práctica áulica. La segunda narrativa da cuenta de la puesta en práctica de la secuencia presentada en el Simposio de APEHUN en 2017, que busca trabajar la Revolución Mexicana y como es aprendida por el estudiantado. En la tercera sección del libro se presentan diez propuestas de enseñanza para el abordaje de los movimientos sociales del siglo XX y XXI. Estas propuestas están pensadas y construidas poniendo como centralidad como se constituyen estos movimientos, el repertorio de protestas y la emergencia de nuevos sujetos y sujetas sociales que emergen en el siglo XXI.
Sin dudas el lector se encontrara con una lectura sugestiva que le permitirá pensar y construir sus propias propuestas en la enseñanza de la historia.
En el capitulo uno, Paula Karina Carrizo Orellana, presenta en este ensayo las demandas de los pueblos originarios por el respeto a su identidad. Esta demanda se focaliza en la educación intercultural donde el movimiento indígena reclama y exige a partir de hacer visible sus reclamos para que sean considerados al momento de establecer las estructuras institucionales de las escuelas primarias en el noroeste argentino. El trabajo nos invita a pensar entre lo que se plantea en la ley y las formas en que las jurisdicciones no consideran a los pueblos originarios como sujetos de derecho. A su vez que presenta cuales son los actuales desafíos, tensiones y patencias del movimiento indígena para construir una verdadera educación intercultural.
En el capitulo dos, Elvira Isabel Cejas y Ezequiel Omar Sosa, plantean en su ensayo una serie de cambios en la conceptualización y categorización teórica sobre los movimientos sociales, poniendo en tensión la idea de movimientos tradicionales. Para poder ser pensados desde la multiperspectividad. A la luz de esas nuevas lecturas analizan los movimientos sociales de la década de los noventa, haciendo foco en los contextos donde se materializan, identificando a los sujetos que se manifiestan, las demandas que se presentan en plena etapa del neoliberalismo. A partir de este análisis se podrá leer una serie de categorizaciones que se materializan en prácticas y repertorios de protesta, que serán sin dudas una fuente de debates y diálogo con el ensayo. Considerando a los mismos como una forma de abordar la enseñanza de la historia reciente, para proyectar futuros posibles.
En el capitulo tres, Eduardo José Hurtado, reflexiona sobre el modelo de exclusión y desigualdad neoliberal, en el cual amplios sectores quedan marginados durante la crisis desatada en el 2001. Para ello recupera las formas organizativas de estos sectores en la ciudad de Río Cuarto, permitiéndole establecer paralelismo con otras formas de organización que se pueden observar a nivel nacional. De esta manera analiza los procesos de crisis institucional y como esta impacta sobre la vida de los riocuartenses. Considerando los fenómenos de organización local en este caso, la Coordinadora de desocupados “Agustín Tosco” y el Movimiento de Ciudadanos Autoconvocados. A la luz de ambos movimientos busca dar cuenta de cómo es que las demandas de la sociedad civil se institucionalizan. Considerando los momentos de gran visibilidad y movilización y otros en las cuales dichas organizaciones mutan hacia otras formas de prácticas políticas.
En el capitulo cuatro, David Checa, presenta una narrativa sobre la reconstrucción de clase en un aula de Educación Superior Terciaria, en donde el eje esta puesto en la reforma Universitaria del 1918. En su narrativa se destaca la posibilidad de pensar a la secuencia didáctica como una hipótesis que al momento de desarrollarse, que en palabras del autor, necesariamente debe ser modificada. El trabajo a su vez tiene una impronta reflexiva sobre la práctica áulica, y como los estudiantes conciben a la Educación Superior y el derecho a la educación de toda la sociedad. A su vez que rescata la posibilidad de pensar en las futuras prácticas docentes de quienes están en formación.
El eje esta puesto en la reforma del dieciocho pero con una clara visión de futuro. El trabajo de la realidad social pensada en clave problematizadora es el eje rector de la secuencia didáctica, construida, pensada y reformulada en su implementación.
En el capitulo cinco, Arturo Dábalo presenta en su narrativa un análisis reflexivo al momento de abordar una clase de historia en la escuela secundaria. En esta narrativa toma como eje la revolución mexicana para ser trabajada en aulas del ciclo básico. A partir de poner en práctica una secuencia que el recupera sobre esta temática, la repiensa considerando el contexto en el cual va ser llevada adelante. Lo primero que destaca son sus propios estereotipos construidos sobre el estudiantado, a su vez que indaga sobre las formas en que fluye el aprendizaje en el aula. Es en la reflexión profesoral que logra identificar las potencialidades y dificultades que se presentan al momento de abordar fuentes históricas, ya que considera en su etapa reflexiva que no todos los estudiantes construyen aprendizajes de la misma manera ni en los mismos tiempos. La narrativa se presenta como una instancia del aprendizaje en el oficio de ser docente.
En el capitulo seis, Miguel Jara, Erwin Parra y Alicia Garino, abordan la historia escolar considerando a los nuevos movimientos sociales en Argentina y América Latina poniendo el foco en el caso de las movilizaciones de las mujeres como sujeto protagonista. El trabajo se desarrolla desde un análisis sobre lo que se entiende como nuevos movimientos sociales considerando las diferentes perspectivas teóricas. En una segunda instancia se indaga sobre los nuevos movimientos sociales y la cuestión de género para poder pensar la relación existente entre los denominados viejos y nuevos movimientos sociales. La propuesta se centra entonces en la introducción de temas socialmente candentes que atraviesan las aulas de las instituciones educativas. La finalidad de la propuesta es dotar al estudiantado de un andamiaje teórico que le permita indagar sobre los actuales procesos de movilización y reivindicación de los derechos de las mujeres a decidir.
En el capitulo siete, Marcelo Andelique, Lucrecia Álvarez y Mariela Coudannes, también nos invitan a trabajar la demandas de las mujeres, teniendo en cuenta el repertorio de protestas y sus demandas. Esta propuesta se inicia con los marcos teórico-metodológico y didáctico para el abordaje, en primer lugar como se concibe a los movimientos sociales, para enfocarse en el movimiento de mujeres, para luego pensarlo desde una perspectiva problematizadora considerando que son problemas sociales candentes o socialmente vivos. Para ello proponen trabajar a partir de una secuencia didáctica, la violencia de la legalización del aborto y la huelga internacional de mujeres. Para ello ofrecen una serie de recursos potentes para el desarrollo de una propuesta que permite abordar temas que interpelan a la sociedad toda.
En el capitulo ocho, Beatriz Angelini, Susana Bertorello y Silvina Miskovski se plantean la posibilidad de trabajar los problemas socio ambientales en la ciudad de Rio Cuarto. En la propuesta analizan las perspectivas de los movimientos sociales y como estos son abordados en la curricula de la provincia de Córdoba. Recuperando lo que se plantea desde lo ministerial adoptan como estudio de caso para trabajar en el aula de historia la Asamblea de Río Cuarto sin Agrotóxicos. Esta propuesta pone el eje en el análisis del desarrollo tecnológico y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. A partir de una serie de estrategias y recursos presentados proponen al estudiantado problematizar el impacto ambiental así como la posibilidad de pensar en posibles soluciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
En el capitulo nueve, Mariano Campilia, Florencia Monetto y Victoria Tortosa proponen trabajar el rol de las mujeres en la movilización social. Considerando su lugar de invisibilidad pero a su vez la centralidad que ellas ocupan en dos momentos centrales de la historia, el Cordobazo y el surgimiento del movimiento ni una menos. Para desarrollar su propuesta lxs autores se ubican en el lugar del conflicto, como eje estructurarte para pensar el rol de las mujeres en ambos fenómenos. La construcción de las nuevas ciudadanías del siglo XXI, motiva la necesidad de trabajar al movimiento de mujeres y visibilizarlas como una demanda de las nuevas generaciones. Para ello trabajan una serie de recursos que ponen como centralidad las demandas de derechos que colectivos diversos de mujeres exigen para ellas.
En el capitulo diez, Roxana Gutiérrez y Mónica Olivera abordan el análisis de los enfoque sobre los movimientos sociales que circulan en los textos del nivel medio. La propuesta presentada está pensada para ser trabajada por docentes en formación. Tiene como finalidad el análisis sobre como la industria editorial presenta en los textos escolares a los movimientos sociales. Lo que se ofrece es la posibilidad que los estudiantes en formación profesoral incorporen en sus futuras prácticas, el plano teórico y metodológico y que sea parte de la formación pedagógica, pensando desde el lugar del que enseña y del que aprende.
El capitulo once, Verónica Huerga, María Laura Sena y Ana María Cudmani, proponen trabajar en las aulas de historia las luchas obreras tras los cierres de los ingenios azucareros tucumanos durante el Onganiato. La secuencia recupera el cierre del Ingenio San José como elemento disparador para analizar las luchas sociales de los sesentas, desde una perspectiva del presente considerando el contexto del estudiantado. Esto permite la posibilidad de ser pensada en un trabajo desde la Historia Reciente, recuperando la memoria e indagando sobre los procesos de luchas, y de los sujetos sociales que participaron. Una de sus finalidades es dar voz a los invisibilzados y que el estudiantado conozca, interprete, reflexione y se apropie de la historia de su lugar.
El capitulo doce, Pedro Andrés Juan, Camila Lenzi y Marcelo Sotelino ¿Por qué lucha el movimiento feminista en Argentina? En esta pregunta sugerente se presenta una propuesta que se plantea en clave comparada. Este trabajo se propone historizar las demandas del movimiento de mujeres, partiendo desde la invisibilización para hacerlas visibles. Es pensar en la historia de las mujeres, y en su presente como una construcción de generaciones que lucharon y luchan. La secuencia busca aportar a la construcción del pensamiento histórico del estudiantado y como este permite construir nuevas identidades y ciudadanías.
En el capitulo trece, Matías Druetta, Violeta Ehdad y Rocio Sayago plantean a los movimientos sociales desde las mujeres, es decir, incorporar la perspectiva de género para analizar a los nuevos movimientos sociales. De esta manera abordar la Educación sexual Integral como eje. La estrategia seleccionada se da a partir de la comparación lo que permitiría construir por parte de los estudiantes el pensamiento histórico habilitando espacios de debate y reflexión. Para ello se puede observar en la propuesta el rol central que cumplirán las mujeres durante los acontecimientos ocurridos en las ciudades de Cutral- Có y Plaza Huincul, durante las puebladas de 1997. A su vez que toman como otro caso el conflicto del agua en Cochabamba. Esto permite poder complejizar la explicación histórica y visibilizar los repertorios de protestas que permiten las transformaciones sociales.
En el capitulo catorce, Ana Maria Brunas, David Checa y Evelyn Gutiérrez nos proponen trabajar desde una historia conceptual en la cual se plantean dos dimensiones, la primera de ellas problematizar el conocimiento histórico y una segunda ligada a la ética. Estas dimensiones son desarrolladas a partir de três casos, “El farallonazo”, “El Catamarcazo” y las Marchas del Silencio. Se possibilita a partir de un binomio analítico, problematizar/conceptualizar. Teniendo como finalidad recuperar la realidad social, como objeto de estudio. Esta propuesta está pensada para el estudiantado de escuela secundaria y un tercer año del Nivel superior.
El capitulo quince, Nancy Aquino, Desirée Toibero y Romina Sánchez se plantean la necesidad de recuperar en el trabajo escolar, el desarrollo conceptual las estrategias ligadas a la comprensión lectora, al pensamiento creativo, a la resolución de problemas y la posibilidad de poder comunicar. En definitiva aportar al pensamiento crítico, para ello proponen trabajar a los nuevos movimientos sociales en América Latina. En la síntesis de opciones hacen referencia a dos conflictos, la Guerra del Agua en Bolivia y la disputa de las tierras en la Patagonia. Poniendo en tensión la construcción de las democracias latinoamericanas.
Erwin Parra – Docente e investigador en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue.
[IF]Investigación y prácticas en didáctica de las ciencias sociales: tramas y vínculos – FUNES; JARA (REH)
FUNES, A.G.; JARA, M.A. (comp.). Investigación y prácticas en didáctica de las ciencias sociales: tramas y vínculos. Neuquén: Educo, 2019. 250p. Resenha de: MISKOVSKI, Silvina. Reseñas de Enseñanza de la Historia, n.17, p.215-222, ago. 2019.
El libro Investigación y prácticas en didáctica de las ciencias sociales: tramas y vínculos, compilado por Graciela Funes y Miguel Jara presenta una selección de conferencias y trabajos que se desarrollaron en el marco de las XVII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia; II Jornadas Nacionales Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía y IV Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales: Los aportes de la didáctica de las ciencias sociales, de la historia y de la geografía a la formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos1.
El texto organiza las participaciones de diversos docentes, especialistas e investigadores en didáctica de las ciencias sociales de América Latina y España en capítulos que responden a tres ejes temáticos vinculados, en primer lugar, a la formación, investigación, innovación y colectivos profesorales; en segundo lugar, a los aprendizajes, prácticas, memorias y lugares, y en tercer lugar, a las ciudadanías desde las disciplinas, contextos y formaciones. Esta distribución que no presenta temáticas excluyentes se podría entender como operativa para organizar la presentación de los capítulos, debido a que los análisis están vinculados, como indica el nombre el libro, en una trama constituida por la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en diversos niveles educativos.
En la primera parte se presentan reflexiones que tienen que ver con la formación profesional docente, con la investigación en didáctica de las ciencias sociales y con propuestas de innovación educativa en ese campo. Así, el trabajo de Graciela Funes, Víctor Salto y María Esther Muñoz (UNCO) titulado “Formación, investigación y colectivos profesorales” propone articular los tres núcleos temáticos mencionados. Los autores conciben la formación docente en Ciencias Sociales e Historia como un campo de intersección de diferentes dominios disciplinares que va construyendo una orientación epistemológica desde la cual pensar la práctica profesional. En este primer capítulo, los autores presentan algunos aspectos fundamentales de esa orientación que tienen que ver con prácticas de enseñanza situadas, colaborativas, cuya finalidad sea la emancipación y la igualdad. Constructos sobre los que han orientado desde la década de los noventa su investigación educativa en un contexto caracterizado por la diversidad, la fluidez y la hibridación de formas de posicionarse y vincularse con el conocimiento.
En el segundo capítulo, titulado “Tems, problemas y desafios en la formación didáctica de las ciências sociales, geografia e historia” de Víctor Salto se hace referencia a la formación docente en Ciencias Sociales, Historia y Geografía. El autor realiza una síntesis de las producciones que fueron presentadas con relación a la temática en el marco del encuentro iberoamericano indicado al comienzo de esta reseña. Este trabajo propone un estado de la cuestión actualizado de problemas que se plantean investigadores y docentes de diversas latitudes y están organizados en tres núcleos analíticos: diseños y planes para la formación del profesorado, líneas y perspectivas para la formación del profesorado y dispositivos para la formación del profesorado. Entre los problemas de investigación que se enuncian, algunos refieren a: la reorganización de diseños y planes de estudio que asuman la necesidad de una mayor articulación entre la formación y la realidad escolar en las que se inscriben las prácticas de enseñanza; la urgencia de propuestas epistémicas que promuevan una educación para la ciudadanía democrática.
En cuanto al tema referido a la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales el trabajo de María Celeste Cerdá y Fabiana Ertola: “La investigación en la enseñanza y el apredizage de las ciências sociales, geografia e historia en Iberoamérica: una cartografia desde el sur del sur” ofrece al lector una recopilación de temas y problemas que se plantearon en el encuentro iberoamericano mencionado anteriormente. Como indica el título de este capítulo, las autoras trazan una cartografía que permite visualizar y sistematizar las producciones que se están desarrollando en el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales. Entre ellas se mencionan: la enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia y TICs; la evaluación; libros de textos, cuadernos y carpetas de los estudiantes; las regulaciones sobre la enseñanza.
Puntos de interés que constituyen un corpus orientado a promover alternativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Con respecto a estas demandas el capítulo que presenta María Esther Muñoz, “Preocupaciones y ocupaciones en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia, Experiencias en y desde la práctica”, ofrece una vista panorámica de propuestas de innovación de profesores e investigadores de diversos niveles educativos y de distintos países iberoamericanos.
La autora presenta propuestas alternativas a la enseñanza tradicional no solamente en cuanto a metodologías sino también en cuanto a contenidos y materiales que son seleccionados a partir de problemas sociales relevantes.
El quinto capítulo de esta primera parte corresponde al trabajo de Joan Pagés, “Qué formación en didáctica de las ciências sociales necesitan los y las docentes del siglo XXI? Reflexiones a la luz de diferentes situaciones”. Allí, convoca a pensar sobre lo que está sucediendo en la enseñanza escolar de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia y sobre los desafíos que asume la formación docente frente a una realidad educativa que exige prácticas reflexivas desde el punto de vista de las finalidades, es decir, desde el para qué aprender estas disciplinas y el qué aprender de ellas.
A partir de la presentación de noticias que hacen referencia a la enseñanza escolar de la Historia, el autor acerca de manera interesante ejemplos que permiten pensar la formación docente relacionada a la enseñanza y aprendizaje de contenidos sociales.
En la segunda parte del libro, el eje de los trabajos se vincula al aprendizaje en distintos contextos y desde diversos lugares, prácticas y memorias. En este sentido, Beatríz Aisenberg revisa algunos supuestos que tienen que ver con la puesta en juego de ideas previas de los estudiantes a la hora de aprender contenidos escolares vinculados a las Ciencias Sociales. En su capítulo “Razones para no explorar los conocimientos prévios de los alunos al iniciar um proyecto de enseñanza en Ciencias Sociales”, cuestiona la práctica habitual de comenzar las propuestas didácticas con la indagación de las ideas previas de los estudiantes. A partir de contar con un amplio trabajo empírico ha podido evidenciar que los marcos de referencia con los que cuentan los estudiantes, elaborados a través de la experiencia social, les permiten construir significados sobre nuevos contenidos, tal como propone el constructivismo. Según Aisenberg, los estudiantes ponen en juego sus conocimientos previos cuando están abordando nuevos contenidos con lo cual entiende que esos en las situaciones de aprendizaje desde una anterioridad lógica y no temporal.
Otro de los trabajos de esta sección es escrito por Antoni Santisteban y se titula “Investigación y cambio em la enseñanza de las ciências sociales”. Allí plantea la relación fundamental entre la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales y las transformaciones en favor de una mejora en la enseñanza y el aprendizaje de las mismas y la innovación en las prácticas de formación del profesorado. El autor ofrece una descripción de algunas investigaciones que permiten visualizar problemas relacionados con el aprendizaje de las Ciencias Sociales como por ejemplo, la temporalidad, la conciencia histórica, la comprensión sobre problemas sociales, las capacidades básicas del pensamiento social.
El tercer capítulo de esta segunda parte del libro: “Qué no nos disse la investigación sobre enseñanza de la historia?” de Paulina Latapí invita a pensar sobre la responsabilidad que asumen los investigadores e investigadoras en enseñanza de la historia frente a las situaciones presentes que refieren a la pérdida de derechos y libertades ciudadanas. Para ello, la autora expone de manera detallada un estado de la cuestión acerca de las producciones más recientes del contexto iberoamericano en las que se abordan muchos de los problemas que se expresan en los capítulos reseñados hasta aquí. Sin embargo señala algunos puntos que todavía no han sido suficientemente indagados y que tienen que ver con la relación entre cognición y emoción y el abordaje transdisciplinario.
Jéssica Ramírez Achoy, presenta un trabajo que aporta a la discusión sobre el aprendizaje de las Ciencias Sociales por parte del profesorado en formación y sobre la manera en que puede impactar de forma crítica en las clases de secundaria. Este capítulo, “Aprender a enseñar ciências sociales: reflexiones en torno a la investigación”, propone una revisión bibliográfica sobre investigaciones en torno a la formación inicial docente y destaca aquellas experiencias que constituyen una ruptura con la enseñanza magistral y positivista.
Con referencia a las prácticas de formación docente, se presenta el Capítulo “Qué se enseña del espacio rural en la escuela primaria? Una investigación en el marco de una propuesta de integración de funciones universitárias” de Oscar Lossio. En él se relata una interesante experiencia en la que confluye investigación, formación docente y extensión universitaria. Se indaga en las prácticas de enseñanza de la Geografía del espacio rural en la escuela primaria a partir de una experiencia conjunta con docentes de la misma. El carácter extenso de la investigación permitió comprender las concepciones de los docentes de primaria acerca del espacio rural y visualizar cómo se fueron transformando a través de los aportes teóricos y metodológicos que se desarrollaron durante la experiencia.
Augusta Valle Taiman, en su trabajo”La importancia de la reflexión sobre las representaciones de la enseñanza y de los contenidos en la formación inicial del professorado” parte de la pregunta acerca del impacto de las investigaciones en didáctica de Ciencias Sociales y de la Historia en la formación de los docentes. La autora plantea que contribuyen a conocer las representaciones iniciales de los profesores y ofrecen la posibilidad de repensarlas epistemológicamente a la luz de las prácticas de enseñanza.
En los tres últimos capítulos de esta segunda parte se presentan las relaciones entre lugares y memorias en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales. Así, el trabajo de Celeste Cerdá: “Lugares, historias y memorias en didáctica de las ciências sociales: una interpelación desde la Historia Reciente Argentina” entrelaza tres categorías: lugares, historias y memorias en una trama conceptual que permite problematizar la tensión deber de memoria/derecho a la memoria con relación a la última dictadura militar en la Argentina. La autora propone un modelo heurístico que permite analizar la enseñanza del pasado reciente desde dos categorías contrapuestas, es decir, desde una singularidad relativa o en contrapartida, desde una singularidad absoluta que vinculan desde distintas perspectivas epistemológicas la relación entre memoria e Historia.
A continuación Karina Carrizo presenta”Enseñar en contextos de diversidade cultural. El lugar de la Historia y ‘las historias’ “. Allí reflexiona, a través del relato de algunas experiencias, sobre los diseños curriculares en los que los saberes populares no son reconocidos para su enseñanza. Saberes, como indica la autora, deberían ser parte de la formación docente si es que se piensa en la preparación de maestros en clave intercultural para enseñar en contextos de diversidad.
El último capítulo de esta segunda parte es escrito por María Amalia Lorda, “Aportes desde la Didáctica de la Geografía para la construcción de una acción educativa situada”. En él desarrolla la tensión que se presenta en la práctica educativa entre una escuela pensada en el siglo XIX con docentes formados en el siglo XX y alumnos del siglo XXI. La autora reflexiona sobre los modos posibles de esa coexistencia desde algunas bases de construcción de una Didáctica de la Geografía para una educación situada.
La tercera parte de esta obra está estructurada en cuatro capítulos que comparten el interés por problemas vinculados a la construcción de la ciudadanía. En el primero de ellos “Qué apota la didáctica de la historia a la formación de la ciudadanía?” enseñanza de contenidos escolares. Advierte que desde el advenimiento de la democracia en Argentina las propuestas ministeriales hacen foco en la formación de una ciudadana democrática aunque en la selección de contenidos aún persista una mirada tradicional. Situación que plantea el desafío de pensar la formación inicial desde problemas socialmente relevantes, con una proyección hacia la construcción de una ciudadanía global.
En el segundo capítulo de esta sección, “¿Qué aporta la didáctica de la geografia a la formación de la ciudadanía?”, Viviana Zenobi reflexiona acerca de las finalidades de la geografía escolar de acuerdo a los contextos históricos. La autora considera que es fundamental en las instancias de formación docente reflexionar en el para qué enseñar Geografía en la actualidad y aporta algunos ejemplos didácticos que contribuyan a una Geografía que forme ciudadanos y ciudadanas democráticos.
Lucía Valencia Castañeda, en su artículo “Formar professoras y professores para formar ciudadanas y ciudadanos “¿Qué contextos, qué ciudadanías?” invita a pensar la formación docente desde el propósito de construir el pensamiento social en los estudiantes. Para ello aborda los supuestos epistemológicos de las disciplinas y cómo debieran contribuir con la construcción de una ciudadanía crítica, global y democrática.
En “Historia urgentes para ciudadanías mestizas”, Sonia A. Bazán propone analizar a los jóvenes que habitan las escuelas desde el concepto de ciudadanías mestizas. Este concepto habla de las identidades de las y los jóvenes, que en palabras de la autora, son menos largas, más flexibles también, más elásticas que permiten amalgamar ingredientes que provienen de otros mundos culturales.
Estas características tensionan con una enseñanza escolar para formar una ciudadanía nacional y homogénea.
Finalmente, Selva Guimarães y Maria da Conceição Martins escriben “Formarse professor de historia: ciudadanía y arte en las tramas curriculares”. En este artículo se propone vislumbrar la relación entre los derechos de ciudadanía, arte y formación cultural de los docentes de Historia así como considerar estas dimensiones en su formación profesional para contribuir con una práctica creativa.
Investigación y Prácticas en Didáctica de las Ciencias Sociales: tramas y vínculos, un libro que condensa actualizadas investigaciones, propuestas, reflexiones en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales que renueva la convocatoria a seguir pensando alternativas posibles para la construcción de una ciudadanía democrática y global.
Notas
1 El encuentro se desarrolló en la Universidad Nacional del Comahue, sede Bariloche en el mes de octubre de 2018.
Silvina Miskovski – Prof. en Historia. Magister en Ciencias Sociales. Cátedra Didáctica de los procesos Históricos. Universidad Nacional de Río Cuarto.
[IF]O jardineiro de Napoleão. Alexander von Humboldt e as imagens de um Brasil, América (sécs. XVIII e XIX) | Thiago Costa e Adriadne Marinho
Não resta dúvida de que o naturalista alemão Alexander von Humboldt representa um marco fundamental na história das ciências no século XIX. Lido e adorado por quase todos os homens cultos de sua época, Humboldt serviu de inspiração intelectual para ninguém mais ninguém menos que Charles Darwin e despertou os ciúmes de um megalômano Napoleão Bonaparte. Foi comparado à Aristóteles, Arquimedes, Copérnico e Newton, e considerado um “segundo Colombo”, o “redescobridor da América”. De acordo com Laura Dassow Walls, a popularidade do pesquisador alemão era tão generalizada no interior dos Estados Unidos em meados do oitocentos que acabou por consolidar o que a pesquisadora chamou de “fenômeno Humboldt”. Leia Mais
Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970 – CLARK (THT)
Catherine Clarke. Foto: Comparative Media Studies – MIT /
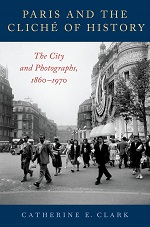 CLARK, Catherine E.. Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970. New York: Oxford University Press, 2018. 328p. Resenha de: KERLEY, Lela F. The History Teacher, v.52, n.4, p.717-718, ago., 2019.
CLARK, Catherine E.. Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970. New York: Oxford University Press, 2018. 328p. Resenha de: KERLEY, Lela F. The History Teacher, v.52, n.4, p.717-718, ago., 2019.
In this social history of photography, Catherine E. Clark demonstrates that the visual discourses and methodologies used to document the historical and urban landscape of France’s capital were constantly being reconceptualized over the course of the nineteenth and twentieth centuries. Journalists, curators, city officials, amateur and professional photographers, and societies contributed to a history of Paris that was inextricably linked with a history of photography. Woven into the book’s narrative is an institutional history of the Bibliothèque historique, the Musée Carnavalet, the Fédération nationale d’achats des cadres (FNAC), and the Vidéothèque de Paris vis-à-vis the local/national initiatives and photography contests they sponsored that punctuated, but also commemorated, larger historical shifts such as Haussmannization, the Occupation and Liberation of Paris, Americanization, and “les trente glorieuses.” By examining photographic collections spawned by these events, Clark presents a colorful portrait of how the French, but also foreign tourists, saw the city and interpreted its past, present, and future amid urban transformation.
The book begins with the overarching question: What is the history of preserving, writing, exhibiting, theorizing, and imagining the history of Paris photographically? (p. 1). These concerns are deftly addressed together in each of the five chapters, tracing the way in which understandings of the photographic image—its purpose, function, and the history it purported to communicate— shaped and were shaped by commercial and non-commercial interests. Building on earlier scholarship produced by cultural theorists such as Guy DeBord, Roland Barthes, and Susan Sontag, who view visual spectacle as a metaphor for changing relationships within the city, Clark adds her own original interpretation, arguing that the production, preservation, and use of photographs influenced, informed, and determined how people thought about Paris as a museum city and engaged with it physically (p. 216).
Chapter 1 focuses on Haussmannization, a city works project that precipitated the first major effort to document the destruction of “Vieux Paris.” Through the process of modernization, municipal authorities, archivists, and museum directors slowly shifted their reliance on more traditional forms of visual historical documentation (e.g., maps, paintings, and sketches) to the photograph as they discovered its inherent value as a piece of “objective” historical evidence. A method of scientific visual history, as Chapter 2 illustrates, came to the fore and introduced new “modes of seeing history” by the turn of the century (p. 2). Now considered “an objective eyewitness to history,” the photograph gave rise to photo-histories that were more didactic in their narration of historic events, providing explanations to viewers of how they should interpret the image.
Chapter 3 shows how the Occupation and Liberation of Paris engendered different “mode[s] of reading the photo” (p. 3). Through the practice of repicturing, heavily censored yet seemingly innocent photo-histories of famous Parisian landmarks kept the French revolutionary tradition alive by including a combination of visual forms that would recall acts of resistance embedded in viewers’ historical imagination. Seven years later, the Bimillénaire de Paris of 1951 reduced the photographic image to a visual cliché, and the subjects who figured in those pictures to typologies. Celebrating the last 2,000 years of French history, the Bimillénaire assumed a political bent and “appealed to those who sought to promote Paris as the commercial capital of Europe, backed by centuries of culture and history, not as an intellectual capital of revolutionary political thought” (p. 132). Chapter 4’s discussion of the city’s attempt to promote Paris as modern and futuristic in promotional posters, traveling exhibits, and magazines depended upon older models of seeing history and reading representations that attested to both change and continuity. Chapter 5 examines “C’était Paris en 1970,” a photo contest commissioned by the store FNAC that involved over 15,000 amateur photographers photographing everyday life within Paris (p. 174). Yet the very title of the contest underscored more of what had changed in the last 110 years of photographic documentation and collection rather than what remained the same. Whereas the historical value of a nineteenth-century photograph had taken decades to appreciate, historical value was immediately conferred the moment the photo was taken by the last third of the twentieth century.
This well-researched book will be of interest for those studying urban history, the history of Modern France, visual culture, and archival management. With over eighty illustrations, there is no lack of material with which to engage students. Its slim size and readily accessible prose is appropriate for both upperlevel undergraduates and graduate students, as it complements more in-depth theoretical discussions and debates on the politics of memory and the effects of technology in shaping national and local identities. Its interdisciplinary treatment of photography, publishing, the history of Paris, and the recording, preservation, and promotion of that history makes this an intriguing and indispensable text.
Lela F. Kerley – Ocala, Florida.
[IF]





